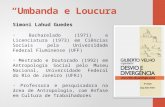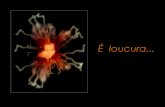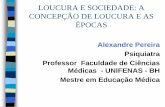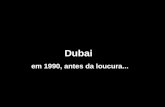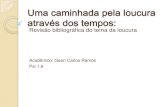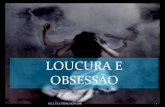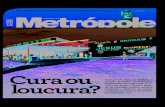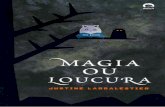LOUCURA, LOUCURA, LOUCURA!: UMA ANÁLISE PELA ...
-
Upload
vuongnguyet -
Category
Documents
-
view
244 -
download
5
Transcript of LOUCURA, LOUCURA, LOUCURA!: UMA ANÁLISE PELA ...

Universidade Federal do Rio de Janeiro
LOUCURA, LOUCURA, LOUCURA!: UMA ANÁLISE PELA ABORDAGEM
MULTISSISTÊMICA DO SUFIXO NOMINALIZADOR –URA NO
PORTUGUÊS.
ANA CAROLINA MRAD DE MOURA VALENTE
2012

Faculdade de Letras / UFRJ
LOUCURA, LOUCURA, LOUCURA!: UMA ANÁLISE PELA ABORDAGEM
MULTISSISTÊMICA DO SUFIXO NOMINALIZADOR –URA NO
PORTUGUÊS.
ANA CAROLINA MRAD DE MOURA VALENTE
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Letras
Vernáculas da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, como parte dos requisitos necessários
à obtenção do título de Mestre em Letras
Vernáculas (Língua Portuguesa).
Orientadora: Maria Lucia Leitão de Almeida
Co-orientador: Carlos Alexandre Victorio
Gonçalves
Rio de Janeiro
Agosto de 2012

Loucura, loucura, loucura!: Uma análise pela abordagem Multissistêmica do
sufixo nominalizador –ura no português.
Ana Carolina Mrad de Moura Valente
Orientadora: Maria Lucia Leitão de Almeida
Co-orientador: Carlos Alexandre Victorio Gonçalves
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos
requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Letras Vernáculas
(Língua Portuguesa).
Examinada por:
______________________________________________________________________
Presidente, Professora Doutora Maria Lúcia Leitão de Almeida – UFRJ
______________________________________________________________________
Professor Doutor Janderson Lemos de Souza - UNIFESP
______________________________________________________________________
Professora Doutora Verena Kewitz - USP
______________________________________________________________________
Professor Doutor Carlos Alexandre Victorio Gonçalves - UFRJ
______________________________________________________________________
Professora Doutora Sandra Pereira Bernardo - UERJ
______________________________________________________________________
Professora Doutora Maria Aparecida Lino Pauliukonis - UFRJ
Rio de Janeiro
Agosto de 2012

VALENTE, Ana Carolina M. de M.
Loucura, loucura, loucura!: Uma análise pela abordagem Multissistêmica
do sufixo nominalizador –ura no português./ Ana Carolina Mrad de Moura
Valente. – Rio de Janeiro: UFRJ/ Faculdade de Letras, 2012.
XIII, 193f.: il.; 31cm
Orientadora: Maria Lucia Leitão de Almeida
Co-orientador: Carlos Alexandre Victorio Gonçalves
Dissertação (Mestrado) - UFRJ/ Faculdade de Letras / Programa de Pós-
Graduação em Letras Vernáculas (Língua Portuguesa), 2012.
Referências bibliográficas: p. 154-162.
1. Nominalização. 2. Gramática Multissistêmica. 3. Linguística Cognitiva.
4. Escaneamento cognitivo. I. Almeida, Maria Lucia Leitão de; Gonçalves,
Carlos Alexandre Victorio. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Faculdade de Letras, Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas
(Língua Portuguesa). III. Título.

RESUMO
Loucura, loucura, loucura!: Uma análise pela abordagem Multissistêmica do
sufixo nominalizador –ura no português.
Este trabalho busca investigar qual o status do sufixo nominalizador -ura
na língua portuguesa, verificável em palavras como ternura, loucura, assinatura,
fartura e lonjura. Para tanto, temos por objetivo revisitar desde a tradição
gramatical à literatura morfológica de cunho derivacional, visando verificar
como o afixo em questão é tratado pelos diversos autores desses estudos
linguísticos. Além disso, devido ao fato de haver, na língua, inúmeros afixos
nominalizadores, buscamos também verificar e estudar as diferentes funções
que o afixo em questão exerce e qual papel é conferido apenas a ele, ou seja,
como este se diferencia dos demais. Em seguida, com base em um corpus
constituído de setenta e nove vocábulos coletados nos dicionários eletrônicos
Houaiss e Aurélio, observaremos a distribuição dos dados dentro dessas
funções e pretendemos comprovar as hipóteses levantadas anteriormente sobre
o tema. Como aporte teórico, utilizaremos a Gramática Multissistêmica de
Castilho (2010) e, portanto, faremos um breve passeio pelos pressupostos da
citada teoria e analisaremos os dados a partir dos quatro sistemas selecionados
e desenvolvidos pelo autor. Como tal teoria tem por base as linguísticas
funcionalista e cognitiva, também faremos um breve resumo sobre tais teorias a
fim de corroborar e dar suporte aos postulados e pressupostos seguidos pela
Multissistêmica.
Palavras-chave: nominalização, linguística cognitiva, multissistêmica.
Rio de Janeiro
Agosto de 2012

ABSTRACT
Loucura, Loucura, Loucura!: A multisystemic approach for the analysis of the
nominalizer suffix-ura in Portuguese.
This work seeks to investigate the status of the nominalizer suffix -ura in the
Portuguese language, verified in words like ternura, loucura, assinatura, fartura e
lonjura. For this, we aim to revisit since the tradition grammar until the
morphological derivation literature to verify how the affix in question is treated
by several authors. Furthermore, due to the fact that there are, in the language,
many nominalizers affixes, we also check and study the different roles that the
affix in question performs and what role is given to him alone, that is, what
differs –ura from the others. Then, based on a corpus collected in electronic
dictionaries as Houaiss and Aurelio, we observe the distribution of words
within these functions and we intend to prove the assumptions earlier made
about the issue. So, we decided to use the Multisystemic Grammar of Castilho
(2010) and, because of that, we are going to make a tour by the assumptions of
that theory and analyze the words from the four systems selected and
developed by the author. As this theory is based on the cognitive and
functionalist linguistic, we will also make a brief summary of these theories in
order to corroborate and support the postulates and assumptions followed by
Multisystemic.
Keywords: nominalization, cognitive linguistics, multisystem.
Rio de Janeiro
Agosto de 2012

SINOPSE
Nominalização em português.
Funções da nominalização.
Comparação com outros afixos.
Gramática Multissistêmica. Análise a
partir dos sistemas da língua.

Esta pesquisa foi parcialmente financiada pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).

DEDICATÓRIA
A uma mulher que sempre acreditou em mim e apoiou
todas as minhas decisões. A ela que fez de mim quem sou:
Emerentina Moura Valente (in memoriam), minha avó.

Pudim
A vida anda cheia de meias porções,
de prazeres meia-boca, de aventuras pela metade.
Tantos deveres, tanta preocupação em 'acertar',
tanto empenho em passar na vida sem pegar
[recuperação...
Aí a vida vai ficando sem tempero,
politicamente correta e existencialmente sem-graça,
enquanto a gente vai ficando melancolicamente
sem tesão . . .
Às vezes dá vontade de fazer tudo 'errado'.
Ser ridícula, inadequada, incoerente
e não estar nem aí pro que dizem e o que pensam a
[nosso respeito.
Recusar prazeres incompletos e meias porções.
Um dia a gente cria juízo.
Um dia.
Não tem que ser agora.
Depois a gente vê como é que faz pra consertar o
[estrago.
Martha Medeiros

AGRADECIMENTOS
Agradecer é o mesmo que demonstrar gratidão a alguém por algum feito
em especial que nos marcou de alguma forma. No entanto, muitas vezes um
“muito obrigada” não exprime realmente toda a gratidão que sentimos, tudo o
que queremos falar ou demonstrar. Parece que apenas estamos cumprindo um
ritual que nos foi passado por nossos pais de que devemos agradecer até as
pequenas coisas e que um “muito obrigada” ou um “valeu” é sempre muito
bem vindo. Portanto, queria aproveitar esse pequeno espaço para fazer mais do
que isso: gostaria de agradecer com palavras menos fugidias às pessoas que
marcaram minha vida e me ajudaram muito nessa caminhada tão cheia de
percalços.
Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por me guiar, me apoiar e
me mostrar sempre o caminho da luz, mesmo que para alcançar esse caminho
tenha que ultrapassar um túnel escuro. Agradeço a Ele por me mostrar sempre
que é possível, basta querer, ter fé e acreditar em si mesmo. Sou grata a Ele por
me fazer atravessar esse túnel, mas nunca fazê-lo sozinha; por colocar pessoas
tão importantes em minha vida. Obrigada por cada momento bom pelo qual
passei, por cada problema que tive que aprender a enfrentar, por todos os
amigos que fiz. Acredito que todos eles são anjos enviados pelo Senhor para me
ajudar nessa caminhada. Portanto, o meu “muito obrigada”!
Existem duas pessoas que são de extrema importância para mim e a
quem devoto os meus mais sinceros sentimentos de gratidão e amor mais puro

e sublime: meu pais, Eliane e Marco Antônio. A vocês, só posso dedicar cada
minuto da minha vida, cada sucesso alcançado e amá-los por toda eternidade.
São as pessoas que me deram a vida e me ensinaram a ser quem sou; aqueles
que me apoiaram e estiveram sempre a meu lado. Muito obrigada pelo carinho
sem limite, pelas risadas, pelo ombro nas horas difíceis, pelas broncas, pelos
empurrões para seguir em frente, por acreditarem em mim quando nem eu
mesma acreditava, por se orgulharem de mim. Quero dizer a vocês que o meu
objetivo na vida é retribuir, mesmo que minimamente porque é quase
impossível retribuir tudo o que já fizeram por mim, todo o carinho e dedicação
que tiveram e fazer com que se orgulhem cada vez mais de quem a sua filha se
tornou.
Às minhas irmãs também devo agradecer, pois, apesar das brigas
intermináveis com a Juliana e a falta de convivência diária com a Julia e a Luiza,
são elas os laços mais próximos e fortes que tenho e com os quais não quero
romper. São vocês que me fazem rir quando a vida parece não ter mais jeito.
São vocês, minhas “rimãs” mais novas, que vi crescer e de quem pretendo
cuidar e apoiar sempre. “Rimãs”, vocês são meus amores e, mesmo tendo
momentos difíceis, sei que é com vocês que vou poder contar sempre.
Agradeço também aos meus tios, primos, agregados, avós, afilhados,
amigos por estarem sempre a meu lado e aceitarem minha ausência em eventos
sociais ou até mesmo em visitas rotineiras. Muito obrigada pela compreensão
de todos vocês.

Agradeço em especial à minha avó Emerentina, a quem dedico esta
dissertação, por ser um exemplo de mulher forte, batalhadora, um exemplo de
mãe e avó, daquelas que carrega os pintinhos debaixo das suas asas e que vira
uma leoa se alguém mexe com a sua cria. Obrigada, meu docinho, por sempre
me apoiar, me ouvir, por compartilhar comigo as suas histórias de vida e me
ajudar a seguir meu caminho. Obrigada por todas as palavras de apoio, por
todas as broncas, por acreditar em mim nos momentos de mais descrédito, por
confiar na minha capacidade e se orgulhar de mim. Vó, essa dissertação é para
você e sei que de onde estiver, estará assistindo minha defesa segurando suas
mãozinhas magras e com um sorriso no rosto ao ver que sua neta chegou onde
NÓS havíamos planejado chegar. Em todos os momentos difíceis, ainda sinto a
sua presença comigo e me sinto protegida, pois agora Deus tem mais um anjo
no céu pra me guiar. Eu te amo, meu docinho de coco!
Sou grata também a minha avó Eleonora por todo apoio, todos os
conselhos, pelos cafunés, por sempre coçar minhas costas enquanto vemos
televisão e por todos os momentos que passamos juntas. Se quiser rir, é só ficar
com ela por apenas 10 minutos. Nesse curto espaço de tempo vai vir uma
história engraçada, uma risada gostosa, uma distração dos problemas. Vozinha,
eu te amo muito!
Quando entrei na faculdade, achei que faria amigos de ocasião, apenas
acadêmicos, mas me surpreendi quando conheci duas pessoinhas que estão
comigo até hoje e que fizeram desse meu trajeto muito melhor e mais fácil,
afinal de contas, uma vida acadêmica que se preze é feita de estudos e de

amizades que te ajudam nessa caminhada e tornam sua vida mais leve e
divertida. Dedico, portanto, esse espaço às pessoas mais ridículas, sem noção,
indiscretas e amigas por isso mesmo. Caio e Érica, obrigada por estarem comigo
em todos os momentos bons e ruins, por todas as risadas, por todas as viagens –
algumas delas meio programa de índio, confesso – por todas as palavras de
conforto. Caio, minha alma gêmea acadêmica; aquele que me completa quando
o assunto é a língua portuguesa, que completa minhas frases e meus
pensamentos, que divide comigo as mesmas convicções e que estará lá sempre
para rir de mim quando eu chorar. Érica, cabeção, uma irmã que a vida me deu,
alguém com quem sei que posso contar, que vai estar comigo quando eu
precisar e que vai rir muito de mim – depois de secar minhas lágrimas, claro.
Agradeço também à Elaine por me apoiar nos momentos mais difíceis e por nos
fazer rir de suas ideias brilhantes.
Dedico também este espaço aos amigos que a vida me deu e que a
tornaram mais divertida e leve. À Andreza, por todas as conversas, conselhos,
risadas, choros, por me emprestar sempre seu ombro amigo e se tornar uma
irmã em tão pouco tempo. Você, minha linda, me ensinou a ser uma pessoa
melhor e a me preocupar menos com os problemas da vida. Graças a você, sou
mais feliz. Ao Thadeu, por me apoiar, me ouvir, me fazer rir quando eu queria
chorar, por me ensinar que a vida pode ser muito divertida, até nos momentos
mais difíceis, por acreditar em mim e confiar no meu trabalho, pois é graças a
você, meu bem, que me tornei uma profissional na área da educação. Conversar
sobre qualquer assunto com você na porta de casa só me faz perceber que os

problemas são bem menores do que aparentam ser e que tudo no final pode ser
resolvido. Ao Luiz Fernando, por ser meu amigo, meu conselheiro, meu
ouvinte nas horas difíceis, meu companheiro para todas as horas; por me
incentivar e me dar metas e prazos pra cumprir e terminar a dissertação a
tempo. Lindo, muito obrigada pelas nossas risadas, conversas, pelas brigas e
discussões também, por todos os momentos compartilhados. Aos três, obrigada
por me apoiarem e por me tornarem uma pessoa mais feliz.
Agradeço também aos meus amigos de todas as horas Flávia Meslin,
Jessyca Soares, Fernanda Souza, Victor Hugo, Carolina Gomes, Úrsula Antunes
(ou Sula para os mais íntimos) e muitos outros por me apoiarem e me
acompanharem durante todos esses anos tornando a minha vida mais colorida.
Ao amigo Roberto Rondinini, por me emprestar seu ombro nos momentos de
desespero e por me fazer rir de mim mesma e dos meus problemas.
Aos professores da pós-graduação pela paciência e atenção que
dedicaram a mim e pelo respeito que sempre tiveram. Obrigada por todos os
ensinamentos, Margarida Basilio, Márcia Machado, Sílvia Brandão, Elite
Silveira, Maria Eugênia Lamoglia, Mônica Orsini, Maria Lúcia Leitão e Carlos
Alexandre Gonçalves.
Um agradecimento em especial deve ser feito àquele que confiou em
mim desde o começo, há muitos anos atrás, que viu em mim um potencial e me
aceitou como sua orientanda ainda em Iniciação Científica: o professor Carlos
Alexandre Gonçalves. Sou muito grata a você por acreditar no meu trabalho e
me mostrar que sou maior do que acredito ser. Obrigada por me ouvir, me

orientar, me dar força e apoio para continuar seguindo na vida acadêmica.
Portanto, a você, só posso fazer elogios, pois é um exemplo de ética e
profissionalismo, além de ter me feito crescer dentro da universidade e como
ser humano.
Também não posso deixar de agradecer a uma pessoa muito importante
em minha jornada acadêmica: a professora Maria Lúcia Leitão. Obrigada por
acreditar no meu trabalho, por confiar em mim e por me ensinar que devemos
aprender a superar os obstáculos que a vida nos impõe e seguir em frente
sempre com um sorriso no rosto. Obrigada por me ensinar a andar com os
próprios pés, pois isso é muito importante na vida acadêmica. Só tenho a
agradecer a confiança que sempre depositou em mim e o carinho com o qual
sempre me tratou, além de todo incentivo que recebi para continuar seguindo
em frente.
Aos professores Janderson Lemos de Souza, Verena Kewitz, Maria
Aparecida Lino e Sandra Pereira Bernardo por aceitarem meu convite para
participarem da banca desta dissertação.
Agradeço também às leituras atentas do professor Carlos Alexandre
Gonçalves e do Caio Castro. Muito obrigada pelos comentários – todos muito
pertinentes – e por dedicarem algum tempo de seus dias nessa tarefa. Sem a
ajuda de vocês, muita coisa teria passado despercebido pelos meus olhos já
cansados e cegos para pequenos deslizes. No entanto, os erros que surgirem são
de minha inteira responsabilidade.

Agora, tenho alguns agradecimentos de cunho, digamos, formal, a fazer.
Sou grata à minha mãe, Eliane Mrad, por me ajudar nesta reta final com as
inúmeras tabelas, me ajudando com as referências e com formalização da
dissertação. Ao Luiz Fernando Tavares pela paciência de criar diversos gráficos
com porcentagens que não nos ajudavam e aturar a minha exigência muito
relevante quanto às cores a serem utilizadas. Também agradeço à Cristina
Mattos por ter me ajudado nessa empreitada e ter passado a sua noite de
domingo tentando entender minhas anotações confusas e preparando os
gráficos desta Dissertação junto com o Luiz. Sem vocês três, eu não teria
conseguido. Muito obrigada!
Por fim, devo um agradecimento de cunho técnico ao CNPq pela
concessão parcial da bolsa de estudos, o que me proporcionou uma dedicação
exclusiva à dissertação e foi indispensável neste processo.

18
SUMÁRIO
1. Introdução ...................................................................................................... 21
2. Revisão bibliográfica ................................................................................... 24
2.1. A perspectiva tradicional ...................................................................... 27
2.2. A perspectiva dos teóricos em morfologia .......................................... 28
2.3. Revisitando gramáticas históricas ........................................................ 32
2.4. Polissemia ou afixos distintos?: defendendo uma posição ............. 38
2.5. Resumindo .............................................................................................. 44
3. Metodologia e corpus .................................................................................... 45
3.1. Coleta inicial dos dados ....................................................................... 45
3.2. Métodos de aprimoramento do corpus ................................................ 47
3.3. Métodos de análise ................................................................................ 49
3.4. Resumindo .............................................................................................. 53
4. Linguística Multissistêmica ......................................................................... 54
4.1. Postulados da teoria multissistêmica ................................................. 56
4.1.1. Postulados gerais ......................................................................... 56
4.1.1.1. Postulado 1: a língua se fundamenta em um aparato
cognitivo ........................................................................................
57
4.1.1.2. Postulado 2: a língua é uma competência
comunicativa .................................................................................................
66

19
4.1.2. Postulados específicos ................................................................ 70
4.1.2.1. Postulado 3: as estruturas linguísticas não são
objetos autônomos .......................................................................
71
4.1.2.2. Postulado 4: as estruturas linguísticas são
multissistêmicas ............................................................................
72
4.1.2.3. Postulado 5: a língua é pancrônica – explicação
linguística ......................................................................................
74
4.1.2.4. Postulado 6: um dispositivo sociocognitivo ordena
os sistemas linguísticos ...............................................................
75
4.2. Resumindo .............................................................................................. 76
5. Funções da nominalização ........................................................................... 78
5.1. Os caminhos de –ura ............................................................................. 79
5.1.1. Teste de aceitabilidade ................................................................ 86
5.2. Nominalização de verbos e referenciação de entidades ................... 88
5.3. Abstratização de adjetivos .................................................................... 93
5.4. Função intensificadora ........................................................................... 97
5.5. Resumindo .............................................................................................. 104
6. Sistemas linguísticos ..................................................................................... 107
6.1. Gramática ................................................................................................. 108
6.1.1. Resumindo .................................................................................... 114
6.2. Léxico ........................................................................................................ 114
6.2.1. Nominalização de verbos ............................................................ 117
6.2.2. Referenciação ................................................................................ 118

20
6.2.3. Abstratização de adjetivos ......................................................... 120
6.2.4. Intensificação ................................................................................. 121
6.2.5. Lexicalização, deslexicalização e relexicalização ..................... 123
6.2.6. Resumindo ..................................................................................... 125
6.3. Semântica ................................................................................................ 126
6.3.1. Nominalização de verbos ............................................................ 130
6.3.2. Referenciação ................................................................................. 132
6.3.3. Abstratização de adjetivos ........................................................... 134
6.3.4. Intensificação ................................................................................. 136
6.3.5. Resumindo .................................................................................... 142
6.4. Discurso .................................................................................................... 143
6.4.1. Resumindo .................................................................................... 148
6.5. Sistemas Simultâneos ............................................................................. 148
6.6. Resumindo ............................................................................................... 150
7. Considerações finais ...................................................................................... 152
8. Referências bibliográficas ............................................................................. 154

21
INTRODUÇÃO
Neste trabalho, analisamos o sufixo -ura e suas funções na formação de
palavras, inicialmente no latim e atualmente no português. Estudos calcados
nas atuais correntes da chamada Linguística de Uso mostram que esse sufixo
achou seu nicho de produtividade na atual sincronia do português,
diferenciando-se da produtividade que apresentava em sua origem latina que
era a de formar nominalizadores a partir de uma base participial, como
afirmam Nascentes (1955), Maurer Jr. (1959), dentre outros. Assim, descrever e
analisar os percursos e os inúmeros percalços da história de -ura é um dos
objetivos desta Dissertação. Dessa forma, mostramos que, além de formar novas
palavras, o afixo contribui para a formação do léxico do Português, por meio de
processos de intensificação que trazem mais significados à língua e interferem
no discurso.
Para descrever esse percurso centrado nos princípios gerais da
Linguística Cognitiva, tomamos por base a Teoria Multissistêmica de Castilho
(2010), defendendo sua ideia central de que a língua é formada por quatro
sistemas linguísticos (léxico, semântica, discurso e gramática) que não se
hierarquizam e atuam simultaneamente. Assim, destacamos rapidamente os
sufixos nominalizadores que, teoricamente, concorreriam com o afixo em
análise (-ção, -mento, -eza, -ice, -oso, -udo, -ão, -inho) mostrando que, na verdade,
1

22
essa concorrência atualmente não ocorre devido à especialização adquirida por
–ura.
A presente Dissertação está organizada em oito capítulos e, ao final de
cada um deles, segue um breve resumo sobre as principais questões levantadas
e discutidas. No capítulo 2, traçamos um breve panorama sobre as diferentes
visões e abordagens sobre o afixo –ura, ou seja, levantamos todas as
informações acerca do sufixo nos mais diversos textos acadêmicos, sejam eles
gramáticas, artigos ou livros de base morfológica. No mesmo capítulo, também
apresentamos as hipóteses do trabalho e levantamos as questões presentes
nessas diversas fontes de pesquisa.
O capítulo 3 é voltado para a descrição da constituição do corpus e da
metodologia utilizada nesta pesquisa. Para tanto, trataremos dos meios de
recorte do corpus e dos métodos que foram ativados para realizar tal pesquisa.
Iniciando o capítulo 4, apresentamos a base teórica do presente trabalho: A
Gramática Multissistêmica. Nesse capítulo, buscamos descrever as bases nas
quais tal teoria se apoia, definir e explicar os postulados dessa teoria e
contrabalançar com as outras maneiras de analisar e descrever a língua. Assim,
apesar de utilizarmos essa teoria como base na Dissertação, também buscamos
respaldo em outras que nos ajudem a descrever o processo linguístico em
análise.
O capítulo 5 é voltado para a análise das funções da nominalização em
português. Nesse capítulo, apresentamos as funções que o afixo -ura exerce na
língua e as possíveis concorrências com outros de similar função (-mento, -ção,

23
-eza, por exemplo). No entanto, buscamos mostrar que essa citada concorrência
não é verdadeira, devido à especialização de sentido do afixo em análise.
O capítulo 6 é o de análise de dados. Nesse capítulo, buscamos analisar o
sufixo –ura de acordo com a Teoria Multissistêmica, atendo-nos aos quatro
sistemas linguísticos identificados por Castilho (2010). Assim, buscamos
verificar como cada um desses sistemas atuaria no processo em separado para,
no final do capítulo, demonstrar o porquê de se considerar a ideia de
simultaneidade e não hierarquia entre eles.
Por fim, o capítulo 7 é o dedicado às considerações finais da Dissertação
e o 8, às referências bibliográficas. No capítulo 7, buscamos arrematar as ideias
abordadas e justificar as hipóteses levantadas.

24
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O processo de nominalização em português vem sendo amplamente
estudado por autores como Basilio (1980) e Lemos de Souza (2010), dentre
tantos outros, por ser um processo produtivo em nossa língua.
Tradicionalmente, entende-se por nominalização o processo de formação de
nomes a partir de verbos, carregando esses produtos as propriedades da sua
base verbal, visão esta diferente da abordagem de alguns teóricos em
morfologia como Basilio (1980) e Sandmann (1988), por exemplo, como
descreveremos a seguir.
Basilio, linguista que se dedica há tempos ao estudo da morfologia do
português, possui alguns trabalhos de referência sobre o tema, como é o caso de
Estruturas Lexicais do Português: uma abordagem gerativa (1980) e Teoria Lexical
(2007 [1987]), considerados leitura essencial para quem se inicia nessa área de
pesquisa. Em seu trabalho de 1980, Basilio compreende a nominalização como o
resultado de uma relação paradigmática entre os verbos e os nomes no léxico e
não somente um processo em que um nome é derivado de um verbo. Segundo a
autora,
“A rejeição da ideia de que os verbos são básicos nas nominalizações não é nova. (...) O termo ‘nominalização’ deverá cobrir não apenas nomes deverbais, mas também nomes morfologicamente básicos associados a verbos. Mais especificamente, a nominalização é um
2

25
processo de associação lexical sistemática entre nomes e verbos”. (Basílio: 1980, 73-74)
De acordo com essa visão, podemos perceber que a autora vai contra a
ideia básica levantada pela visão tradicional apresentada a seguir e aprofunda
essa análise no segundo trabalho citado. Para Basilio,
“Damos o nome geral de ‘nominalização’ ao conjunto de processos que formam substantivos de adjetivos e, sobretudo, de verbos. A nominalização é um dos casos mais complexos de formação de palavras no que diz respeito à determinação da função, pois os vários processos de formação de substantivos podem apresentar funções múltiplas simultâneas”. (Basílio: 2007, 77)
Essas funções múltiplas às quais se refere a autora são as funções
sintática, discursivo-pragmática e semântica1, na medida em que a
nominalização atinge vários níveis de análise (cf. KATO, 1986). Quer-se com
isso dizer que o processo de nominalização apresenta função mista, já que não
tem por objetivo somente formar nomes a partir de verbos, ou seja, é mais do
que um simples processo de derivação.
1 A função sintática diz respeito à possibilidade de um termo nominalizado poder ocupar inúmeros lugares dentro da sentença, ampliando, assim, o campo de atuação da palavra base. Dito de outra maneira, a passagem de um verbo a um substantivo, por exemplo, apresenta-se como um “requisito de adequação sintática às estruturas nominais” (BASILIO, 2007:78). A função discursivo-pragmática faz referência ao uso do substantivo derivado dentro de um contexto discursivo, ativando, portanto, os conceitos de focalização e topicalização que serão discutidos a seguir, na medida em que o uso de um substantivo no lugar de um verbo, por exemplo, pode deixar de focalizar o agente para se voltar para o objeto como nos exemplos abaixo:
(i) Júlia comprou um carro. (ii) A compra do carro foi a melhor coisa que ela fez nesses últimos anos.
Por fim, a função semântica citada pela autora é a de denominação, pois a nominalização tem por característica permitir que se faça referência a um processo verbal em forma de evento, por exemplo. No entanto, veremos que não é apenas essa a função semântica exercida pela nominalização.

26
Outra informação altamente relevante que pode ser retirada de ambas as
citações é o fato de se considerar que a nominalização pode ocorrer tendo como
base um adjetivo e não apenas verbos, o que é de grande valor para o presente
estudo, já que o afixo nominalizador –ura pode se anexar a ambas as bases,
como será descrito mais adiante.
Dessa forma, no presente capítulo, temos por objetivo traçar um
panorama sobre os estudos existentes na literatura morfológica sobre o sufixo
-ura, bem como apresentar a perspectiva da tradição gramatical a fim de
delinear os caminhos pelos quais passou a descrição desse afixo até a presente
proposta de trabalho.
Na seção 2.1, faremos um levantamento do que nos informa a
perspectiva tradicional acerca do tema, ou seja, quais as visões dos inúmeros
gramáticos sobre o processo de nominalização no português a partir do sufixo
-ura. Em 2.2, faremos um breve levantamento sobre os estudos especializados
em literatura morfológica, buscando obter as diferentes visões e abordagens dos
linguistas especializados em morfologia.
Além disso, também se fez necessário que buscássemos informações nas
gramáticas históricas de Língua Portuguesa, já que -ura é um afixo de origem
latina e, portanto, está na língua desde a sua formação, podendo ter sofrido
modificações em seu significado. Por isso, em 2.3., fazemos esse levantamento a
fim de verificar a origem de –ura e como esse sufixo é visto e analisado nas
gramáticas históricas.

27
Na seção 2.4., intitulada “Polissemia ou afixos distintos? Defendendo
uma posição”, apresentamos as diferentes visões sobre essa ótica e os
argumentos a favor de uma ou outra análise. Por fim, na seção 2.5., fazemos um
breve resumo do que foi exposto neste capítulo, a fim de organizar as ideias
centrais e facilitar o prosseguimento da análise.
Vale lembrar que, em alguns momentos, faltaram exemplos para
demonstrar a visão desses autores, mas assim o fizemos, pois os mesmos não se
aprofundam no caso exemplificando.
2.1. A Perspectiva Tradicional
Partindo para a descrição do processo de acordo com o que
afirmam as gramáticas tradicionais (CUNHA & CINTRA, 2007; BECHARA,
2009; LUFT, 1990), pudemos constatar que o afixo não possui grande espaço
para descrição nesses compêndios, pois os mesmos somente o citam como
sufixo formador de substantivos a partir de verbos e adjetivos, sem informar
qual seria a sua acepção ou fazer qualquer outra análise que o distinga de
outros afixos nominalizadores como -ção, -mento e -oso, por exemplo, sendo os
dois primeiros afixos deverbais e o último, deadjetival.
No entanto, Rocha Lima (2008) destaca-se dentre os demais gramáticos,
por acrescentar informações novas acerca do afixo, já que aponta para a
existência de afixos diferentes na nominalização a partir de verbos e na
nominalização a partir de adjetivos. Segundo Rocha Lima, quando esse
processo tiver por base um verbo, os afixos utilizados serão -tura, -dura e -sura,

28
como em assinatura, assadura e clausura. Em contrapartida, quando a base for
adjetival, o afixo a ser utilizado será o -ura, como em amargura, ternura e loucura,
que se anexam, respectivamente, aos adjetivos amargo, terno e louco, nessa
ordem.
O afixo em questão, portanto, não é muito analisado pelas gramáticas
tradicionais, o que abre espaço para uma análise mais detalhada do mesmo.
Apesar de ser somente citado pela maioria e, principalmente, ser analisado
superficialmente por um deles – levando-se em consideração que o objetivo
principal das gramáticas tradicionais não é desenvolver detalhadamente todos
os aspectos específicos da língua e sim descrevê-la em seus aspectos mais gerais
– consideramos que -ura é um afixo relevante para análise, pois pouco se sabe
sobre suas diversas acepções e sobre o processo de nominalização que
desencadeia.
2.2. A perspectiva dos teóricos em morfologia
Prosseguindo para uma melhor descrição do processo, recorremos à
literatura de cunho derivacional e a pesquisas linguísticas nesse campo, a fim
de dar continuidade ao entendimento do afixo ora analisado. No entanto,
também nessa linha de investigação, não encontramos maiores informações
sobre o formativo. Dentre os autores pesquisados, Sandmann (1988) ressalta
que o sufixo -ura parece não ser mais produtivo em português, embora afirme
que nem sempre foi assim, citando a palavra laqueadura como uma formação
recente na língua. Não há referência ao sufixo em questão em manuais de

29
morfologia do português, como Monteiro (1988), Kehdi (1989), Laroca (1994) e
Carone (1990).
Já o trabalho de Coelho (2008), por sua vez, descreve o processo de
nominalização em português por meio do sufixo –ura, sendo, portanto, dentre
todos os trabalhos acerca desse afixo, o único com maior aprofundamento sobre
o formativo. Contudo, apesar dessa proposta inicial, a autora limita-se a falar
sobre a morfologia categorial2, explicar em que consiste essa linha de
investigação e tratar dos critérios para exclusão de vocábulos do corpus. Porém,
ainda assim, Coelho levanta algumas questões importantes sobre o afixo em
estudo a que pretendemos responder nesta dissertação: (1) se o -ura é um caso
de afixo polissêmico ou homônimo; e (2) se existe somente um afixo com
variantes fonológicas ou se -ura, -tura e -dura são afixos diferentes.
Além disso, a autora discorre sobre as palavras-base da nominalização
por intermédio desse afixo, afirmando serem elas adjetivas ou participais, sendo
esta última explicada pela autora a partir de dois motivos. O primeiro deles é o
fato de o adjetivo e o particípio terem características semelhantes e poderem ser
analisados sob o mesmo rótulo, apesar das diferenças existentes. O segundo
motivo diz respeito à permanência da vogal temática em alguns casos e à falta
dela em outros, o que pode ser explicado a partir da ideia de que esse afixo se
une a bases participiais, sejam elas regulares ou irregulares, como é o caso de
andadura, que mantém a vogal temática, visto que o afixo se anexa ao particípio
2 Segundo Coelho (2008), a morfologia categorial aborda o léxico composicionalmente sem fazer qualquer distinção entre estrutura profunda e estrutura superficial na medida em que o mecanismo de hierarquia de aplicação de regras não existe nessa linha teórica. Assim, “dentro da GC (Gramática Categorial), a visualização composicional das estruturas complexas (...) é sempre relevante e clara , pois (...) parte-se dos itens lexicais”. (COELHO, 2008:5)

30
regular do verbo andar; e fritura, que não apresenta a vogal temática em sua
forma por derivar do particípio irregular frito. Portanto, caso entendêssemos
que esse sufixo se une a bases verbais, teríamos de encontrar explicações para a
presença ou ausência da vogal temática verbal, além de interpretar o /d/, por
exemplo, como uma consoante de ligação ou parte de um novo afixo, o que não
seria nada econômico para o estudo.
Quanto ao segundo questionamento levantado acima, se -ura, -tura e
-dura são afixos diferentes, Coelho (2008) afirma serem diferentes formas
fonológicas de um mesmo afixo, contradizendo-se, portanto, já que a mesma
considera participais as bases a que se adjunge o afixo. Sendo assim, ao
considerar que -ura se une a particípios verbais, considera-se também, mesmo
indiretamente, que os elementos /t/ e /d/ fazem parte do radical e, dessa
forma, não podem ser considerados como diferentes formas fonológicas de um
mesmo sufixo.
Com base no levantamento do corpus realizado para este trabalho,
pudemos perceber que a grande maioria das bases que sofrem o processo de
nominalização por intermédio de -ura são participiais e, quando os derivados
advêm diretamente do latim, ainda se mantém a relação de se anexar esse afixo
a uma base de natureza adjetival. Como exemplo, podemos citar abreviatura,
que é uma palavra originalmente latina. Nesse caso, a nominalização ocorreu
ainda na língua de origem e foi realizada a partir da anexação do afixo -ura ao
particípio passado do verbo abreviare. Esse fato, portanto, nos remete à visão de
França & Lemle (2006) acerca desse afixo com base no modelo da Morfologia

31
Distribuída3. Segundo as autoras, a nominalização por -ura, sempre anexado a
bases participiais, é explicada a partir da premissa de que no latim isso já
ocorria e o português manteve essa relação e esse padrão de formação. O
mesmo acontece com muitos empréstimos linguísticos, já que, em português,
existem inúmeros vocábulos advindos de outras línguas e que sofreram o
processo de nominalização nas suas línguas de origem, como é o caso de
desenvoltura (do italiano desenvolture) e brochura (do francês brochure). Isso se
deve ao fato de ambas as línguas serem de origem latina e também manterem
esse afixo disponível para fins lexicais.
Além disso, as autoras abordam vocábulos como tintura como oriundos
de formas participiais latinas cujas formas infinitivas não são mais usadas pelos
falantes. Segundo elas, esse vocábulo, por exemplo, derivaria de tinctum, que
seria o particípio passado do verbo tingo, que caiu em desuso e, em seguida, a
forma tintura viria para o português já assim constituída. Coelho (2008) também
aborda algo similar em seu artigo, pois reconhece a existência de “raízes
possíveis” para as nominalizações, ou seja, segundo a autora, alguns derivados
surgiriam de verbos inexistentes na língua, mas que seriam completamente
possíveis de serem realizados, como é o caso de ratadura, que, segundo a autora,
poderia vir do particípio do verbo ratar, embora este não faça parte do léxico do
português.
3 A Morfologia Distribuída é uma teoria sintática, na medida em que entende que é a sintaxe que maneja e rege livremente as raízes e os morfemas que, por sua vez, são entendidos como sendo categorias abstratas definidas por traços universais. Essa teoria se diferencia da abordagem lexicalista, pois não considera a existência de um léxico na língua.

32
Rio-Torto (2005) aponta para o fato de -ura selecionar, preferencialmente,
adjetivos com origem em particípios passados, sejam eles regulares (dobradura,
abotoadura) ou não (fritura, soltura), preservando, assim, os segmentos /t/ e /d/
de seus radicais.
Portanto, podemos constatar que, embora pouco se fale sobre esse afixo e
o número de estudos voltados para este formativo seja escasso, algumas
questões são levantadas e resolvidas de diferentes formas, a depender do
referencial teórico adotado. Além disso, também foi possível perceber que as
visões sobre esse afixo variam de teoria para teoria e que escolhemos, portanto,
a Abordagem Multissistêmica – como veremos mais adiante – devido ao fato de
esta se propor a resolver os problemas levantados pelas outras teorias por
diferentes ângulos. Nos próximos capítulos, observaremos o comportamento
dos vocábulos do corpus, tentando responder a algumas das questões
levantadas por pesquisas anteriores à nossa.
2.3. Revisitando gramáticas históricas
Com base em revisão bibliográfica prévia, fez-se necessária a busca de
mais informações sobre a origem do sufixo –ura e, para tanto, resolvemos
verificar como o afixo é tratado nas primeiras gramáticas do século XX, com o
intuito de constatar até que ponto nosso estudo seria relevante e desde quando
se volta o olhar para esse sufixo.
Dentre as gramáticas consultadas, a primeira que faz referência a –ura é a
de Jucá Filho (1945). Em sua Gramática Histórica do Português Contemporâneo, o

33
autor faz uma breve introdução sobre o que seriam os sufixos para depois listar
os que ele considera importantes e existentes na língua portuguesa da época.
Para Jucá Filho, os sufixos são sempre denotativos e podem ser divididos em
auxiliares modificativos, conectivos subordinantes e conectivos super-
ordenantes. Os primeiros são os que alteram o significado do radical,
modificando sua significação fundamental (-inho em carrinho, por exemplo); os
segundos, por sua vez, são os que transformam substantivos e verbos em
adjetivos (-udo de barrigudo e –(t)ivo de pensativo); e os terceiros são os que
alteram a classe gramatical do radical, passando-o de adjetivo a substantivo ou
verbo (-eza de beleza e –izar de legalizar).
Ainda segundo o autor, a maioria dos sufixos são fonemas ou grupos de
fonemas que vieram diretamente do latim e podem ser definidos como formas
simples ou ampliadas, sendo estas as formas que agregam algum segmento às
simples correspondentes. Dessa forma, o Jucá Filho (1945) faz distinção entre
-ura (forma simples) e –tura / –dura (formas ampliadas). Pode-se concluir,
portanto, que autor define essas três formas como afixos diferentes, sendo o
primeiro anexado a bases adjetivas e o segundo, a bases verbais, assim como
Rocha Lima (2008). Embora não se estenda na análise das formações X-ura, a
partir dessa separação entre formas simples e ampliadas, é possível verificar a
visão que o autor apresenta: caso considerasse a existência de apenas um afixo e
interpretasse as consoantes /t/ e /d/ como resquícios do particípio, não
diferenciaria –ura de –tura e –dura.

34
Em sua Gramática do Latim Vulgar, Maurer Jr. (1959) revela que, no Latim
Clássico, o afixo -ura formava nomes tão somente a partir de bases do
particípio, ou seja, somente se originava de bases tidas como verbais, como
censura e escritura. Dessa forma, segundo o autor, seria uma inovação do latim
vulgar a formação de nomes com bases adjetivas, que se disseminou para as
línguas românicas, como o português (candidatura), o espanhol (candidatura), o
francês (candidature) e o italiano (candidatura). autor explica essa inovação do
latim vulgar a partir da similaridade entre o particípio e o adjetivo, pois,
considerando-se que essas formas verbais são, em grande parte, simples
adjetivos, é fácil compreender como se deu essa mudança na categoria da base.
Na verdade, ao se ligar a um particípio, o afixo estava também se ligando a um
adjetivo devido a esse caráter da forma nominal. Sendo assim, a mudança
categorial é uma inovação na língua, apesar de já esperada. Ilari (1992) retoma o
autor e também afirma que o sufixo –ura se liga a bases verbais para formar um
substantivo, porém não se aprofunda muito no tema, ao contrário de Maurer Jr.
(1959) que, como vemos, vai um pouco além.
O afixo –ura também é tratado por Said Ali em duas de suas gramáticas,
sendo a primeira delas Gramática Secundária da Língua Portuguesa (1969) e a
segunda, Gramática Histórica da Língua Portuguesa (1971). O autor, assim como os
demais já citados, considera que haja, na verdade, um sufixo que se liga a bases
adjetivas e outros que se ligam a bases verbais, sendo eles –dura, -tura e –sura.
Na primeira gramática em questão, o autor afirma que esses afixos são o
resultado do acréscimo de –ura a temas do particípio que aglutinam essa

35
consoante à do sufixo. Já na segunda, Said Ali (1971) vai além, pois traz novas
informações acerca dessas formas linguísticas. De acordo com o gramático, as
consoantes d, t e s que iniciam os afixos –dura, -tura e –sura são consoantes
incorporadas aos sufixos que se ligam a bases participiais. Além disso, o autor
afirma que esses afixos se anexam a bases participiais para indicar nomes de
ação e concorreram durante muito tempo com o afixo -or, cuja função precípua
é formar nomes de agentes (comprador, por exemplo).
O autor ainda cita a extensão de sentido e de função do afixo –ura, pois o
mesmo passa a designar objetos materiais, como é o caso de ferradura, fechadura,
abotoadura. Isso se deve à polissemia natural da língua e também ao fato de
haver, para fins lexicais, outros afixos nominalizadores e indicadores de nomes
de ação, como –ção e –mento, por exemplo. Dessa forma, pode-se perceber que o
autor já intuía a polissemia do afixo e considerava relevante esse caráter no
estudo da língua, embora não o dissesse.
Outro ponto levantado por Said Ali (1971) é o fato de muitos vocábulos
X-ura serem introduzidos na língua por via erudita, vindo diretamente do latim
ou através de empréstimos linguísticos. Dessa forma, o autor explica como
alguns verbos não fazem parte do português, embora seu substantivo
respectivo seja um vocábulo corrente na língua, como é o caso do já citado
pintura, que advém da forma verbal latina pingo. A possibilidade de se anexar o
afixo –ura a bases adjetivas, como levantado por Maurer Jr. (1959), deve-se ao
fato de ter sido perdida a relação que esses nomes tinham com os verbos de
origem, já que muitos deixaram de fazer parte do léxico do português. Essa

36
ligação a adjetivos já era possível no latim, porém, em português, aumentou
consideravelmente, sobrepondo-se às formas de bases verbais.
Coutinho, em Pontos de Gramática Histórica (1978), faz um apanhado geral
do que se entende por sufixação e como se caracterizariam os sufixos. No
entanto, no que diz respeito ao afixo –ura, o autor não tece maiores
considerações; apenas o cita como um sufixo nominal. Porém, é interessante
notar que, diferentemente de Said Ali, por exemplo, Coutinho parece considerar
–ura, -tura e –dura como variantes de um mesmo afixo, pois coloca-os juntos em
uma listagem de afixos formadores de nomes em português. Além disso, o
autor define -ura como um afixo que indica qualidade (alvura), objeto
(armadura), ação ou resultado da ação (varredura), apontando para a polissemia
do mesmo. No entanto, vale ressaltar que, ao juntar todas as variantes, o autor
está considerando -ura um afixo polissêmico que se une a bases verbais, sendo o
/t/, /d/ e /s/ resquícios da desinência de particípio.
Outra visão sobre o afixo em estudo é a de Mendes de Almeida, em sua
Gramática Metódica da Língua Portuguesa (1979). Para o autor, há apenas um
afixo, porém com três diferentes funções na língua, diferentes acepções, a
depender da base à qual se adjunge. Caso o afixo seja acrescido a um tema
verbal, o derivado indicará ação ou resultado de uma ação, como em, formatura,
fritura, fervura, dentre outros. Por outro lado, caso o afixo seja anexado a uma
base adjetiva, o mesmo formará um substantivo abstrato que indica qualidade,
estação ou situação, carregando consigo as características próprias dos
adjetivos, como em alvura, brancura, bravura e tontura. Por fim, se o sufixo –ura

37
se ligar a um substantivo, o mesmo resultará em uma palavra indicativa de
exercício de algum cargo, como em advocatura e magistratura.
Faria (1958), por sua vez, classifica –tura como formador de substantivos
derivados de temas verbais, indicando a ação ou o resultado de alguma ação,
como natura que indica “ação de fazer nascer, natureza”. O autor ainda afirma
que este é um sufixo complexo, pois é formado por mais de um elemento
sufixal acumulado devido à necessidade expressiva, ou seja, haveria dois afixos
distintos anexados a uma mesma base a fim de passar o significado que se
desejaria. Assim, os sufixos -tu- e -su-, simples, apareceriam com maior
frequência unidos a outros elementos, formando diversos sufixos complexos,
como, por exemplo, –tura que é formado por -tu- mais o sufixo –ro- em sua
forma feminina –a (a forma masculina do afixo aparece no particípio do futuro
verbal –turus, no latim).
Masip (2003) divide os sufixos da língua em transformadores e
modificadores. A ideia do gramático é a de que temos um afixo transformador
quando o mesmo é capaz de transformar a palavra-base e um sufixo
modificador quando a única função é modificar a base no que diz respeito à
quantidade – que é o caso dos aumentativos e diminutivos. Portanto, segundo o
autor, o sufixo em questão seria classificado como transformador, pois seu
acréscimo ao radical da palavra tem influência direta sobre a forma de um
vocábulo. De acordo com ele, existem, então, quatro afixos distintos, -dura,
-sura, -tura e –ura, sendo que os três primeiros se anexam a bases verbais para

38
indicar o resultado ou instrumento de alguma ação coletiva (fechadura,
assinatura) e o último significa “relativo a alguma coisa” (chatura).
2.4. Polissemia ou afixos distintos? Defendendo uma posição
De acordo com o que foi apresentado anteriormente acerca da visão de
alguns autores sobre o sufixo -ura, pudemos perceber que existem diferentes
pontos de vista no que diz respeito a sua concretização, visto que alguns
pendem para uma análise mais pautada na existência de afixos distintos,
enquanto outros acreditam ser esse afixo polissêmico. Ainda pensando no que
foi apresentado sobre a análise dos diferentes autores, podemos notar que as
respostas à pergunta que dá título à seção são as mais variadas possível, já que
alguns afirmam haver mais de um afixo (ROCHA LIMA, 2008), outros
defendem a ideia de serem variantes fonológicas de um mesmo sufixo
(COELHO, 2008) e, por fim, há autores que acreditam que o afixo -ura é único e
que as consoantes /d/, /t/ e /s/ são resquícios das bases participais das quais
derivam as nominalizações (FRANÇA & LEMLE, 2006; RIO-TORTO, 2005).
Assim, a partir da análise das informações, podemos levantar três
hipóteses detalhadas a seguir:
H1: as palavras formadas a partir do sufixo –ura provêm de formas
básicas do verbo;
H2: as palavras formadas a partir desse afixo provêm do particípio latino;

39
H3: independentemente de suas origens, as formações em português
identificam –ura como sufixo formador de palavras com intensificação de
qualidade, ignorando a base à qual se liga.
Podemos começar a análise pelo gramático Rocha Lima (2008), que inicia
essa questão ao separar o afixo -ura em dois: o primeiro anexado a bases
nominais e o segundo, a bases verbais, sendo este último representado pelas
formas -tura, -dura e -sura e aquele representado somente pela forma -ura.
Segundo essa visão, -ura formaria palavras como tontura, finura, amargura e
bravura, enquanto a -tura, -dura e -sura caberiam palavras como formatura,
cavalgadura e censura, nessa ordem. No entanto, analisar essas três formas como
afixos diferentes faz com que ignoremos alguns fatores, como o caso da vogal
temática, da relação entre adjetivos e particípios, além do fato de não haver
necessidade de mais de um afixo na língua para expressar a mesma noção.
No que diz respeito à vogal temática, podemos retomar Coelho (2008),
que defende a ideia de que o afixo -ura se une a bases participiais, sejam elas
regulares ou não, justificando o fato de, em alguns casos, a vogal temática estar
presente, mas em outros não. Como exemplo, podemos citar as palavras
abotoadura, feitura e soltura que, caso derivassem de bases verbais em sua forma
infinitiva, ou seja, caso fossem interpretadas como derivadas da forma básica do
verbo, entrariam em conflito na análise, pois na primeira teríamos a presença da
vogal temática “a” e na segunda e terceira não. Além disso, o caso de feitura é
ainda mais difícil de interpretar como derivado de uma base verbal infinitiva, já

40
que, para isso, o derivado deveria ser fazedura e não feitura, pois o particípio
desse verbo é altamente irregular, por fazer grandes alterações no radical da
palavra-base. Sendo assim, fica claro que essa palavra derivou de feito, e não da
forma verbal fazer. Nesse caso, a explicação mais concreta seria a de que essas
palavras derivam de verbos no particípio, fazendo com que a ausência da vogal
temática na segunda e terceira palavras seja justificada pelo fato de ambas
terem como base os particípios abundantes dos verbos fazer e soltar,
respectivamente.
Além desse ponto de análise, outro fator que corrobora a visão dessas
bases como participiais é o fato de que os particípios e adjetivos, apesar de
pertencerem a categorias gramaticais diferentes, apresentam características
similares e podem ser analisados da mesma forma, o que pode ser
exemplificado pelo fato de alguns particípios serem utilizados como adjetivos
em frases como “João é atrasado”. Nesse caso, o particípio do verbo atrasar está
sendo usado como adjetivo para definir uma propriedade de João. Por esse
motivo, é mais interessante analisar as bases como participiais e não como
formas infinitivas do verbo, o que levaria à formulação de um único esquema
para a construção morfológica, como defenderemos nos capítulos de análise.
Além disso, podemos levar em consideração para essa análise, um breve
estudo histórico acerca do afixo, pois, segundo França & Lemle (2006), o fato de
o afixo -ura se anexar a bases participiais no latim leva à constatação de que o
mesmo ocorre nas línguas neolatinas, dentre elas, o português. Maurer Jr. (1959)
também afirma que o sufixo –ura se anexava a bases participiais no latim

41
clássico, sendo, portanto, uma inovação do latim vulgar a formação a partir de
bases adjetivas – lembrando que o particípio e o adjetivo são equivalentes.
Dessa forma, assim como -ura se anexa ao particípio passado do verbo assare em
latim, o mesmo afixo será anexado a bases participiais no português e em outras
línguas neolatinas. Isso se deve ao fato de essas línguas manterem a relação
existente entre o afixo e as bases desde o latim até hoje.
Dessa forma, podemos afirmar que os falantes, apesar de não terem
conhecimento do latim e de onde se originou esse afixo, acabam por interpretar
-ura como atribuidor de uma qualidade em relação a uma base predicativa, pois
tanto os adjetivos quanto os particípios têm essa função predicativa na sintaxe
da língua.
Ainda devemos levar em consideração o fato levantado por Rio-Torto
(2005) de esse afixo selecionar bases adjetivas cuja origem sejam particípios. Por
esse motivo, podemos comprovar, mais uma vez, que os segmentos em
discussão – /t/, /d/ e /s/ – fazem parte dos radicais e não de um afixo
diferente, ou seja, que as bases para esse afixo são os particípios dos verbos em
questão.
Por fim, podemos discutir o fato principal que diz respeito à
interpretação dos três segmentos citados. Caso interpretássemos as bases para
esse sufixo como verbais em sua forma infinitiva, teríamos de responder à
pergunta concernente à natureza desses segmentos, se são consoantes de
ligação ou partes de outro afixo. No entanto, essa não parece ser uma resposta
muito acessível, pois não há provas concretas para tal interpretação, ao

42
contrário do que ocorre se interpretamos os segmentos /t/, /d/ e /s/ como
parte das bases participiais.
Assim, voltando para as hipóteses levantadas anteriormente, podemos
afirmar que todas elas podem ser verdadeiras a partir do ponto de vista que se
adote. No caso da primeira hipótese, para que seja considerada verdadeira,
seria preciso que se analisasse /t/, /d/ e /s/ como consoantes de ligação ou
como parte de um novo afixo, no caso, -tura, -dura e -sura, respectivamente. No
que diz respeito à segunda hipótese, pudemos comprová-la a partir dos
argumentos apresentados anteriormente com base nas diferentes abordagens
teóricas. Já a hipótese 3 pode ser também levada em consideração se olharmos
para vocábulos formados a partir de bases substantivas e até mesmo adverbiais
como belezura e lonjura, respectivamente, apontando para o fato de o mais
importante, em se tratando desse afixo, não estar diretamente relacionado à
natureza da base, mas sim à acepção que veicula, já que existem outros afixos
como veremos mais adiante.
Nesse último caso, podemos levar em consideração o fator bloqueio
levantado por Aronoff (1976). Segundo o autor, o bloqueio pode ser
considerado uma noção funcional, já que se trata da não aplicação de uma
operação disponível na língua por já existir uma palavra no léxico para exercer
a mesma função que exerceria a palavra a ser formada. Nesse caso, por mais
produtiva que seja, uma operação morfológica não atua se já houver uma
palavra formada a partir de outro afixo que exerça a mesma função; o falante
não forma novas palavras com a mesma função que uma já existente na língua.

43
Assim, no que diz respeito a –ura, a noção de bloqueio pode ser um importante
instrumento de análise.
Os afixos –ção e –mento têm a função de formar nomes a partir de verbos
para atribuir um significado mais ativo, mais centrado nas características
predicadoras do verbo, como amplamente estudado por Lemos de Souza (2010)
e como veremos com mais detalhes no capítulo 3 a seguir. Já o afixo –ura, por
sua vez, também teria como bases primárias os verbos, mas, por haver esses
dois afixos com a mesma tarefa, –ura se especializou e passou a se unir somente
a bases adjetivas, carregando consigo a função de atribuir qualidades e tendo
por base não mais um verbo em sua forma infinitiva prototípica, mas bases com
significados mais qualificadores. Assim, por mais que esse sufixo fosse
produtivo em latim, em português deixa de ser, pois entra em competição com
–ção e –mento e vai perdendo o seu significado de “ato / efeito”, mas continua
se especializando quando o significado a ser atribuído tem relação com noções
predicativas.
Portanto, podemos concluir que as formas variantes são, então,
condensadas em uma única forma, -ura, visto que entendemos ser esse afixo
anexado a bases participiais. Assim, as consoantes /t/, /d/ e /s/ seriam
resquícios do particípio e não parte de um novo afixo. Além disso, adotamos
essa visão por não ser econômico considerar que há afixos distintos quando as
bases são verbais, já que as mesmas não são os verbos em suas formas
infinitivas, mas sim em suas formas de particípio, adotando, pois, a visão de
França & Lemle (2006) e Rio-Torto (1998). No entanto, como levantado nesta

44
seção, também não podemos desconsiderar as outras visões já que, na língua,
nada pode ser considerado completamente verdadeiro, pois tudo vai depender
do ponto de vista pelo qual se está observando determinado fenômeno. Como
afirma Saussure (1973, 135), “O ponto de vista determina o objeto”, indicando-
nos que a análise de qualquer corpus permite infinitivas interpretações, a
depender da corrente de estudo que se vá usar. Optamos, portanto, por essa
interpretação por ser ela a mais adequada à análise que pretendemos
desenvolver adiante.
2.5. Resumindo
No presente capítulo, apresentamos as diversas visões acerca da
nominalização a partir do afixo –ura, principalmente no que diz respeito à sua
natureza. Apesar de reconhecer todas as possíveis análises, decidimos por
interpretar esse formativo como um único afixo que pode se unir tanto a bases
adjetivais quanto participiais, já que ambas possuem o mesmo caráter
atributivo. Assim, não haveria diferença entre –ura, -tura, -dura ou –sura, já que
as consoantes que os iniciam seriam, na verdade, resquícios do particípio e não
parte do afixo em questão.

45
METODOLOGIA E CORPUS
Realizar uma pesquisa de cunho linguístico e verificar como processos
morfológicos, semânticos, gramaticais e discursivos ocorrem na língua é uma
atividade que requer a constituição de um corpus ou de mais de um corpora que
venha a auxiliar nesse processo. No entanto, essa constituição não deve ser
aleatória e sem qualquer embasamento, sendo necessária uma metodologia
clara e precisa para que esses dados possam confirmar as hipóteses
previamente levantadas nesta Dissertação ou negá-las, apresentando, como
consequência, novas hipóteses e novos olhares sobre o tema a ser pesquisado.
Portanto, neste capítulo, apresentamos os métodos utilizados na coleta
dos dados e na formação do corpus de análise. Para tanto, recorremos tanto a
dicionários quanto a textos escritos a fim de criar uma unidade passível de
análise e facilitadora desse processo.
3.1. Coleta inicial dos dados
Em um primeiro momento, foi realizada uma busca nos dicionários
Houaiss (2001) e Aurélio (2004), em sua versão eletrônica, verificando a data de
entrada dos vocábulos na língua. Por se tratar de um afixo, foi de extrema
3

46
importância a utilização desses meios eletrônicos, na medida em que facilitou o
processo de coleta dos dados. Com essa recolha, foram encontradas 171
palavras inicialmente, amostra posteriormente reduzida, como descrevemos a
seguir.
Além disso, enquanto era realizada a busca dessas nominalizações,
também foram anotados os anos de entrada nos dicionários – quando os
mesmos forneciam essa informação em sua definição –, a categoria da base à
qual o sufixo se anexou e o seu significado ou seus múltiplos sentidos. Essa
última informação está presente no anexo I desta Dissertação e pode ser
consultada ao longo da leitura para qualquer dúvida em relação a algum
significado em específico.
No entanto, apesar de, na maioria dos casos, as informações quanto à
etimologia e à entrada na língua serem fornecidas pelo dicionário Houaiss,
muitas das palavras do corpus não apresentavam tais dados e, para obtê-los,
recorremos a alguns dicionários etimológicos (CUNHA, 1999; NASCENTES,
1955; SILVEIRA BUENO, 1967; e, principalmente, MACHADO, 1973) a fim de
precisar essas informações e dirimir qualquer dúvida em relação à origem de
uma ou outra palavra. Essa busca nos dicionários etimológicos foi realizada
depois de já coletados os dados, já que foi utilizada como um complemento, um
suporte à busca anterior. Ainda é válido comentar que, em alguns casos dessa
amostra, houve divergência em relação à data de entrada de algumas palavras
e, em decorrência, adotamos a data mais antiga.

47
3.2. Métodos de aprimoramento do corpus
Depois dessa coleta, porém, percebemos que algumas palavras que
faziam parte da lista causavam estranheza quanto ao seu significado, à base ou
eram pouco utilizadas na língua. Por isso, fez-se necessário tornar o corpus mais
enxuto e verdadeiramente representativo do uso de –ura em português. Para
tanto, foram tomadas algumas decisões. Em um primeiro momento, fizemos
testes informais com os falantes da língua; em linhas gerais, tais testes
consistiam em apresentar algumas das palavras que chamaram nossa atenção,
solicitando aos informantes que tentassem, de alguma forma, defini-las ou
inseri-las num contexto de uso plausível4. No entanto, muitas dessas palavras
não eram recuperadas pelos falantes e os mesmos não conseguiam, algumas das
vezes, nem mesmo identificar a base a qual o afixo foi anexado. Quando
apresentadas aos falantes palavras como peladura, soldadura ou vestidura, por
exemplo, a maioria não conseguiu identificar as bases ou associava a bases não
verdadeiras. No caso de peladura, muitos identificavam a base “pelado”, mas
não conseguiam definir o vocábulo, já que a base recuperada por eles seria
equivalente a “desnudo”. O mesmo aconteceu com soldadura e vestidura em que
os falantes identificavam as bases “soldado” e “vestido”, não fazendo qualquer
referência a essas bases como participiais, mas remetendo-as aos substantivos
“soldado militar” e “roupa utilizada por mulheres”. Dessa forma, por mais que
4 Esse teste inicial foi aplicado a 30 falantes da faculdade de Letras ou não e foi realizado da seguinte maneira: apresentamos palavras como vestidura, peladura, zebrura e podrura e pedimos aos falantes que, oralmente, nos indicassem seus significados. Em alguns casos, apresentávamos essas palavras contextualizadas como em “eu julgava poder distinguir um campo de interesse cultural e essa zebrura inesperada que às vezes vinha atravessar esse campo”, mas os falantes não conseguiam remontar o seu significado.

48
os falantes conseguissem depreender a base, não conseguiam definir ou
contextualizar as palavras apresentadas. Em alguns casos, nem quando
fornecíamos o vocábulo já contextualizado, o significado era recuperado pelo
informante. Dessa forma, tais palavras foram excluídas do corpus, uma vez que
nosso objetivo é analisar apenas os vocábulos efetivamente empregados e
reconhecidos pelos falantes, tendo por base o uso da língua.
Desse modo, optamos por manter no corpus apenas os vocábulos
reconhecidos pelos falantes e, para tanto, criamos um filtro nos vocábulos
pertencentes ao corpus inicial a partir da busca no Google. Assim, selecionamos
um filtro de 50.000 ocorrências para que pudéssemos manter ou retirar as
palavras do corpus, o que comprovou a nossa hipótese inicial e os testes
informais com os falantes: em linhas gerais, as palavras não acessíveis aos
informantes que participaram do teste tiveram baixíssimo número de
ocorrências no Google. Assim, as palavras que restaram no corpus com o seu
respectivo número de ocorrências estão detalhadas no anexo III e abaixo
exemplificadas:
PALAVRA OCORRÊNCIAS NO GOOGLE
Abertura 81.400.000
Altura 228.000.000
Armadura 14.300.000
Assadura 200.000
Assinatura 40.800.000
Atadura 40.800.000
Belezura 388.000

49
Benzedura 944.000
Brancura 224.000
Chatura 247.000
Cintura 46.100.000
Cobertura 102.000.000
Fartura 6.350.000
Fechadura 3.490.000
Feiura 493.000
Ferradura 1.530.000
Fervura 722.000
Finura 1.400.000
Fofura 2.890.000
Fritura 1.240.000
Gostosura 388.000
Tabela 1: Número de ocorrências dos vocábulos no sítio de busca Google
Portanto, depois de delimitado o corpus, restou um montante de 98 dados
de nominalização X-ura reconhecidos pelos falantes e analisados nesta
Dissertação.
3.3. Métodos de análise
A fim de corroborar a hipótese inicialmente apresentada – a de que o
sufixo –ura somente é produtivo nos dias de hoje a partir de bases não
participiais, apresentando dados empíricos que demonstrem esse percurso
histórico – foi essencial fazer uma busca em textos escritos antigos. Para tanto,
recorremos ao “Corpus do Português”, um corpus muito amplo e

50
disponibilizado por meio eletrônico, o que facilitou consideravelmente o
processo de coleta, visto que buscávamos verificar uma vasta quantidade de
textos com o objetivo de obter resultados mais confiáveis.
Foi escolhido esse corpus por ele apresentar quase 57.000 textos em língua
portuguesa, do século XIV até o século XX. Além disso, como abarca também
textos de outros corpora informatizados, pudemos obter dados de textos dos
séculos anteriores a esses, como XII e XIII, por exemplo. Assim, o corpus trazia
como resultado o registro solicitado, separado por número de ocorrências em
cada século e contextualizado com referência aos textos de onde foi rastreado.
Assim, foram pesquisadas todas as ocorrências que restaram no corpus a partir
desse sítio, buscando a datação da primeira aparição em textos escritos e
analisando o contexto em que tais palavras estavam sendo utilizadas e com que
significado. Veremos no capítulo 5 e 6 que essa busca em textos antigos também
ajudou a demonstrar a mudança semântica ocorrida e a especialização sofrida
pelo afixo -ura. Assim, os textos antigos consultados estão apresentados no
anexo VI desta Dissertação.
Finalizada a varredura nos textos antigos, foi feita a separação das
ocorrências por cada século a fim de corroborar as hipóteses previamente
levantadas acerca da história do afixo e tecer maiores considerações sobre o
lugar desse afixo na língua portuguesa. O anexo IV apresenta essa separação
por século e foi utilizado para fazer a análise história presente no capítulo 5.
Além disso, vale ressaltar que a datação encontrada nesses dados também foi
utilizada no anexo II, pois, da mesma maneira que, entre o dicionário eletrônico

51
Houaiss (2001) e os dicionários etimológicos consultados, foi considerada a data
mais antiga, o mesmo foi feito em relação a esses textos. Por fim, comparando
as três datações a que tivemos acesso, selecionamos sempre a mais antiga, seja
ela a do dicionário eletrônico Houaiss, a dos dicionários etimológicos
consultados ou a primeira aparição em textos do “Corpus do Português”.
Em relação às funções da nominalização que serão apresentadas no
capítulo 5 e reinterpretadas de acordo com a Teoria Multissistêmica no capítulo
6, achamos de extrema importância separar os vocábulos constituintes do corpus
entre elas e apresentá-las no anexo V para facilitar a consulta. Além disso, é
importante ressaltar que essa divisão foi feita a partir do significado mais
prototípico de cada palavra, já que, como veremos a seguir essas funções
podem se intercambiar à medida que os dispositivos sociocognitivos atuem ou
cada um dos quatro sistemas tome lugar. Assim, o significado prototípico de
altura é o de abstratização de adjetivo, indicação de propriedade, mas, se
inserida em um contexto, pode veicular o significado de intensificação, como se
observa no seguinte exemplo:
(1) Olha a altura desse salto, é óbvio que vai tropeçar5.
Como o objetivo desta Dissertação é analisar o processo de
nominalização a partir do sufixo –ura com base na Teoria Multissistêmica,
optamos por recolher os exemplos presentes nesta Dissertação no sítio de busca
5 http://somulhercompartilha.tumblr.com/post/26831503854/olha-a-altura-desse-salto-e-obvio-que-vai. Acessado em 07/ Ago / 2012

52
do Google. Assim pudemos verificar essas palavras em seu contexto real de uso
sem recorrer a exemplos inventados.
Quanto ao teste de aceitabilidade com os falantes, podemos descrevê-lo
rapidamente devido à sua simplicidade de elaboração, mas objetivamente
satisfatório. Com o intuito de verificar se as formações com bases verbais não
eram mesmo mais produtivas para formar novas palavras na língua, criamos
um experimento que continha palavras criadas por nós e formadas a partir da
anexação de três afixos distintos a uma mesma base verbal: -ura, -mento e -ção.
Como exemplo, podemos citar as formações deletação, deletamento e deletadura
que são formadas pela base verbal deletar (e seu particípio deletado, no caso de
-ura).
Feito isso, foi solicitado aos falantes da Faculdade de Letras da UFRJ que
atribuíssem um grau de aceitabilidade para cada uma dessas ocorrências dentro
de uma escala apresentada. Assim, ele marcaria 1 quando considerasse que a
forma era plenamente aceitável; 2, quando a considerasse como aceitável; e 3,
quando não a reconhecesse e não achasse aceitável tal realização na língua. O
experimento está presente no anexo VII desta Dissertação para consulta dos
dados apresentados aos informantes. Foram ouvidos 22 informantes, chegando
a um total de 132 dados, das mais diferentes idades e dos dois sexos, pois
pensávamos que isso talvez pudesse interferir, mas percebemos, ao fim da
análise, que essas informações sociolinguísticas não alteravam o resultado da
amostra e nem trazia novas considerações como veremos no capítulo 5.

53
3.4. Resumindo
Um bom método de análise e de constituição de um corpus é de extrema
importância para atingir os objetivos da análise linguística. Assim, pretendemos
ter apresentado de maneira clara e detalhada todos os caminhos percorridos ao
longo desta Dissertação para alcançar os objetivos da análise. Buscamos mostrar
como foi feita a constituição do corpus e qual a relevância para tal escolha, além
de apresentar os métodos de análise das ocorrências selecionadas.
No que diz respeito ao experimento linguístico, buscamos demonstrar
como foi realizado e com que objetivo foi elaborado, apontando para a sua
relevância dentro desta análise.

54
TEORIA MULTISSISTÊMICA
O presente capítulo tem por objetivo apresentar o arcabouço teórico no
qual esta pesquisa se apoia, a fim de justificar a sua escolha e analisar o
formativo em questão. Isso posto, temos o objetivo de melhor compreender
como conceitos básicos como o de língua, por exemplo, são tratados e quais são
os preceitos que sustentam a Multissistêmica, além de apontar e descrever as
influências que a Linguística Cognitiva e o Funcionalismo exercem sobre essa
abordagem e sustentam esse novo enfoque.
Em resumo, essa teoria trata a língua como um conjunto de sistemas que
atuam simultaneamente e inova ao não falar mais em divisões de gramática
hierarquizadas. Segundo essa abordagem, a língua não apresenta divisões
estanques nem sistemas que dependem de algum outro para se realizar, na
medida em que todos atuam simultaneamente.
A Abordagem Multissistêmica leva em consideração um dispositivo
sociocognitivo que atua nos quatro sistemas constituintes da língua: semântica,
discurso, léxico e gramática. Observe a figura 1 abaixo:
4

55
Figura 1: A relação entre o dispositivo sociocognitivo e os sistemas da língua.
Segundo essa teoria e a partir da figura apresentada acima, podemos
perceber que os sistemas são independentes entre si, ou seja, um não é
hierarquizado em detrimento de outro, e que o dispositivo sociocognitivo
(DSC) atua em todos os sistemas linguísticos afetando-os independentemente.
No entanto, vale ressaltar que, apesar dessa independência entre os sistemas, é
possível notar que interfaces podem ocorrer (e, de fato, ocorrem), na medida em
que a língua está em constante mudança e esses sistemas são ativados
simultaneamente na língua.
Também é válido salientar que faremos uso da teoria para dar uma nova
abordagem ao tema, mas recorreremos a outros modelos linguísticos, quando
necessário. No caso da análise morfológica, por exemplo, faremos uso da
proposta de Booij (2005; 2010) por acreditar que (1) esse modelo, denominado
Morfologia Construcional, possibilita melhor descrição do afixo e (2) a
abordagem pela Multissistêmica pouco enfatiza esse componente linguístico.
Cabe, com isso, dizer que não faremos da Teoria Multissistêmica uma cartilha a
ser seguida, mas um aporte teórico aberto a novas influências e abordagens,
DISCURSO
LÉXICO SEMÂNTICA DSC
GRAMÁTICA

56
visto que o objetivo final é analisar com mais precisão o processo de
nominalização ora contemplado.
4.1. Postulados da teria multissistêmica funcionalista-cognitiva
A teoria Multissistêmica funcionalista-cognitiva é definível a partir de
seis postulados que tomam por base as noções e os conceitos levantados pela
Linguística Funcionalista e pela Linguística Cognitiva. Todos esses postulados
sustentam essa abordagem e apontam para uma visão inovadora de gramática,
na medida em que se começa a olhar para a língua a partir de mais de um ponto
de vista, buscando analisar os seus fenômenos por completo.
Nesta seção, optamos por separar os postulados de duas maneiras: em
um primeiro momento, apresentamos os mais gerais, na medida em que partem
de outras teorias; e em um segundo momento, apresentamos os postulados
mais específicos da nova abordagem.
4.1.1. Postulados gerais
Nesta subseção, apresentaremos os postulados da Gramática
Multissistêmica que têm por base as Linguísticas Cognitiva e Funcionalista.
Esses são chamados de postulados gerais, pois são as bases dessa nova teoria
que foram trazidas das anteriores, ou seja, não são inovações da
Multissistêmica, apenas a manutenção de ideias já elaboradas e discutidas por
outras teorias. No entanto, isso não diminui a importância ou relevância dessa

57
nova abordagem, visto que os estudos linguísticos estão sempre se baseando
nos anteriores, seja concordando ou discordando.
4.1.1.1. Postulado 1: a língua se fundamenta em um aparato cognitivo
Ao longo dos anos, foram criadas inúmeras correntes linguísticas que
visavam a analisar e descrever a língua a partir de um novo ângulo e que
tomavam por base o que já se tinha seja concordando ou não com as ideias
existentes. Com a Linguística Cognitiva (doravante LC) não poderia ser
diferente. Essa nova forma de abordar a língua surgiu como renovação dos
estudos funcionalistas que se opunham ao gerativismo de Chomsky (1986) por
intermédio dos linguistas Lakoff e Johnson (2002 [1980]).
A Gramática Gerativa não levava em conta o uso da língua em seus
estudos e a considerava modular, na medida em que separava os diferentes
módulos da gramática priorizando a sintaxe em detrimento da semântica e da
pragmática, ou seja, as orações, de acordo com essa corrente teórica
(CHOMSKY, 1986), deveriam ser descritas independentemente do contexto no
qual estariam inseridas. Para a gramática gerativa, a língua é interpretada como
um conjunto de sentenças, de orações, cujo correlato psicológico é a
competência linguística – capacidade do falante de produzir, interpretar e julgar
a gramaticalidade dessas sentenças. Além disso, outra característica básica
dessa visão sobre a língua é a de que a aquisição é inata e, portanto, os inputs
são restritos e não estruturados.

58
Não satisfeitos e percebendo que a língua não era apenas um conjunto de
sentenças e que o discurso e a interação social atuam no sistema linguístico,
abriu-se caminho para a Linguística de base Cognitiva, partindo do pressuposto
de que a cognição faz parte da linguagem – ou que a linguagem faz parte da
cognição – e não deve ser abandonada nos estudos linguísticos. Portanto, o
pressuposto dessa teoria é o de que a estrutura léxico-gramatical das línguas
naturais reflete a estrutura do pensamento de alguma forma e que a
representação do chamado “conhecimento de mundo” está intimamente ligada
à representação semântica, influenciando a gramática. Dessa forma, a cognição
– que ajuda a descrever um mundo em movimento a partir das relações sociais
-, a semântica e a pragmática passam a ser consideradas essenciais para um
estudo mais aprimorado da língua e conceitos que antes eram interpretados de
uma maneira pela Linguística Gerativa passam a ser entendidos de outra forma.
Como afirma Soares da Silva (2006:297),
“toda a linguagem é, afinal, acerca do significado. E o significado linguístico é flexível (adaptável às mudanças inevitáveis do mundo), perspectivista (não espelha, mas constrói o mundo), enciclopédico (intimamente associado ao conhecimento do mundo) e baseado na experiência e no uso (experiência individual e colectiva e experiência do uso actual da língua). São estes os princípios fundacionais da Linguística Cognitiva. E a polissemia é uma das evidências maiores destes princípios”.
A partir dessa passagem, podemos resumir sobre o que trata a
Linguística Cognitiva e apontar para a polissemia como uma grande evidência
dos princípios norteadores da teoria. Portanto, vale fazer uma breve referência

59
sobre como seria abordada a polissemia nesse contexto e qual a sua importância
real. Segundo Soares da Silva (2006), a polissemia seria uma associação de
sentidos múltiplos que se relacionam entre si apresentando uma única forma.
Em outras palavras, seria uma palavra ou expressão com inúmeros sentidos,
uma rede de sentidos flexíveis, adaptáveis ao contexto e abertos à mudança, já
que dependem do uso. Assim, podemos perceber que um dos conceitos básicos
da Linguística Cognitiva é a polissemia, pois esta é alcançada na medida em
que o contexto e o uso passam a fazer parte do sistema linguístico, da cognição
humana e, consequentemente, a interferir na linguagem. As representações
desse conceito, por sua vez, estão na metáfora, na metonímia e também na
categorização a partir de protótipos. No entanto, antes de entrar na descrição do
que se entenderia por metáfora, metonímia e categorização, é importante fazer
um breve percurso sobre o que sustenta a Linguística Cognitiva, as formas de
organização do conhecimento de mundo, que é um dos pilares da
Multissistêmica: os conceitos de Esquemas Imagéticos (EIs), frames e Modelos
Cognitivos Idealizados (MCIs). Segundo a LC, o nosso pensamento é
organizado a partir das nossas experiências de mundo e, para tanto, são
acessados esses conceitos anteriormente citados.
Os Esquemas Imagéticos (EIs) são, segundo Soares da Silva (2006, 185)
“Padrões imaginativos, não proposicionais e dinâmicos dos nossos movimentos no espaço, da nossa manipulação dos objetos e de interacções perceptivas. eles apresentam uma estrutura interna, ligam-se entre si através de transformações e podem ser metaforicamente elaborados”.

60
Dito de outra forma, os Esquemas Imagéticos são gestalts experienciais
que emergem da nossa atividade sensório-motora e através das quais
manipulamos e nos orientamos espacialmente, direcionando o nosso foco
perceptual. Assim, esses esquemas refletem a nossa relação com o mundo e com
a forma com a qual interagimos com o ambiente ao nosso redor. Como
exemplo, podemos citar o EI de percurso em que temos um ponto A
direcionando-se a um ponto B de destino e esse esquema pode ser ativado
quando queremos falar da relação de finalidade, por exemplo.
A B
Figura 2: Esquema Imagético do Percurso
Na formação vale-transporte, o esquema imagético de percurso é ativado,
na medida em que temos a relação de causa e finalidade visto que se trata de
um vale para ser usado no transporte, com a finalidade do transporte.
Segundo a LC, os frames são, por sua vez, sistemas que apresentam
conceitos tão relacionados que, para que se entenda um deles, é preciso
entender toda a estrutura na qual ele se insere (FILLMORE, 1982: 111). Quer-se
com isso dizer que o frame é um conjunto de vários conhecimentos integrados, é
uma base de conhecimento que é atualizada e evocada cotidianamente pelos
falantes e estruturado contextualmente. Como exemplo, podemos citar a

61
expressão usada por Fillmore (1982:380) café da manhã. Segundo o autor, essa
expressão evoca uma cena já previamente esquematizada na mente do falante.
Independentemente da hora em que o indivíduo se alimente, ou mesmo que ele
não tenha dormido, sabe-se que esta é a primeira refeição do dia e que tipos de
alimentos são consumidos.
Já os MCIs, ou Modelos Cognitivos Idealizados, são a representação do
conhecimento de mundo do falante e muito se assemelham aos frames, já que
também são representações cognitivas estereotipadas. O conceito de MCI, que
foi desenvolvido por Lakoff (1987), diz respeito à estruturação do pensamento e
à sua utilização na formação de categorias no raciocínio humano. A contraparte
Multissistêmica dos MCIs está expressa através dos Dispositivos
Sociocognitivos (DSC) supracitados. Assim como esses Modelos, os DSCs
também são entendidos como sendo o conhecimento de mundo do usuário da
língua, ou seja, toda a bagagem sociocognitiva trazida pelo falante. A diferença
está no fato de o DSC poder ser ativado, reativado ou desativado dentro dos
sistemas da língua como veremos no capítulo 6, e o MCI estar sempre ativado
na mente do falante, estando, portanto, sempre presente.
Assim, depois desse breve percurso sobre alguns conceitos da LC,
retornemos aos conceitos de metáfora, metonímia, polissemia e categorização,
muitos importantes na Teoria Multissistêmica. Um dos pontos de oposição
entre as abordagens Gerativa e a Cognitiva está na interpretação da metáfora e
da metonímia. Enquanto, na primeira corrente, esses conceitos eram tratados
apenas no campo da figuratividade; na segunda, eles passam a fazer parte da

62
linguagem cotidiana dos falantes e são interpretados como bases estruturantes
da linguagem. A Linguística Gerativa considerava a metáfora e a metonímia
como meras figuras de linguagem, assim como vinha sendo entendido até o
momento e desde a Filosofia Clássica. De acordo com essa visão, tais conceitos
seriam marginais à língua e utilizados apenas para fins literários e figurativos
(LAKOFF & JOHNSON, 2002:11). Em contrapartida, a Linguística Cognitiva
interpreta esses conceitos como princípios que estruturam a cognição e a
linguagem humanas. Segundo essa visão, o centro da linguagem estaria
justamente nessa figuratividade, já que a metáfora é vista como uma operação
cognitiva fundamental para a comunicação, na medida em que utilizamos
várias delas no dia a dia sem nem ao menos perceber.
De acordo com Lakoff e Johnson (2002), a metáfora é, antes de tudo, uma
propriedade do pensamento, um processo cognitivo através do qual somos
capazes de comparar dois domínios e interpretar, conceptualizar um por
intermédio de outro: sendo um o domínio-fonte e o outro, o domínio-alvo. Para
tanto, é necessário que o domínio-fonte seja mais básico que o domínio-alvo por
este estar diretamente associado à relação experiencial do falante / ouvinte e ser
somente a partir de conceitos que já experienciamos e já conhecemos que somos
capazes de conceptualizar novos conceitos. Os autores exemplificam essa
afirmação ao falarem de metáforas conceptuais, como AMOR É UMA VIAGEM,
ativadas pelo falante no momento da comunicação e através das quais
conseguimos entender frases e expressões do cotidiano como “Veja a que ponto
nós chegamos”, “Nossa relação não está indo a lugar algum”, dentre outras. É

63
através dessa aproximação conceptual que conseguimos conceber o amor como
uma viagem e o que nos permite dizer que chegamos ou estamos indo a algum
lugar quando o foco são as relações amorosas. Assim, como mencionado
anteriormente, a metáfora, segundo a LC, não é apenas um adorno, um recurso
dispensável à linguagem humana, mas um atributo do pensamento, já que está
presente na linguagem cotidiana representada em um enorme número de
expressões metafóricas, desempenhando um papel central no sistema
conceptual humano, permitindo que os usuários da língua concebam e
exprimam ideias abstratas a partir de suas experiências no domínio concreto.
A metonímia, por sua vez, igualmente vista na tradição clássica como
uma simples figura de linguagem, uma figura retórica, também gera forte
polissemia e nos ajuda a conceptualizar uma ideia a partir de outra, assim como
a metáfora. No entanto, na metonímia não existem domínio-fonte e domínio-
alvo, já que essa nova conceptualização se dá dentro de um mesmo domínio
cognitivo. Observando a frase “Eu comprei um Degas”, está claro que estou
afirmando ter comprado alguma obra do pintor e escultor francês e não o
próprio. Assim, só conseguimos entender que se trata da obra a partir de uma
conceptualização dentro do mesmo domínio em que se tem o produtor (no
caso, Degas) e o produto (nesse exemplo, as obras de arte em geral). Na
metonímia, o que ocorre é uma focalização e um destaque dentro de um mesmo
espaço semântico.
Nesse sentido, a Teoria da Metáfora de Lakoff e Johnson (2002 [1980])
parece ter grande interferência e valor na Multissistêmica, pois a

64
ressemantização, por exemplo, faz uso dela como um dos mecanismos para
atualização de significado das palavras e expressões, como veremos no capítulo
6.
Outra relevante contribuição da Linguística Cognitiva para a
Multissistêmica é a que diz respeito à Teoria dos Protótipos de Lakoff (1975
apud CASTILHO, 2010) que tem um importante papel na categorização e,
consequentemente, na polissemia. Nas abordagens ditas clássicas, as categorias
espelhavam uma realidade física e, por isso, eram dotadas de propriedades
inerentes. De acordo com essa visão, todos os membros de determinada
categoria deveriam exibir atributos criteriais idênticos, ou seja, todos deveriam
ter estatuto semelhante. No entanto, essa visão apresenta alguns problemas, na
medida em que nem todos os membros de uma categoria apresentam as
mesmas propriedades e a ausência de uma considerada de máxima
importância, não faz com que esse membro deixe de pertencer à categoria.
Podemos demonstrar essa crítica com o clássico exemplo dos seres humanos:
uma das características primordiais da categoria “homem” é ter dois braços e
duas pernas. Todavia, se temos um indivíduo com apenas uma perna, ele
deixaria de ser incluído nessa categoria? Como a resposta a essa pergunta é
negativa, vale buscar uma nova forma de categorização, sendo ela a abordada
pela LC.
Ao contrário de como eram vistas pelas abordagens clássicas, as
categorias, na teoria dos protótipos, não são entendidas como uma reprodução
da realidade e sim como uma representação. Dessa forma, não há limites

65
estanques entre elas, já que suas propriedades não são inerentes, mas flexíveis,
formando, assim, um continuum dentro da mesma categoria do mais prototípico
para o menos prototípico. Ainda assim, vale definir o que entendemos por
prototípico dentro dessa teoria. Os protótipos de uma categoria são os
elementos representantes da realidade que compartilham muitos traços comuns
e representam mais completamente determinada categoria. Em contrapartida, o
elemento ao final do continuum seria o menos prototípico, ou seja, aquele que
apresenta apenas alguns traços, sendo considerado como elemento marginal
dessa categoria.
Assim, a teoria dos sistemas complexos, ou Multissistêmica, emerge
nesses preceitos da LC e postula um “continuum categorial”, na medida em que
entende que é a
“similitude, e não a identidade, que deve ser buscada no processo de postulação de categorias. Seus traços definidores não devem ser estabelecidos a partir de propriedades necessárias e suficientes, ou a partir de seu valor de verdade, e sim a partir de certas semelhanças que os falantes percebem intuitivamente” (CASTILHO, 2010:70-71)
Portanto, pudemos perceber que, segundo esse postulado, a cognição é
uma das bases para a descrição linguística e é nessa medida que a Linguística
Cognitiva atua. Esse postulado foi considerado por nós mais geral e abrangente,
visto que levanta as questões presentes na Linguística Cognitiva, sendo,
portanto, uma das bases da teoria.

66
4.1.1.2. Postulado 2: a língua é uma competência comunicativa
A Teoria Multissistêmica tem por base muitas noções primárias do
funcionalismo, conforme será descrito nesta subseção. A primeira delas é a
interpretação da língua como um processo estruturante, contrapondo-se à ideia
primeira do estruturalismo que entendia a língua apenas como um conjunto de
produtos já finalizados. Segundo o funcionalismo, essa seria a visão mais
abrangente, já que a língua é dinâmica, é produção, é atividade (energia), nos
termos de Humbolt (1990:65 apud CASTILHO, 2010), e não somente um
produto.
Como afirma Neves (1997:15), “por gramática funcional entende-se, em
geral, uma teoria da organização gramatical das línguas naturais que procura
integrar-se em uma teoria global da interação social”. Assim, é, portanto, uma
teoria que compreende que as “relações entre as unidades e as funções das
unidades têm prioridade sobre seus limites e sua posição, e que entende a
gramática como acessível às pressões de uso” (NEVES, 1997:15). A autora
também afirma que a gramática funcional considera a competência
comunicativa do falante, ponto retomado pela Teoria Multissistêmica, e define
essa competência como sendo “a capacidade que os indivíduos têm não apenas
de codificar e decodificar expressões, mas também de usar e interpretar essas
expressões de uma maneira internacionalmente satisfatória” (NEVES, 1997:15),
ou seja, a competência comunicativa é a capacidade que o falante tem de se
comunicar com sucesso na língua, de se fazer entender. Nas palavras de Dik
(1997:6),

67
“A capacidade linguística do falante abrange não só a capacidade de criar e interpretar expressões linguísticas, mas também a capacidade de usar essas expressões de maneira apropriada e eficaz de acordo com as convenções da interação verbal que prevalecem em uma comunidade linguística”.6
Essa competência comunicativa está diretamente ligada às noções de
tema e rema – e à sua articulação na sentença – e de atos de fala, na medida em
que o falante deve ser capaz de articular essas informações satisfatoriamente a
fim de criar o processo comunicativo. O estatuto informacional vem sendo
amplamente discutido por inúmeros autores e as noções de tema e rema
possuem várias divisões a depender do ponto de vista do autor que as define.
No entanto, apesar dessas variações, todos os autores concordam com a
definição básica de que o tema é a informação velha, dada (que possui baixa
informatividade) enquanto o rema é a informação nova (que carrega alta
informatividade) da cláusula. Essas noções são muito importantes no processo
comunicativo, pois a língua só irá “funcionar” se os interlocutores conseguirem
se comunicar: o ouvinte conseguir entender e o falante ser capaz de se fazer
compreender. Assim, segundo Chafe (1976: 27-28), o processo de comunicação
só ocorrerá com sucesso se o falante levar em consideração o que pode se passar
na cabeça do ouvinte7 e o falante tem de ajustar o que está dizendo ao que ele
6 “[natural linguistic user’s] linguistic capacity comprises not only the ability to construe and interpret linguistic expressions, but also the ability to use these expressions in appropriate and effective ways according to the conventions of verbal interaction prevailing in a linguistic community”. 7 “Language functions effectively only if the speaker takes account of such states in the mind of the person he is talking to”. (CHAFE, 1976: 27-28).

68
assume que o ouvinte está pensando no momento da conversação. Por esse
motivo, é muito importante que se tenha em mente as noções de informação
dada e informação nova, visto que o falante deve estruturar a sua comunicação
a partir do que pressupõe ser novo ou velho para o seu ouvinte, ou seja, deve
acomodar sua fala ao conhecimento de mundo do seu interlocutor. Assim,
informação velha é a que o falante assume ser de conhecimento do seu ouvinte
e a informação nova é a que ele acredita estar introduzindo no conhecimento,
na consciência desse interlocutor. Já em relação aos atos de fala, podemos notar
que sua importância se dá na medida em que demonstram a intenção do
falante, ou seja, o que ele deseja passar e com que objetivo. Juntamente com
essas noções, também temos as de topicalização e focalização que são, ambas,
estratégias conversacionais que têm por objetivo destacar a informação mais
importante daquela cláusula em detrimento das outras.
Segundo o funcionalismo, a linguagem é uma atividade sociocultural
que serve de instrumento para a comunicação entre os seres humanos e faz com
que a forma linguística derive do seu uso no processo de comunicação,
devendo, portanto, ser analisada no discurso. Assim, a linguagem é um
fenômeno mental e primariamente social – devido a sua preocupação com o uso
– e uma entidade não autônoma, pois está diretamente correlacionada a fatores
comunicativos ou sociocomunicativos e cognitivos ou sociocognitivos, sendo,
dessa forma, um objeto contextualizado.
A língua, por sua vez, é considerada um sistema de unidades e
regularidades linguísticas sensíveis às situações de uso e de comunicação e à

69
interação verbal. Sendo assim, a língua é a conjunção entre regras, formas e
significados, levando em consideração a interação social entre os falantes. A
língua também é entendida como um sistema adaptável, maleável e em
constante transformação por responder às pressões de uso da interação
comunicativa. Segundo Dik (1997), a língua é um instrumento de interação
social que não existe por si só em algum tipo de estrutura arbitrária, mas existe
em virtude de ser utilizada para determinados fins8. Essa interação é definida
como sendo (DIK, 1989 apud PEZATTI, 2005:168), “uma forma de atividade
cooperativa que estrutura, em torno de regras sociais, normas ou convenções”.
O autor também afirma que a principal função dessa língua natural é
estabelecer a comunicação entre os seus usuários, ou seja, mais uma vez temos a
noção funcional de que a língua existe com uma função, um objetivo a ser
alcançado – que é a comunicação efetiva.
Os principais objetivos do funcionalismo que podem ser conjugados à
Multissistêmica são os de explicar a estrutura de uma língua, seus princípios e
entidades, levando em consideração a comunicação e o discurso – ou seja,
levando em conta a competência comunicativa – e esclarecer os fenômenos
linguísticos com base em aspectos semânticos, discursivos e pragmáticos e a
partir da sua funcionalidade, na medida em que considera o discurso um dos
sistemas básicos da língua.
Outro ponto da Linguística Funcional que também é levado em
consideração na Multissistêmica é o fato de aquela considerar a mudança
8 “[an instrument of social interaction] means that it does not exist in and by itself as an arbitrary structure of some kind, but that is exists by virtue of being used for certain purposes”. (DIK, 1997:5)

70
linguística como algo pancrônico, isto é, juntamente com fenômenos que
mudaram ao longo do tempo, convivem variantes que refletem um conjunto de
polissemias na língua. Dessa forma, podemos perceber que, no funcionalismo, a
dicotomia saussuriana sincronia X diacronia já estava sendo enfraquecida. No
entanto, apesar de usar essa ideia como base, a Multissistêmica vai além, pois
afirma que não somente a mudança é pancrônica, mas a língua como um todo,
como esclareceremos mais adiante, no postulado 5.
Portanto, podemos perceber que a Teoria Multissistêmica mantém
muitos dos preceitos do funcionalismo como base, assim como do cognitivismo.
Isso é possível, pois essas duas teorias partem dos mesmos pressupostos iniciais
– já que esta derivou daquela – e levantam questões interessantes acerca do
estudo da língua.
4.1.2. Postulados específicos
Mesmo tendo bases na Linguística Cognitiva e na Linguística
Funcionalista, a Teoria Multissistêmica pode ser intitulada uma nova
abordagem linguística, já que apresenta inovações no pensamento e na forma
de análise. Assim, nesta seção, buscamos descrever quais são os postulados
específicos da teoria utilizada como aporte teórico da pesquisa, abordando os
que diferenciam a Mutissistêmica das outras correntes linguísticas e a tornam
única dentre as demais.

71
4.1.2.1. Postulado 3: as estruturas linguísticas não são objetos
autônomos
Esse postulado está intrinsecamente ligado ainda ao postulado anterior,
tido como geral, pois também trata da língua sob o ponto de vista funcionalista.
No entanto, optamos por separá-los já que este é um postulado mais específico
do que aquele, visto que seleciona apenas uma noção em especial apresentada
pelo funcionalismo.
Como já foi antecipado, as estruturas linguísticas não são consideradas
objetos autônomos, pois são flexíveis e adaptáveis às pressões de uso. Essas
estruturas não são entendidas como arbitrárias, mas são dinâmicas e sujeitas à
mudança, contrariando as perspectivas formalistas que não aceitavam a ideia
de a língua natural sofrer qualquer interferência externa. Resumindo, Castilho
(2010: 73) afirma que as estruturas linguísticas podem ser interpretadas a partir
de algumas propriedades, sendo elas:
(1) As estruturas são flexíveis e permeáveis às pressões de uso [como já mencionamos], combinando-se a estabilidade dos padrões morfossintáticos cristalizados com as estruturas emergentes; (2) as estruturas não são totalmente arbitrárias; (3) as estruturas são dinâmicas e sujeitas a reelaborações constantes, através do processo de gramaticalização.
Portanto, podemos perceber que esse postulado está conectado à ideia de
contexto e de análise conversacional. Queremos com isso dizer que, ao contrário
do que se tinha no polo formalista de análise da língua, a Multissistêmica

72
considera que a variação, a mudança e o contexto podem interferir na estrutura
linguística e a mesma pode ser, então, alterada. Não se tem mais a ideia de que
ela é uma estrutura já pronta, pré-moldada e inalterável, pois a interação passa
a fazer parte dos estudos linguísticos.
4.1.2.2. Postulado 4: as estruturas linguísticas são multissistêmicas.
Segundo esse postulado, a língua, que é tanto produto quanto processo
conforme demonstraremos mais adiante, é entendida como um sistema
dinâmico e ao mesmo tempo complexo, pois todos os sistemas linguísticos
atuam mutuamente, não havendo, portanto, hierarquia entre eles. Dessa forma,
perde-se a ideia levantada pelas demais teorias de que haveria supremacia de
um sistema ou módulo linguístico em detrimento de outro, como no caso da
Gramática Gerativa que defendia a ideia de uma sintaxe absoluta e acima dos
demais sistemas e a Cognitiva que privilegia a semântica, por exemplo. Nesse
sentido, essa nova abordagem parte de duas premissas que vão nortear e
defender a ideia de a língua ser um processo e um conjunto de produtos ao
mesmo tempo. A primeira delas é a seguinte (CASTILHO, 2010: 77):
(1) Do ângulo dos processos, as línguas serão definíveis como um conjunto de
atividades mentais, pré-verbais, organizados num multissistema operacional.
Segundo essa premissa, a língua é dinâmica, organizada a partir de
alguns processos e entendida a partir de operações simultâneas, dinâmicas e

73
multilineares (por não ser uma entidade unilateral). De acordo com a Teoria
Multissistêmica, as línguas não se organizam sequencialmente, quebrando o
paradigma que se vinha observando, já que todos os sistemas têm o mesmo
grau de importância e atuam ao mesmo tempo na língua. Além disso, a língua
passa a não ser mais vista como uma entidade estática, pronta e pré-moldada,
pois tem a sua dinamicidade. Segundo essa nova teoria, as línguas podem ser
entendidas como processos, devido, principalmente, a esse caráter mais
dinâmico e não estático que apresenta.
A segunda premissa diz respeito à ideia de língua como produto.
Observe abaixo (CASTILHO, 2010: 77):
(2) Do ângulo dos produtos, as línguas serão apresentadas como um conjunto
de categorias igualmente organizadas num multissistema.
A língua enquanto produto é conceptualizada como um conjunto de
categorias agrupadas em quatro diferentes sistemas: o léxico, o discurso, a
semântica e a gramática. De acordo com essa visão, esses sistemas seriam
considerados autônomos e independentes uns dos outros, em uma abordagem
na qual não haveria derivação, hierarquia ou qualquer relação de determinação
entre eles. Assim, não se postula a ideia de haver um sistema geral e central,
visto que todos eles têm a mesma importância e o mesmo status na língua, como
explicitado anteriormente. Portanto, qualquer expressão linguística apresenta,
ao mesmo tempo, características dos quatro sistemas, como pretendemos
mostrar na análise de dados desta Dissertação.

74
Sendo assim, podemos perceber que o postulado 4 é específico da
Multissistêmica, pois inova ao entender a língua tanto como produto quanto
como processo, diferentemente das teorias anteriores que afirmavam ser ela um
ou outro.
4.1.2.3. Postulado 5: a língua é pancrônica – explicação linguística
Como já pudemos adiantar no postulado 2 acima, a língua, segundo o
funcionalismo, pode sofrer pressões tanto da diacronia quanto da sincronia,
acabando, portanto, com essa dicotomia criada por Saussure. Assim, tomando
por base os antecedentes funcionalistas, esse postulado da Teoria
Multissistêmica aborda o estudo linguístico como pancrônico, ou seja, leva em
conta a diacronia para explicar a sincronia, a convivência entre várias sincronias
na língua, discordando da dicotomia saussuriana.
Segundo essa visão, os estudos sincrônico e diacrônico não devem ser
feitos em separado, pois “pensar o presente é pensar o passado no presente”
(CASTILHO, 2010:77), na medida em que (a) existe a convivência entre as
gramáticas e (b) ambos os estudos são válidos e necessários para um melhor
entendimento sobre o funcionamento da língua. Dessa forma, na presente
análise acerca da nominalização em português por intermédio de –ura,
recorreremos à história para explicar a atual sincronia desse sufixo
nominalizador.

75
4.1.2.4. Postulado 6: um dispositivo sociocognitivo ordena os sistemas
linguísticos.
Como pudemos perceber ao longo deste capítulo, existe, na Teoria
Multissistêmica, um elemento primordial na língua que atua em todos os
sistemas: o chamado Dispositivo Sociocognitivo (DSC). Esse dispositivo é o
responsável por articular os processos e os produtos linguísticos captados pelos
quatro sistemas (léxico, gramática, discurso e semântica) sendo explicitado
através de três diferentes princípios: o de ativação, o de desativação e o de
reativação de propriedades.
Esse dispositivo é chamado de cognitivo, pois tem por base as categorias e
subcategorias cognitivas de pessoa, espaço, tempo, objeto, movimento e evento, por
exemplo, ou seja, parte da conceptualização cognitiva dessas categorias. Além
disso, também é social na medida em que é baseado na análise das situações
conversacionais, nas mudanças de turno, ou seja, fazem parte das relações
sociais dos interlocutores.
Portanto, esses dispositivos socicognitivos
“Gerenciam os sistemas linguísticos, garantindo sua integração para os propósitos dos usos linguísticos, para a eficácia dos atos de fala. De acordo com esse dispositivo, o falante ativa, reativa e desativa propriedades lexicais, semânticas, discursivas e gramaticais no momento da criação de seus enunciados, constituindo as expressões que pretende ‘pôr no ar’” (CASTILHO, 2010:79)

76
Como podemos perceber, esses dispositivos são o cerne da teoria e, nesta
Dissertação, pretendemos mostrar como eles atuam nos diferentes sistemas
linguísticos e apresentar os princípios de ativação, reativação e desativação das
propriedades em todos eles. É importante notar que, assim como os sistemas
não são hierárquicos, esses princípios também não o são atuando
simultaneamente, pois em um mesmo momento em que se está ativando um
significado, também se está desativando outro e reativando um novo – no caso
do sistema semântico, por exemplo.
4.2. Resumindo
Ao longo deste capítulo, buscamos descrever uma nova forma de análise,
abordagem e descrição da língua: a Teoria Multissistêmica. Pudemos perceber
que ela tem por base os conhecimentos já alcançados pelo funcionalismo e pelo
cognitivismo, sendo, portanto, um desdobramento dessas duas correntes
linguísticas. Em resumo, a Multissistêmica interpreta a língua como maleável e
considera a importância do discurso e do conhecimento de mundo na estrutura
da língua. Segundo essa nova abordagem, a cognição é de extrema importância
para que o processo comunicativo seja efetuado e a língua seja claramente
compreendida.
Além disso, também pudemos constatar que essa teoria não trabalha com
as mesmas noções apresentadas pelas gramáticas e defende a existência de
quatro sistemas linguísticos que se conectam independentemente uns dos
outros e não apresentam qualquer hierarquia. Essa é a grande inovação da

77
teoria, na medida em que surge para quebrar com os paradigmas presentes nas
anteriores de que há sempre um módulo da gramática que se sobreponha aos
demais. Segundo a Multissistêmica, os módulos do discurso, da semântica, da
gramática e do léxico atuam ao mesmo tempo na língua e são igualmente
importantes para o funcionamento linguístico.
Outro ponto relevante a ser relembrado é a existência de um Dispositivo
Sociocognitivo (DSC). De acordo com Castilho (2010), seria esse dispositivo que
regeria a língua e os quatro sistemas atuantes nela. Dito de outra maneira, esses
dispositivos seriam responsáveis por ativar, desativar ou reativar cada um
desses sistemas nas estruturas linguísticas e abarcariam tanto o conhecimento
de mundo dos falantes quanto as necessidades discursivas. Portanto, em um
mesmo momento, o DSC poderia ativar uma propriedade do módulo
semântico, desativar alguma do módulo discursivo e reativar outra do sistema
lexical.
Assim, buscamos mostrar, neste capítulo, quais os fundamentos da teoria
utilizada como base nesta Dissertação e quais as inovações que a mesma traz
em função das já existentes.

78
FUNÇÕES DA NOMINALIZAÇÃO
A ideia central de que a nominalização é um processo pelo qual verbos
tornam-se nomes e estes indicam a ação ou o estado da ação não é plenamente
aplicável ao sufixo –ura e isso se deve à ampla concorrência sincrônica existente
com outros afixos nominalizadores e à especialização semântica de cada um
deles na língua portuguesa contemporânea. Cabe ressaltar que, como
pretendemos deixar claro neste capítulo, essa concorrência se deve ao fato de
haver diversos afixos nominalizadores na língua, podendo essa relação ser
direta ou indireta.
Como notaram Valente & Castro da Silva (2011), -ura apresenta quatro
diferentes funções: (a) a nominalização de verbos – interpretação verbal
(abertura, soltura, varredura), (b) a referenciação – interpretação nominal
(abotoadura, fechadura, cobertura), (c) a abstratização de adjetivos (bravura, ternura,
altura) e, por fim, (d) a intensificação (feiura, loucura, lonjura). Vale salientar, no
entanto, que a comparação com outros afixos, a ser feita neste capítulo,
considera apenas a atual sincronia da língua9. Além disso, também é importante
lembrar que a comparação com os demais afixos será efetuada de maneira não
tão aprofundada, na medida em que este estudo é apenas sobre o afixo –ura.
9 Retomando a Gramática Multissistêmica apresentada no capítulo anterior, deve-se fazer uma perspectiva pancrônica da língua. Por isso mesmo, os resultados comparativos devem ser relativizados.
5

79
Portanto, vamos nos ater somente a alguns dados, a fim de demonstrar que as
formações coexistem, mas desempenham, cada uma delas, uma diferente
função na língua. Outro ponto relevante a ser salientado no presente capítulo é
o fato de que essas funções foram determinadas a partir do significado
prototípico das palavras selecionadas como exemplos e que, para tal seleção, foi
criado um pequeno corpus dos demais afixos apontados, que pode ser conferido
no anexo VIII desta Dissertação.
5.1. Os caminhos de –ura
Com o objetivo de percorrer a história do afixo –ura e identificar e
delimitar as funções supracitadas, realizamos uma coleta de dados para compor
um corpus inicial com base em dicionários eletrônicos (Houaiss e Aurélio), que
continha 171 formas terminadas em -ura. No entanto, a estranheza que algumas
palavras geraram fez com que nos questionássemos se as realizações por meio
desse formativo seriam mesmo produtivas no português brasileiro. Embora em
alguns casos o padrão morfológico seja opaco, é fácil perceber que há ótimas
condições de isolabilidade em palavras como podrura e zebrura. Porém, essas
não são palavras facilmente reconhecidas e utilizadas em nenhum contexto
pelos falantes. Para corroborar essa nossa ideia inicial, fizemos entrevistas
informais com falantes de português a fim de verificar se formas como essas são
reconhecidas e os resultados foram compatíveis com nossa intuição de que
algumas formas em -ura já não são compreendidas pelo falante comum
(VALENTE & CASTRO DA SILVA, 2011). A entrevista consistia em apresentar

80
informalmente essas palavras e pedir para os informantes identificarem seu
significado. O mesmo aconteceu com os vocábulos peladura e soldadura, por
exemplo, que não eram identificados pelos usuários da língua e os mesmos não
conseguiam explicar ou contextualizar essas palavras como explicitado no
capítulo 3. Outro indício que encaminhou nossa hipótese, que será descrita a
seguir, foi a consulta de todas as palavras desse corpus inicial na ferramenta de
busca do sítio Google. Enquanto palavras como candidatura resultaram em
37.400.000 ocorrências, podrura retornou 1120 resultados e zebrura, apenas 116, o
que corrobora a baixa ocorrência e acessibilidade do falante.
Assim, nesta Dissertação, estabelecemos um filtro na amostra de dados,
que impõe um número mínimo de 50.000 ocorrências na ferramenta da Internet,
para que possamos dar conta de dados recorrentes em português. Isso se fez
necessário na medida em que buscamos lidar com dados de uso da língua e, se
considerássemos vocábulos como podrura, não atingiríamos nosso objetivo de
analisar e descrever a nominalização por meio do afixo -ura em português nos
dias de hoje. Depois de feita essa varredura nos dados, excluindo do corpus
aquelas que eram opacas ou que possuíam baixa ocorrência na língua, restaram
98 palavras que constituem o corpus deste trabalho.
Conforme ressaltado, identificamos quatro funções nominalizadoras
exercidas pelo afixo em análise e, a partir do significado prototípico das
palavras, pudemos agrupá-las e tecer as considerações feitas a seguir. A partir
da análise dos grupos de palavras de cada função, pudemos perceber que o
grupo nominalização apresenta baixa quantidade de dados (apenas 10

81
vocábulos) em comparação ao número expressivo do grupo referenciação (45
dados). No gráfico abaixo, encontram-se os valores percentuais da distribuição
de substantivos em –ura nas quatro funções nominalizadoras:
Gráfico 1: distribuição dos dados entre as funções da nominalização.
Observando os dados do gráfico 1, poderíamos levantar a hipótese de
que o primeiro grupo já não forma novos itens lexicais em português, na
medida em que é o que possui menos ocorrências no corpus. No entanto, esse
argumento não se sustenta sozinho, mas pode ser reforçado quando verificamos
que todas as palavras pertencentes a esse grupo são, em sua maioria, anteriores
ao século XV, havendo apenas um caso posterior a esta data, benzedura, datado
do século XVIII, como podemos observar na tabela abaixo:

82
PALAVRA NATUREZA DA BASE DATAÇÃO
Benzedura Particípio XVIII
Censura Do latim XV
Embocadura Particípio XVII
Envoltura Particípio XIV
Investidura Particípio XV
Ligadura Do latim XIII
Rapadura Particípio XIV
Semeadura Particípio XV
Soltura Particípio XIII
Varredura Particípio XV
Tabela 2: Palavras do grupo referente à função de nominalização com a datação e a base.
Outro fator que poderia indiciar nossa hipótese é a categoria das bases,
invariavelmente particípios, como também podemos ver na tabela acima, nos
casos de soltura de solto e envoltura de envolto, por exemplo. Trazendo à baila
mais uma vez o que disse Maurer Jr. (1959), no latim, o sufixo -ura se anexava a
bases participiais, sendo uma inovação do latim vulgar a formação com bases
adjetivas. As palavras com bases participiais seriam, pois, um resquício do latim
clássico, ao passo que, no português, as novas formações viriam de adjetivos,
como veremos mais adiante. O fato de a base ser participial ou ter se originado
diretamente no latim não torna nenhuma dessas informações excludentes, mas
apenas corrobora a hipótese de que, no início, as palavras que se formaram a
partir desse afixo tomaram por base os padrões latinos de fazê-lo dessa forma.
Assim, apenas colocamos esses dados na tabela a fim de comprovar que esse

83
resquício se manteve, mas atentos para o fato de origem e categoria gramatical
da base serem características distintas.
Cabe, então, buscar evidências que nos possibilitem responder às
seguintes perguntas:
(i) Há novas formações de -ura na língua?
(ii) A categoria lexical das bases teria alguma relação com a improdutividade/
produtividade dos padrões?
(iii) Se afirmativo, quais categorias seriam favorecedoras da formação de novas
formas e quais não seriam?
Primeiramente, consultamos alguns dicionários etimológicos (CUNHA,
1999; NASCENTES, 1955; SILVEIRA BUENO, 1967; e MACHADO, 1973) para
verificar a data de entrada dos substantivos na língua portuguesa. Além disso,
também fomos buscar as ocorrências das palavras do corpus em textos antigos
do português consultados no sítio eletrônico “Corpus do Português”10. Os
resultados mais gerais são apresentados no gráfico 2, sendo que não foram
encontradas datações para apenas um vocábulo (chatura), quando mesclamos as
duas informações: as fornecidas pelos dicionários e as aparições em textos
antigos pela primeira vez.
10 www.corpusdoportugues.org

84
Gráfico 2: Distribuição dos dados entre os séculos
Os resultados obtidos nos permitem responder positivamente à pergunta
em (i), que se refere à formação de novos itens, já que o registro primário dos
vocábulos compreende o período do século XII ao XX. Por outro lado,
formações recentes na língua, como gostosura e fofura, são exemplos de que -ura
ainda é produtivo em português, restando saber em que casos atuam os
mecanismos geradores de novas palavras. Para tanto, consultamos a
distribuição da categoria gramatical das bases que são adicionadas ao sufixo de
acordo com a cronologia da língua. Num total, 32,99% derivam de adjetivos (33
ocorrências – verdura e ternura), 27,84% de particípios (27 ocorrências – atadura
e semeadura), 1,03% de advérbios (apenas uma ocorrência – lonjura), 2,06% de
substantivos (dois casos – belezura e nervura), 28,87% das palavras entraram no
português via latim (28 dados – cintura e cultura) e 7,22% das formas vieram
como empréstimo de outras línguas (7 dados – brochura e legislatura). Os casos

85
de empréstimos, que têm origem no francês, inglês e italiano, foram separados
do conjunto de palavras que vieram do latim, porque aqueles são bastante
escassos (representam somente 7 dados). Os resultados da distribuição
categorial das bases encontram-se no gráfico 3.
Gráfico 3: distribuição categorial das bases ao longo dos séculos
Podemos visualizar que do século XIII ao XIX o sufixo -ura era
adicionado, principalmente, a adjetivos e particípios passados. Outra fonte
bastante recorrente é a entrada de palavras com origem no latim. A formação
com particípios já não aparece no século XX, dando lugar ao adjetivo e ao
substantivo, com 60% e 20%, respectivamente, apesar de ser contabilizado
também o caso de laqueadura que parece ter surgido na língua no século XIX,
visto que os dicionários registraram o verbo laquear no século XVIII.
Os resultados exibidos no gráfico 3, de certa maneira, servem para
confirmar o que viemos argumentando: a cristalização de -ura anexado a bases
de particípio e a produtividade junto a bases adjetivas. Além disso, evidencia,

86
também, a forte contribuição de palavras latinas que integram o léxico do
português, já que aparece com índices expressivos nesse gráfico. As palavras
que entram no português como empréstimos de outras línguas parecem seguir
a entrada registrada nos dicionários etimológicos, uma vez que no gráfico 3 a
primeira entrada é no século XVI.
A respeito da datação, encontramos algumas divergências entre a data
registrada no dicionário para determinados vocábulos e o período em que o
mesmo vocábulo aparece primeiramente em um texto e, portanto, selecionamos
sempre a data mais antiga. No texto “Prosodia”, de Bento Pereira, datado de
1697 e disponível no Corpus do Português, notamos a palavra dentadura, por
exemplo, que só é registrada nos dicionários como do século XIX (1836).
5.1.1. Teste de aceitabilidade
Baseados na hipótese de que não são formados mais vocábulos com
bases participiais, elaboramos um teste de aceitabilidade (CASTRO DA SILVA
et alii, 2009) a fim de verificar se os falantes reconhecem formas com particípio.
Segundo alguns autores, como Maurer Jr. (1959), o sufixo -ura concorre com -ção
e -mento na nominalização, como no caso abreviação, abreviamento e abreviatura.
No teste, apresentamos palavras inexistentes em português, mas possíveis,
como cortação, cortamento e cortadura, ou twitação, twitamento e twitadura. Foi
pedido aos informantes, alunos da Faculdade de Letras da UFRJ, que julgassem
a aceitabilidade das formas em uma escala de 1 a 3 (do menos aceitável ao mais
aceitável).

87
Conforme Lemos de Souza (2010) afirma e veremos mais adiante, -ção e
-mento são afixos bastante produtivos e nossa intuição era que os falantes
dariam preferência às formas com esses sufixos e, em contraste, as palavras com
-ura deveriam ter menor anuência, já que haveria se cristalizado nesse tipo de
formação.
Apresentamos os resultados no quadro abaixo:
Plenamente aceitável Aceitável Não-aceitável Total
-ção 53/ 132 = 40% 58/ 132 = 44% 21/ 132 = 16% 132/ 132 = 100%
-mento 67/ 132 = 51% 52/ 132 = 39% 13/ 132 = 10% 132/ 132 = 100%
-ura 13/ 132 = 10% 21/ 132 = 16% 98/ 132 = 74% 132/ 132 = 100%
Quadro 1: resultados dos testes de aceitabilidade
De fato, os índices apresentados no quadro 1 confirmam nossa hipótese
inicial, posto que foram consideradas como plenamente aceitáveis as formas
com -ção e –mento, o que não aconteceu em grande parte com -ura. Somados os
dados de plenamente aceitável com os de aceitável, –ção teve 84% de aceitação e
–mento, 90%. Ao contrário, as palavras com -ura tiveram uma rejeição
expressiva: apenas 26% dos dados foram aceitos. Se formos levar em conta os
números do nível plenamente aceitável, aumenta-se a discrepância, já que
obteve apenas 10%.

88
5.2. Nominalização de verbos e referenciação de entidades
Nesta seção, unimos as funções de nominalização de verbo e
referenciação de entidades, na medida em que ambas são funções precípuas da
nominalização e que grande parte das palavras desses grupos possui ambos os
significados, apesar de um poder sobressair ao outro. Observe o exemplo
abaixo:
(1) Ela está com uma atadura abaixo do joelho11.
Embora, no dicionário, encontremos a definição de atadura como sendo,
primeiramente, “o ato ou o efeito de atar”, o significado que está presente na
língua hoje é o mais nominal, o que diz respeito à “tira de linho para
bandagens”, como podemos notar no exemplo (1) acima. Por esse motivo,
resolvemos, então, unir a descrição dessas duas funções do afixo quando
comparado a outros.
No que diz respeito a essas duas funções aqui reunidas em apenas uma,
–ura concorre na língua com os afixos –mento, –ção e –agem, entre outros,
possuindo, no entanto, cada um deles uma acepção distinta. Observe os
exemplos, apresentados abaixo, retirados de sites da internet no método de
busca do Google:
11 http://www.portaluhtv.com/2012/02/giro-de-noticias-com-atadura-na-perna.html . Acessado em 06/Ago/2012

89
(2) Alimentação sem sabor e restrita é o oposto do emagrecimento
saudável12.
(3) Neblina causa novo fechamento do aeroporto de Porto Alegre13.
(4) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) referendou
por unanimidade nesta quarta-feira o afastamento cautelar dos
desembargadores14.
(5) A animação digital é a arte de criar imagens em movimento
utilizando computadores15.
(6) Oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma
conversa, um pedido, um agradecimento16.
(7) “Eu nunca fiz algo que valesse a pena por acidente, nem nenhuma
das minhas invenções aconteceram por acidente; elas vieram pelo trabalho."
17(Thomas Edison).
(8) Uma barragem, açude ou represa, é uma barreira artificial, feita em
cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água.18
(9) Um sistema de drenagem de águas pluviais é composto de uma
série de unidades e dispositivos hidráulicos para os quais existe uma
terminologia própria19.
12http://balbacch09.blogspot.com.br/2011/04/emagrecer-10-dicas-para-o-emagrecimento.html - Acessado em 06/Ago/2012 13http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2012/04/neblina-causa-novo-fechamento-do-aeroporto-de-porto-alegre.html - Acessado em 06/Ago/2012 14http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5727034-EI306,00-Corte+do+STJ+confirma+afastamento+de+desembargadores+do+RN.html – Acessado em 06/Ago/2012 15http://truped.com.br/animacao/animacao-digital-uma-revolucao-de-imagem-e-movimento/ - Acessado em 06/Ago/2012 16 https://sites.google.com/site/opoderdareza/ - Acessado em 06/Ago/2012 17 http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?frase=8107 – Acessado em 06/Ago/2012 18 http://pt.wikipedia.org/wiki/Barragem - Acessado em 06/Ago/2012

90
(10) Aprendizagem é o processo pelo qual as competências, habilidades,
conhecimentos, comportamento ou valores são adquiridos ou modificados20.
(11) Os ciganos têm a ferradura como um poderoso talismã, que atrai a
boa sorte, a fortuna.21
(12) Pessoas com queimaduras profundas podem correr sério risco de
vida22.
(13) Se você perdeu um ou mais dentes, o uso de dentaduras pode
ajudar você a ter um sorriso mais bonito e fazer com sinta-se melhor23.
Em todos os exemplos, temos ocorrências de vocábulos formados pelos
quatro afixos citados e contextualizados, o que auxilia no entendimento do
significado veiculado. No caso de emagrecimento (2), fechamento (3) e afastamento
(4), percebemos vocábulos que possuem caráter mais verbal, ou seja, que ainda
mantêm forte relação com o verbo que serviu de base. Assim, enquanto o
primeiro pode ser entendido como o “ato de emagrecer”, o segundo seria “o ato
de fechar” (no caso da sentença, os aeroportos) e o terceiro, “o ato de afastar”.
Dessa forma, vale notar que as palavras formadas a partir desse afixo possuem
um caráter mais dinâmico e mais ligado ao verbo, como bem observou Lemos
de Souza (2010).
Já no que diz respeito a –ção, o que podemos perceber é justamente o
contrário, já que temos, em animação (5), oração (6) e invenção (7), vocábulos de 19 http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Dren01.html - Acessado em 06/Ago/2012 20 http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem - Acessado em 06/Ago/2012 21 http://forgetthefear.blogspot.com.br/2010/07/ferradura.html - Acessado em 06/Ago/2012 22 http://saude.terra.com.br/interna/0,,OI123328-EI1513,00.html – Acessado em 06/Ago/2012 23 http://www.maozinha.com.br/search/?hl=pt-BR&q=dentaduras – Acessado em 06/Ago/2012

91
caráter mais nominal e, por isso mesmo, menos relacionados ao verbo-base.
Animação não é, necessariamente, parafraseado como “o ato de animar”, nem
oração como o ato de orar e muito menos invenção como “o ato de inventar”.
Todas são palavras que nomeiam coisas no mundo. Enquanto a primeira faz
referência a uma arte no mundo contemporâneo – significado veiculado na
sentença (6) –, a segunda diz respeito a uma forma de expressão do homem com
Deus, por exemplo. Dessa forma, esse afixo difere do anterior no modo de
processamento, sendo este estático, enquanto aquele é dinâmico (LEMOS DE
SOUZA, 2010).
Em contrapartida, o caso do sufixo –agem poderia ser considerado como
intermediário entre os dois afixos anteriormente detalhados, já que indica um
processo ou designa uma coisa no mundo, possuindo, assim, tanto caráter
verbal quanto nominal. Como exemplo, podemos observar as palavras grifadas
em (8) barragem, (9) drenagem e (10) aprendizagem. Segundo Langacker (1987), as
categorias nome e verbo fazem referência a dois diferentes modos de
processamento: o escaneamento estático e o escaneamento dinâmico,
respectivamente. Dessa forma, a nominalização pode apresentar esses dois tipos
de processamento, visto que aproxima as características das duas categorias. O
escaneamento estático seria aquele que faz referência a um evento cujos
aspectos são todos coexistentes e simultaneamente disponíveis, ou seja, o modo
de processamento é simultâneo. Já o escaneamento dinâmico é definido como
representando uma transformação, ou seja, uma mudança de um estado, de um
evento para outro. Assim, retomando os exemplos anteriores, podemos

92
perceber que, no primeiro caso, temos um vocábulo representante do
escaneamento estático, na medida em que nomeia algo, nomeia um evento. Já o
segundo caso pode ser entendido como sendo intermediário, visto que drenagem
pode ser processado tanto dinâmica quanto estaticamente, ou seja, pode ser
tanto um produto, quanto um processo; no último exemplo, temos um caso de
escaneamento dinâmico, já que representa um processo. Vale ressaltar que essas
considerações foram feitas a partir da análise de um pequeno corpus e levando
em consideração os dados encontrados.
Por fim, o afixo –ura é, dentre todos os abordados anteriormente, o que
possui caráter mais nominal, como podemos perceber nos vocábulos grifados
em (11), (12) e (13), que indicam coisas no mundo: ferradura, queimadura e
dentadura. Assim, podemos perceber que –ura, quando adjungido a bases
verbais, distancia-se mais do verbo do qual se originou e passa a nomear
somente coisas, entidades, perdendo, dessa forma, a ideia de “ato ou efeito de
X”, em que X é a base, como adiantamos no exemplo (1).
Portanto, em uma escala estabelecida para este trabalho e com base nessa
análise, –ura é o mais nominal de todos, o que pode ser explicado a partir da
necessidade que este sofreu de se especializar, já que estava em concorrência
com os demais sufixos nominalizadores, adquirindo, dessa forma, caráter mais
designativo e menos verbal. Isso posto, podemos perceber que os afixos
nominalizam em diferentes níveis de processamento, mantendo uns o valor
mais verbal característico desse processo, enquanto outros o perdem. Portanto,
em uma escala, como a formalizada em (14) a seguir, –mento seria o mais verbal,

93
seguido por –agem, que mantém as duas formas de processamento, -ção, que é
mais nominal em relação ao outros, e, por fim, viria –ura que, dentre todos, é o
que possui maior caráter designativo.
(14) 24mais verbal ------------>--------------->--------------->---------------> mais
nominal
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
-mento -agem -ção -ura
5.3. Abstratização de adjetivos
Outra função de –ura é abstratização de adjetivos, ou seja, a
transformação de adjetivos em substantivos abstratos. Nessa função, o afixo em
questão também concorre com outros, como podemos ver nos exemplos abaixo,
também retirados do site de busca eletrônica Google:
(15) Pessoas que não estão incomodando as outras com sua chatice aí
acabam ficando solitárias no final.25
(16) O primeiro engano atribui-se ou ao acaso, ou à imprudência;
repetido, atribui-se à burrice ou à ignorância.26
24
Essa escala só é verdadeira quando não levamos em consideração o –ção com caráter mais verbal (falação) como veremos mais adiante. 25 http://www.grandesmensagens.com.br/frases-de-chato.html. Acessado em 07 / Ago / 2012 26 http://blogdoivandro.blogspot.com.br/2009/06/frases-sobre-burrice.html - Acessado em 07/Ago/2012

94
(17) Minha loucura se chama felicidade, minha idiotice se chama
liberdade27.
(18) Magreza exagerada de modelos não agrada à maioria das pessoas28.
(19) A avareza é madrasta de si mesma29.
(20) Sua riqueza encontra-se onde estão seus amigos30.
(21) Qual a grossura de um fio de cabelo?31
(22) “Não me culpe por não sentir amargura... / Isso não faz de mim
menos intenso.”32
(23) “A bravura provém do sangue, a coragem provém do
pensamento”. (Napoleão Bonaparte)33
Conforme podemos observar, as palavras destacadas em (15), (16) e (17),
respectivamente chatice, burrice e idiotice, atribuem propriedades eventuais,
momentâneas, ou seja, o afixo –ice se une a bases adjetivais para formar nomes
que indicam uma propriedade passageira do elemento ao qual se refere. Dessa
forma, burrice ou idiotice, por exemplo, não são estados que perduram, e sim que
permanecem por algum tempo apenas. Observe o exemplo abaixo para
confirmar essa hipótese:
27 http://tudosmulher.blogspot.com.br/2012/06/minha-loucura-se-chama-felicidade-minha.html - Acessado em 07/Ago/2012 28 http://entretenimento.r7.com/moda-e-beleza/noticias/magreza-exagerada-de-modelos-nao-agrada-maioria-das-pessoas-20120418.html - Acessado em 07/Ago/2012 29 http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?frase=87817 – Acessado em 07/Ago/2012 30 http://www.webfrases.com/ver_frase.php?id_frase=9272654e – Acessado em 07/Ago/2012 31 http://cocatech.com.br/qual-a-grossura-de-um-fio-de-cabelo - Acessado em 07/Ago/2012 32 http://fafapereira.blogspot.com.br/2009/12/nao-me-culpe-por-nao-sentir-amargura.html - Acessado em 07/Ago/2012 33 http://pensador.uol.com.br/frase/MTIxNzU/ - Acessado em 07/08/2012

95
(24) A velhice sempre tem acompanhado a humanidade como uma
etapa inevitável de decadência, declinação e antecessora da morte34.
A palavra velhice, destacada na sentença acima, indica um estado
passageiro na vida de uma pessoa, cuja duração vai depender de cada um.
Portanto, dure a velhice 2 anos ou 20, ainda assim será um estágio
momentâneo, assim como a juventude.
O segundo afixo que também tem por função abstratizar um substantivo
é o demonstrado nos exemplos (18), (19) e (20), respectivamente magreza, avareza
e riqueza. Podemos notar que esse afixo se une a bases adjetivas com a função de
abstratizar uma qualidade do ser que pode ou não ser duradoura. Geralmente,
um indivíduo tem por característica própria ser avarento ou não e o mesmo
acontece com a magreza. No entanto, nada o impede de se alterar esse estado ao
longo do tempo. Em contrapartida, quando observamos casos como riqueza,
pobreza e beleza, podemos perceber mais claramente a possibilidade de mudança
de estado, pois um mesmo indivíduo pode passar da pobreza à riqueza em
questão de segundos ou nunca sair de uma dessas zonas. Vale ressaltar que
estamos apenas tratando dos vocábulos com seus significados prototípicos,
pois, na medida em que o significado começa a ficar mais abstrato, essa
designação pode deixar de ser tão momentânea, como no caso do exemplo
abaixo:
34 http://www.ufrgs.br/e-psico/subjetivacao/tempo/velhice-texto.html - Acessado em 07/Ago /2012

96
(25) Curti e descurti a beleza da obra de Deus na natureza.35
Como podemos perceber no exemplo acima, o significado de beleza
torna-se mais abstrato e deixa de designar uma propriedade momentânea para
designar uma propriedade inerente, já que é um bem reconhecido há séculos
pela sua beleza. No entanto, não serão esses os casos dos quais trataremos
nesta seção, visto que estamos lidando apenas com dados prototípicos desses
afixos.
Por outro lado, o afixo –ura não se une a bases adjetivais com a finalidade
de atribuir propriedades eventuais, considerando o sentido prototípico. Como
podemos notar nas palavras destacadas em (21), (22) e (23), respectivamente
grossura, amargura e bravura, o afixo tem por função designar propriedades
inerentes, quando anexado a bases adjetivas. Tanto amargura quanto bravura são
propriedades imutáveis, duradouras e não mais eventuais, no seu sentido
prototípico, podendo mudar de acordo com o espraiamento semântico. De
todas as formas listadas em (26), a seguir, apenas tontura não nomeia uma
propriedade inerente, mas também não pode ser vista como eventual devido ao
seu caráter mais estático.
(26) altura, amargura, doçura, ternura, estatura, grossura, finura, tontura.
35http://pt-br.facebook.com/pages/curti-e-discuti-a-beleza-da-obra-de-Deus-na-natureza/103821559706089?sk=info. Acessado em 07 / Ago / 2012

97
Assim, também nessa função podemos perceber uma escala – de acordo
com os significados prototípicos –, como a formalizada em (27), que teria como
diferenciador o caráter mais ou menos inerente ou eventual. No polo
[+ inerente / - eventual], teríamos –ura, seguido por –eza e, por fim, -ice, que
seria o afixo que tem por função designar estados mais eventuais.
(27) [+ inerente/- eventual] --------------->---------------> [- inerente/+ eventual]
|-----------------------------|-------------------------------|
-ura -eza -ice
5.4. Função Intensificadora
Na Língua Portuguesa, existem inúmeros afixos intensificadores que
selecionam as mais diversas categorias gramaticais como base e exercem
diferentes funções na língua. Portanto, não estamos fazendo a comparação
apenas com afixos nominalizadores, mas com afixos que exercem essa mesma
função na língua. Assim, no que tange à função intensificadora, podemos
começar por –ão e –inho, afixos antes tidos como flexionais, mas agora
reconhecidos como derivacionais (cf. SOARES DA SILVA, 2006 e
GONÇALVES, 2005). Observemos os exemplos abaixo retirados de sites de
busca da internet:

98
(28) Peça para um homem descrever um mulherão. Ele imediatamente
vai falar do tamanho dos seios, na medida da cintura, no volume dos lábios, nas
pernas, bumbum e cor dos olhos.36
(29) Caraca. Você mora lonjão.37
(30) Se a gente não tá aguentando esse calor e esse solzão que está
aparecendo praticamente todos os dias... Imagina nossos cabelos?38
(31) Quem aquela mulherzinha achava que era para beijar meu
marido?39
(32) Para quem curte um filminho antigo40.
(33) Amo um cafezinho, ainda bem acompanhado da família e dos
amigos é tudo de bom.41
Em todos os exemplos acima destacados, podemos perceber que a função
aumentativa ou diminutiva não está presente nos vocábulos. O que entra em voga
em vocábulos como (28) mulherão e (31) mulherzinha, por exemplo, não é o
tamanho da mulher, mas uma ou mais propriedades da mesma entidade
intensificada. Um mulherão não é, necessariamente, uma mulher muito grande e
uma mulherzinha não é uma mulher muito pequena. Da mesma forma, um
filminho (32) não é um filme de curta duração e, geralmente, não o é. Nesse caso,
36 http://pensador.uol.com.br/frase/NTIwMDk1/ - Acessado em 07/Ago/2012 37 http://mepergunte.com/gaall/20380214. Acessado em 07 / Ago / 2012 38 http://www.vidacorderosa.com/page/15/ - Acessado em 07/Ago/2012 39http://www.fanfiction.com.br/historia/197730/crepusculoO_Verdadeiro_Poder_de_Bella/capitulo/15. Acessado em 07 / Ago / 2012 40 http://miamibygs.com/2012/01/09/para-quem-curte-um-filminho-antigo/ - Acessado em 07/Ago/2012 41 http://cafezinhodascinco.blogspot.com.br/2012/01/cafezinho.html - Acessado em 07/Ago/2012

99
o falante fez uso desses afixos para intensificar avaliativamente as formas que
objetiva realçar. No caso de (30), solzão, por exemplo, não temos um sol grande
e sim um sol forte, bonito. Assim, podemos perceber que esses dois afixos
também têm a função intensificadora. No entanto, não podemos dizer que são
sufixos nominalizadores, pois os mesmos não alteram a classe da base e nem
têm por função nominalizar, já que lonjão (29), por exemplo, tem por base um
advérbio e por produto também um vocábulo dessa classe.
Outro afixo que também apresenta função intensificadora é –oso, que se
une a bases nominais, sejam elas adjetivas ou substantivas. Observe os
exemplos abaixo:
(34) É o Ravióli Rosé, um prato saboroso e rápido de preparar42.
(35) Sauber C31 é mais um narigudo feioso na Fórmula 143.
Em ambos os casos acima, podemos perceber que a função de
intensificação se mantém na medida em que tanto (34) saboroso quanto (35) feioso
podem ser entendidos como mantendo em excesso a propriedade expressa pela
base (sabor bom e muito feio, respectivamente). No entanto, esse afixo também
possui propriedades distintas dos anteriormente explicitados: além de nem
sempre alterar a classe gramatical da palavra-base, -oso tem como output sempre
um adjetivo, o que descaracterizaria a concorrência com –ura, já que criam
produtos categorialmente distintos, visto que –ura sempre forma substantivos.
42 http://wp.clicrbs.com.br/anonymus/2012/04/26/sexta-feira-saborosa-com-ravioli-rose-na-tvcom/?topo=52,2,18,,197,e196 – Acessado em 07/Ago/2012 43 http://www.correiodopovo.com.br/blogs/pitlane/?p=5468 – Acessado em 07/Ago/2012

100
O afixo –udo, por sua vez, também tem a função de intensificar a base,
mas o seu output, assim como de –oso, também é um adjetivo, além do fato de
esse afixo ser mais comumente acessado para intensificar qualidades referentes
a partes do corpo humano. Observe os exemplos abaixo:
(36) Lá vem o narigudo que não para de falar.44
(37) Ele é careca, baixinho e barrigudo.45
Como podemos perceber, esse afixo mantém a mesma função que os
demais anteriormente descritos, já que intensifica uma característica do ser ao
qual se refere. Dessa forma, narigudo (36) e barrigudo (37) podem ser entendidos
como fazendo referência a alguém que possui um nariz muito grande e uma
barriga muito avantajada, respectivamente.
Observe, agora, os exemplos abaixo:
(38) Tenho pra mim que essa falação toda, essa
intimidade/cumplicidade imediata, tem algo a ver com o fato de que é
normal passar o dia de biquíni e Havaianas ou roupa de ginástica.46
(39) No meu colégio até pode beijar e ficar com alguém, mas nada de
muita pegação, claro.47
44 http://letras.mus.br/rock-rocket/1291072/ - Acessado em 07/Ago/2012 45 http://apocalipsetotal.wordpress.com/2012/01/15/o-anticristo-pode-ser-careca-baixinho-e-barrigudo/ - Acessado em 07/Ago/2012 46 http://webdiario.com.br/?din=view_noticias&id=65061&search=v%F4lei. Acessado em 07 / Ago / 2012 47 http://capricho.abril.com.br/voce/pegacao-escola-onde-ir-678411.shtml - Acessado em 07/Ago/2012

101
(40) No entanto, por trás dessa "beijação" que soa como brincadeira de
folião, há o risco de se contrair doenças sem que você nem perceba.48
Como podemos observar nos exemplos (38) falação, (39) pegação e (40)
beijação, o afixo –ção anexa-se sempre a bases verbais com o propósito de
intensificar o significado da base; falação, por exemplo, pode ser parafraseada
como “falar em excesso, em demasia, e desnecessariamente” e beijação como
“beijar em excesso, muitas pessoas se beijando ao mesmo tempo”. Sendo assim,
podemos notar que o modo de escaneamento cognitivo é processual, mais
dinâmico, na medida em que a relação com o verbo-base é mais direta e mais
acessível, ou seja, ainda podemos reconhecer o caráter verbal no substantivo
derivado. Além disso, também cabe salientar que esse pode ser interpretado
como um afixo nominalizador, visto que tem por característica alterar a
categoria gramatical da base, formando nomes a partir de verbos, sendo,
portanto, o que mais se aproxima de –ura, como veremos a seguir.
Por fim, podemos analisar o sufixo –ura a partir da mesma função dos
anteriormente explicitados. Tomemos por base os exemplos abaixo listados:
(41) Creio que quase sempre é preciso um golpe de loucura para se
construir um destino.49
(42) O cúmulo da baixura é sentar em uma moeda e ainda balançar os
pés50.
48 http://www.itaporangaonline.com.br/2012/02/beijacao-no-carnaval-nesse-periodo.html - Acessado em 07/Ago/2012 49 http://pensador.uol.com.br/frase/ODUwNA/ - Acessado em 07/Ago/2012

102
Com base nas sentenças (41) e (42), podemos perceber que o afixo
-ura também possui a função intensificadora, na medida em que tanto loucura
quanto baixura podem ser parafraseados como “X em excesso” ou “muito X”.
Assim, o afixo passa a se adjungir a bases adjetivas, substantivas e até mesmo
adverbiais, como nos exemplo (43), (44) e (45) abaixo, com a função de formar
substantivos abstratos na língua.
(43) O desfile de 2012 estava uma belezura51.
(44) E quando de dia a lonjura dos montes/ Azuis atrai a minha
saudade52.
(45) Há sempre fartura de capital à disposição dos que podem traçar
planos práticos para serem levados a efeito.53
Enquanto em (44), temos um substantivo abstrato com base adverbial,
longe, em (43), a base beleza é um próprio substantivo abstrato que deriva de um
adjetivo e mantém, portanto, uma relação mais direta com essa categoria
gramatical. Assim, podemos ver que, independentemente da base a qual se
anexa, -ura possui a função intensificadora de propriedades claramente
marcada.
50 http://www.guiagratisbrasil.com/frases-de-cumulos/ - Acessado em 07/Ago/2012 51 http://www.blocosebenzequeda.com/2012/02/e-o-desfile-2012-foi-uma-belezura.html. – Acessado em 07 / Ago / 2012 52 http://pt.scribd.com/doc/88351149/Poemas-de-Johann-Wolfgang-Von-Goethe - Acessado em 07/Ago/2012 53 http://frases.globo.com/napoleon-hill/15179 - Acessado em 07/Ago/2012

103
Ao contrário das outras funções anteriormente explicitadas, a função
intensificadora não foi gerada a partir da existência de uma concorrência entre
afixos, como pudemos perceber na descrição acima. Isso se deve ao fato de –ura
ser o único – dentre todos os apresentados – que possui a função de formar
substantivos abstratos a partir de bases adjetivas, substantivas ou adverbiais.
Os demais afixos, além de não necessariamente alterarem a classe gramatical,
como ocorre nos casos de –inho e -ão, não têm como output um substantivo
abstrato. Dentre eles, o único que mantém relação mais direta com –ura é -ção;
não se pode dizer, porém, que haja uma real concorrência, já que os sufixos
selecionam bases distintas e diferem quanto ao modo de processamento
cognitivo, já que o primeiro é resumitivo, ou seja, mais estático, enquanto o
segundo é processual, ou seja, mais dinâmico.
Observe a tabela abaixo:
Sufixos Bases Produto
-ão /-inho Não possui uma base específica Mantém a categoria da base
-oso Substantivos / adjetivos Adjetivos
-udo Substantivos Adjetivos
-ção Verbos / adjetivos Substantivos abstratos
-ura Substantivos, adjetivos e
advérbios.
Substantivos abstratos
Tabela 3: Sufixos intensificadores em português
Ao analisarmos a tabela e compararmos com os exemplos explicitados
anteriormente, podemos fazer algumas considerações relevantes acerca do afixo

104
–ura e dos demais intensificadores da língua. Observando a coluna referente ao
produto, que é o que nos move, é possível perceber que, dentre todos os afixos
apresentados, somente dois deles são nominalizadores de fato, já que partem de
uma base de outra categoria para formar substantivos em português. Nos
demais casos, a intensificação não está diretamente ligada à nominalização, já
que os formativos possuem como produto um adjetivo (-oso) ou não alteram a
categoria gramatical (-inho; -ão). No entanto, -ção e –ura não possuem
exatamente a mesma função e, por isso, não podemos dizer que são
concorrentes na língua. Isso se deve ao fato de selecionarem bases distintas.
Dessa forma, os afixos não competem por uma mesma posição ou por uma
mesma função, visto que têm objetivos distintos. Enquanto –ção tem por
finalidade nominalizar verbos; -ura, por sua vez, adjunge-se a outras categorias
para nominalizar intensificando.
5.5. Resumindo
Pudemos verificar que–ura possui quatro diferentes funções na língua,
sendo elas a nominalização de verbos, a designação de coisas no mundo, a
abstratização de adjetivos e, por fim, a intensificação. Observe a tabela abaixo:
Função Base Produto Descrição
Nominalização
de verbos
Verbos Substantivos Escaneamento mais
dinâmico, mais voltado
para o produto. Compete
com –ção, -mento e –agem.

105
Referenciação Verbos Substantivos Escaneamento mais
estático, mais voltado
para o produto. Também
compete com –ção, -mento
e –agem.
Abstratização
de adjetivos
Adjetivos e
particípios
Substantivos
abstratos
Indica propriedades
inerentes ao ser humano.
Compete com –eza e –ice.
Intensificação Adjetivos,
advérbios e
substantivos
abstratos
Substantivos
abstratos
Utilizado para indicar o
excesso da propriedade
descrita pela base.
Compete com –inho, -ão, -
udo, -oso e –ção.
Tabela 4: Funções do afixo –ura em português.
Conforme podemos notar na Tabela 4 e de acordo com o exposto ao
longo do capítulo, -ura adquiriu novas funções na língua, na medida em que
compete sincronicamente com outros afixos mais produtivos que exercem a
mesma função. Assim, foi necessária uma especialização do mesmo para se
manter ativo na língua. Primeiramente, -ura perdeu lugar para os outros afixos
nominalizadores com a função precípua da nominalização, já que –ção e –mento
são altamente produtivos em português. Em seguida, mantendo a relação com a
função designativa dos particípios, o afixo em questão passou a se anexar a
bases adjetivas, abstratizando-as, para, em seguida, alcançar a função de maior
produtividade no atual estágio da língua: a intensificação. Nesse caso,
diferentemente dos demais afixos, -ura vem se adjungir a predicadores para
formar substantivos abstratos, conforme será mais detalhado no capítulo
seguinte.

106
Assim, podemos constatar que o afixo –ura se especializou na língua,
passando a exercer uma nova função – a de intensificador – na medida em que
esta é a única para o qual não há concorrente direto na língua, pois, apesar de,
nas outras funções, não haver casos de sinonímia, é somente na função
intensificadora que o mesmo se diferencia dos demais.

107
SISTEMAS LINGUÍSTICOS
Neste capítulo, tratamos dos sistemas linguísticos reconhecidos pela
Gramática Multissistêmica conforme explicitado no capítulo 4. Assim, o
objetivo do capítulo é relacionar os quatro sistemas – léxico, gramática, discurso
e semântica – ao processo de nominalização por meio de –ura e mostrar como
atuam na língua, conjuntamente. No entanto, não pretendemos nos aprofundar
nos quatro sistemas da mesma forma, selecionando apenas dois que são mais
relevantes para esta análise: léxico e semântica. Porém, essa seleção não nos
impedirá de tratar dos outros dois sistemas e mostrar, rapidamente, como eles
atuam; apenas não os tomaremos como base para a análise.
Com base na análise do corpus, foi possível reconhecer quatro diferentes
funções do afixo na língua como anteriormente explicitado: (1) nominalização
de verbos (soltura, varredura); (2) designação de entidades (ferradura,
queimadura); (3) abstratização de adjetivos (altura, largura); e (4) intensificação
(lonjura, gostosura). Assim, no presente capítulo, temos por objetivo descrever
cada uma dessas funções de acordo com os diferentes sistemas elaborados por
Castilho (2010) e, em seguida, descrever e analisar como esses sistemas atuam
simultaneamente na descrição do formativo em discussão. Sendo assim, o
capítulo é dividido em seções nas quais se distribuem os sistemas propostos
6

108
pelo autor em uma ordem estipulada apenas para fins didáticos: gramática,
léxico, semântica e discurso.
6.1. Gramática
O primeiro sistema a ser abordado nesta dissertação é o que diz respeito
ao sistema gramatical. Segundo Castilho (2010:138), a gramática é
“o sistema linguístico constituído por estruturas cristalizadas ou em processo de cristalização, dispostas em três subsistemas: (i) a fonologia, que trata do quadro de vogais e consoantes, sua distribuição na estrutura silábica, além da prosódia; (ii) a morfologia, que trata da estrutura da palavra; e (iii) a sintaxe, que trata das estruturas sintagmática e funcional da sentença”.
Podemos perceber, portanto, que a gramática, segundo essa teoria, é um
sistema formado por produtos e processos nos campos da fonologia, morfologia
e sintaxe, diferentemente dos formalistas que entendiam a gramática como
sendo uma entidade a priori, ou seja, um conjunto de regras lógicas e
mentalmente pressupostas e anteriores ao discurso. Essa concepção de
gramática está um pouco mais ligada à visão funcionalista que a compreende
como uma entidade organizada por um conjunto de regras observáveis nos
usos da língua, sendo, dessa forma, posterior ao discurso, emergente dele. No
entanto, apesar de ter por base essa concepção funcionalista, a Multissistêmica,
por não prever hierarquia entre os sistemas, vai além dessa definição ao afirmar
que o discurso atua conjuntamente à gramática nos processos referentes a esta.

109
Já no que diz respeito ao conceito de gramaticalização amplamente
estudado por inúmeros autores como Hopper (1991), Hopper & Traugott (1993),
Casseb-Galvão et alii (2007), dentre outros, Castilho (2010) toma posição
diferente apenas no que se refere à ideia de sequenciação. A definição geral
sobre esse conceito é a de um conjunto de processos por que passa determinada
palavra, sintagma ou sentença em que são adquiridas novas propriedades
gramaticais (semânticas, sintáticas, morfológicas, fonológicas), transformando-
as em estruturas cada vez mais gramaticais. Segundo o autor, a
gramaticalização seria um processo de constituição da gramática em que se
elegem representações linguísticas para as categorias cognitivas que se
alterariam ao longo do tempo. Nesse sentido, a gramaticalização teria por
função alterar as categorias cognitivas da língua dentro do sistema gramatical e
juntamente com os outros sistemas linguísticos.
Na Multissistêmica, a gramaticalização pode se dar a partir de três
processos distintos: a fonologização, a morfologização e a sintaticização. O
primeiro deles diz respeito à formação e alteração de estruturas fonológicas
como a redução das vogais no latim vulgar, por exemplo. O segundo faz
referência à formação de morfemas na língua, sejam eles flexionais ou
derivacionais. Como exemplo, podemos citar o caso do pronome você no
português brasileiro, que deixou de ser uma forma de tratamento para integrar
o quadro de pronomes do caso reto do português. Por fim, a sintaticização
ocorre quando a estrutura sintática se altera, como no caso do verbo assistir, por
exemplo, que, na fala (e em alguns textos escritos também), vem sofrendo esse

110
processo na medida em que os falantes não mais o utilizam como um verbo
transitivo indireto.
(1) Sucesso nas bilheterias mundiais, “Os Vingadores” foi assistido por mais de
38 mil em Caxias54.
No caso da nominalização por intermédio do sufixo –ura, podemos
perceber um caso de fonologização no que tange à interpretação como um
único afixo e não três distintos, como explicitado no capítulo 2 e aqui retomado
para fins didáticos.
Como defendido no capítulo 2, o sufixo –ura sofreu gramaticalização por
fonologização, na medida em que passam a operar filtros fonológicos em sua
formação. Apesar de haver diferentes visões a respeito de sua natureza,
validamos a interpretação de que se trata de apenas um afixo considerando as
consoantes /t/, /d/ e /s/ resquícios das formas participiais – característica essa
herdada do latim.
A morfologização, por sua vez, ocorre quando o sufixo em questão deixa
de selecionar uma base pertencente a uma categoria em especial e passa a se
anexar a qualquer base, desde que sua função mais recente – a intensificadora –
seja ativada.
54 http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-tendencias/almanaque/noticia/2012/06/sucesso-nas-bilheterias-mundiais-os-vingadores-foi-assistido-por-mais-de-38-mil-em-caxias-3779830.html

111
Já o caso da sintaticização pode ser expresso a partir de duas ideias
principais: a do Princípio da Analogia (BASILIO, 1997) e a de função sintática
propriamente dita (BASILIO, 2007).
No que diz respeito ao Princípio da Analogia (PA), a autora afirma
parecer estar esse
“na base das formações de reestruturação morfológica que tanto podem criar novos elementos morfológicos quanto produzir palavras de efeito retórico ou poético, rompendo momentaneamente as barreiras da linearidade que aprisionam a expressão nas estruturas linguísticas de cunho sintagmático. Neste sentido, o PA serviria não apenas para dar conta da produtividade lexical, mas também da criatividade” (BASILIO, 1997:11)
Para comprovar sua hipótese, a autora cita inúmeros exemplos, como o
caso de emxadachim, criado por Guimarães Rosa, em que se tem uma analogia
clara à formação espadachim. O usuário da língua faz uma releitura de uma
estrutura já existente e adapta o novo conteúdo a ela, da mesma forma que
crianças no processo de aprendizagem da língua falam “eu fazi” no lugar de “eu
fiz” em analogia aos verbos regulares da língua. No entanto, o PA não atua
somente na morfologia, mas também na semântica, fonologia e sintaxe, por
exemplo, pois, como disse Coutinho (1976), a analogia é o princípio pelo qual a
linguagem tende a se tornar mais uniforme e a reduzir as formas mais
irregulares e menos frequentes.
No caso de –ura, observemos a expressão “Que faltura!” retirada de uma
manchete do Jornal O Globo. A reportagem falava sobre o péssimo serviço
prestado no dia em que o cronista foi a um restaurante e que, portanto, faltava

112
tudo: desde bom atendimento a boa comida. A partir dessa breve explicação,
podemos notar que o cronista criou essa expressão para dar título a sua matéria
a partir da analogia com a expressão “Que fartura!”, que faz referência
exatamente ao oposto do que ele quis dizer. Essa expressão está incluída numa
construção já cristalizada na língua, “Que X!”, em que a posição de X pode ser
ocupada por qualquer substantivo ou adjetivo com o intuito de indicar o
“excesso de X”. Portanto, podemos formar “Que belezura!”, “Que loucura!”,
“Que chatice!”, “Que lindo!”, dentre inúmeros outros exemplos.
Outro caso de sintaticização presente na formação por meio do sufixo
-ura é o que diz respeito à possibilidade de exercer inúmeras funções sintáticas
dentro da sentença. Retomando as funções da nominalização expressas
anteriormente, podemos lembrar que uma delas possibilita focalizar o agente
ou o objeto da ação expressa pelo verbo, isto é, sintetiza toda a ação verbal em
apenas um vocábulo, compactando toda a informação no nome. Observe:
(2) Cuiabá: bando que assaltou residência e roubou carro é capturado. A
vítima reconheceu os dois primeiros (suspeitos) como os autores do
roubo.55
No exemplo acima, podemos notar que o substantivo roubo sintetiza toda
a informação presente em “roubou carro”. Nesse sentido, a função anafórica do
nome consiste na retomada das ideias precedentes de forma a evitar repetições
55 http://www.sonoticias.com.br/noticias/9/155848/cuiaba-bando-que-assaltou-residencia-e-roubou-carro-e-capturado. Acessado em 01/Ago/2012.

113
e dar continuidade ao texto. Além disso, a nominalização permite que
possamos utilizar como núcleo do sujeito ou dos objetos, palavras de outras
categorias pertencentes a outras funções sintáticas na língua. Como exemplo,
podemos citar os adjetivos que exercem as funções sintáticas de adjuntos
adnominais e predicativos. Quando transformamos um adjetivo em
substantivo, também estamos permitindo que este passe a exercer outras
funções, sendo, portanto, o núcleo de um sujeito ou objeto. Observe os
exemplos abaixo:
(3) Optar por ser amarga é uma escolha de cada mulher. A amargura
apenas destrói a paz interna56.
(4) Gosto da brancura das tuas mãos, da sutileza das linhas do teu
rosto, da suavidade da tua voz57.
Podemos perceber que os adjetivos amargo e branco quando
nominalizados nos exemplos acima, passam a exercer ambos a função de núcleo
do sujeito e núcleo do objeto indireto, colocando em destaque as propriedades
definidas por esses adjetivos. Essa possibilidade só se concretiza devido à
nominalização, pois os substantivos podem ocupar esses lugares na sentença e
os adjetivos, não. Portanto, podemos perceber que a sintaticização também
ocorre na nominalização por meio do sufixo –ura, ampliando o alcance das
bases na sentença. Podemos confirmar essa análise retomando Basilio (2007)
56 http://missionariosonline.blogsome.com/2007/10/08/amargura/. Acessado em 01/Ago/2012. 57 http://omundodedentro.blogspot.com.br/. Acessado em 01/Ago/2012.

114
que afirma que a nominalização apresenta uma função sintática que diz
respeito à possibilidade de um termo nominalizado poder ocupar inúmeros
lugares na sentença, ampliando o campo de atuação da palavra-base.
6.1.1. Resumindo
Na presente seção, buscou-se definir o que se entende por gramática nos
moldes da abordagem multissistêmica. Além disso, também foi importante
salientar e discutir brevemente os conceitos ligados a esse sistema e o modo de
conceptualização do mesmo. Portanto, com base nessa breve análise do afixo
-ura sob a ótica do sistema gramatical, pudemos demonstrar a importância que
o mesmo tem no estudo da língua e como ocorrem os processos de
fonologização e sintaticização, por exemplo. Assim, foi possível constatar de
que maneira os dispositivos sociocognitivos atuam nesse sistema e como ativa,
desativa ou reativa as propriedades deste.
6.2. Léxico
Segundo o autor, o léxico seria o inventário pré-verbal de categorias e
subcategorias cognitivas e de traços semânticos inerentes; e o vocabulário, um
inventário pós-verbal, ou seja, o conjunto de produtos concretos, também
chamado de palavras. Portanto, para o linguista, a lexicalização poderia ser
definida como a criação de novas palavras na língua a partir de um padrão pré-
estabelecido e coordenado pelo dispositivo sociocognitivo. Assim, a palavra

115
“pode ser caracterizada (1) fonologicamente por dispor de esquema acentual e rítmico; (2) morfologicamente por ser organizada por uma margem esquerda (preenchida por morfemas prefixais), por um núcleo (preenchido pelo radical) e por uma margem direita (preenchida por morfemas sufixais); (3) sintaticamente por organizar ou não um sintagma; (4) semanticamente por veicular uma ideia (enquanto a sentença veicula uma proposição); (5) graficamente por vir separada por meio de espaços em branco”. (CASTILHO, 2010:111).
Como podemos perceber a partir da leitura do trecho destacado acima, o
autor aborda a formação de palavras voltada para o radical, já que, para ele, o
núcleo de um derivado é o radical, sempre considerado a cabeça lexical da
palavra morfologicamente complexa. Assim, como Castilho (2010) não se
aprofunda na descrição de fenômenos de base morfológica, partimos, então,
para uma análise baseada nos esquemas e subesquemas propostos por Booij
(2010), entendendo que esse modelo, chamado de Morfologia Construcional,
pode complementar e enriquecer a abordagem empreendida pela
Multissistêmica.
Segundo Booij (2010), as palavras se estruturam em construções que
englobam tanto a derivação quanto a composição e são formuladas a partir de
esquemas responsáveis pela instanciação de unidades do léxico. Além disso, o
autor faz a seguinte afirmação sobre essa abordagem da língua a partir de
esquemas:
"O uso de esquemas para expressar generalizações sobre padrões de formação de palavras tem outras vantagens também. A ideia de que afixos categoricamente determinados são as cabeças de palavras complexas, assim como os constituintes à direita de compostos, levanta problemas conceituais e empíricos. (...) Em primeiro lugar,

116
obriga-nos a atribuir um rótulo de categoria lexical para delimitar morfemas sem que esta propriedade esteja acessível em outras construções de palavras complexas. Além disso, ao contrário dos constituintes à direita de compostos, sufixos categoricamente determinados nem sempre funcionam como as cabeças semânticas das palavras que eles criam, e, portanto, é uma consequência feliz da abordagem esboçada até o momento que podemos realizar sem a regra de cabeça lexical à direita e sem perder a generalização relevante. (...) [Essa descrição de formação de palavras por subesquemas é vantajosa], a fim de fazer generalização sobre subconjuntos de palavras dentro de uma determinada categoria morfológica "58. (BOOIJ, 2010: 54-55)
Então, podemos notar que a análise através de esquemas pode nos ser
muito útil e relevante. Além disso, o fato de estarmos estudando um caso de
derivação em que o afixo possui diferentes acepções aponta para a extensão de
sentido permitida por esses esquemas, já que o sufixo não veicula significado
sozinho, na medida em que a base é altamente relevante para o significado
final. Sendo assim, segunda essa abordagem, não teríamos um núcleo em
específico, pois o significado é alcançado a partir da junção entre base e afixo.
No entanto, vale salientar que não estamos tratando aqui da nominalização por
meio do Princípio da Composicionalidade59, mas entendendo que o que temos é
58 “The use of schemas for expressing generalizations about word formation patterns has other advantages as well. The idea that category-determining affixes are heads of complex words, just like the right constituents of compounds raises conceptual and empirical problems. (…) First of all, it forces us to assign a lexical category label to bound morphemes without this property being accessible in other constructions than complex words. Furthermore, unlike the right constituents of compounds, category-determining suffixes do not always function as the semantic heads of the word they create, and hence, it is a happy consequence of the approach outlined so far that we can do without the RHR without missing the relevant generalization. (…) ´This description of word formation by subschemas is advantageous] in order to make generalization about subsets of words within a particular morphological category”. (BOOIJ, 2010: 54-55) 59 O princípio da Composicionalidade prevê que o significado da palavra é adquirido a partir da soma das partes (base + afixos ou base + base). Segundo esse princípio, a palavra menininho, por exemplo, seria interpretada a partir da junção da palavra menino com o sufixo diminutivo –inho, chegando ao resultado final “menino pequeno”. No entanto, esse princípio é muito geral e não resulta em especificações mais detalhadas, o que não é interessante para o nosso estudo, na

117
uma construção morfológica e que o significado final é atingido no momento
em que a base é inserida na construção, como demonstramos mais adiante.
Portanto, nesta seção, abordamos o léxico a partir de esquemas,
justificando os seus usos e exemplificando-os, na medida em que atuam na
língua. Vale ressaltar que, por se tratar de uma análise do léxico e do
vocabulário da língua, descreveremos como se dá a ativação, desativação e
reativação no léxico.
6.2.1. Nominalização de verbos
A primeira função exercida por –ura é de nominalização propriamente
dita, pois esse sufixo forma um substantivo abstrato a partir de uma base verbal
(participial). O formativo em questão, quando anexado a bases participiais que
mantenham uma ligação maior com o verbo de que constituem flexões, terá
como output substantivos cuja paráfrase é “ato ou efeito do que é descrito pela
base”. Foram destacados 10 vocábulos no corpus que exercem essa função na
língua: benzedura, censura, embocadura, envoltura, investidura, ligadura, rapadura,
semeadura, soltura e varredura. Como exemplo dessa paráfrase, podemos citar
benzedura e soltura que são, respectivamente, o “ato ou o efeito de benzer” e o
“ato ou efeito de soltar”.
medida em que não considera, por exemplo, o significado de menininho como marca de afetividade ou pejoratividade – a depender do contexto (BOOIJ, 2005)

118
Com base na análise da produtividade60, podemos afirmar que esse afixo
se torna menos produtivo quando tem essa função, visto que os oito vocábulos
encontrados foram formados nos séculos XIII, XIV e XV, séculos em que
apareceram os primeiros textos em português. Portanto, o fato de não haver
ocorrência de vocábulos com essa função nos séculos seguintes faz com que não
o consideremos tão produtivo na formação de novas palavras em português.
Sendo assim, segundo Booij (2010), a representação morfológica dessa
função seria a seguinte; em que x representa a base, V e N representam as
categorias lexicais da base e do produto, respectivamente e as variáveis i e j são
os índices lexicais das propriedades fonológicas, sintáticas e semânticas das
palavras:
(5) [[x]Vj ura]Ni [ato ou efeito em relação a Xj]i
6.2.2. Referenciação
O sufixo -ura, quando exerce a função de designar entidades, coisas no
mundo, pode ser parafraseado como “o resultado de X” como em assinatura,
queimadura e rachadura que são, respectivamente, o resultado de assinar, queimar
60 Entendemos por produtividade a possibilidade de ocorrerem determinadas estruturas e as suas devidas concretizações. Assim, consideramos um afixo produtivo quando este está acessível para fins lexicais e o falante forma novo vocabulário a partir dele. No entanto, vale ressaltar que consideramos a produtividade dentro de um continuum do mais produtivo para o menos e não a improdutividade total. Essa visão pode ser explicada a partir da ideia de que um afixo, por exemplo, pode estar apagado em determinado momento da língua, mas ressurgir a partir do uso. Portanto, a nossa noção de produtividade diz respeito à disponibilidade do afixo no léxico do falante e aos diversos níveis que pode haver de produtividade. Usando os termos de Castilho (2010), pode haver uma desativação das propriedades e uma subsequente reativação.

119
e rachar. Nessa função, o afixo se une a bases participiais para formar
substantivos tanto concretos quanto abstratos como é o caso dos exemplos
abaixo:
Substantivos concretos Substantivos abstratos
Abotoadura Assinatura
Ferradura Fritura
Dentadura Feitura
Rachadura Fervura
Fechadura Travessura
Tabela 5: Alguns exemplos de palavras desse grupo
Apesar do grande número de vocábulos (45 palavras), o afixo -ura é
pouco produtivo na língua com essa acepção, pois a maioria dos dados é
registrada como tendo entrado nos primeiros séculos de língua escrita e, os
mais recentes, datam do século XVIII, o que não pode ser chamado de
contemporâneo.
Sendo assim, a caracterização morfológica desse afixo com essa função
seria a seguinte, ainda com base na proposta de formalização encontrada em
Booij (2010):
(6) [[x]Vj ura]Ni [resultado de Xj]i
Podemos perceber que a caracterização morfológica do léxico com essa
função é a mesma da anterior, pois a diferença entre as duas está no sistema

120
semântico e não na característica morfológica. Isso pode ser explicado por meio
da ideia de que esses sistemas atuam simultaneamente não interferindo,
portanto, um no outro hierarquicamente, mas sim simultaneamente, somada à
metonímia atuante nesse processo.
6.2.3. Abstratização de adjetivos
O sufixo –ura, quando exerce a função de abstratização de adjetivos,
pode ser parafraseado como “propriedade do que está especificado na base”.
As formações que desempenham essa função têm por característica o fato de
terem por input adjetivos e outputs substantivos abstratos como nos exemplos
abaixo:
Altura Amargura
Brancura Doçura
Formosura Grossura
Bravura Finura
Gordura Grossura
Formosura Largura
Tabela 6: Alguns vocábulos desse grupo.
Nessa função, o afixo –ura é muito produtivo, o que pode ser atestado
pela presença de vocábulos formados nos fins do século XIX e devido ao alto
índice de dados. Sendo assim, a caracterização morfológica desse afixo com essa
função seria a seguinte:

121
(7) [[x]Aj ura]Ni [propriedade da SEMj]i61
6.2.4. Intensificação
A última função abarca os vocábulos que têm por acepção o excesso do
que é especificado pela base e têm por input diferentes categorias gramaticais, o
que é um indício para a sua alta produtividade. Quando o afixo –ura cumpre
essa função, passa a se ligar a diversas bases com a função de intensificar a
propriedade da mesma. No entanto, apesar desse input ser variável, o output
continua sendo um substantivo abstrato. Como exemplo dessa intensificação,
temos:
Apertura Baixura
Belezura Chatura
Frescura Fundura
Gastura Juntura
Lonjura Quentura
Tabela 7: Algumas palavras desse grupo.
Em todos os casos, o caráter intensificador é expresso pelo afixo como em
quentura, que pode ser parafraseado como “quente em excesso”, feiura, que
significa “feio em excesso” e chatura, que tem por paráfrase “chato em excesso”.
Essa função nominalizadora de -ura mostra-se muito produtiva por apresentar
palavras formadas no século XX, como feiura e gostosura e por apresentar inputs
diferentes, como é o caso de lonjura e de belezura, que derivam, respectivamente,
61 SEM representa a semântica da palavra base. (BOOIJ, 2010:17)

122
do advérbio longe e do substantivo abstrato beleza. Esse último fato demonstra a
produtividade do afixo para formar nomes com essa função, pois o faz anexado
a outras bases que não as prototípicas. Além disso, é interessante observar que,
para essa função, poderiam ser utilizadas inúmeras estratégias discursivas
como a utilização de um superlativo (sintético ou analítico), por exemplo. No
entanto, o uso do afixo como intensificação proporciona o alçamento dessa
noção intensificadora para a posição de tópico, o que não acontece nos outros
casos, em que o foco está no termo ao qual se relaciona e não a essa
propriedade. Observe abaixo:
(8) Este filme é chatíssimo.
(9) Este filme é muito chato.
(10) Este filme é uma chatura!
Nos três exemplos acima, podemos perceber que existe uma diferença na
intensão do falante em fazer uso de uma ou de outra forma e também é possível
notar que a nominalização – presente no exemplo em (10) – tem caráter muito
mais expressivo e enfático que as demais, apesar de as três indicarem que o
filme é chato em excesso.
Sendo assim, a caracterização morfológica desse afixo com essa função
seria a seguinte:
(11) [[x]Xj ura]Ni [excesso da SEMj]i

123
Vale ressaltar que a variável X é aplicada a várias categorias lexicais (no
caso verbos, adjetivos, substantivos abstratos e advérbios). Portanto, essa é,
dentre todas as funções previamente analisadas, a mais abrangente, como
verificamos nos demais sistemas a serem analisados a seguir.
6.2.5. Lexicalização, deslexicalização e relexicalização
A lexicalização, como previamente explicitado, pode ser definida como
sendo o processo pelo qual se criam novas palavras coordenadas pelo
dispositivo sociocognitivo. Compreende três estágios: ativação, reativação e
desativação.
A ativação, ou lexicalização propriamente dita, diz respeito à escolha de
“categorias cognitivas e seus traços semânticos, representando-os nas palavras”
(CASTILHO, 2010: 113). Essa lexicalização percorre alguns caminhos na língua,
ou seja, o léxico pode ser ativado de diferentes maneiras.
A primeira delas é a lexicalização por etimologia, processo pelo qual a
lexicalização ocorre ainda na língua-fonte, ou seja, ocorre quando um item da
língua-fonte é integrado na língua-alvo. Como exemplo, podemos citar duas
palavras do corpus em análise: abertura e escritura. Esses seriam casos de
lexicalização na medida em que foram integradas à língua portuguesa
diretamente do latim (apertura e scriptura, respectivamente).

124
O segundo tipo de lexicalização é o por neologia, definida pelo autor
como uma palavra nova que não foi herdada da língua-fonte, porém é
organizada de acordo com as regras morfológicas pré-estabelecidas na língua-
alvo. Nesse caso, teríamos palavras novas seguindo padrões da língua na qual
foi formada. No que tange ao formativo –ura¸ podemos citar a palavra faltura,
retirada de uma notícia do jornal O Globo. Esse seria um exemplo de
lexicalização por neologia, na medida em que não é uma palavra criada por
analogia ao termo fartura. Essa afirmação pode ser feita a partir do contexto no
qual foi criada a palavra, já que a mesma foi inserida no título de uma matéria
que falava sobre a falta de bom atendimento, de comida e de bebida em um
restaurante, como já descrevemos, mantendo o padrão [XVk –ura]Ni.
O terceiro tipo de lexicalização é o por empréstimo. Nessa lexicalização,
o que ocorre é que são importadas palavras, sufixos e prefixos de outras línguas
com as quais a língua-fonte teve contato direto ou indireto. Assim, a
lexicalização por empréstimo ocorre quando pegamos palavras já prontas de
outras línguas e incorporamos a nossa. Como exemplo, podemos citar
candidatura, brochura e desenvoltura. As duas primeiras palavras destacadas têm
por origem as formas francesas candidature e brochure, enquanto a terceira tem a
origem italiana desenvolture. Esses são exemplos de lexicalização por
empréstimo, pois as palavras foram formadas no francês e no italiano,
respectivamente, e já vieram prontas para a língua portuguesa, ou seja, foram
incorporadas ao vocabulário da língua e não criadas na língua-alvo.

125
A reativação do léxico é também chamada de relexicalização e consiste
no movimento mental de rearranjo das categorias semânticas e seus traços
cognitivos, ou seja, é uma renovação do vocabulário feita através da derivação e
da composição, principais mecanismos de formação de palavras. Nesse caso,
temos o processo de nominalização de fato como exemplo, pois o fato de se
formarem nomes a partir de verbos, adjetivos, substantivos ou advérbios com o
acréscimo do afixo –ura já aponta para essa renovação de vocabulário. Como
exemplo disso, podemos citar palavras como abertura, fritura, lonjura, amargura e
belezura. Em todas essas palavras, temos um rearranjo das categorias, na medida
em que se altera o significado das bases.
Por fim, a desativação lexical, também conhecida como deslexicalização
diz respeito à morte das palavras, ou seja, faz referência aos arcaísmos, palavras
que não são mais reconhecidas nem ativadas pelos falantes da língua. Como
exemplo, podemos citar as palavras podrura e zebrura, visto que o falante não
mais reconhece a sua existência (comprovado a partir de testes referenciados no
capítulo 5, seção 5.1), não consegue depreender o seu significado e muito menos
sabe como utilizá-las.
6.2.6. Resumindo
Nessa seção, mostramos como se entende o sistema lexical a partir da
Abordagem Multissistêmica e qual a importância que o mesmo tem para a
análise da nominalização. Apesar de fazermos uso da Teoria Multissistêmica,
nesta seção, apresentamos outra abordagem dada ao léxico e à sua constituição

126
e explicitamos o porquê de recorrermos a outro modelo de análise para tratar
sobre esse assunto. Além disso, também demonstramos como os DSCs atuam
no léxico e como ativam, desativam e reativam as propriedades desse sistema.
6.3. Semântica
Segundo Castilho (2010), a semântica é o sistema através do qual criamos
os significados expressos por palavras, sintagmas ou sentenças na língua,
operando por meio de algumas estratégias como:
“(i) organizando o campo visual através do estabelecimento de participantes e eventos; (ii) emoldurando participantes e eventos via criação de frames, scripts e cenários; (iii) hierarquizando os participantes e eventos via fixação de perspectivas, escopos, figura/fundo; (iv) incluindo, excluindo, focalizando participantes e eventos; (v) agregando participantes e eventos novos por inferência, pressuposição, comparação; (vi) movimentando os participantes e os eventos, real ou ficticiamente; (vii) alterando nossa perspectiva sobre os participantes e os eventos, via metáfora, metonímia, especialização, generalização”. (CASTILHO, 2010:122)
Além disso, o autor aborda a semanticização e define esse processo como
a criação de sentidos administrada pelo dispositivo sociocognitivo. O autor
ainda discorre sobre as diferentes categorias semânticas que organizariam esse
campo de estudo: (a) dêixis e foricidade; (b) referenciação, no sentido de
“denominação”; (c) predicação; (d) verificação; (e) conectividade; (f) inferência e
pressuposição; e (g) metáfora e metonímia. No entanto, vale salientar que não
nos aprofundaremos em todas essas categorias, na medida em que não se faz
necessário, no presente estudo, tratar de todas minuciosamente. Nesse sentido,

127
abordaremos apenas a dêixis e foricidade, a referenciação, a predicação e a
metáfora e metonímia. Além disso, também é importante ressaltar que apenas
essas duas últimas categorias serão aprofundadas por serem as que mais
interferem no processo de nominalização em análise, sem reduzir, no entanto, a
importância das demais categorias.
Conforme Castilho (2010:126), a foricidade é entendida como “remissão”
e representa “um segundo conhecimento da coisa, sendo que o primeiro
conhecimento é dado pelos processos de referência ou designação, e dêixis ou
localização”. As nominalizações X-ura podem ser utilizadas num processo
anafórico, como se observa na seguinte situação:
(12) “Imagem mostra o maior prédio do mundo! ... A altura final ainda
não foi divulgada mas tudo indica que poderá ter 900 m”62.
Nesse exemplo, temos o vocábulo altura retomando toda a ideia presente
no primeiro período, demonstrando que a nominalização também pode ser um
recurso anafórico.
No que concerne à referenciação, observa-se que a escolha por um
formativo de nominalização que possa concorrer com outros, sobretudo os
intensificadores, -ura promove a alteração da intensão da base, acentuando suas
propriedades definitórias básicas e aumentando a extensão das entidades
abarcadas pelo conceito (cf. CASTILHO, 2010:127). Estamos aqui entendendo os
62 http://www.e-farsas.com/burjdubai-o-maior-predio-do-mundo.html. Acessado em 01/Ago/2012.

128
conceitos de intensão e extensão assim como propostos por Castilho, ou seja, “a
intensão é o conjunto de propriedades lexicais das palavras, o conjunto de seus
traços semânticos inerentes (...) A extensão é o conjunto de indivíduos
denotados através das propriedades lexicais das palavras”. No entanto, ainda
ampliamos esses conceitos na medida em que passamos a compreender a
questão da referência a partir dos pressupostos do cognitivismo e entendemos a
extensão, por exemplo, como a alteração dessas propriedades inerentes
presentes e características da intensão. Portanto, nos casos de polissemia, por
exemplo, reduz-se a intensão inicial para ampliar a extensão e abarcar novos
sentidos às palavras ou expressões (SOARES DA SILVA, 2006). Observe abaixo:
(13) Uma fofura este embrulho da laranja que serve de sobremesa63
Na sentença destacada acima, temos reduzida a intensão referente à
maciez – propriedade inerente da palavra base fofo e aumentada a extensão, à
medida que a palavra em destaque passa a atribuir uma nova propriedade mais
relacionada à delicadeza, beleza e não mais à maciez.
No que diz respeito à predicação, como todo substantivo abstrato, um
nome terminado em -ura pode funcionar como operador alterando as
propriedades de um termo sob seu escopo (CASTILHO, 2010:127-128), pois, nos
termos de ROCHA LIMA (2008), os substantivos abstratos são aqueles que
dependem de alguém ou alguma coisa para se concretizarem. Dessa forma, é
63 http://www.fofuramaxima.blogspot.com . Acessado em 01/Ago/2012.

129
esperado que esses substantivos selecionem complementos nominais e,
portanto, sejam capazes de predicar.
Outro conceito importante e que vale ser relembrado por já ter sido
amplamente discutido no capítulo 4 é o de metáfora. Castilho (2010) usa como
aporte teórico a abordagem pioneira de Lakoff & Johnson (2002) e conceptualiza
a metáfora como sendo:
“(i) um fenômeno conceitual, não necessariamente ligado a expressões linguísticas; (ii) um mecanismo cognitivo básico e muito difundido que a Semântica não deve ignorar; (iii) o entendimento de um domínio de experiência em termos de outro; (iv) a projeção de um conjunto de correspondências entre um domínio-fonte e um domínio alvo”. (CASTILHO, 2010: 131-132)
Esta seção busca tratar dos diferentes significados de cada uma das
funções da nominalização a partir de –ura, como esses significados são
formados e o que isso reflete na língua. Assim, a ideia central de que a
nominalização é um processo pelo qual os verbos tornam-se nomes indicando a
ação ou o estado da ação não é plenamente aplicável ao sufixo -ura conforme
demonstrado no capítulo anterior. Também buscamos descrever como as
metáforas atuam nesse processo, levando em consideração que o conceito de
metáfora utilizado neste trabalho será o de Lakoff & Johnson (2002). Portanto,
nesta seção, o objetivo é descrever como a semântica atua nessas funções já
previamente explicitadas e estender mais a análise feita no capítulo precedente.

130
6.3.1. Nominalização de verbos
Essa primeira função do afixo faz referência à função inicial de um afixo
nominalizador que é a de indicar o ato ou o efeito do que é expresso pela base.
Apesar de -ura não ser altamente produtivo nessa função, a mesma não deve ser
excluída da análise por também estar presente na formação do léxico e possui
palavras muito recorrentes na língua. Observe os termos destacados nas frases a
seguir retiradas do site de busca Google:
(14) Justiça do DF faz varredura nas contas de Cachoeira e da Delta.64
(15) CPI apressa abertura de informações a Cachoeira para não atrasar
trabalho65.
(16) Tamar faz soltura de tartarugas66.
(17) Muitos sabem que foi a fervura da água que se usou para definir os
100º C.67
Podemos perceber que as palavras destacadas em (14), (15), (16) e (17),
respectivamente varredura, abertura, soltura e fervura, ainda mantém uma relação
direta com a base e podem ser parafraseadas como “ato ou efeito de X”, como,
por exemplo, soltura que equivale ao “ato de soltar” (as tartarugas, no caso da
64 http://www.dirigida.com.br/news/pt_br/justica_do_df_faz_varredura_nas_contas_de_cachoeira_e_da_delta_pernambuco_com/redirect_8555605.html - Acessado em 07/Ago/2012 65 http://www.camarasidrolandia.ms.gov.br/novo/exibe.php?id=63610&cod_editorial=&url=&pag=&busca= - Acessado em 07/Ago/2012 66 http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2012/03/10/ - Acessado em 07/Ago/2012 67 http://ktreta.blogspot.com.br/2010/01/fervura.html. Acessado em 07 / Ago / 2012

131
sentença). Cabe fazer essa descrição, por mais que essa não seja a acepção mais
veiculada pelo afixo; isso mostra que, mesmo que –ura exerça outras funções na
língua, a inicial, prototípica ainda está presente no léxico.
Um exemplo de dessemantização e consequente ressemantização nessa
função é a sentença abaixo, também retirada do Google:
(18) Estrelas e lendas do cinema vão à abertura do 65º Festival de
Cannes.68
Como é possível notar, o vocábulo abertura destacado em (18) e em
comparação ao selecionado em (15), sofreu uma mudança de significação
devido à atuação da metáfora (LAKOFF & JOHNSON, 2002). Essa metáfora
pode ser explicada a partir da ideia de que compreendemos a língua como um
conjunto de sistemas não modulares creditando o caráter relacional da
linguagem ao modo como agimos e nos relacionamos com o meio. Nesse caso,
ainda temos uma relação com o significado prototípico, pois o vocábulo
abertura, embora tenha caráter mais nominal nessa sentença, ainda mantém
qualquer relação com a definição “efeito de abrir”.
Esse seria um exemplo de desativação e reativação da semântica, visto
que existe um significado prévio que é desativado e reformulado a partir de
metáforas, ou seja, há um silenciamento do sentido anterior e simultânea
68 http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2012/05/estrelas-e-lendas-do-cinema-vao-abertura-do-65-festival-de-cannes.html. Acessado em 07 / Ago / 2012

132
ativação de um novo sentido, ou novos sentidos, já que podemos ativar
inúmeros outros, como nos exemplos abaixo:
(19) A equipe da R. A. Engenheira fez uma abertura na parede69.
(20) A abertura de “A Favorita” (uma telenovela) vai contar toda a
história da novela70.
Enquanto em (19), o sentido ativado é o de “fenda, buraco”; em (20), diz
respeito a um miniclipe exibido no início de um programa televisivo. Assim,
podemos constatar que o léxico de –ura pertencente a essa função também sofre
desativação e reativação, pois as metáforas atuam com esse objetivo, visto que
desativam o significado prototípico e reativam um novo.
6.3.2. Referenciação
A função de referenciação diz respeito também a uma característica
inicial da nominalização: formar nomes a partir de bases verbais. No entanto,
existem diversos nominalizadores na língua, como vimos no capítulo 5, e cada
um deles atua de forma diferente, importando-nos, aqui, apenas o –ura, já que é
este o foco deste trabalho. Observe os exemplos apresentados abaixo, todos
retirados de sites da internet no método de busca do Google:
69 http://revistacasaejardim.globo.com/Casaejardim/0,25928,EJE407507-2186,00.html. Acessado em 07 / Ago / 2012 70 http://www.musicaspraouvir.com/musicas/a-favorita. Acessado em 07 / Ago / 2012

133
(21) As armaduras leves geralmente não têm partes metálicas, e
normalmente são compostas de varias camadas de couro e/ou
acolchoamentos71.
(22) A cobertura é a melhor parte de um cupcake72!
(23) Abotoaduras ou Botões-de-punho são acessórios de moda usados
por homens e mulheres73.
(24) Empresa especializada no comércio de fechaduras, ferragens de
acabamento para construções74.
(25) Nasa fotografa rachadura quilométrica em geleira75.
Como vimos no capítulo 5, de todos os sufixos de nominalização, -ura é o
que possui caráter mais nominal (em comparação à –ção e –mento, por exemplo),
como podemos perceber nos vocábulos grifados em (21), (22), (23), (24) e (25), os
quais indicam coisas no mundo: tanto armadura quanto cobertura, abotoadura,
fechadura e rachadura. Assim, podemos perceber que -ura, quando adjungido a
bases verbais, distancia-se mais do verbo do qual se originou e passa a nomear
somente coisas, entidades, perdendo, dessa forma, a ideia de “ato ou efeito de
X”, em que X é a base.
Com essa função, o afixo –ura também sofre desativação e reativação de
sentidos a partir de metáfora e extensões de significado. O próprio exemplo
71 http://pt.wikipedia.org/wiki/Armadura. Acessado em 07 / Ago / 2012. 72 http://allrecipes.com.br/receitas/etiqueta-566/receitas-de-cobertura-de-cupcake.aspx. Acessado em 07 / Ago / 2012 73 http://pt.wikipedia.org/wiki/Abotoadura. Acessado em 07 / Ago / 2012 74 http://www.hotfrog.com.br/Produtos/Fechaduras-de-seguranca. Acessado em 07 / Ago / 2012 75 http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/11/nasa-fotografa-rachadura-quilometrica-em-geleira-na-antartida.html. Acessado em 07 / Ago / 2012

134
presente em (22) já demonstra essa dessemantização e ressemantização, pois a
base verbal é um particípio – um verbo, portanto – que indica ação (agir)
remontando, mais uma vez, à metáfora conceitual DESIGNAR É AGIR. Os
casos presentes nessa função são os representantes do resultado dessa metáfora,
visto que são elementos designativos que se originam de ações.
6.3.3. Abstratização de adjetivos
A terceira função do afixo –ura é a abstratização de adjetivos. Como já
vimos, essa função diz respeito à mudança de categoria gramatical (passagem
de adjetivo a substantivo abstrato). Nesta seção, vamos detalhar um pouco mais
a semântica dessa função. Observe os exemplos abaixo destacados:
(26) No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as
correntes da simpatia.76
(27) Aí seguiram várias explicações, e uma delas é que o pai influencia
mais na altura das filhas e a mãe, na altura dos filhos.77
(28) É preciso ser duro, mas sem perder a ternura, jamais78...
(29) Depois, observe a altura e a largura da testa e o desenho do queixo.79
76http://www.forumespirita.net/fe/o-livro-dos-mediuns/afabilidade-e-docura-28500/ Acessado em 08 / Ago / 2012 77 http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&uf=1&local=1&template=3948.dwt§ion=Blogs&post=69803&blog=117&coldir=1&topo=4235.dwt Acessado em 08 / Ago / 2012 78 http://pensador.uol.com.br/frase/NDkx/ Acessado em 08 / Ago / 2012

135
Quando o afixo em questão exerce a função de abstratizar um adjetivo,
passa a designar propriedades inerentes ao ser, como podemos ver nas palavras
destacadas em (26), (27), (28) e (29), respectivamente doçura, tontura, altura
ternura e largura. Isso se deve ao fato de todas serem propriedades imutáveis,
duradouras e não eventuais. Assim, pudemos constatar que o afixo –ura carrega
consigo a função de indicar que as propriedades veiculadas pela base adjetiva
são inerentes ao ser, estáticas e não dinâmicas e mutáveis. Além disso, vale
ressaltar que, mesmo nos casos em que essa inerência não esteja tão clara,
também não podemos dizer que seja uma propriedade eventual. Observe os
exemplos abaixo:
(30) Num voo de pombas brancas, um corvo negro junta-lhe um
acréscimo de beleza que a candura de um cisne não traria.80
(31) Um homem nobre jamais perde a sua candura infantil.81
Podemos perceber que em (30), o significado veiculado pelo vocábulo
grifado é o semantizado, ou seja, aquele adquirido a partir da ativação da
semântica na criação de um sentido. Isso se deve ao fato de este ser o seu
significado original, “livre” de qualquer metáfora ou qualquer outro recurso da
linguagem. Candura, no caso de (30), diz respeito à brancura, alvura,
79 http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL986422-5598,00.html Acessado em 08 / Ago / 2012 80 http://pensador.uol.com.br/frases_sobre_beleza_interior/7/ Acessado em 08 / Ago / 2012 81 http://frases.aaldeia.net/um-homem-nobre-jamais-perde-a-sua-candura-infantil/. Acessado em 08/ Ago / 2012.

136
luminosidade do cisne. Em contrapartida, no exemplo destacado em (31),
podemos perceber a atuação da metáfora. Partindo do pressuposto de que esse
recurso está presente em nosso dia a dia e que o acessamos a todo momento, é
possível verificar o porquê dessa dessemantização e da ressemantização. Nesse
caso, o sentido desativado foi o mesmo de (30) e o sentido reativado foi o de
“pureza, inocência”. Essa alteração só foi possível porque podemos
compreender a pureza ou a inocência a partir da ideia de luminosidade inicial:
um ser puro é um ser iluminado, limpo, com a alma clara. Assim, vemos que a
metáfora auxiliou na ativação de um novo significado, ou seja, que esse
vocábulo se ressemantizou via metáfora.
6.3.4. Função Intensificadora
Quando a função do afixo é intensificar, pudemos perceber, no capítulo
3, que -ura convive com inúmeros outros, mantendo, no entanto, cada um a sua
função específica e especializada. Nesta seção, o objetivo é detalhar um pouco
mais o que foi abordado anteriormente sobre essa função do afixo –ura.
Observem-se os exemplos abaixo:
(32) O filme foi aquela chatura!82
(33) Carne recheada é uma gostosura83!
82 http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&palavra=chatura. Acessado em 08 / Ago / 2012 83 http://www.sadia.com.br/vida-saudavel/4_dia+a+dia+na+cozinha/p5 Acessado em 08 / Ago / 2012

137
(34) O sabor do café envolveu-me numa quentura. Dançou as vísceras e
espírito. Deliciando calmamente cada gole.84
(35) A feiura é o que impede espécies diferentes de se misturar, afirma
pesquisa.85
(36) Não é segredo que eu tenho uma queda por coisas fofas, meigas,
cuti-cuti e uón. Mas essa semana me deparei com a maior fofura entre as
fofuras do universo.86
Com base nas sentenças (32), (33), (34), (35) e (36) e com o que já foi
exposto, podemos perceber que o afixo -ura possui a função intensificadora,
visto que todos os exemplos destacados podem ser parafraseados como “X em
excesso” ou “muito X”. Além disso, conforme previamente explicitado, o afixo
passa a se especializar, mantendo essa função como mais importante do que a
alteração categorial da base, visto que deixa de se adjungir a uma base
específica para se anexar a qualquer base com o intuito de intensificar. Assim, o
afixo passa a se unir a bases participiais, adjetivas, substantivas, adverbiais, por
exemplo, já que o objetivo principal é somar a essas bases o caráter
intensificador, sendo este um diferencial do sufixo –ura em detrimento dos
outros afixos com função similar. Abaixo, temos mais alguns exemplos de
vocábulos exercendo essa função, tendo o primeiro (37) como base o
substantivo abstrato beleza e o segundo (38), o advérbio longe. Em ambos os
84 http://hospiciopoetico.blogspot.com.br/2012/04/quentura.html. Acessado em 08 / Ago / 2012 85 http://www.tecmundo.com.br/ciencia/21602-a-feiura-e-o-que-impede-especies-diferentes-de-se-misturar-afirma-pesquisa.htm Acessado em 08 / Ago / 2012 86 http://casadagabi.com/o-cumulo-da-fofura/ Acessado em 08 / Ago / 2012

138
casos, podemos ver a função intensificadora claramente marcada se sobrepondo
à escolha da categoria gramatical da base. Observe:
(37) Fraudes, falcatruas, e toda a belezura desse nosso mundo das
academias de araque.87
(38) Viemos da distância e da lonjura dos tempos88.
Essa função da nominalização, assim como as demais, também sofre
desativação e reativação da semântica, nos moldes de Castilho (2010) e essa
reativação se dá por intermédio de metáforas. Podemos exemplificar essa
afirmação a partir dos seguintes exemplos:
(39) A frescura das madames incomoda as empregadas domésticas89.
(40) Deixa de frescura90.
(41) Por uma vida sem frescura91!
87 http://cienciabrasil.blogspot.com.br/2011/08/faca-aqui-sua-denuncia-fraudes.html. Acessado em 08 / Ago / 2012 88 http://edirol.blogs.sapo.pt/2011/07/ Acessado em 08 / Ago / 2012 89 http://www.pgletras.uerj.br/palimpsesto/num13/estudos/palimpsesto13estudos06.pdf Acessado em 08 / Ago / 2012 90 http://www.deixadefrescura.com/. Acessado em 08 / Ago / 2012 91 http://meioslinguagens2009.blogspot.com.br/2009/05/campanha-cintra-por-uma-vida-sem.html Acessado em 08 / Ago / 2012

139
Essa função da nominalização está intimamente ligada à anteriormente
explicitada (abstratização de adjetivos); uma grande parte dos dados mantém
uma relação estreita com aquela função. Dessa forma, esta é criada a partir de
uma metáfora desativando os sentidos iniciais de propriedade e reativando
novos sentidos referentes ao excesso da propriedade expressa pela base. Um
exemplo bastante claro é o de frescura, exposto nas frases em (39), (40) e (41),
estas últimas retiradas de uma propaganda de cerveja. Em (39), o substantivo
frescura se enquadra na função de abstratização de adjetivos, significando o
comportamento de ser fresco, enquanto, nos exemplos em (40) e (41), é a função
de intensificação a ativada, pois ambos os vocábulos demonstram reativação do
sentido de excesso, visto que significam “muito fresco” ou “fresco em excesso”.
Outro exemplo que podemos citar desse espraiamento é o vocábulo
brancura que se espraia do protótipo “abstratização” para a função
“intensificadora” a partir da mesma metáfora que o vocábulo anteriormente
analisado. Observe as frases abaixo:

140
(42) “A honra é como a neve, que, perdida a sua brancura, nunca mais se
recupera”. (Charles Duclos) 92
(43) “Ela era branca, branca. Dessa brancura que não se usa mais. Mas
sua alma era furta-cor”. (Mário Quintana)93
(44) Promoção Show de Brancura.94
(45) Banho de brancura95
Nos exemplos (42) e (43), o termo brancura está ligado à função de
abstratização, na medida em que somente indica a qualidade daquilo que é
branco – no primeiro, atribuindo à neve; no segundo, referindo-se a um tom de
branco que “não se usa mais”. Em contrapartida, os exemplos em (44) e (45) já
exerceriam a função intensificadora, visto que passariam a indicar algo “muito
branco”, “branco em excesso”. Essa acepção pode ser percebida a partir do
92
http://pensador.uol.com.br/frase/Nzc4NA/ Acessado em 08 / Ago / 2012 93 http://pensador.uol.com.br/frase/NTE5MzEy/ Acessado em 08 / Ago / 2012 94 http://mundodomarketing.com.br/artigos/redacao/5218/p-g-investe-em-promocao-para-ativar-marcas.html Acessado em 08 / Ago / 2012 95 http://www.unilever.com.br/brands/homecare/surf.aspx Acessado em 08 / Ago / 2012

141
próprio contexto, já que esses exemplos são extraídos de propagandas de sabão
em pó que têm por argumento principal o fato de deixar as roupas muito mais
brancas do que os concorrentes. Sendo assim, é esperado que o significado
veiculado seja o de excesso, pois tanto uma quanto outra empresa querem se
superar e vender o seu produto.
Corroborando essa ideia, também podemos observar as frases abaixo
retiradas dos textos que compõem o corpus e tecer algumas considerações.
(46) “E que cousa ha de tal brancura como o lírio” (Livro de vita Chirsti)
(47) “Nesse chão empapado de brancura”. (Meireles, Cecília. Olhinhos de
gato).
Observando esses exemplos, podemos perceber que o primeiro (46)
apresenta o vocábulo brancura em seu sentido prototípico de “propriedade de
X”, ou seja, podemos notar que o autor está fazendo uso da propriedade
daquilo que é branco para comparar o lírio a alguma coisa tão branca quanto.
Em contrapartida, em (47), o vocábulo brancura já apresenta o seu significado
intensificado, ou seja, já percebemos a diminuição da intensão e o aumento
consequente da extensão. O interessante desses exemplos é o fato de eles
demonstrarem a especialização do afixo, na medida em que o primeiro caso foi
retirado de um texto do século XV e o segundo de um do século XX.
O mesmo caso pode ser verificado com a palavra cobertura destacada nas
frases / expressões abaixo, também retiradas de textos antigos:

142
(48) “he abrem a sua mente e desvestem de si a sua cobertura do
engano” (Boosco Deleitoso)
(49) “Ela poderia comprar, por exemplo, um com cobertura diferente da
atual”. (Dantas, Francisco J. C. Cartilha do Silêncio)
Nos exemplos acima, podemos perceber o espraiamento semântico
presente no vocábulo destacado na sentença (49) e a manutenção do sentido
prototípico na frase (48), sendo esta registrada também no século XV e aquela
no século XX. Dessa forma, é possível notar que a história do afixo e seus
caminhos ao longo dos anos também são importantes para a análise e refletem
as mudanças semânticas sofridas com o passar do tempo.
6.3.5. Resumindo
Nesta seção, objetivamos apresentar os conceitos de sistema semântico e
todos os outros relacionados a este. Dessa forma, apresentamos como a Teoria
Multissistêmica compreende categorias como metáfora, metonímia e
referenciação, por exemplo, e qual a abordagem dada à semântica nessa teoria.
Além disso, também buscamos apresentar como os dispositivos sociocognitivos
atuam ativando, reativando ou desativando as propriedades desse sistema.
No que diz respeito à atuação desses dispositivos, pudemos verificar que
o afixo –ura possui quatro diferentes funções como sintetizamos na tabela
abaixo:

143
Função Base Produto Descrição
Nominalização
de verbos
Verbos Substantivos
abstratos
Escaneamento mais
dinâmico, menos voltado
para o produto.
Designação de
nomes
Verbos Substantivos
abstratos
Escaneamento mais estático,
mais voltado para o
produto.
Abstratização
de adjetivos
Adjetivos e
particípios
Substantivos
abstratos
Indica propriedades
inerentes ao ser humano.
Intensificação Adjetivos,
advérbios e
substantivos
abstratos
Substantivos
abstratos
Utilizado para indicar o
excesso da propriedade
descrita pela base.
Tabela 8: Funções do afixo -ura em português.
Como destacamos nesta seção, a semântica do afixo se altera de acordo
com a constituição do léxico e as diferentes categorias das bases: quanto mais
abrangente é a base, mais a significação final da função se torna abstrata.
6.4. Discurso
Segundo Castilho (2010), o discurso é entendido como um conjunto de
negociações envolvendo os interlocutores e propiciando uma interação entre
eles. De acordo com o autor, é através dessas negociações que
“(i) se instanciam as pessoas de uma interação e se constroem suas imagens; (ii) se organiza a conversação através da elaboração do tópico discursivo, dos procedimentos de ação sobre o outro ou de

144
exteriorização dos sentimentos; (iii) se reorganiza essa interação através do subsistema de correção sociopragmática; ou (iv) se abandona o ritmo em curso através de digressões e parênteses, que passam a gerar outros centros de interesse”. (CASTILHO, 2010:133)
Assim, a discursivização é entendida como o processo de criação de
textos administrado pelo dispositivo sociocognitivo. Dito de outra maneira,
vamos analisar a conversação e o texto, usando como base uma perspectiva
funcionalista cognitiva, pois o foco está no papel da língua, do discurso e do
aparato cognitivo dos usuários da língua. Dessa forma, para que haja um
processo de discursivização, é necessário que esses dispositivos atuem através
de algumas categorias cognitivas constitutivas do discurso: a moldura e a noção
de perspectiva.
Como já foi falado, para que haja interação, é necessário que seja ativado
o conhecimento de mundo dos interlocutores, ou seja, informações extratextuais
ativadas no momento da conversação. Como exemplo, podemos citar a seguinte
frase abaixo:
(50) Você sabe que horas são?96
Na sentença em destaque, podemos notar que a informação solicitada
não é, exatamente, a que está expressa na frase. O locutor da sentença não quer
apenas saber se o seu interlocutor sabe as horas, mas está pedindo que ele a
96 http://joselop.es/voce-sabe-que-horas-sao/ - Acessado em 08 / Ago / 2012

145
informe. Nesse momento, o conhecimento de mundo dos falantes de que
perguntas como essa não “devem” ser respondidas com sim ou não precisa ser
ativado para que a comunicação ocorra. Em outras culturas diferentes da
brasileira, por exemplo, informações como essa não seriam pedidas da mesma
maneira. Assim, é necessário que seja ativado esse conhecimento para que a
comunicação seja efetuada com total sucesso e é nesse momento que os
dispositivos sociocognitivos são ativados. É nesse ponto que também voltamos
à questão da moldura e da perspectiva.
A moldura pode ser explicada como uma percepção do mundo, das
funções sociais do discurso compartilhadas pelos interlocutores; é também um
dos processos de ativação do discurso que nos ajuda a compreender como se dá
a produção linguística.
Como exemplo, podemos citar a seguinte frase:
(51) Hoje vamos a uma festa97.
Ao dizer essa sentença, é ativada a moldura de festa que nos leva a um
enorme conjunto de movimentos mentais a serem ativados, pois essa moldura
ativa informações como: festa de aniversário, presente, roupa adequada, festa
infantil, festa de adulto, dentre inúmeros outros movimentos. Portanto,
podemos perceber que a seleção das informações contidas é efetuada no
momento da conversação e corresponde a uma expectativa sobre o mundo.
97
http://www.fanfiction.com.br/historia/71468/Horizonte_Azul/capitulo/2 Acessado em 08 / Ago / 2012

146
A noção de perspectiva, por sua vez, é outro processo de ativação
discursiva e é entendida como referente ao modo como o espaço é percebido,
ou seja, à maneira como compreendemos o espaço do discurso. A perspectiva
está diretamente ligada à noção de ponto de vista, atitude do falante, já que
enfocamos uma ou outra informação no discurso. Dessa forma, podemos notar
que os conceitos de moldura e perspectiva estão intrinsecamente interligados,
visto que a moldura seleciona conjuntos mais amplos de informações extra-
discursivas e a perspectiva é que vai se voltar para uma ou outra informação
listada. Dito de outra maneira, a moldura oferece pontos de vista e a
perspectiva os seleciona.
Assim como a gramática, este não será um sistema amplamente
discutido nesta Dissertação; porém, vale apresentar alguns exemplos de como o
contexto, o discurso, atuaria na nominalização por meio de –ura. Observem-se
os exemplos abaixo:
(52) É verdade que a altura da criança aos 2 anos, multiplicada por 2, é a
altura que ela terá quando adulta?98
(53) Um ônibus da viação Itapemirim que vinha do Rio de Janeiro sentido
São Paulo caiu em uma ribanceira na altura do km 125 da Rodovia99.
98 http://brasil.babycenter.com/toddler/desenvolvimento/altura-2-anos/. Acessado em 01 ago.2012. 99http://www.estadao.com.br/noticias/geral,onibus-vindo-rio-cai-em-ribanceira-na-altura-de-cacapava,904211,0.htm. Acessado em 01 ago.2012.

147
Podemos perceber que a palavra em destaque nas duas sentenças
apresenta significados distintos que podem ser explicados a partir do conceito
de metáfora previamente explicitado. No entanto, esses significados só foram
alterados graças ao contexto no qual as palavras estão inseridas. Dessa maneira,
o discurso é ativado quando a palavra entra em contexto de uso, ou seja, é
ativada uma perspectiva a partir da discursivização da palavra em questão.
Como exemplo também podemos retomar a propaganda apresentada
anteriormente e retomada aqui:
(54) Por uma vida sem frescura.
Nesse exemplo, o novo significado da palavra é ativado no momento em
que ela é inserida em um contexto discursivo específico: a propaganda. Assim,
o DSC atua ativando propriedades desse sistema juntamente com os outros
fazendo com que a palavra frescura adquira um novo sentido, já que esta é
também uma função da propaganda.

148
6.4.1. Resumindo
Nesta breve seção, pudemos destacar alguns conceitos básicos presentes
no sistema do discurso e defini-los a partir dos olhares de Castilho (2010) para
cada um deles. Além disso, apresentamos uma rápida exemplificação e análise
do formativo em questão para mostrar que o Discurso atua fortemente na
língua e é um sistema igualmente importante.
6.5. Sistemas Simultâneos
Como foi muito discutido no capítulo 4 e constantemente retomado ao
longo da Dissertação, a Teoria Multissistêmica considera a existência de quatro
sistemas que atuam simultaneamente, possuem a mesma importância e são
regidos por dispositivos sociocognitivos que ativam, reativam e desativam as
propriedades de cada um desses sistemas. Neste capítulo, tratamos dos quatro
sistemas apresentados separadamente e mostramos como atuam na língua –
alguns discutidos de forma mais aprofundada e outros de forma mais sucinta.
No entanto, ainda falta uma análise a ser apresentada devido a esse caráter de
simultaneidade muito marcado pela teoria: faltava exemplificar essa questão.
Portanto, nesta seção, esse é o nosso objetivo. Comecemos observando a
sentença apresentada abaixo retirada de um texto do Corpus do Português:
(55) Mas que loucura! Que ideia! Como você foi fazer isso, meu Deus!
(RODRIGUES, Nelson. Meu destino é pecar. 1944)

149
Podemos observar que ocorre um processo de sintaticização já
apresentado anteriormente, devido ao fato de a palavra destacada estar inserida
numa estrutura sintática própria, já cristalizada (Que X!) em que a posição de X
pode ser ocupada por qualquer substantivo, adjetivo, advérbio, dentre outros, a
fim de indicar intensificação. Portanto, podemos perceber a ativação das
propriedades sintáticas do sistema da gramática.
Além disso, ao mesmo tempo em que ocorre a sintaticização, também
podemos notar a semantização a partir da ativação de uma metáfora já
apresentada, na medida em que loucura deixa de indicar apenas uma
propriedade para fazer referência ao excesso dessa propriedade, diminuindo a
intensão e aumentando a extensão, consequentemente.
No caso do sistema do léxico, é possível notar a relexicalização, na
medida em que há uma renovação de vocabulário devido ao processo de
derivação, nominalização, pelo qual passa a base. Assim, temos que a palavra
louco se relexicalizou, pois, ao se anexar a um afixo (no caso –ura), teve suas
categorias semânticas e seus traços cognitivos rearranjados.
Quanto ao discurso, podemos perceber que o mesmo é ativado, na
medida em que tal palavra é inserida num contexto e determinado significado é
focalizado, em detrimento de outros.
Assim, a partir de apenas uma frase, é possível constatar que esses
sistemas estão atuando simultaneamente na língua e, portanto, essa teoria tem
um fundamento lógico muito relevante. Não há um sistema que se sobreponha

150
ao outro, mas quatro sistemas que convivem e convergem ao mesmo tempo na
língua.
Podemos observar a expressão apresentada no título deste trabalho.
Observe:
(56) Loucura, loucura, loucura!100
Tal expressão foi criada por um apresentador de televisão e demonstra as
mesmas explicações dadas ao exemplo anterior, com exceção da sintaticização.
No entanto, podemos ainda acrescentar que a intensificação, nesse caso, não se
dá apenas por meio da metáfora, mas também pelo contexto sintático e
discursivo. Dessa forma, mais uma vez podemos exemplificar a atuação dos
quatro sistemas simultaneamente.
6.6. Resumindo
Neste capítulo, apresentamos os quatro sistemas linguísticos descritos
por Castilho (2010) e buscamos descrever como cada um deles atua na língua
através dos DSCs.
No caso da gramática, particularizamos os casos de sintaticização e
fonologização apresentando exemplos que comprovassem a ideia de que em
todos os casos há a atuação desses sistemas. Já no que diz respeito ao léxico,
apresentamos uma visão diferente da trabalhada pela Teoria Multissistêmica
100 http://forum.cifraclub.com.br/forum/3/164409/ Acessado em 08 / Ago / 2012

151
para lidar com a formação de novas palavras e, para tanto, recorremos ao Booij
(2010) para formalizar o processo de maneira mais detalhada e aprofundada.
Além disso, também explicamos e exemplificamos os casos de lexicalização,
relexicalização e deslexização presentes na nominalização por meio de –ura a
fim de comprovar que esses processos acontecem a todo tempo na língua e não
são, portanto, casos isolados.
Em seguida, buscamos apresentar a visão que se tem sobre o sistema
relacionado à semântica e como ele se apresenta na Teoria Multissistêmica e na
nominalização mais especificamente. Além disso, também apresentamos os
conceitos relacionados a esse sistema, como metáfora, metonímia e focalização,
dentre outros, buscando sempre suporte na linguística de base cognitiva para
definir esses conceitos. Buscamos demonstrar, também, como atuam nas
funções da nominalização e apresentamos dados para comprovar nossas
hipóteses. Já no sistema do discurso, apresentamos como este é entendido na
teoria e apresentamos os conceitos. Além disso, também buscamos exemplificar
como esse sistema é ativado e qual a sua função básica na língua, sem nos
aprofundarmos, entretanto.
Por fim, fez-se necessário selecionar exemplos que comprovassem que a
atuação desses sistemas se dá simultaneamente e assim o fizemos. Buscamos
demonstrar como se concretiza a ideia de simultaneidade na língua. nessa seção
final, o nosso objetivo foi corroborar a ideia primária da Teoria Multissistêmica de
que a língua é composta de quatro sistemas que não apresentam qualquer
hierarquia e atuam simultaneamente por meio da ativação, desativação e
reativação de suas propriedades.

152
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta Dissertação, tivemos por objetivo apresentar e investigar o
processo de nominalização a partir do sufixo -ura levando em consideração os
pressupostos levantados pela Abordagem Multissistêmica de análise da língua
(CASTILHO, 2010). Dessa maneira, esperamos ter apresentado evidências de
que as formas X-ura são produtivas no português contemporâneo com bases
adjetivais, substantivas e adverbiais e que as bases participiais são encontradas
apenas em formações mais antigas. Além disso, a descrição dos sistemas de
acordo com a proposta de Castilho (2010) e a busca em dicionários etimológicos
e textos antigos do português demonstram o favorecimento das bases adjetivas
e comprovam a mudança ao longo da história em relação às categorias
selecionadas para preencher a posição de X no esquema genérico X-ura.
Pretendemos ter comprovado, ainda, que o sufixo –ura não concorre com
outros afixos da língua – no que diz respeito à atual sincronia – em uma mesma
função e que seu significado foi se especializando ao longo do tempo como
busca de um lugar próprio na língua.
Além disso, no que tange à abordagem linguística utilizada, esperamos
ter alcançado o objetivo inicial de fazer uma nova análise sob um ângulo
completamente diverso dos já estudados e comprovar que essa é uma teoria
que ainda pode gerar muitas outras pesquisas. Vale lembrar, também, que esta
7

153
Dissertação não teve por objetivo descrever todos os sistemas linguísticos
apresentados pela Multissistêmica, pois optamos por aprofundar apenas dois
deles: o léxico e a semântica.
Portanto, pretendemos ter conseguido analisar satisfatoriamente o
formativo em questão de acordo com os sistemas selecionados e responder a
todas as perguntas levantadas ao longo desta Dissertação. Além disso, também
buscamos descrever e exemplificar, mesmo que de maneira um pouco
superficial os outros dois sistemas linguísticos (gramática e discurso) e mostrar
que, apesar de não termos focalizado neles, estes também são importantes para
a análise linguística.

154
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, M. L. L. & GONÇALVES, C. A. V. “Aplicação da construction
gramar à morfologia: o caso das formas X-eiro”. In: Linguística. (PPGL/UFRJ), v.
2, 2006, p. 229-242
ARONOFF M. Word Formation in Generative Grammar. Massachusetts: The MIT
Press Cambridge, 1976
BASILIO, Margarida. “Das relações entre texto, gramática e cognição: o foco na
cognição”. Texto apresentado no Encontro InterGTs da ANPOLL. Campinas:
UNICAMP, 2011.
__________________. “O princípio da analogia na constituição do léxico: regras
são clichês lexicais”. In: Veredas: revista de estudos linguísticos. V.1, n.1, p. 9-21,
1997.
__________________. Estruturas lexicais do português: uma abordagem gerativa.
Petrópolis: vozes, 1980.
__________________. Formação de classes de palavras no português do Brasil. São
Paulo: Contexto, 2006.
__________________. Teoria Lexical. São Paulo: Ática, 2007 [1987].
8

155
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2009.
BOOIJ, G. Construction Morphology. New York: Oxford University Press, 2010.
_________. The Grammar of words. New York: Oxford University Press, 2005.
BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico, prosódico da língua
portuguesa. São Paulo: Saraiva, 1967.
BYBEE, Joan. Morphology: the relations between meaning and form.
Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 1985.
CAMARA JR., Joaquim Mattoso. História e estrutura da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Padrão, 1976.
CARONE, Flávia de B. Morfossintaxe. São Paulo: Ática, 1990.
CASSEB-GALVÃO et alii. Introdução à gramaticalização: princípios teóricos e
aplicação. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.
CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo:
Contexto, 2010.
CASTRO DA SILVA, Caio Cesar; VALENTE, Ana Carolina Mrad de Moura;
GONÇALVES, Carlos Alexandre; ALMEIDA, Maria Lucia Leitão de. “Percurso
histórico das formações parassintéticas a-X-ecer e e/n/-X-ecer: produtividade e

156
polissemia”. In: ALMEIDA, Maria Lucia Leitão de M. L. L. de et alii. Linguística
Cognitiva em Foco: Morfologia e Semântica. Rio de Janeiro: Publit, 2009.
CHAFE, Wallace L. “Giveness, constrastiveness, definiteness, subjects, topics
and points of view”. In: LI, C. Subject and topic. New York: Academic Press,
1976.
CHOMSKY, Noam. Knowledge of language, its nature, acquisition and us. Nova
York: Praeger, 1986.
COELHO, Livy Maria Real. "Uma Análise do Sufixo – ura com base na
Morfologia Categorial". In: Intertexto. Uberaba: UFTM, 2008.
COUTINHO, Ismael de L. Gramática Histórica. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico,
1976.
________________________. Pontos de Gramática Histórica. Rio de Janeiro: Ao
Livro Técnico, 1978.
CROFT, William & CRUSE, D. Alan. Cognitive Linguistics. Cambridge:
Cambridge University Press, 2004.
CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
CUNHA, Celso Ferreira da & CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do
português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexicon Informática, 2007.

157
DAVIES, Mark & FERREIRA, Michael. Corpus do Português: 45 million words,
1300s-1900s. http://www.corpusdoportugues.org, 2006.
DIK, S. C. The theory of Funcional Grammar. Berlim: Mounton de Gruyter, 1997.
EVANS, V. & GREEN, M. Cognitive Linguistic: An Introduction. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2006.
FARIA, E. Gramática superior da língua latina. Rio de Janeiro: Acadêmica, 1958.
FAUCONNIER, Gilees & TURNER, Mark. The way we think: conceptual blending
and the mind’s hidden complexities. Basic Books: New York, 2002.
FERRARI, Lilian. Introdução à Linguística Cognitiva. São Paulo: Contexto, 2011.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Eletrônico versão 5.12.
Curitiba: Positivo Informática, 2004.
FILLMORE, C. J. “Frame semantics”. In: Linguistics in the Morning Calm,
Hanshin, The Linguistic Society of Korea Soeul, 1982, p. 111-137.
FRANÇA, Aniela Improtta & LEMLE, Miriam. “Arbitrariedade Saussereana em
foco”. In: Revista Letras, n. 69. CURITIBA: EDITORA UFPR, 2006.
FREITAS, Horácio Rolim de. Princípios de Morfologia. Rio de Janeiro: Oficina do
Autor, 1997.
GONÇALVES, C. A. V. Flexão e Derivação em Português. 1. ed. Rio de Janeiro: Fac
Letras/UFRJ, 2005.

158
______________________ et alii. Linguística Cognitiva em foco: morfologia e
semântica do português. Rio de Janeiro: Publit, 2010.
______________________. Iniciação aos estudos morfológicos: flexão e derivação em
português. São Paulo: Contexto, 2011.
______________________ & ALMEIDA, Maria Lucia Leitão de. de. “Das relações
entre forma e conteúdo nas estruturas morfológicas do português”. In:
Diadorim: Revista de Estudos Linguísticos e Literários, v. 4, p. 27-55, 2008.
HENRIQUES, Cláudio Cezar. Morfologia: Estudos lexicais em perspectiva
sincrônica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
HOPPER, Paul J. "On some principles of grammaticalization”. In TRAUGOTT ,
Elizabeth Closs & HEINE Bernd, eds. Approaches to Grammaticalization, Vol. I.
Amsterdam: John Benjamins, 1991.
_________________ & TRAUGOTT Elizabeth. Grammaticalization. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003
HOUAISS, Antonio. Dicionário Eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Ed.
Objetiva: 2001.
ILARI. Rodolfo. Linguística Românica. São Paulo: Ática, 1992.
JACKENDOFF, Ray. “Morphological and semantic regularities in the Lexicon”
In: Language. n.51. 1975.

159
____________________. Semantics and Cognition. Cambridge: MIT, 1983.
JUCÁ FILHO, Cândido. Gramática histórica do Português Contemporâneo. Rio de
Janeiro: EPASA, 1945.
KATO, Mary. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo:
Ática, 1986.
KEHDI, Valter. Formação de palavras em português. São Paulo: Ática, 1989.
______________. Morfemas do português. São Paulo: Ática, 1999.
LAKOFF, George. Women, Fire and Dangerous Things: What categories reveal
about the mind. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
__________________ & JOHNSON, Mark. Metáforas da vida cotidiana. Campinas:
Mercado de Letras, 2002 [1980].
LANGACKER, Ronald. Foundations of cognitive grammar. Theoretical
prerequisites. Stanford: Stanford University Press, 1987.
LAROCA, Maria Nazaré de Carvalho. Manual de morfologia do português.
Campinas: Pontes; Juiz de Fora: UFJF, 1994.
LEMOS DE SOUZA, Janderson Luiz. A distribuição semântica dos substantivos
deverbais em -ção e -mento no português do Brasil: uma abordagem cognitiva. (Tese
de Doutorado) Rio de Janeiro: UFRJ, 2010.
LUFT, Celso Pedro. Moderna Gramática Brasileira. Porto Alegre: Ed. Globo, 1979.

160
_________________. Novo Manual de Português, gramática, ortografia oficial,
redação, literatura, textos e testes. 8. ed., São Paulo: Editora Globo, 1990.
MACHADO, José Pedro. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Lisboa:
Livros Horizonte, 1973.
MASIP, V. Gramática Histórica Portuguesa e Espanhola. São Paulo: Editora
Pedagógica e Universitária, 2003.
MAURER JR., Theodoro Henrique. Gramática do Latim Vulgar. Rio de Janeiro:
Livraria Acadêmica, 1959.
MENDES DE ALMEIDA, N. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Saraiva, 2005 [1979]
MONTEIRO, J. Morfologia Portuguesa. Campinas: Editora Pontes, 1988.
NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Acadêmica, 1955.
NEVES, Maria Helena de M. A Gramática Funcional. São Paulo: Martins Fontes,
1997.
PEZATTI, Erotilde G. “O Funcionalismo em Linguística”. In: MUSSALIM, F &
BENTES, A. C. Introdução à linguística: fundamentos epistemológicos. Volume 3. São
Paulo: Cortez, 2005.

161
PIZZORNO, Daniele Moura. Polissemia da construção X-eiro: uma abordagem
cognitivista. Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro: UFRJ, 2010.
RIO-TORTO, G. M. "Organização de redes estruturais em morfologia".
Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4561.pdf, 2005.
____________________. Morfologia derivacional: Teoria e Aplicação ao Português.
Porto: Porto Editora, 1998.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa.
Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.
ROCHA, Luiz Carlos de Assis. Estruturas morfológicas do português. Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 1998.
ROSA, Maria Carlota. Introdução à Morfologia. São Paulo: Contexto, 2006.
SAID ALI, M. Gramática Histórica da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:
Melhoramentos, 1971.
_______________. Gramática Secundária da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:
Melhoramentos, 1969.
SANDMANN, Antônio José. Competência Lexical: produtividade, restrições e
bloqueio. Curitiba: Ed. da UFPR, 1988.
____________________________. Formação de palavras no português brasileiro
contemporâneo. Curitiba: Scentia et Labor: Ícone, 1988.

162
_____________________________. Morfologia Geral. São Paulo: Contexto, 1997.
SAUSSURE, F. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 1973.
SILVEIRA BUENO, F. de. A formação histórica da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Saraiva, 1967.
SOARES DA SILVA, Augusto. “A Linguística Cognitiva: uma breve introdução
a um novo paradigma” In: Revista Portuguesa de Humanidades. Braga, v.I, 1997,
p.59-101.
__________________________. O mundo dos sentidos em português: polissemia,
semântica e cognição. Coimbra: Almedina, 2006.
SWEETSER, Eve. From etymology to pragmatics. Metaphorical and cultural
aspects of semantic structure. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
VALENTE & CASTRO DA SILVA. “Loucura, loucura, loucura! Uma
abordagem morfossemântica do sufixo –ura”. In: Cadernos do NEMP. Vol. 2, n.
2, 2011. Disponível em http://www.nemp.com.br/images/pdf/cadernos-vol2-
ana%20e%20caio1.pdf
XAVIER, M. F.; VICENTE, M. G.; CRISPIM, M. L. Crispim,
http://cipm.fcsh.unl-pt/, 20/10/2009.

163
ANEXO I
Significado das palavras pelos dicionários Aurelio e Houaiss.
PALAVRA SIGNIFICADO
Abertura Ato de abrir. Ato de inaugurar, começo. Dimensão do espaço aberto. Composição que serve de introdução à ópera, bailado, sinfonia, etc.
Abotoadura Ato ou efeito de abotoar. Abotoamento. Conjunto de botões usado em peças do vestuário
Abreviatura Ato ou efeito de abreviar. Modo de escrever uma palavra com menos letras que as requeridas pelos sons e articulações que tem. Representação de uma palavra por meio de uma ou algumas das suas letras
Advocatura Amparo, mediação, patrocínio, proteção.
Agrura Sabor agro, acidez, azedume. Fig1: situação difícil, empecilho, obstáculo. Fig2: padecimento físico ou espiritual, insatisfação.
Altura Dimensão de alto a baixo. Elevação acima de um ponto. Eminência; altitude. Profundidade. Distância da base ao vértice oposto (no triângulo).
Alvura Qualidade, estado ou condição do que é alvo ou branco. Brancura. Fig.: qualidade do que ou de quem é cândido, puro, inocente.
Amargura Sabor amargo, amargor. Aflição, angústia, tristeza. Propriedade ou característica de severo
Andadura Ato de andar. Modo de andar. Passo da cavalgadura quando avança com a mão e o pé do mesmo lado. Passo.
Apertura Característica do que é estreito, apertado. Embaraço. Angústia, aflição.
Armadura Conjunto das peças metálicas que vestiam os guerreiros. Madeiramento que sustenta a parte essencial de uma obra de alvenaria ou de carpintaria;

164
armação.
Arquitetura Arte de projetar e construir edifícios. Fig. Forma, estrutura: arquitetura do corpo humano.
Assadura Ato ou efeito de assar. Parte da rês própria para assar. Inflamação cutânea provocada por calor ou fricção.
Assinatura Ato ou efeito de assinar; firma, nome escrito. Direito que se tem a alguma publicação ou comodidade mediante certo preço por determinado tempo.
Atadura Ato ou efeito de atar. Tira de tecido que serve para cobrir, também usada em curativos.
Baixura Característica do que é baixo. Depressão de terreno.
Belezura Coisa agradável de ver, beleza. Pessoa bonita, atraente.
Benzedura Ato ou efeito de benzer com ou sem o sinal da cruz. Ato de benzer, acompanhado de rezas supersticiosas.
Brancura Qualidade do que é branco. Fig. Inocência: a brancura de uma alma
Brandura Qualidade ou virtude do que é brando. Característica de quem é afável, doce. Ternura, carinho.
Bravura Qualidade de quem é bravo, coragem, bravor. Fig. Inocência: a brancura de uma alma.
Brochura Ato ou efeito de brochar livros. Estado do livro brochado. Folheto, livro de pequenas dimensões, revestido com capa de papel ou cartolina colada na lombada.
Candidatura Condição de candidato. Pretensão ou aspiração de candidato.
Candura Qualidade do que é cândido. Brancura puríssima. Embarcação das Maldivas. Pureza. Credulidade ingênua.
Cavalgadura Besta de sela, cavalar, muar ou asinina. Fig. Pessoa estúpida, malcriada.
Censura Ato ou efeito de censurar. Crítica severa, repreensão. Exame oficial de certas obras ou escritos.
Chatura Ação ou resultado de chatear, aborrecer. Chatice. Coisa que chateia, que amola.
Cintura Anatomia. Parte do corpo onde há junção óssea dos

165
membros ao tronco: cintura escapular, cintura pélvica. O meio do corpo. A parte das vestimentas que rodeia e aperta nessas partes.
Cobertura Ato ou efeito de cobrir; coberta, revestimento, invólucro. O que serve para cobrir; teto, telhado; tampa; capa.
Criatura Todo o ser criado. Pessoa; indivíduo. Pessoa inteiramente devotada a outra.
Cultura Ação ou maneira de cultivar a terra ou as plantas; cultivo: a cultura das flores. Fig. Conjunto dos conhecimentos adquiridos; a instrução, o saber: uma sólida cultura.
Curvatura Ação ou resultado de curvar. A parte curva de um corpo ou objeto.
Dentadura Conjunto formado por todos os dentes. Dentes artificiais. Dentes das rodas de qualquer máquina
Desenvoltura Grande desembaraço, viveza, agilidade. Fam. Turbulência, travessura
Ditadura O governo, a autoridade do ditador. Poder ou autoridade absoluta. Governo em que os poderes do Estado se concentram nas mãos de um só homem.
Dobradura Ato, processo ou efeito de dobrar. Curvatura; dobramento; vinco, prega. Ato de dobrar sobre si mesma a extremidade da artéria para suspender uma hemorragia.
Doçura Qualidade ou gosto de doce. Qualidade ou virtude do que é meigo, ternura.
Embocadura Ato ou efeito de embocar. Entrada de rua, avenida. Foz (de um rio). Tendência, propensão.
Envergadura Ato ou efeito de envergar, envergamento. Distância entre as extremidades das asas abertas de uma ave ou de qualquer animal alado. Distância máxima entre as extremidades das asas de uma aeronave.
Envoltura Ato ou efeito de envolver, envolvimento. Manta em que se envolvem as crianças
Escritura Documento ou forma escrita de um ato jurídico. O Antigo e o Novo Testamento: a Sagrada Escritura.

166
Espessura Qualidade ou característica do que é espesso. Grau de consistência, da densidade de algo. Medida de grossura.
Estatura Tamanho de uma pessoa. Altura ou grandeza de um ser
animado. Fig. Competência, capacidade, dignidade: não
tem estatura para o cargo.
Fartura Condição do que é farto, abundante. Abundância de alimentos, de provisões. Grande quantidade de algo
Fechadura Ato ou efeito de fechar. Dispositivo de metal que tranca portas.
Feitura Ato, efeito ou modo de fazer; efeito. Obra; execução; trabalho.
Feiura Condição ou estado de quem ou do que é feio; fealdade. Pessoa ou coisa feia.
Ferradura Peça de ferro que se prega na face inferior do casco dos animais de carga, tiro e sela. Reforço de ferro no salto do calçado.
Fervura Estado de um líquido a ferver; ebulição. Fig. Agitação, efervescência, alvoroço.
Finura Qualidade do que é fino, delgado. Característica do que é leve, delicado, sutileza.
Fofura Qualidade de fofo. Pessoa, animal ou coisa fofa, graciosa.
Formatura Ato ou efeito de formar; graduação universitária. Militar Disposição ou alinhamento de tropas.
Formosura Característica do que é formoso, boniteza, beleza.
Fratura Ato ou efeito de fraturar; rutura, quebradura.
Frescura Sensação na pele causada pelo contato de coisa fria. Uso informal: comportamento reservado ou constrangido, afeito a moralismo excessivo; reticência; melindre. Comportamento, modo, hábito próprio de indivíduo fresco, maricas.
Fritura Qualquer coisa frita. O que se frege de uma vez. Ato ou efeito de fritar.
Fundura Altura da profundidade. Comprimento entre a parte anterior e a posterior. Profundidade.
Gastura Bras. Comichão, prurido. Inquietação nervosa, aflição,

167
mal-estar.
Gordura Tecido adiposo dos animais. Característica daquele que é gordo, excesso de peso.
Gostosura Qualidade do que é gostoso. Iguaria saborosa, guloseima. Mulher bonita, capaz de agradar sexualmente.
Grossura Qualidade de grosso, do que tem grande diâmetro. Dimensão de um sólido que equivale à distância entre a superfície anterior e a posterior. Que é volumoso, corpulento, inchado. Bras. Pop. Grosseria, impolidez.
Investidura Ato de investir uma pessoa na posse de algum cargo ou dignidade; emposse.
Juntura Ato ou efeito de juntar. Ponto onde duas peças ou coisas se juntam ou se articulam. Conjunto de peças necessárias para jungir os bois ao carro.
Laqueadura Ato ou efeito de laquear (-se). Ligadura.
Largura Extensão tomada no sentido perpendicular ao comprimento. Qualquer plano apreciado quanto à sua dimensão transversal: largura do terreno.
Legislatura Corpo legislativo em atividade. Período para o qual se elege uma assembleia legislativa.
Licenciatura Grau universitário que dá o direito de exercer o magistério do ensino médio.
Ligadura Ação de ligar; o mesmo que ligamento. Atadura. Cirurgia. Operação que consiste em apertar um laço em torno de uma parte do corpo, em geral um vaso sanguíneo.
Longura Característica do que é longo, do que apresenta grande extensão no espaço. Retardamento no tempo; delonga demora.
Lonjura Afastamento físico significativo; grande distância. Local muito distante (e por vezes até deserto, ermo).
Loucura Distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir.
Magistratura Cargo, função ou dignidade de magistrado. O exercício desse cargo ou função: Destacou-se na magistratura. Duração desse exercício: Sua magistratura foi de 15 anos.

168
O conjunto dos magistrados.
Mordedura Ato ou efeito de morder. Marca deixada pela ação de morder.
Negrura A cor negra. Qualidade de negro, negridão. Atitude má, perversa. Profundo desencanto, melancolia, tristeza.
Nervura Cada uma das fibras ou veios das folhas e das pétalas. Linha ou moldura saliente que separa os panos de uma abóbada. Tubo córneo ramificado nas asas dos insetos.
Partitura Disposição gráfica das diversas partes que formam uma
peça musical, particularmente sinfônica.
Picadura Picada, ferida, mordedura.
Pintura Arte de pintar. Arte ou ofício do pintor. Revestimento de uma superfície com substância corante: A pintura do muro ficou ótima.
Postura Atitude do corpo. Composição para dar mais realce ao rosto; arrebique. Expressão da fisionomia.
Queimadura Ação ou resultado de queimar; queima; queimação. Ferimento causado por fogo, raios solares ou substância química.
Quentura Estado do que é quente, calor. Alta temperatura. Febre. Extensão de sentido: sensualidade.
Rachadura Ato ou efeito de rachar. Abertura longitudinal, resultante de fratura ou ruptura; racha; fenda, greta.
Rapadura Ato ou efeito de rapar; rapadela. Bras. Açúcar mascavo em forma de tijolo.
Secura Qualidade, estado ou condição de seco. Falta de água, estiagem, seca. Esterilidade.
Semeadura Ação ou resultado de semear; semeação. P.ext. Terra ou campo semeado; semeada. Quantidade de grão suficiente para semear uma extensão de terra.
Sepultura Ato de sepultar. Cova, lugar onde se sepultam os
cadáveres. Sepulcro; jazigo. O fim da vida, a morte.
Soltura Ato ou efeito de soltar. Arrojo; atrevimento. Dissolução; licenciosidade. Diarreia, disenteria.
Temperatura Estado sensível do ar frio ou quente. Grau de calor num

169
corpo ou num lugar.
Ternura Qualidade do que é terno; meiguice. Afeto brando e carinhoso.
Tenrura Qualidade ou estado de tenro.
Tessitura Disposição das notas musicais para se acomodarem a certa voz ou instrumento. Contextura; organização.
Tesura Estado de um corpo teso. Força, rigidez. Fig. Orgulho,
vaidade.
Textura Ação ou resultado de tecer. Trama, tecido, entrelaçamento dos fios, contextura. Constituição geral de um material sólido.
Tintura Ato ou efeito de tingir. Medicamento obtido por contato com álcool, de diversas substâncias de origem vegetal, animal ou químicas.
Tontura Perturbação cerebral. Sensação ilusória de movimento do corpo ou movimento à volta do corpo.
Travessura Ação de pessoa travessa. Traquinada de crianças.
Desenvoltura. Brincadeira, brejeirice, agitação; malícia.
Varredura Ação de varrer. Lixo que se acumula varrendo. Varredela. Exploração ou busca minuciosa; rastreamento.
Verdura A cor verde dos vegetais, a vegetação, verdor. Bot. Planta comestível, ger. cultivada em hortas; hortaliça.

170
ANEXO II
Categoria morfológica da base e primeira ocorrência na língua.
PALAVRA BASE CATEGORIA DATAÇÃO
Abertura Do latim abertura XIV
Abotoadura Abotoado Verbo (particípio) XIV
Abreviatura Do italiano abbreviatura
1536
Advocatura Do latim advocatura 1712
Agrura Agro Adjetivo XV
Altura Alto Adjetivo XIII
Alvura Alvo Adjetivo XIV
Amargura Amargo Adjetivo XIII
Andadura Andado Verbo (particípio) XIV
Apertura Aperto Verbo (particípio) 1516
Armadura Do latim armatura 1344
Arquitetura Do latim architectura 1561
Assadura Do latim assatura XIV
Assinatura Do latim assinatura 1504
Atadura Atado Verbo (particípio) XIV
Baixura Baixo Adjetivo XV
Belezura Beleza Substantivo abstrato XX
Benzedura Benzido Verbo (particípio) 1789
Brancura Branco Adjetivo XIII
Brandura Brando Adjetivo XIV
Bravura Bravo Adjetivo XIV

171
Brochura Do francês brochure 1820
Candidatura Do francês candidature 1858
Candura Cândido Adjetivo 1614
Cavalgadura Cavalgado Verbo (particípio) XIV
Censura Do latim censura 1402
Chatura Chato Adjetivo ---------------
Cintura Do latim cinctura XIV
Cobertura Do latim coopertura 1257
Criatura Do latim criatura XIII
Cultura Do latim cultura XV
Curvatura Do latim curvatura 1560
Dentadura Dentado Verbo (particípio) 1697
Desenvoltura Do italiano desenvolture
XV
Ditadura Do latim dictadura 1563
Dobradura Dobrado Verbo (particípio) 1562
Doçura Doce Adjetivo XV
Embocadura Embocado Verbo (particípio) 1673
Envergadura Envergado Verbo (particípio) 1844
Envoltura Envolto Verbo (particípio) XIV
Escritura Do latim scriptura XIII
Espessura Espesso Adjetivo XIV
Estatura Do latim estatura XV
Fartura Do latim fartura XIV
Fechadura Fechado Verbo (particípio) XIV
Feitura Feito Verbo (particípio) XIII
Feiura Feio Adjetivo 1918
Ferradura Ferrado Verbo (particípio) 1110

172
Fervura Do latim fervura XIV
Finura Fino Adjetivo XIX
Fofura Fofo Adjetivo 1994
Formatura Do latim Formatura 1697
Formosura Formoso Adjetivo 1344
Fratura Do latim fractura 1202
Frescura Fresco Adjetivo 1543
Fritura Frito Verbo (particípio) 1836
Fundura Fundo Adjetivo XV
Gastura Gasto Verbo (particípio) XIX
Gordura Gordo Adjetivo XIV
Gostosura Gostoso Adjetivo 1918
Grossura Grosso Adjetivo XIII
Investidura Investido Verbo (particípio) XV
Juntura Junto Verbo (particípio) XV
Laqueadura Laqueado Verbo (particípio) XX
Largura Largo Adjetivo XV
Legislatura Do francês legislature 1770
Licenciatura Do latim licenciatura 1654
Ligadura Do latim ligatura XIII
Longura Longo Adjetivo XIV
Lonjura Longe Advérbio XIX
Loucura Louco Adjetivo XIII
Magistratura Do latim magistratura Verbo (particípio) 1760
Mordedura Mordido Verbo (particípio) XIV
Negrura Negro Adjetivo XIV
Nervura Nervo Substantivo 1788
Partitura Do italiano partitura 1789

173
Picadura Picado Verbo (particípio) XV
Pintura Do latim pinctura 1103
Postura Do latim postura XIII
Queimadura Queimado Verbo (particípio) XV
Quentura Quente Adjetivo XIII
Rachadura Rachado Verbo (particípio) XVI
Rapadura Rapado Verbo (particípio) XIV
Secura Seco Adjetivo XIV
Semeadura Semeado Verbo (particípio) XV
Sepultura Do latim sepultura XIII
Soltura Solto Verbo (particípio) XIII
Temperatura Do latim temperatura XVII
Tenrura Tenro Adjetivo XVII
Ternura Terno Adjetivo XVI
Tessitura Do italiano tessitura XIX
Tesura Teso Adjetivo 1721
Textura Do latim textura 1691
Tintura Do latim tinctura XIV
Tontura Tonto Adjetivo 1836
Travessura Travesso Adjetivo XIII
Varredura Varrido Verbo (particípio) XV
Verdura Verde Adjetivo XIV

174
ANEXO III
Número de ocorrências no site de busca Google dos vocábulos utilizados no
corpus.
PALAVRA OCORRÊNCIAS NO GOOGLE
Abertura 81.400.000
Abotoadura 65.300
Abreviatura 3.000.000
Advocatura 106.000
Agrura 70.400
Altura 228.000.000
Alvura 2.550.000
Amargura 8.070.000
Andadura 3.250.000
Apertura 682.000.000
Armadura 14.300.000
Assadura 200.000
Assinatura 40.800.000
Atadura 40.800.000
Arquitetura 38.400.000
Baixura 70.900
Belezura 388.000
Benzedura 944.000
Brancura 224.000
Brandura 224.000
Bravura 7.820.000
Brochura 6.110.000

175
Candidatura 49.100.000
Candura 426.000
Cavalgadura 50.300
Censura 43.900.000
Chatura 247.000
Cintura 46.100.000
Cobertura 102.000.000
Criatura 19.700.000
Cultura 715.000.000
Curvatura 4.950.000
Dentadura 3.280.000
Desenvoltura 1.650.000
Ditadura 10.500.000
Dobradura 1.150.000
Doçura 3.370.000
Embocadura 638.000
Envergadura 8.220.000
Envoltura 4.180.000
Escritura 49.800.000
Espessura 9.760.000
Estatura 19.800.000
Fartura 6.350.000
Fechadura 3.490.000
Feiura 493.000
Ferradura 1.530.000
Fervura 722.000
Finura 1.400.000
Fofura 2.890.000
Formatura 5.850.000
Formosura 493.000
Fratura 2.680.000

176
Frescura 11.300.000
Fritura 1.240.000
Fundura 86.400
Feitura 2.550.000
Gastura 55.300
Gordura 13.200.000
Gostosura 388.000
Grossura 366.000
Investidura 4.230.000
Juntura 866.000
Laqueadura 200.000
Largura 32.000.000
Legislatura 26.800.000
Licenciatura 32.000.000
Ligadura 921.000
Longura 50.600
Lonjura 55.900
Loucura 20.900.000
Magistratura 13.700.000
Mordedura 1.060.000
Negrura 609.000
Nervura 191.000
Partitura 12.300.000
Picadura 2.640.000
Pintura 189.000.000
Postura 46.900.000
Queimadura 1.090.000
Quentura 131.000
Rachadura 674.000
Rapadura 2.500.000
Secura 5.630.000

177
Semeadura 866.000
Sepultura 17.700.000
Soltura 4.270.000
Temperatura 178.000.000
Ternura 22.300.000
Ternura 55.600
Tessitura 2.780.000
Tesura 79.400
Textura 28.700.000
Tintura 5.240.000
Tontura 800.000
Travessura 395.000
Varredura 2.390.000
Verdura 21.300.000

178
ANEXO IV
Separação dos vocábulos por século.
Sem datação
Chatura
Século XII
Palavra Datação
Pintura 1103
Ferradura 1110
Século XIII
Palavra Datação
Altura XIII
Amargura XIII
Brancura XIII
Criatura XIII
Escritura XIII
Feitura XIII
Grossura XIII
Ligadura XIII
Loucura XIII
Postura XIII
Quentura XIII
Sepultura XIII

179
Soltura XIII
Travessura XIII
Vestidura XIII
Fratura 1202
Cobertura 1257
Século XIV
Palavra Datação
Abertura XIV
Abotoadura XIV
Alvura XIV
Andadura XIV
Assadura XIV
Atadura XIV
Brandura XIV
Bravura XIV
Cavalgadura XIV
Cintura XIV
Envoltura XIV
Espessura XIV
Fartura XIV
Fechadura XIV
Fervura XIV
Gordura XIV
Longura XIV
Mordedura XIV
Negrura XIV

180
Rapadura XIV
Secura XIV
Tintura XIV
Verdura XIV
Armadura 1344
Formosura 1344
Século XV
Palavra Datação
Censura 1402
Agrura XV
Baixura XV
Cultura XV
Desenvoltura XV
Doçura XV
Estatura XV
Fundura XV
Investidura XV
Juntura XV
Largura XV
Picadura XV
Queimadura XV
Semeadura XV
Varredura XV

181
Século XVI
Palavra Datação
Assinatura 1504
Apertura 1516
Abreviatura 1536
Frescura 1543
Curvatura 1560
Arquitetura 1561
Dobradura 1562
Ditadura 1563
Rachadura XVI
Ternura XVI
Século XVII
Palavra Datação
Temperatura XVII
Tenrura XVII
Candura 1614
Licenciatura 1654
Embocadura 1673
Textura 1691
Dentadura 1697
Formatura 1697
Século XVIII
Palavra Datação
Advocatura 1712

182
Tesura 1721
Magistratura 1760
Legislatura 1770
Nervura 1788
Benzedura 1789
Partitura 1789
Século XIX
Palavra Datação
Brochura 1820
Candidatura 1858
Envergadura 1844
Finura XIX
Fritura 1836
Gastura XIX
Lonjura XIX
Tessitura XIX
Tontura 1836
Século XX
Palavra Datação
Feiura 1918
Gostosura 1918
Fofura 1994
Belezura XX
Laqueadura XX

183
ANEXO V
Separação dos vocábulos por função nominalizadora.
Nominalização Referenciação Abstratização Intensificação
Benzedura Abertura Agrura Apertura
Censura Abotoadura Altura Baixura
Embocadura Abreviatura Alvura Belezura
Envoltura Advocatura Amargura Chatura
Investidura Andadura Brancura Fartura
Ligadura Armadura Brandura Feiura
Rapadura Arquitetura Bravura Fofura
Semeadura Assadura Candura Frescura
Soltura Assinatura Desenvoltura Fundura
Varredura Atadura Doçura Gastura
Brochura Envergadura Juntura
Candidatura Espessura Longura
Cavalgadura Estatura Lonjura
Cintura Finura Negrura
Cobertura Formosura Quentura
Criatura Gordura Secura
Cultura Grossura
Curvatura Largura
Dentadura Loucura
Ditadura Nervura
Dobradura Postura
Escritura Ternura
Fechadura Tesura

184
Feitura Tontura
Ferradura Verdura
Fervura Tenrura
Formatura
Fratura
Fritura
Laqueadura
Legislatura
Licenciatura
Magistratura
Mordedura
Partitura
Picadura
Pintura
Queimadura
Rachadura
Sepultura
Temperatura
Tessitura
Textura
Tintura
Travessura

185
ANEXO VI
Textos utilizados na constituição do corpus histórico retirados do
CorpusdoPorguês.org.
TEXTO DATAÇÃO
A demanda do Santo Graal XV
Adonias Aguiar – Corpo Vivo 1962
Afonso X – Primeira Partida 1300
Aluísio de Azevedo – O Mulato 1881
Angela Abreu – Santa Sofia 1997
António Nunes Ribeiro Sanches – cartas sobre a educação da
mocidade
1760
Aquilino Ribeiro – Terras do Demo 1919
Artur Azevedo – A capital Federal XX
Bento Pereira – Prosodia 1697
Bento Pereira – Tesouro da Língua Portuguesa 1697
Boosco Deleitoso 1400-1451
Cecília Meireles – Olhinhos de gato 1939
Crónica da Ordem dos Frades Menores 1209-1285
Crónica do Conde D. Pedro de Meneses 1400-1500
Crónica Geral de Espanha de 1344 1344
Cronica Troyana 1388
Eça de Queirós – O Crime do Padre Amaro 1875
Eça de Queirós – O Primo Basílio XIX
Eça de Queirós – Os Maias 1888
Eça de Queirós– A ilustre casa de Ramires 1900
Emílio de Menezes – prosa de circunstância XIX

186
Érico Veríssimo – O tempo e o vento 1961
Euclides da Cunha – Peru versus Bolívia XIX
Euclides da Cunha – Sertões 1902
Fernão Lopes – Crónica de Dom Fernando XV
Fialho de Almeida – Gatos XIX
FOLHA:10064:SEC:des 1994
FOLHA:11348:SEC:soc 1994
Francisco Costa – cárcere invisível 1972
Francisco de Holanda – Da pintura antiga 1561
Francisco J. C. Dantas – Cartilha do Silêncio 1997
Francisco Rodrigues Lobo – Côrte na Aldeia e Noites de Inverno 1607
Frei Tomé de Jesus – Trabalhos de Jesus 1529-1582
Fróis – História do Japam 1 1560-1580
Garcia de Resende – Cancioneiro de Resende 1516
Garcia de Resende – Vida e feitos d’el-rey Dom João Segundo 1533
Gonçalo Fernandes Trancoso – Proveito 1517-1594
Gonçalo Garcia de Santa Maria - Euangelhos e epistolas con
suas exposições en romãce
1497
Jerónimo Cardoso – Dicionário Portugues Latim 1562
João de Barros – Gramática da Língua Portuguesa 1540
José de Alencar – Til XIX
José Pixote Louzeiro – Infância dos Mortos 1977
Joyce Cavalcante – Inimigas íntimas 1993
Lídia Jorge – Antonio XX
Lima Barreto – Cemitério dos vivos 1881
Livro de vita Christi 1446
Lucena - Historia da vida do Padre S. Francisco Xavier 1600
Machado de Assis – Dom Casmurro 1899
Machado de Assis – Esaú e Jacó 1904
Manoel de Oliveira Paiva – Dona Guidinha do Poço XIX
Notários – inquisições manuelinas XVI

187
Paulo de Carvalho-Neto – Suomi 1986
Pedro Taques de Almeida Paes Leme - Nobiliarquia paulistana
histórica e genealógica
1770
Pinheiro Landim 1997
Posturas do Conselho de Lisboa 1360
Rafael Bluteau – Vocabulario portuguez e latino 1712-1721
Rui de Pina – Crónica de Dom Duarte XV
Sílvio Benfica XX
Soror Maria do Céu – Aves Ilustrados 1738
Textos Notariais. Clíticos na História do Português 1304
Textos Notariais. Clíticos na História do Português 1402-1499
Textos Notariais. Documentos Notariais dos Séculos XII a XVI. 1200-1300
Textos Notariais. Documentos Notariais dos Séculos XII a XVI. 1300-1400
Textos Notariais. História do galego-português 1301-1399
Tomaz de Figueiredo – A Gata Borralheira 1954
Tratado da Cozinha Portuguesa 1400
Vida e feitos de Júlio Cesar 1400-1500
Xambioá: Guerrilha no Araguaia – Cabral, Pedro Corrêa 1993

188
ANEXO VII
EXPERIMENTO Sexo: ( ) M ( ) F Idade: ______ Período: ______ Neste experimento, estamos interessados em compreender as suas intuições, como falante nativo da língua portuguesa, sobre a aceitabilidade de alguns itens. Avalie as palavras a seguir atribuindo um valor de 1 a 3: da mais conhecida (1) à palavra menos recorrente (3). Sinta-se livre para usar qualquer valor da escala, escrevendo o número na linha abaixo de cada palavra. Mas não leve muito tempo pensando; marque os itens de acordo com a sua primeira impressão. Obrigado pela colaboração!
1) Twitação Twitamento Twitura
2) Bateção Batimento Batidura
3) Estudação Estudamento Estudadura
4) Zapeação Zapeamento Zapeadura
5) Cortação Cortamento Cortadura
6) Deletação Deletamento Deletura
1------------------------------------------------------ 3 ---------------------------------------------------5 | | | não aceitável aceitável plenamente aceitável

189
ANEXO VIII
Pequeno corpus com os outros afixos utilizados na comparação
Sufixo –mento
Palavra Categoria da base
Emagrecimento Verbo
Fechamento Verbo
Afastamento Verbo
Saneamento Verbo
Atropelamento Verbo
Firmamento Verbo
Comportamento Verbo
Sofrimento Verbo
Casamento Verbo
Crescimento Verbo
Sufixo -ção
Palavra Categoria da base
Animação Verbo
Oração Verbo
Invenção Verbo
Cotação Verbo
Medição Verbo
Competição Verbo
Terminação Verbo
Intensificação Verbo

190
Nominalização Verbo
Abstratização Verbo
Sufixo –agem
Palavra Categoria da base
Barragem Verbo
Drenagem Verbo
Aprendizagem Verbo
Filmagem Verbo
Decolagem Verbo
Folhagem Substantivo
Pastagem Verbo
Molecagem Substantivo
Criadagem Substantivo
Malandragem Adjetivo
Sufixo –ice
Palavra Categoria da base
Burrice Adjetivo
Chatice Adjetivo
Idiotice Adjetivo
Velhice Adjetivo
Gordice Adjetivo
Babaquice Adjetivo
Tontice Adjetivo
Meninice Substantivo
Tolice Adjetivo
Canalhice Adjetivo

191
Sufixo –eza
Palavra Categoria da base
Magreza Adjetivo
Avareza Adjetivo
Riqueza Adjetivo
Beleza Adjetivo
Esperteza Adjetivo
Tristeza Adjetivo
Dureza Adjetivo
Malvadeza Adjetivo
Frieza Adjetivo
Moleza Adjetivo
Sufixo –ão
Palavra Categoria da base
Mulherão Substantivo
Lonjão Advérbio
Solzão Substantivo
Carrão Substantivo
Filhão Substantivo
Cabeção Substantivo
Fortão Adjetivo
Festão Substantivo
Gordão Adjetivo
Chatão Adjetivo
Sufixo –inho
Palavra Categoria da base
Mulherzinha Substantivo

192
Filminho Substantivo
Cafezinho Substantivo
Carrinho Substantivo
Garotinho Substantivo
Fofinho Adjetivo
Lindinho Adjetivo
Pertinho Advérbio
Doidinho Adjetivo
Mortinho Substantivo
Sufixo –oso
Palavra Categoria da base
Saboroso Adjetivo
Feioso Adjetivo
Gostoso Adjetivo
Meloso Adjetivo
Jeitoso Adjetivo
Carinhoso Adjetivo
Danoso Adjetivo
Perigoso Adjetivo
Famoso Adjetivo
Maldoso Adjetivo
Sufixo –udo
Palavra Categoria da base
Narigudo Substantivo
Barrigudo Substantivo
Peitudo Substantivo
Bundudo Substantivo

193
Orelhudo Substantivo
Bicudo Substantivo
Peludo Substantivo
Barbudo Substantivo
Carnudo Substantivo
Pontudo Substantivo
Sufixo –ção intensificador
Palavra Categoria da base
Falação Verbo
Pegação Verbo
Beijação Verbo
Bebeção Verbo
Forçação Verbo
Colação Verbo
Mordeção Verbo
Começão Verbo
Compração Verbo
Ficação Verbo

Universidade Federal do Rio de Janeiro
LOUCURA, LOUCURA, LOUCURA!: UMA ANÁLISE PELA ABORDAGEM
MULTISSISTÊMICA DO SUFIXO NOMINALIZADOR –URA NO
PORTUGUÊS.
ANA CAROLINA MRAD DE MOURA VALENTE
2012

Faculdade de Letras / UFRJ
LOUCURA, LOUCURA, LOUCURA!: UMA ANÁLISE PELA ABORDAGEM
MULTISSISTÊMICA DO SUFIXO NOMINALIZADOR –URA NO
PORTUGUÊS.
ANA CAROLINA MRAD DE MOURA VALENTE
Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Letras
Vernáculas da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, como parte dos requisitos necessários
à obtenção do título de Mestre em Letras
Vernáculas (Língua Portuguesa).
Orientadora: Maria Lucia Leitão de Almeida
Co-orientador: Carlos Alexandre Victorio
Gonçalves
Rio de Janeiro
Agosto de 2012

Loucura, loucura, loucura!: Uma análise pela abordagem Multissistêmica do
sufixo nominalizador –ura no português.
Ana Carolina Mrad de Moura Valente
Orientadora: Maria Lucia Leitão de Almeida
Co-orientador: Carlos Alexandre Victorio Gonçalves
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos
requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Letras Vernáculas
(Língua Portuguesa).
Examinada por:
______________________________________________________________________
Presidente, Professora Doutora Maria Lúcia Leitão de Almeida – UFRJ
______________________________________________________________________
Professor Doutor Janderson Lemos de Souza - UNIFESP
______________________________________________________________________
Professora Doutora Verena Kewitz - USP
______________________________________________________________________
Professor Doutor Carlos Alexandre Victorio Gonçalves - UFRJ
______________________________________________________________________
Professora Doutora Sandra Pereira Bernardo - UERJ
______________________________________________________________________
Professora Doutora Maria Aparecida Lino Pauliukonis - UFRJ
Rio de Janeiro
Agosto de 2012

VALENTE, Ana Carolina M. de M.
Loucura, loucura, loucura!: Uma análise pela abordagem Multissistêmica
do sufixo nominalizador –ura no português./ Ana Carolina Mrad de Moura
Valente. – Rio de Janeiro: UFRJ/ Faculdade de Letras, 2012.
XIII, 193f.: il.; 31cm
Orientadora: Maria Lucia Leitão de Almeida
Co-orientador: Carlos Alexandre Victorio Gonçalves
Dissertação (Mestrado) - UFRJ/ Faculdade de Letras / Programa de Pós-
Graduação em Letras Vernáculas (Língua Portuguesa), 2012.
Referências bibliográficas: p. 154-162.
1. Nominalização. 2. Gramática Multissistêmica. 3. Linguística Cognitiva.
4. Escaneamento cognitivo. I. Almeida, Maria Lucia Leitão de; Gonçalves,
Carlos Alexandre Victorio. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Faculdade de Letras, Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas
(Língua Portuguesa). III. Título.

RESUMO
Loucura, loucura, loucura!: Uma análise pela abordagem Multissistêmica do
sufixo nominalizador –ura no português.
Este trabalho busca investigar qual o status do sufixo nominalizador -ura
na língua portuguesa, verificável em palavras como ternura, loucura, assinatura,
fartura e lonjura. Para tanto, temos por objetivo revisitar desde a tradição
gramatical à literatura morfológica de cunho derivacional, visando verificar
como o afixo em questão é tratado pelos diversos autores desses estudos
linguísticos. Além disso, devido ao fato de haver, na língua, inúmeros afixos
nominalizadores, buscamos também verificar e estudar as diferentes funções
que o afixo em questão exerce e qual papel é conferido apenas a ele, ou seja,
como este se diferencia dos demais. Em seguida, com base em um corpus
constituído de setenta e nove vocábulos coletados nos dicionários eletrônicos
Houaiss e Aurélio, observaremos a distribuição dos dados dentro dessas
funções e pretendemos comprovar as hipóteses levantadas anteriormente sobre
o tema. Como aporte teórico, utilizaremos a Gramática Multissistêmica de
Castilho (2010) e, portanto, faremos um breve passeio pelos pressupostos da
citada teoria e analisaremos os dados a partir dos quatro sistemas selecionados
e desenvolvidos pelo autor. Como tal teoria tem por base as linguísticas
funcionalista e cognitiva, também faremos um breve resumo sobre tais teorias a
fim de corroborar e dar suporte aos postulados e pressupostos seguidos pela
Multissistêmica.
Palavras-chave: nominalização, linguística cognitiva, multissistêmica.
Rio de Janeiro
Agosto de 2012

ABSTRACT
Loucura, Loucura, Loucura!: A multisystemic approach for the analysis of the
nominalizer suffix-ura in Portuguese.
This work seeks to investigate the status of the nominalizer suffix -ura in the
Portuguese language, verified in words like ternura, loucura, assinatura, fartura e
lonjura. For this, we aim to revisit since the tradition grammar until the
morphological derivation literature to verify how the affix in question is treated
by several authors. Furthermore, due to the fact that there are, in the language,
many nominalizers affixes, we also check and study the different roles that the
affix in question performs and what role is given to him alone, that is, what
differs –ura from the others. Then, based on a corpus collected in electronic
dictionaries as Houaiss and Aurelio, we observe the distribution of words
within these functions and we intend to prove the assumptions earlier made
about the issue. So, we decided to use the Multisystemic Grammar of Castilho
(2010) and, because of that, we are going to make a tour by the assumptions of
that theory and analyze the words from the four systems selected and
developed by the author. As this theory is based on the cognitive and
functionalist linguistic, we will also make a brief summary of these theories in
order to corroborate and support the postulates and assumptions followed by
Multisystemic.
Keywords: nominalization, cognitive linguistics, multisystem.
Rio de Janeiro
Agosto de 2012

SINOPSE
Nominalização em português.
Funções da nominalização.
Comparação com outros afixos.
Gramática Multissistêmica. Análise a
partir dos sistemas da língua.

Esta pesquisa foi parcialmente financiada pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).

DEDICATÓRIA
A uma mulher que sempre acreditou em mim e apoiou
todas as minhas decisões. A ela que fez de mim quem sou:
Emerentina Moura Valente (in memoriam), minha avó.

Pudim
A vida anda cheia de meias porções,
de prazeres meia-boca, de aventuras pela metade.
Tantos deveres, tanta preocupação em 'acertar',
tanto empenho em passar na vida sem pegar
[recuperação...
Aí a vida vai ficando sem tempero,
politicamente correta e existencialmente sem-graça,
enquanto a gente vai ficando melancolicamente
sem tesão . . .
Às vezes dá vontade de fazer tudo 'errado'.
Ser ridícula, inadequada, incoerente
e não estar nem aí pro que dizem e o que pensam a
[nosso respeito.
Recusar prazeres incompletos e meias porções.
Um dia a gente cria juízo.
Um dia.
Não tem que ser agora.
Depois a gente vê como é que faz pra consertar o
[estrago.
Martha Medeiros

AGRADECIMENTOS
Agradecer é o mesmo que demonstrar gratidão a alguém por algum feito
em especial que nos marcou de alguma forma. No entanto, muitas vezes um
“muito obrigada” não exprime realmente toda a gratidão que sentimos, tudo o
que queremos falar ou demonstrar. Parece que apenas estamos cumprindo um
ritual que nos foi passado por nossos pais de que devemos agradecer até as
pequenas coisas e que um “muito obrigada” ou um “valeu” é sempre muito
bem vindo. Portanto, queria aproveitar esse pequeno espaço para fazer mais do
que isso: gostaria de agradecer com palavras menos fugidias às pessoas que
marcaram minha vida e me ajudaram muito nessa caminhada tão cheia de
percalços.
Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por me guiar, me apoiar e
me mostrar sempre o caminho da luz, mesmo que para alcançar esse caminho
tenha que ultrapassar um túnel escuro. Agradeço a Ele por me mostrar sempre
que é possível, basta querer, ter fé e acreditar em si mesmo. Sou grata a Ele por
me fazer atravessar esse túnel, mas nunca fazê-lo sozinha; por colocar pessoas
tão importantes em minha vida. Obrigada por cada momento bom pelo qual
passei, por cada problema que tive que aprender a enfrentar, por todos os
amigos que fiz. Acredito que todos eles são anjos enviados pelo Senhor para me
ajudar nessa caminhada. Portanto, o meu “muito obrigada”!
Existem duas pessoas que são de extrema importância para mim e a
quem devoto os meus mais sinceros sentimentos de gratidão e amor mais puro

e sublime: meu pais, Eliane e Marco Antônio. A vocês, só posso dedicar cada
minuto da minha vida, cada sucesso alcançado e amá-los por toda eternidade.
São as pessoas que me deram a vida e me ensinaram a ser quem sou; aqueles
que me apoiaram e estiveram sempre a meu lado. Muito obrigada pelo carinho
sem limite, pelas risadas, pelo ombro nas horas difíceis, pelas broncas, pelos
empurrões para seguir em frente, por acreditarem em mim quando nem eu
mesma acreditava, por se orgulharem de mim. Quero dizer a vocês que o meu
objetivo na vida é retribuir, mesmo que minimamente porque é quase
impossível retribuir tudo o que já fizeram por mim, todo o carinho e dedicação
que tiveram e fazer com que se orgulhem cada vez mais de quem a sua filha se
tornou.
Às minhas irmãs também devo agradecer, pois, apesar das brigas
intermináveis com a Juliana e a falta de convivência diária com a Julia e a Luiza,
são elas os laços mais próximos e fortes que tenho e com os quais não quero
romper. São vocês que me fazem rir quando a vida parece não ter mais jeito.
São vocês, minhas “rimãs” mais novas, que vi crescer e de quem pretendo
cuidar e apoiar sempre. “Rimãs”, vocês são meus amores e, mesmo tendo
momentos difíceis, sei que é com vocês que vou poder contar sempre.
Agradeço também aos meus tios, primos, agregados, avós, afilhados,
amigos por estarem sempre a meu lado e aceitarem minha ausência em eventos
sociais ou até mesmo em visitas rotineiras. Muito obrigada pela compreensão
de todos vocês.

Agradeço em especial à minha avó Emerentina, a quem dedico esta
dissertação, por ser um exemplo de mulher forte, batalhadora, um exemplo de
mãe e avó, daquelas que carrega os pintinhos debaixo das suas asas e que vira
uma leoa se alguém mexe com a sua cria. Obrigada, meu docinho, por sempre
me apoiar, me ouvir, por compartilhar comigo as suas histórias de vida e me
ajudar a seguir meu caminho. Obrigada por todas as palavras de apoio, por
todas as broncas, por acreditar em mim nos momentos de mais descrédito, por
confiar na minha capacidade e se orgulhar de mim. Vó, essa dissertação é para
você e sei que de onde estiver, estará assistindo minha defesa segurando suas
mãozinhas magras e com um sorriso no rosto ao ver que sua neta chegou onde
NÓS havíamos planejado chegar. Em todos os momentos difíceis, ainda sinto a
sua presença comigo e me sinto protegida, pois agora Deus tem mais um anjo
no céu pra me guiar. Eu te amo, meu docinho de coco!
Sou grata também a minha avó Eleonora por todo apoio, todos os
conselhos, pelos cafunés, por sempre coçar minhas costas enquanto vemos
televisão e por todos os momentos que passamos juntas. Se quiser rir, é só ficar
com ela por apenas 10 minutos. Nesse curto espaço de tempo vai vir uma
história engraçada, uma risada gostosa, uma distração dos problemas. Vozinha,
eu te amo muito!
Quando entrei na faculdade, achei que faria amigos de ocasião, apenas
acadêmicos, mas me surpreendi quando conheci duas pessoinhas que estão
comigo até hoje e que fizeram desse meu trajeto muito melhor e mais fácil,
afinal de contas, uma vida acadêmica que se preze é feita de estudos e de

amizades que te ajudam nessa caminhada e tornam sua vida mais leve e
divertida. Dedico, portanto, esse espaço às pessoas mais ridículas, sem noção,
indiscretas e amigas por isso mesmo. Caio e Érica, obrigada por estarem comigo
em todos os momentos bons e ruins, por todas as risadas, por todas as viagens –
algumas delas meio programa de índio, confesso – por todas as palavras de
conforto. Caio, minha alma gêmea acadêmica; aquele que me completa quando
o assunto é a língua portuguesa, que completa minhas frases e meus
pensamentos, que divide comigo as mesmas convicções e que estará lá sempre
para rir de mim quando eu chorar. Érica, cabeção, uma irmã que a vida me deu,
alguém com quem sei que posso contar, que vai estar comigo quando eu
precisar e que vai rir muito de mim – depois de secar minhas lágrimas, claro.
Agradeço também à Elaine por me apoiar nos momentos mais difíceis e por nos
fazer rir de suas ideias brilhantes.
Dedico também este espaço aos amigos que a vida me deu e que a
tornaram mais divertida e leve. À Andreza, por todas as conversas, conselhos,
risadas, choros, por me emprestar sempre seu ombro amigo e se tornar uma
irmã em tão pouco tempo. Você, minha linda, me ensinou a ser uma pessoa
melhor e a me preocupar menos com os problemas da vida. Graças a você, sou
mais feliz. Ao Thadeu, por me apoiar, me ouvir, me fazer rir quando eu queria
chorar, por me ensinar que a vida pode ser muito divertida, até nos momentos
mais difíceis, por acreditar em mim e confiar no meu trabalho, pois é graças a
você, meu bem, que me tornei uma profissional na área da educação. Conversar
sobre qualquer assunto com você na porta de casa só me faz perceber que os

problemas são bem menores do que aparentam ser e que tudo no final pode ser
resolvido. Ao Luiz Fernando, por ser meu amigo, meu conselheiro, meu
ouvinte nas horas difíceis, meu companheiro para todas as horas; por me
incentivar e me dar metas e prazos pra cumprir e terminar a dissertação a
tempo. Lindo, muito obrigada pelas nossas risadas, conversas, pelas brigas e
discussões também, por todos os momentos compartilhados. Aos três, obrigada
por me apoiarem e por me tornarem uma pessoa mais feliz.
Agradeço também aos meus amigos de todas as horas Flávia Meslin,
Jessyca Soares, Fernanda Souza, Victor Hugo, Carolina Gomes, Úrsula Antunes
(ou Sula para os mais íntimos) e muitos outros por me apoiarem e me
acompanharem durante todos esses anos tornando a minha vida mais colorida.
Ao amigo Roberto Rondinini, por me emprestar seu ombro nos momentos de
desespero e por me fazer rir de mim mesma e dos meus problemas.
Aos professores da pós-graduação pela paciência e atenção que
dedicaram a mim e pelo respeito que sempre tiveram. Obrigada por todos os
ensinamentos, Margarida Basilio, Márcia Machado, Sílvia Brandão, Elite
Silveira, Maria Eugênia Lamoglia, Mônica Orsini, Maria Lúcia Leitão e Carlos
Alexandre Gonçalves.
Um agradecimento em especial deve ser feito àquele que confiou em
mim desde o começo, há muitos anos atrás, que viu em mim um potencial e me
aceitou como sua orientanda ainda em Iniciação Científica: o professor Carlos
Alexandre Gonçalves. Sou muito grata a você por acreditar no meu trabalho e
me mostrar que sou maior do que acredito ser. Obrigada por me ouvir, me

orientar, me dar força e apoio para continuar seguindo na vida acadêmica.
Portanto, a você, só posso fazer elogios, pois é um exemplo de ética e
profissionalismo, além de ter me feito crescer dentro da universidade e como
ser humano.
Também não posso deixar de agradecer a uma pessoa muito importante
em minha jornada acadêmica: a professora Maria Lúcia Leitão. Obrigada por
acreditar no meu trabalho, por confiar em mim e por me ensinar que devemos
aprender a superar os obstáculos que a vida nos impõe e seguir em frente
sempre com um sorriso no rosto. Obrigada por me ensinar a andar com os
próprios pés, pois isso é muito importante na vida acadêmica. Só tenho a
agradecer a confiança que sempre depositou em mim e o carinho com o qual
sempre me tratou, além de todo incentivo que recebi para continuar seguindo
em frente.
Aos professores Janderson Lemos de Souza, Verena Kewitz, Maria
Aparecida Lino e Sandra Pereira Bernardo por aceitarem meu convite para
participarem da banca desta dissertação.
Agradeço também às leituras atentas do professor Carlos Alexandre
Gonçalves e do Caio Castro. Muito obrigada pelos comentários – todos muito
pertinentes – e por dedicarem algum tempo de seus dias nessa tarefa. Sem a
ajuda de vocês, muita coisa teria passado despercebido pelos meus olhos já
cansados e cegos para pequenos deslizes. No entanto, os erros que surgirem são
de minha inteira responsabilidade.

Agora, tenho alguns agradecimentos de cunho, digamos, formal, a fazer.
Sou grata à minha mãe, Eliane Mrad, por me ajudar nesta reta final com as
inúmeras tabelas, me ajudando com as referências e com formalização da
dissertação. Ao Luiz Fernando Tavares pela paciência de criar diversos gráficos
com porcentagens que não nos ajudavam e aturar a minha exigência muito
relevante quanto às cores a serem utilizadas. Também agradeço à Cristina
Mattos por ter me ajudado nessa empreitada e ter passado a sua noite de
domingo tentando entender minhas anotações confusas e preparando os
gráficos desta Dissertação junto com o Luiz. Sem vocês três, eu não teria
conseguido. Muito obrigada!
Por fim, devo um agradecimento de cunho técnico ao CNPq pela
concessão parcial da bolsa de estudos, o que me proporcionou uma dedicação
exclusiva à dissertação e foi indispensável neste processo.

18
SUMÁRIO
1. Introdução ...................................................................................................... 21
2. Revisão bibliográfica ................................................................................... 24
2.1. A perspectiva tradicional ...................................................................... 27
2.2. A perspectiva dos teóricos em morfologia .......................................... 28
2.3. Revisitando gramáticas históricas ........................................................ 32
2.4. Polissemia ou afixos distintos?: defendendo uma posição ............. 38
2.5. Resumindo .............................................................................................. 44
3. Metodologia e corpus .................................................................................... 45
3.1. Coleta inicial dos dados ....................................................................... 45
3.2. Métodos de aprimoramento do corpus ................................................ 47
3.3. Métodos de análise ................................................................................ 49
3.4. Resumindo .............................................................................................. 53
4. Linguística Multissistêmica ......................................................................... 54
4.1. Postulados da teoria multissistêmica ................................................. 56
4.1.1. Postulados gerais ......................................................................... 56
4.1.1.1. Postulado 1: a língua se fundamenta em um aparato
cognitivo ........................................................................................
57
4.1.1.2. Postulado 2: a língua é uma competência
comunicativa .................................................................................................
66

19
4.1.2. Postulados específicos ................................................................ 70
4.1.2.1. Postulado 3: as estruturas linguísticas não são
objetos autônomos .......................................................................
71
4.1.2.2. Postulado 4: as estruturas linguísticas são
multissistêmicas ............................................................................
72
4.1.2.3. Postulado 5: a língua é pancrônica – explicação
linguística ......................................................................................
74
4.1.2.4. Postulado 6: um dispositivo sociocognitivo ordena
os sistemas linguísticos ...............................................................
75
4.2. Resumindo .............................................................................................. 76
5. Funções da nominalização ........................................................................... 78
5.1. Os caminhos de –ura ............................................................................. 79
5.1.1. Teste de aceitabilidade ................................................................ 86
5.2. Nominalização de verbos e referenciação de entidades ................... 88
5.3. Abstratização de adjetivos .................................................................... 93
5.4. Função intensificadora ........................................................................... 97
5.5. Resumindo .............................................................................................. 104
6. Sistemas linguísticos ..................................................................................... 107
6.1. Gramática ................................................................................................. 108
6.1.1. Resumindo .................................................................................... 114
6.2. Léxico ........................................................................................................ 114
6.2.1. Nominalização de verbos ............................................................ 117
6.2.2. Referenciação ................................................................................ 118

20
6.2.3. Abstratização de adjetivos ......................................................... 120
6.2.4. Intensificação ................................................................................. 121
6.2.5. Lexicalização, deslexicalização e relexicalização ..................... 123
6.2.6. Resumindo ..................................................................................... 125
6.3. Semântica ................................................................................................ 126
6.3.1. Nominalização de verbos ............................................................ 130
6.3.2. Referenciação ................................................................................. 132
6.3.3. Abstratização de adjetivos ........................................................... 134
6.3.4. Intensificação ................................................................................. 136
6.3.5. Resumindo .................................................................................... 142
6.4. Discurso .................................................................................................... 143
6.4.1. Resumindo .................................................................................... 148
6.5. Sistemas Simultâneos ............................................................................. 148
6.6. Resumindo ............................................................................................... 150
7. Considerações finais ...................................................................................... 152
8. Referências bibliográficas ............................................................................. 154

21
INTRODUÇÃO
Neste trabalho, analisamos o sufixo -ura e suas funções na formação de
palavras, inicialmente no latim e atualmente no português. Estudos calcados
nas atuais correntes da chamada Linguística de Uso mostram que esse sufixo
achou seu nicho de produtividade na atual sincronia do português,
diferenciando-se da produtividade que apresentava em sua origem latina que
era a de formar nominalizadores a partir de uma base participial, como
afirmam Nascentes (1955), Maurer Jr. (1959), dentre outros. Assim, descrever e
analisar os percursos e os inúmeros percalços da história de -ura é um dos
objetivos desta Dissertação. Dessa forma, mostramos que, além de formar novas
palavras, o afixo contribui para a formação do léxico do Português, por meio de
processos de intensificação que trazem mais significados à língua e interferem
no discurso.
Para descrever esse percurso centrado nos princípios gerais da
Linguística Cognitiva, tomamos por base a Teoria Multissistêmica de Castilho
(2010), defendendo sua ideia central de que a língua é formada por quatro
sistemas linguísticos (léxico, semântica, discurso e gramática) que não se
hierarquizam e atuam simultaneamente. Assim, destacamos rapidamente os
sufixos nominalizadores que, teoricamente, concorreriam com o afixo em
análise (-ção, -mento, -eza, -ice, -oso, -udo, -ão, -inho) mostrando que, na verdade,
1

22
essa concorrência atualmente não ocorre devido à especialização adquirida por
–ura.
A presente Dissertação está organizada em oito capítulos e, ao final de
cada um deles, segue um breve resumo sobre as principais questões levantadas
e discutidas. No capítulo 2, traçamos um breve panorama sobre as diferentes
visões e abordagens sobre o afixo –ura, ou seja, levantamos todas as
informações acerca do sufixo nos mais diversos textos acadêmicos, sejam eles
gramáticas, artigos ou livros de base morfológica. No mesmo capítulo, também
apresentamos as hipóteses do trabalho e levantamos as questões presentes
nessas diversas fontes de pesquisa.
O capítulo 3 é voltado para a descrição da constituição do corpus e da
metodologia utilizada nesta pesquisa. Para tanto, trataremos dos meios de
recorte do corpus e dos métodos que foram ativados para realizar tal pesquisa.
Iniciando o capítulo 4, apresentamos a base teórica do presente trabalho: A
Gramática Multissistêmica. Nesse capítulo, buscamos descrever as bases nas
quais tal teoria se apoia, definir e explicar os postulados dessa teoria e
contrabalançar com as outras maneiras de analisar e descrever a língua. Assim,
apesar de utilizarmos essa teoria como base na Dissertação, também buscamos
respaldo em outras que nos ajudem a descrever o processo linguístico em
análise.
O capítulo 5 é voltado para a análise das funções da nominalização em
português. Nesse capítulo, apresentamos as funções que o afixo -ura exerce na
língua e as possíveis concorrências com outros de similar função (-mento, -ção,

23
-eza, por exemplo). No entanto, buscamos mostrar que essa citada concorrência
não é verdadeira, devido à especialização de sentido do afixo em análise.
O capítulo 6 é o de análise de dados. Nesse capítulo, buscamos analisar o
sufixo –ura de acordo com a Teoria Multissistêmica, atendo-nos aos quatro
sistemas linguísticos identificados por Castilho (2010). Assim, buscamos
verificar como cada um desses sistemas atuaria no processo em separado para,
no final do capítulo, demonstrar o porquê de se considerar a ideia de
simultaneidade e não hierarquia entre eles.
Por fim, o capítulo 7 é o dedicado às considerações finais da Dissertação
e o 8, às referências bibliográficas. No capítulo 7, buscamos arrematar as ideias
abordadas e justificar as hipóteses levantadas.

24
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O processo de nominalização em português vem sendo amplamente
estudado por autores como Basilio (1980) e Lemos de Souza (2010), dentre
tantos outros, por ser um processo produtivo em nossa língua.
Tradicionalmente, entende-se por nominalização o processo de formação de
nomes a partir de verbos, carregando esses produtos as propriedades da sua
base verbal, visão esta diferente da abordagem de alguns teóricos em
morfologia como Basilio (1980) e Sandmann (1988), por exemplo, como
descreveremos a seguir.
Basilio, linguista que se dedica há tempos ao estudo da morfologia do
português, possui alguns trabalhos de referência sobre o tema, como é o caso de
Estruturas Lexicais do Português: uma abordagem gerativa (1980) e Teoria Lexical
(2007 [1987]), considerados leitura essencial para quem se inicia nessa área de
pesquisa. Em seu trabalho de 1980, Basilio compreende a nominalização como o
resultado de uma relação paradigmática entre os verbos e os nomes no léxico e
não somente um processo em que um nome é derivado de um verbo. Segundo a
autora,
“A rejeição da ideia de que os verbos são básicos nas nominalizações não é nova. (...) O termo ‘nominalização’ deverá cobrir não apenas nomes deverbais, mas também nomes morfologicamente básicos associados a verbos. Mais especificamente, a nominalização é um
2

25
processo de associação lexical sistemática entre nomes e verbos”. (Basílio: 1980, 73-74)
De acordo com essa visão, podemos perceber que a autora vai contra a
ideia básica levantada pela visão tradicional apresentada a seguir e aprofunda
essa análise no segundo trabalho citado. Para Basilio,
“Damos o nome geral de ‘nominalização’ ao conjunto de processos que formam substantivos de adjetivos e, sobretudo, de verbos. A nominalização é um dos casos mais complexos de formação de palavras no que diz respeito à determinação da função, pois os vários processos de formação de substantivos podem apresentar funções múltiplas simultâneas”. (Basílio: 2007, 77)
Essas funções múltiplas às quais se refere a autora são as funções
sintática, discursivo-pragmática e semântica1, na medida em que a
nominalização atinge vários níveis de análise (cf. KATO, 1986). Quer-se com
isso dizer que o processo de nominalização apresenta função mista, já que não
tem por objetivo somente formar nomes a partir de verbos, ou seja, é mais do
que um simples processo de derivação.
1 A função sintática diz respeito à possibilidade de um termo nominalizado poder ocupar inúmeros lugares dentro da sentença, ampliando, assim, o campo de atuação da palavra base. Dito de outra maneira, a passagem de um verbo a um substantivo, por exemplo, apresenta-se como um “requisito de adequação sintática às estruturas nominais” (BASILIO, 2007:78). A função discursivo-pragmática faz referência ao uso do substantivo derivado dentro de um contexto discursivo, ativando, portanto, os conceitos de focalização e topicalização que serão discutidos a seguir, na medida em que o uso de um substantivo no lugar de um verbo, por exemplo, pode deixar de focalizar o agente para se voltar para o objeto como nos exemplos abaixo:
(i) Júlia comprou um carro. (ii) A compra do carro foi a melhor coisa que ela fez nesses últimos anos.
Por fim, a função semântica citada pela autora é a de denominação, pois a nominalização tem por característica permitir que se faça referência a um processo verbal em forma de evento, por exemplo. No entanto, veremos que não é apenas essa a função semântica exercida pela nominalização.

26
Outra informação altamente relevante que pode ser retirada de ambas as
citações é o fato de se considerar que a nominalização pode ocorrer tendo como
base um adjetivo e não apenas verbos, o que é de grande valor para o presente
estudo, já que o afixo nominalizador –ura pode se anexar a ambas as bases,
como será descrito mais adiante.
Dessa forma, no presente capítulo, temos por objetivo traçar um
panorama sobre os estudos existentes na literatura morfológica sobre o sufixo
-ura, bem como apresentar a perspectiva da tradição gramatical a fim de
delinear os caminhos pelos quais passou a descrição desse afixo até a presente
proposta de trabalho.
Na seção 2.1, faremos um levantamento do que nos informa a
perspectiva tradicional acerca do tema, ou seja, quais as visões dos inúmeros
gramáticos sobre o processo de nominalização no português a partir do sufixo
-ura. Em 2.2, faremos um breve levantamento sobre os estudos especializados
em literatura morfológica, buscando obter as diferentes visões e abordagens dos
linguistas especializados em morfologia.
Além disso, também se fez necessário que buscássemos informações nas
gramáticas históricas de Língua Portuguesa, já que -ura é um afixo de origem
latina e, portanto, está na língua desde a sua formação, podendo ter sofrido
modificações em seu significado. Por isso, em 2.3., fazemos esse levantamento a
fim de verificar a origem de –ura e como esse sufixo é visto e analisado nas
gramáticas históricas.

27
Na seção 2.4., intitulada “Polissemia ou afixos distintos? Defendendo
uma posição”, apresentamos as diferentes visões sobre essa ótica e os
argumentos a favor de uma ou outra análise. Por fim, na seção 2.5., fazemos um
breve resumo do que foi exposto neste capítulo, a fim de organizar as ideias
centrais e facilitar o prosseguimento da análise.
Vale lembrar que, em alguns momentos, faltaram exemplos para
demonstrar a visão desses autores, mas assim o fizemos, pois os mesmos não se
aprofundam no caso exemplificando.
2.1. A Perspectiva Tradicional
Partindo para a descrição do processo de acordo com o que
afirmam as gramáticas tradicionais (CUNHA & CINTRA, 2007; BECHARA,
2009; LUFT, 1990), pudemos constatar que o afixo não possui grande espaço
para descrição nesses compêndios, pois os mesmos somente o citam como
sufixo formador de substantivos a partir de verbos e adjetivos, sem informar
qual seria a sua acepção ou fazer qualquer outra análise que o distinga de
outros afixos nominalizadores como -ção, -mento e -oso, por exemplo, sendo os
dois primeiros afixos deverbais e o último, deadjetival.
No entanto, Rocha Lima (2008) destaca-se dentre os demais gramáticos,
por acrescentar informações novas acerca do afixo, já que aponta para a
existência de afixos diferentes na nominalização a partir de verbos e na
nominalização a partir de adjetivos. Segundo Rocha Lima, quando esse
processo tiver por base um verbo, os afixos utilizados serão -tura, -dura e -sura,

28
como em assinatura, assadura e clausura. Em contrapartida, quando a base for
adjetival, o afixo a ser utilizado será o -ura, como em amargura, ternura e loucura,
que se anexam, respectivamente, aos adjetivos amargo, terno e louco, nessa
ordem.
O afixo em questão, portanto, não é muito analisado pelas gramáticas
tradicionais, o que abre espaço para uma análise mais detalhada do mesmo.
Apesar de ser somente citado pela maioria e, principalmente, ser analisado
superficialmente por um deles – levando-se em consideração que o objetivo
principal das gramáticas tradicionais não é desenvolver detalhadamente todos
os aspectos específicos da língua e sim descrevê-la em seus aspectos mais gerais
– consideramos que -ura é um afixo relevante para análise, pois pouco se sabe
sobre suas diversas acepções e sobre o processo de nominalização que
desencadeia.
2.2. A perspectiva dos teóricos em morfologia
Prosseguindo para uma melhor descrição do processo, recorremos à
literatura de cunho derivacional e a pesquisas linguísticas nesse campo, a fim
de dar continuidade ao entendimento do afixo ora analisado. No entanto,
também nessa linha de investigação, não encontramos maiores informações
sobre o formativo. Dentre os autores pesquisados, Sandmann (1988) ressalta
que o sufixo -ura parece não ser mais produtivo em português, embora afirme
que nem sempre foi assim, citando a palavra laqueadura como uma formação
recente na língua. Não há referência ao sufixo em questão em manuais de

29
morfologia do português, como Monteiro (1988), Kehdi (1989), Laroca (1994) e
Carone (1990).
Já o trabalho de Coelho (2008), por sua vez, descreve o processo de
nominalização em português por meio do sufixo –ura, sendo, portanto, dentre
todos os trabalhos acerca desse afixo, o único com maior aprofundamento sobre
o formativo. Contudo, apesar dessa proposta inicial, a autora limita-se a falar
sobre a morfologia categorial2, explicar em que consiste essa linha de
investigação e tratar dos critérios para exclusão de vocábulos do corpus. Porém,
ainda assim, Coelho levanta algumas questões importantes sobre o afixo em
estudo a que pretendemos responder nesta dissertação: (1) se o -ura é um caso
de afixo polissêmico ou homônimo; e (2) se existe somente um afixo com
variantes fonológicas ou se -ura, -tura e -dura são afixos diferentes.
Além disso, a autora discorre sobre as palavras-base da nominalização
por intermédio desse afixo, afirmando serem elas adjetivas ou participais, sendo
esta última explicada pela autora a partir de dois motivos. O primeiro deles é o
fato de o adjetivo e o particípio terem características semelhantes e poderem ser
analisados sob o mesmo rótulo, apesar das diferenças existentes. O segundo
motivo diz respeito à permanência da vogal temática em alguns casos e à falta
dela em outros, o que pode ser explicado a partir da ideia de que esse afixo se
une a bases participiais, sejam elas regulares ou irregulares, como é o caso de
andadura, que mantém a vogal temática, visto que o afixo se anexa ao particípio
2 Segundo Coelho (2008), a morfologia categorial aborda o léxico composicionalmente sem fazer qualquer distinção entre estrutura profunda e estrutura superficial na medida em que o mecanismo de hierarquia de aplicação de regras não existe nessa linha teórica. Assim, “dentro da GC (Gramática Categorial), a visualização composicional das estruturas complexas (...) é sempre relevante e clara , pois (...) parte-se dos itens lexicais”. (COELHO, 2008:5)

30
regular do verbo andar; e fritura, que não apresenta a vogal temática em sua
forma por derivar do particípio irregular frito. Portanto, caso entendêssemos
que esse sufixo se une a bases verbais, teríamos de encontrar explicações para a
presença ou ausência da vogal temática verbal, além de interpretar o /d/, por
exemplo, como uma consoante de ligação ou parte de um novo afixo, o que não
seria nada econômico para o estudo.
Quanto ao segundo questionamento levantado acima, se -ura, -tura e
-dura são afixos diferentes, Coelho (2008) afirma serem diferentes formas
fonológicas de um mesmo afixo, contradizendo-se, portanto, já que a mesma
considera participais as bases a que se adjunge o afixo. Sendo assim, ao
considerar que -ura se une a particípios verbais, considera-se também, mesmo
indiretamente, que os elementos /t/ e /d/ fazem parte do radical e, dessa
forma, não podem ser considerados como diferentes formas fonológicas de um
mesmo sufixo.
Com base no levantamento do corpus realizado para este trabalho,
pudemos perceber que a grande maioria das bases que sofrem o processo de
nominalização por intermédio de -ura são participiais e, quando os derivados
advêm diretamente do latim, ainda se mantém a relação de se anexar esse afixo
a uma base de natureza adjetival. Como exemplo, podemos citar abreviatura,
que é uma palavra originalmente latina. Nesse caso, a nominalização ocorreu
ainda na língua de origem e foi realizada a partir da anexação do afixo -ura ao
particípio passado do verbo abreviare. Esse fato, portanto, nos remete à visão de
França & Lemle (2006) acerca desse afixo com base no modelo da Morfologia

31
Distribuída3. Segundo as autoras, a nominalização por -ura, sempre anexado a
bases participiais, é explicada a partir da premissa de que no latim isso já
ocorria e o português manteve essa relação e esse padrão de formação. O
mesmo acontece com muitos empréstimos linguísticos, já que, em português,
existem inúmeros vocábulos advindos de outras línguas e que sofreram o
processo de nominalização nas suas línguas de origem, como é o caso de
desenvoltura (do italiano desenvolture) e brochura (do francês brochure). Isso se
deve ao fato de ambas as línguas serem de origem latina e também manterem
esse afixo disponível para fins lexicais.
Além disso, as autoras abordam vocábulos como tintura como oriundos
de formas participiais latinas cujas formas infinitivas não são mais usadas pelos
falantes. Segundo elas, esse vocábulo, por exemplo, derivaria de tinctum, que
seria o particípio passado do verbo tingo, que caiu em desuso e, em seguida, a
forma tintura viria para o português já assim constituída. Coelho (2008) também
aborda algo similar em seu artigo, pois reconhece a existência de “raízes
possíveis” para as nominalizações, ou seja, segundo a autora, alguns derivados
surgiriam de verbos inexistentes na língua, mas que seriam completamente
possíveis de serem realizados, como é o caso de ratadura, que, segundo a autora,
poderia vir do particípio do verbo ratar, embora este não faça parte do léxico do
português.
3 A Morfologia Distribuída é uma teoria sintática, na medida em que entende que é a sintaxe que maneja e rege livremente as raízes e os morfemas que, por sua vez, são entendidos como sendo categorias abstratas definidas por traços universais. Essa teoria se diferencia da abordagem lexicalista, pois não considera a existência de um léxico na língua.

32
Rio-Torto (2005) aponta para o fato de -ura selecionar, preferencialmente,
adjetivos com origem em particípios passados, sejam eles regulares (dobradura,
abotoadura) ou não (fritura, soltura), preservando, assim, os segmentos /t/ e /d/
de seus radicais.
Portanto, podemos constatar que, embora pouco se fale sobre esse afixo e
o número de estudos voltados para este formativo seja escasso, algumas
questões são levantadas e resolvidas de diferentes formas, a depender do
referencial teórico adotado. Além disso, também foi possível perceber que as
visões sobre esse afixo variam de teoria para teoria e que escolhemos, portanto,
a Abordagem Multissistêmica – como veremos mais adiante – devido ao fato de
esta se propor a resolver os problemas levantados pelas outras teorias por
diferentes ângulos. Nos próximos capítulos, observaremos o comportamento
dos vocábulos do corpus, tentando responder a algumas das questões
levantadas por pesquisas anteriores à nossa.
2.3. Revisitando gramáticas históricas
Com base em revisão bibliográfica prévia, fez-se necessária a busca de
mais informações sobre a origem do sufixo –ura e, para tanto, resolvemos
verificar como o afixo é tratado nas primeiras gramáticas do século XX, com o
intuito de constatar até que ponto nosso estudo seria relevante e desde quando
se volta o olhar para esse sufixo.
Dentre as gramáticas consultadas, a primeira que faz referência a –ura é a
de Jucá Filho (1945). Em sua Gramática Histórica do Português Contemporâneo, o

33
autor faz uma breve introdução sobre o que seriam os sufixos para depois listar
os que ele considera importantes e existentes na língua portuguesa da época.
Para Jucá Filho, os sufixos são sempre denotativos e podem ser divididos em
auxiliares modificativos, conectivos subordinantes e conectivos super-
ordenantes. Os primeiros são os que alteram o significado do radical,
modificando sua significação fundamental (-inho em carrinho, por exemplo); os
segundos, por sua vez, são os que transformam substantivos e verbos em
adjetivos (-udo de barrigudo e –(t)ivo de pensativo); e os terceiros são os que
alteram a classe gramatical do radical, passando-o de adjetivo a substantivo ou
verbo (-eza de beleza e –izar de legalizar).
Ainda segundo o autor, a maioria dos sufixos são fonemas ou grupos de
fonemas que vieram diretamente do latim e podem ser definidos como formas
simples ou ampliadas, sendo estas as formas que agregam algum segmento às
simples correspondentes. Dessa forma, o Jucá Filho (1945) faz distinção entre
-ura (forma simples) e –tura / –dura (formas ampliadas). Pode-se concluir,
portanto, que autor define essas três formas como afixos diferentes, sendo o
primeiro anexado a bases adjetivas e o segundo, a bases verbais, assim como
Rocha Lima (2008). Embora não se estenda na análise das formações X-ura, a
partir dessa separação entre formas simples e ampliadas, é possível verificar a
visão que o autor apresenta: caso considerasse a existência de apenas um afixo e
interpretasse as consoantes /t/ e /d/ como resquícios do particípio, não
diferenciaria –ura de –tura e –dura.

34
Em sua Gramática do Latim Vulgar, Maurer Jr. (1959) revela que, no Latim
Clássico, o afixo -ura formava nomes tão somente a partir de bases do
particípio, ou seja, somente se originava de bases tidas como verbais, como
censura e escritura. Dessa forma, segundo o autor, seria uma inovação do latim
vulgar a formação de nomes com bases adjetivas, que se disseminou para as
línguas românicas, como o português (candidatura), o espanhol (candidatura), o
francês (candidature) e o italiano (candidatura). autor explica essa inovação do
latim vulgar a partir da similaridade entre o particípio e o adjetivo, pois,
considerando-se que essas formas verbais são, em grande parte, simples
adjetivos, é fácil compreender como se deu essa mudança na categoria da base.
Na verdade, ao se ligar a um particípio, o afixo estava também se ligando a um
adjetivo devido a esse caráter da forma nominal. Sendo assim, a mudança
categorial é uma inovação na língua, apesar de já esperada. Ilari (1992) retoma o
autor e também afirma que o sufixo –ura se liga a bases verbais para formar um
substantivo, porém não se aprofunda muito no tema, ao contrário de Maurer Jr.
(1959) que, como vemos, vai um pouco além.
O afixo –ura também é tratado por Said Ali em duas de suas gramáticas,
sendo a primeira delas Gramática Secundária da Língua Portuguesa (1969) e a
segunda, Gramática Histórica da Língua Portuguesa (1971). O autor, assim como os
demais já citados, considera que haja, na verdade, um sufixo que se liga a bases
adjetivas e outros que se ligam a bases verbais, sendo eles –dura, -tura e –sura.
Na primeira gramática em questão, o autor afirma que esses afixos são o
resultado do acréscimo de –ura a temas do particípio que aglutinam essa

35
consoante à do sufixo. Já na segunda, Said Ali (1971) vai além, pois traz novas
informações acerca dessas formas linguísticas. De acordo com o gramático, as
consoantes d, t e s que iniciam os afixos –dura, -tura e –sura são consoantes
incorporadas aos sufixos que se ligam a bases participiais. Além disso, o autor
afirma que esses afixos se anexam a bases participiais para indicar nomes de
ação e concorreram durante muito tempo com o afixo -or, cuja função precípua
é formar nomes de agentes (comprador, por exemplo).
O autor ainda cita a extensão de sentido e de função do afixo –ura, pois o
mesmo passa a designar objetos materiais, como é o caso de ferradura, fechadura,
abotoadura. Isso se deve à polissemia natural da língua e também ao fato de
haver, para fins lexicais, outros afixos nominalizadores e indicadores de nomes
de ação, como –ção e –mento, por exemplo. Dessa forma, pode-se perceber que o
autor já intuía a polissemia do afixo e considerava relevante esse caráter no
estudo da língua, embora não o dissesse.
Outro ponto levantado por Said Ali (1971) é o fato de muitos vocábulos
X-ura serem introduzidos na língua por via erudita, vindo diretamente do latim
ou através de empréstimos linguísticos. Dessa forma, o autor explica como
alguns verbos não fazem parte do português, embora seu substantivo
respectivo seja um vocábulo corrente na língua, como é o caso do já citado
pintura, que advém da forma verbal latina pingo. A possibilidade de se anexar o
afixo –ura a bases adjetivas, como levantado por Maurer Jr. (1959), deve-se ao
fato de ter sido perdida a relação que esses nomes tinham com os verbos de
origem, já que muitos deixaram de fazer parte do léxico do português. Essa

36
ligação a adjetivos já era possível no latim, porém, em português, aumentou
consideravelmente, sobrepondo-se às formas de bases verbais.
Coutinho, em Pontos de Gramática Histórica (1978), faz um apanhado geral
do que se entende por sufixação e como se caracterizariam os sufixos. No
entanto, no que diz respeito ao afixo –ura, o autor não tece maiores
considerações; apenas o cita como um sufixo nominal. Porém, é interessante
notar que, diferentemente de Said Ali, por exemplo, Coutinho parece considerar
–ura, -tura e –dura como variantes de um mesmo afixo, pois coloca-os juntos em
uma listagem de afixos formadores de nomes em português. Além disso, o
autor define -ura como um afixo que indica qualidade (alvura), objeto
(armadura), ação ou resultado da ação (varredura), apontando para a polissemia
do mesmo. No entanto, vale ressaltar que, ao juntar todas as variantes, o autor
está considerando -ura um afixo polissêmico que se une a bases verbais, sendo o
/t/, /d/ e /s/ resquícios da desinência de particípio.
Outra visão sobre o afixo em estudo é a de Mendes de Almeida, em sua
Gramática Metódica da Língua Portuguesa (1979). Para o autor, há apenas um
afixo, porém com três diferentes funções na língua, diferentes acepções, a
depender da base à qual se adjunge. Caso o afixo seja acrescido a um tema
verbal, o derivado indicará ação ou resultado de uma ação, como em, formatura,
fritura, fervura, dentre outros. Por outro lado, caso o afixo seja anexado a uma
base adjetiva, o mesmo formará um substantivo abstrato que indica qualidade,
estação ou situação, carregando consigo as características próprias dos
adjetivos, como em alvura, brancura, bravura e tontura. Por fim, se o sufixo –ura

37
se ligar a um substantivo, o mesmo resultará em uma palavra indicativa de
exercício de algum cargo, como em advocatura e magistratura.
Faria (1958), por sua vez, classifica –tura como formador de substantivos
derivados de temas verbais, indicando a ação ou o resultado de alguma ação,
como natura que indica “ação de fazer nascer, natureza”. O autor ainda afirma
que este é um sufixo complexo, pois é formado por mais de um elemento
sufixal acumulado devido à necessidade expressiva, ou seja, haveria dois afixos
distintos anexados a uma mesma base a fim de passar o significado que se
desejaria. Assim, os sufixos -tu- e -su-, simples, apareceriam com maior
frequência unidos a outros elementos, formando diversos sufixos complexos,
como, por exemplo, –tura que é formado por -tu- mais o sufixo –ro- em sua
forma feminina –a (a forma masculina do afixo aparece no particípio do futuro
verbal –turus, no latim).
Masip (2003) divide os sufixos da língua em transformadores e
modificadores. A ideia do gramático é a de que temos um afixo transformador
quando o mesmo é capaz de transformar a palavra-base e um sufixo
modificador quando a única função é modificar a base no que diz respeito à
quantidade – que é o caso dos aumentativos e diminutivos. Portanto, segundo o
autor, o sufixo em questão seria classificado como transformador, pois seu
acréscimo ao radical da palavra tem influência direta sobre a forma de um
vocábulo. De acordo com ele, existem, então, quatro afixos distintos, -dura,
-sura, -tura e –ura, sendo que os três primeiros se anexam a bases verbais para

38
indicar o resultado ou instrumento de alguma ação coletiva (fechadura,
assinatura) e o último significa “relativo a alguma coisa” (chatura).
2.4. Polissemia ou afixos distintos? Defendendo uma posição
De acordo com o que foi apresentado anteriormente acerca da visão de
alguns autores sobre o sufixo -ura, pudemos perceber que existem diferentes
pontos de vista no que diz respeito a sua concretização, visto que alguns
pendem para uma análise mais pautada na existência de afixos distintos,
enquanto outros acreditam ser esse afixo polissêmico. Ainda pensando no que
foi apresentado sobre a análise dos diferentes autores, podemos notar que as
respostas à pergunta que dá título à seção são as mais variadas possível, já que
alguns afirmam haver mais de um afixo (ROCHA LIMA, 2008), outros
defendem a ideia de serem variantes fonológicas de um mesmo sufixo
(COELHO, 2008) e, por fim, há autores que acreditam que o afixo -ura é único e
que as consoantes /d/, /t/ e /s/ são resquícios das bases participais das quais
derivam as nominalizações (FRANÇA & LEMLE, 2006; RIO-TORTO, 2005).
Assim, a partir da análise das informações, podemos levantar três
hipóteses detalhadas a seguir:
H1: as palavras formadas a partir do sufixo –ura provêm de formas
básicas do verbo;
H2: as palavras formadas a partir desse afixo provêm do particípio latino;

39
H3: independentemente de suas origens, as formações em português
identificam –ura como sufixo formador de palavras com intensificação de
qualidade, ignorando a base à qual se liga.
Podemos começar a análise pelo gramático Rocha Lima (2008), que inicia
essa questão ao separar o afixo -ura em dois: o primeiro anexado a bases
nominais e o segundo, a bases verbais, sendo este último representado pelas
formas -tura, -dura e -sura e aquele representado somente pela forma -ura.
Segundo essa visão, -ura formaria palavras como tontura, finura, amargura e
bravura, enquanto a -tura, -dura e -sura caberiam palavras como formatura,
cavalgadura e censura, nessa ordem. No entanto, analisar essas três formas como
afixos diferentes faz com que ignoremos alguns fatores, como o caso da vogal
temática, da relação entre adjetivos e particípios, além do fato de não haver
necessidade de mais de um afixo na língua para expressar a mesma noção.
No que diz respeito à vogal temática, podemos retomar Coelho (2008),
que defende a ideia de que o afixo -ura se une a bases participiais, sejam elas
regulares ou não, justificando o fato de, em alguns casos, a vogal temática estar
presente, mas em outros não. Como exemplo, podemos citar as palavras
abotoadura, feitura e soltura que, caso derivassem de bases verbais em sua forma
infinitiva, ou seja, caso fossem interpretadas como derivadas da forma básica do
verbo, entrariam em conflito na análise, pois na primeira teríamos a presença da
vogal temática “a” e na segunda e terceira não. Além disso, o caso de feitura é
ainda mais difícil de interpretar como derivado de uma base verbal infinitiva, já

40
que, para isso, o derivado deveria ser fazedura e não feitura, pois o particípio
desse verbo é altamente irregular, por fazer grandes alterações no radical da
palavra-base. Sendo assim, fica claro que essa palavra derivou de feito, e não da
forma verbal fazer. Nesse caso, a explicação mais concreta seria a de que essas
palavras derivam de verbos no particípio, fazendo com que a ausência da vogal
temática na segunda e terceira palavras seja justificada pelo fato de ambas
terem como base os particípios abundantes dos verbos fazer e soltar,
respectivamente.
Além desse ponto de análise, outro fator que corrobora a visão dessas
bases como participiais é o fato de que os particípios e adjetivos, apesar de
pertencerem a categorias gramaticais diferentes, apresentam características
similares e podem ser analisados da mesma forma, o que pode ser
exemplificado pelo fato de alguns particípios serem utilizados como adjetivos
em frases como “João é atrasado”. Nesse caso, o particípio do verbo atrasar está
sendo usado como adjetivo para definir uma propriedade de João. Por esse
motivo, é mais interessante analisar as bases como participiais e não como
formas infinitivas do verbo, o que levaria à formulação de um único esquema
para a construção morfológica, como defenderemos nos capítulos de análise.
Além disso, podemos levar em consideração para essa análise, um breve
estudo histórico acerca do afixo, pois, segundo França & Lemle (2006), o fato de
o afixo -ura se anexar a bases participiais no latim leva à constatação de que o
mesmo ocorre nas línguas neolatinas, dentre elas, o português. Maurer Jr. (1959)
também afirma que o sufixo –ura se anexava a bases participiais no latim

41
clássico, sendo, portanto, uma inovação do latim vulgar a formação a partir de
bases adjetivas – lembrando que o particípio e o adjetivo são equivalentes.
Dessa forma, assim como -ura se anexa ao particípio passado do verbo assare em
latim, o mesmo afixo será anexado a bases participiais no português e em outras
línguas neolatinas. Isso se deve ao fato de essas línguas manterem a relação
existente entre o afixo e as bases desde o latim até hoje.
Dessa forma, podemos afirmar que os falantes, apesar de não terem
conhecimento do latim e de onde se originou esse afixo, acabam por interpretar
-ura como atribuidor de uma qualidade em relação a uma base predicativa, pois
tanto os adjetivos quanto os particípios têm essa função predicativa na sintaxe
da língua.
Ainda devemos levar em consideração o fato levantado por Rio-Torto
(2005) de esse afixo selecionar bases adjetivas cuja origem sejam particípios. Por
esse motivo, podemos comprovar, mais uma vez, que os segmentos em
discussão – /t/, /d/ e /s/ – fazem parte dos radicais e não de um afixo
diferente, ou seja, que as bases para esse afixo são os particípios dos verbos em
questão.
Por fim, podemos discutir o fato principal que diz respeito à
interpretação dos três segmentos citados. Caso interpretássemos as bases para
esse sufixo como verbais em sua forma infinitiva, teríamos de responder à
pergunta concernente à natureza desses segmentos, se são consoantes de
ligação ou partes de outro afixo. No entanto, essa não parece ser uma resposta
muito acessível, pois não há provas concretas para tal interpretação, ao

42
contrário do que ocorre se interpretamos os segmentos /t/, /d/ e /s/ como
parte das bases participiais.
Assim, voltando para as hipóteses levantadas anteriormente, podemos
afirmar que todas elas podem ser verdadeiras a partir do ponto de vista que se
adote. No caso da primeira hipótese, para que seja considerada verdadeira,
seria preciso que se analisasse /t/, /d/ e /s/ como consoantes de ligação ou
como parte de um novo afixo, no caso, -tura, -dura e -sura, respectivamente. No
que diz respeito à segunda hipótese, pudemos comprová-la a partir dos
argumentos apresentados anteriormente com base nas diferentes abordagens
teóricas. Já a hipótese 3 pode ser também levada em consideração se olharmos
para vocábulos formados a partir de bases substantivas e até mesmo adverbiais
como belezura e lonjura, respectivamente, apontando para o fato de o mais
importante, em se tratando desse afixo, não estar diretamente relacionado à
natureza da base, mas sim à acepção que veicula, já que existem outros afixos
como veremos mais adiante.
Nesse último caso, podemos levar em consideração o fator bloqueio
levantado por Aronoff (1976). Segundo o autor, o bloqueio pode ser
considerado uma noção funcional, já que se trata da não aplicação de uma
operação disponível na língua por já existir uma palavra no léxico para exercer
a mesma função que exerceria a palavra a ser formada. Nesse caso, por mais
produtiva que seja, uma operação morfológica não atua se já houver uma
palavra formada a partir de outro afixo que exerça a mesma função; o falante
não forma novas palavras com a mesma função que uma já existente na língua.

43
Assim, no que diz respeito a –ura, a noção de bloqueio pode ser um importante
instrumento de análise.
Os afixos –ção e –mento têm a função de formar nomes a partir de verbos
para atribuir um significado mais ativo, mais centrado nas características
predicadoras do verbo, como amplamente estudado por Lemos de Souza (2010)
e como veremos com mais detalhes no capítulo 3 a seguir. Já o afixo –ura, por
sua vez, também teria como bases primárias os verbos, mas, por haver esses
dois afixos com a mesma tarefa, –ura se especializou e passou a se unir somente
a bases adjetivas, carregando consigo a função de atribuir qualidades e tendo
por base não mais um verbo em sua forma infinitiva prototípica, mas bases com
significados mais qualificadores. Assim, por mais que esse sufixo fosse
produtivo em latim, em português deixa de ser, pois entra em competição com
–ção e –mento e vai perdendo o seu significado de “ato / efeito”, mas continua
se especializando quando o significado a ser atribuído tem relação com noções
predicativas.
Portanto, podemos concluir que as formas variantes são, então,
condensadas em uma única forma, -ura, visto que entendemos ser esse afixo
anexado a bases participiais. Assim, as consoantes /t/, /d/ e /s/ seriam
resquícios do particípio e não parte de um novo afixo. Além disso, adotamos
essa visão por não ser econômico considerar que há afixos distintos quando as
bases são verbais, já que as mesmas não são os verbos em suas formas
infinitivas, mas sim em suas formas de particípio, adotando, pois, a visão de
França & Lemle (2006) e Rio-Torto (1998). No entanto, como levantado nesta

44
seção, também não podemos desconsiderar as outras visões já que, na língua,
nada pode ser considerado completamente verdadeiro, pois tudo vai depender
do ponto de vista pelo qual se está observando determinado fenômeno. Como
afirma Saussure (1973, 135), “O ponto de vista determina o objeto”, indicando-
nos que a análise de qualquer corpus permite infinitivas interpretações, a
depender da corrente de estudo que se vá usar. Optamos, portanto, por essa
interpretação por ser ela a mais adequada à análise que pretendemos
desenvolver adiante.
2.5. Resumindo
No presente capítulo, apresentamos as diversas visões acerca da
nominalização a partir do afixo –ura, principalmente no que diz respeito à sua
natureza. Apesar de reconhecer todas as possíveis análises, decidimos por
interpretar esse formativo como um único afixo que pode se unir tanto a bases
adjetivais quanto participiais, já que ambas possuem o mesmo caráter
atributivo. Assim, não haveria diferença entre –ura, -tura, -dura ou –sura, já que
as consoantes que os iniciam seriam, na verdade, resquícios do particípio e não
parte do afixo em questão.

45
METODOLOGIA E CORPUS
Realizar uma pesquisa de cunho linguístico e verificar como processos
morfológicos, semânticos, gramaticais e discursivos ocorrem na língua é uma
atividade que requer a constituição de um corpus ou de mais de um corpora que
venha a auxiliar nesse processo. No entanto, essa constituição não deve ser
aleatória e sem qualquer embasamento, sendo necessária uma metodologia
clara e precisa para que esses dados possam confirmar as hipóteses
previamente levantadas nesta Dissertação ou negá-las, apresentando, como
consequência, novas hipóteses e novos olhares sobre o tema a ser pesquisado.
Portanto, neste capítulo, apresentamos os métodos utilizados na coleta
dos dados e na formação do corpus de análise. Para tanto, recorremos tanto a
dicionários quanto a textos escritos a fim de criar uma unidade passível de
análise e facilitadora desse processo.
3.1. Coleta inicial dos dados
Em um primeiro momento, foi realizada uma busca nos dicionários
Houaiss (2001) e Aurélio (2004), em sua versão eletrônica, verificando a data de
entrada dos vocábulos na língua. Por se tratar de um afixo, foi de extrema
3

46
importância a utilização desses meios eletrônicos, na medida em que facilitou o
processo de coleta dos dados. Com essa recolha, foram encontradas 171
palavras inicialmente, amostra posteriormente reduzida, como descrevemos a
seguir.
Além disso, enquanto era realizada a busca dessas nominalizações,
também foram anotados os anos de entrada nos dicionários – quando os
mesmos forneciam essa informação em sua definição –, a categoria da base à
qual o sufixo se anexou e o seu significado ou seus múltiplos sentidos. Essa
última informação está presente no anexo I desta Dissertação e pode ser
consultada ao longo da leitura para qualquer dúvida em relação a algum
significado em específico.
No entanto, apesar de, na maioria dos casos, as informações quanto à
etimologia e à entrada na língua serem fornecidas pelo dicionário Houaiss,
muitas das palavras do corpus não apresentavam tais dados e, para obtê-los,
recorremos a alguns dicionários etimológicos (CUNHA, 1999; NASCENTES,
1955; SILVEIRA BUENO, 1967; e, principalmente, MACHADO, 1973) a fim de
precisar essas informações e dirimir qualquer dúvida em relação à origem de
uma ou outra palavra. Essa busca nos dicionários etimológicos foi realizada
depois de já coletados os dados, já que foi utilizada como um complemento, um
suporte à busca anterior. Ainda é válido comentar que, em alguns casos dessa
amostra, houve divergência em relação à data de entrada de algumas palavras
e, em decorrência, adotamos a data mais antiga.

47
3.2. Métodos de aprimoramento do corpus
Depois dessa coleta, porém, percebemos que algumas palavras que
faziam parte da lista causavam estranheza quanto ao seu significado, à base ou
eram pouco utilizadas na língua. Por isso, fez-se necessário tornar o corpus mais
enxuto e verdadeiramente representativo do uso de –ura em português. Para
tanto, foram tomadas algumas decisões. Em um primeiro momento, fizemos
testes informais com os falantes da língua; em linhas gerais, tais testes
consistiam em apresentar algumas das palavras que chamaram nossa atenção,
solicitando aos informantes que tentassem, de alguma forma, defini-las ou
inseri-las num contexto de uso plausível4. No entanto, muitas dessas palavras
não eram recuperadas pelos falantes e os mesmos não conseguiam, algumas das
vezes, nem mesmo identificar a base a qual o afixo foi anexado. Quando
apresentadas aos falantes palavras como peladura, soldadura ou vestidura, por
exemplo, a maioria não conseguiu identificar as bases ou associava a bases não
verdadeiras. No caso de peladura, muitos identificavam a base “pelado”, mas
não conseguiam definir o vocábulo, já que a base recuperada por eles seria
equivalente a “desnudo”. O mesmo aconteceu com soldadura e vestidura em que
os falantes identificavam as bases “soldado” e “vestido”, não fazendo qualquer
referência a essas bases como participiais, mas remetendo-as aos substantivos
“soldado militar” e “roupa utilizada por mulheres”. Dessa forma, por mais que
4 Esse teste inicial foi aplicado a 30 falantes da faculdade de Letras ou não e foi realizado da seguinte maneira: apresentamos palavras como vestidura, peladura, zebrura e podrura e pedimos aos falantes que, oralmente, nos indicassem seus significados. Em alguns casos, apresentávamos essas palavras contextualizadas como em “eu julgava poder distinguir um campo de interesse cultural e essa zebrura inesperada que às vezes vinha atravessar esse campo”, mas os falantes não conseguiam remontar o seu significado.

48
os falantes conseguissem depreender a base, não conseguiam definir ou
contextualizar as palavras apresentadas. Em alguns casos, nem quando
fornecíamos o vocábulo já contextualizado, o significado era recuperado pelo
informante. Dessa forma, tais palavras foram excluídas do corpus, uma vez que
nosso objetivo é analisar apenas os vocábulos efetivamente empregados e
reconhecidos pelos falantes, tendo por base o uso da língua.
Desse modo, optamos por manter no corpus apenas os vocábulos
reconhecidos pelos falantes e, para tanto, criamos um filtro nos vocábulos
pertencentes ao corpus inicial a partir da busca no Google. Assim, selecionamos
um filtro de 50.000 ocorrências para que pudéssemos manter ou retirar as
palavras do corpus, o que comprovou a nossa hipótese inicial e os testes
informais com os falantes: em linhas gerais, as palavras não acessíveis aos
informantes que participaram do teste tiveram baixíssimo número de
ocorrências no Google. Assim, as palavras que restaram no corpus com o seu
respectivo número de ocorrências estão detalhadas no anexo III e abaixo
exemplificadas:
PALAVRA OCORRÊNCIAS NO GOOGLE
Abertura 81.400.000
Altura 228.000.000
Armadura 14.300.000
Assadura 200.000
Assinatura 40.800.000
Atadura 40.800.000
Belezura 388.000

49
Benzedura 944.000
Brancura 224.000
Chatura 247.000
Cintura 46.100.000
Cobertura 102.000.000
Fartura 6.350.000
Fechadura 3.490.000
Feiura 493.000
Ferradura 1.530.000
Fervura 722.000
Finura 1.400.000
Fofura 2.890.000
Fritura 1.240.000
Gostosura 388.000
Tabela 1: Número de ocorrências dos vocábulos no sítio de busca Google
Portanto, depois de delimitado o corpus, restou um montante de 98 dados
de nominalização X-ura reconhecidos pelos falantes e analisados nesta
Dissertação.
3.3. Métodos de análise
A fim de corroborar a hipótese inicialmente apresentada – a de que o
sufixo –ura somente é produtivo nos dias de hoje a partir de bases não
participiais, apresentando dados empíricos que demonstrem esse percurso
histórico – foi essencial fazer uma busca em textos escritos antigos. Para tanto,
recorremos ao “Corpus do Português”, um corpus muito amplo e

50
disponibilizado por meio eletrônico, o que facilitou consideravelmente o
processo de coleta, visto que buscávamos verificar uma vasta quantidade de
textos com o objetivo de obter resultados mais confiáveis.
Foi escolhido esse corpus por ele apresentar quase 57.000 textos em língua
portuguesa, do século XIV até o século XX. Além disso, como abarca também
textos de outros corpora informatizados, pudemos obter dados de textos dos
séculos anteriores a esses, como XII e XIII, por exemplo. Assim, o corpus trazia
como resultado o registro solicitado, separado por número de ocorrências em
cada século e contextualizado com referência aos textos de onde foi rastreado.
Assim, foram pesquisadas todas as ocorrências que restaram no corpus a partir
desse sítio, buscando a datação da primeira aparição em textos escritos e
analisando o contexto em que tais palavras estavam sendo utilizadas e com que
significado. Veremos no capítulo 5 e 6 que essa busca em textos antigos também
ajudou a demonstrar a mudança semântica ocorrida e a especialização sofrida
pelo afixo -ura. Assim, os textos antigos consultados estão apresentados no
anexo VI desta Dissertação.
Finalizada a varredura nos textos antigos, foi feita a separação das
ocorrências por cada século a fim de corroborar as hipóteses previamente
levantadas acerca da história do afixo e tecer maiores considerações sobre o
lugar desse afixo na língua portuguesa. O anexo IV apresenta essa separação
por século e foi utilizado para fazer a análise história presente no capítulo 5.
Além disso, vale ressaltar que a datação encontrada nesses dados também foi
utilizada no anexo II, pois, da mesma maneira que, entre o dicionário eletrônico

51
Houaiss (2001) e os dicionários etimológicos consultados, foi considerada a data
mais antiga, o mesmo foi feito em relação a esses textos. Por fim, comparando
as três datações a que tivemos acesso, selecionamos sempre a mais antiga, seja
ela a do dicionário eletrônico Houaiss, a dos dicionários etimológicos
consultados ou a primeira aparição em textos do “Corpus do Português”.
Em relação às funções da nominalização que serão apresentadas no
capítulo 5 e reinterpretadas de acordo com a Teoria Multissistêmica no capítulo
6, achamos de extrema importância separar os vocábulos constituintes do corpus
entre elas e apresentá-las no anexo V para facilitar a consulta. Além disso, é
importante ressaltar que essa divisão foi feita a partir do significado mais
prototípico de cada palavra, já que, como veremos a seguir essas funções
podem se intercambiar à medida que os dispositivos sociocognitivos atuem ou
cada um dos quatro sistemas tome lugar. Assim, o significado prototípico de
altura é o de abstratização de adjetivo, indicação de propriedade, mas, se
inserida em um contexto, pode veicular o significado de intensificação, como se
observa no seguinte exemplo:
(1) Olha a altura desse salto, é óbvio que vai tropeçar5.
Como o objetivo desta Dissertação é analisar o processo de
nominalização a partir do sufixo –ura com base na Teoria Multissistêmica,
optamos por recolher os exemplos presentes nesta Dissertação no sítio de busca
5 http://somulhercompartilha.tumblr.com/post/26831503854/olha-a-altura-desse-salto-e-obvio-que-vai. Acessado em 07/ Ago / 2012

52
do Google. Assim pudemos verificar essas palavras em seu contexto real de uso
sem recorrer a exemplos inventados.
Quanto ao teste de aceitabilidade com os falantes, podemos descrevê-lo
rapidamente devido à sua simplicidade de elaboração, mas objetivamente
satisfatório. Com o intuito de verificar se as formações com bases verbais não
eram mesmo mais produtivas para formar novas palavras na língua, criamos
um experimento que continha palavras criadas por nós e formadas a partir da
anexação de três afixos distintos a uma mesma base verbal: -ura, -mento e -ção.
Como exemplo, podemos citar as formações deletação, deletamento e deletadura
que são formadas pela base verbal deletar (e seu particípio deletado, no caso de
-ura).
Feito isso, foi solicitado aos falantes da Faculdade de Letras da UFRJ que
atribuíssem um grau de aceitabilidade para cada uma dessas ocorrências dentro
de uma escala apresentada. Assim, ele marcaria 1 quando considerasse que a
forma era plenamente aceitável; 2, quando a considerasse como aceitável; e 3,
quando não a reconhecesse e não achasse aceitável tal realização na língua. O
experimento está presente no anexo VII desta Dissertação para consulta dos
dados apresentados aos informantes. Foram ouvidos 22 informantes, chegando
a um total de 132 dados, das mais diferentes idades e dos dois sexos, pois
pensávamos que isso talvez pudesse interferir, mas percebemos, ao fim da
análise, que essas informações sociolinguísticas não alteravam o resultado da
amostra e nem trazia novas considerações como veremos no capítulo 5.

53
3.4. Resumindo
Um bom método de análise e de constituição de um corpus é de extrema
importância para atingir os objetivos da análise linguística. Assim, pretendemos
ter apresentado de maneira clara e detalhada todos os caminhos percorridos ao
longo desta Dissertação para alcançar os objetivos da análise. Buscamos mostrar
como foi feita a constituição do corpus e qual a relevância para tal escolha, além
de apresentar os métodos de análise das ocorrências selecionadas.
No que diz respeito ao experimento linguístico, buscamos demonstrar
como foi realizado e com que objetivo foi elaborado, apontando para a sua
relevância dentro desta análise.

54
TEORIA MULTISSISTÊMICA
O presente capítulo tem por objetivo apresentar o arcabouço teórico no
qual esta pesquisa se apoia, a fim de justificar a sua escolha e analisar o
formativo em questão. Isso posto, temos o objetivo de melhor compreender
como conceitos básicos como o de língua, por exemplo, são tratados e quais são
os preceitos que sustentam a Multissistêmica, além de apontar e descrever as
influências que a Linguística Cognitiva e o Funcionalismo exercem sobre essa
abordagem e sustentam esse novo enfoque.
Em resumo, essa teoria trata a língua como um conjunto de sistemas que
atuam simultaneamente e inova ao não falar mais em divisões de gramática
hierarquizadas. Segundo essa abordagem, a língua não apresenta divisões
estanques nem sistemas que dependem de algum outro para se realizar, na
medida em que todos atuam simultaneamente.
A Abordagem Multissistêmica leva em consideração um dispositivo
sociocognitivo que atua nos quatro sistemas constituintes da língua: semântica,
discurso, léxico e gramática. Observe a figura 1 abaixo:
4

55
Figura 1: A relação entre o dispositivo sociocognitivo e os sistemas da língua.
Segundo essa teoria e a partir da figura apresentada acima, podemos
perceber que os sistemas são independentes entre si, ou seja, um não é
hierarquizado em detrimento de outro, e que o dispositivo sociocognitivo
(DSC) atua em todos os sistemas linguísticos afetando-os independentemente.
No entanto, vale ressaltar que, apesar dessa independência entre os sistemas, é
possível notar que interfaces podem ocorrer (e, de fato, ocorrem), na medida em
que a língua está em constante mudança e esses sistemas são ativados
simultaneamente na língua.
Também é válido salientar que faremos uso da teoria para dar uma nova
abordagem ao tema, mas recorreremos a outros modelos linguísticos, quando
necessário. No caso da análise morfológica, por exemplo, faremos uso da
proposta de Booij (2005; 2010) por acreditar que (1) esse modelo, denominado
Morfologia Construcional, possibilita melhor descrição do afixo e (2) a
abordagem pela Multissistêmica pouco enfatiza esse componente linguístico.
Cabe, com isso, dizer que não faremos da Teoria Multissistêmica uma cartilha a
ser seguida, mas um aporte teórico aberto a novas influências e abordagens,
DISCURSO
LÉXICO SEMÂNTICA DSC
GRAMÁTICA

56
visto que o objetivo final é analisar com mais precisão o processo de
nominalização ora contemplado.
4.1. Postulados da teria multissistêmica funcionalista-cognitiva
A teoria Multissistêmica funcionalista-cognitiva é definível a partir de
seis postulados que tomam por base as noções e os conceitos levantados pela
Linguística Funcionalista e pela Linguística Cognitiva. Todos esses postulados
sustentam essa abordagem e apontam para uma visão inovadora de gramática,
na medida em que se começa a olhar para a língua a partir de mais de um ponto
de vista, buscando analisar os seus fenômenos por completo.
Nesta seção, optamos por separar os postulados de duas maneiras: em
um primeiro momento, apresentamos os mais gerais, na medida em que partem
de outras teorias; e em um segundo momento, apresentamos os postulados
mais específicos da nova abordagem.
4.1.1. Postulados gerais
Nesta subseção, apresentaremos os postulados da Gramática
Multissistêmica que têm por base as Linguísticas Cognitiva e Funcionalista.
Esses são chamados de postulados gerais, pois são as bases dessa nova teoria
que foram trazidas das anteriores, ou seja, não são inovações da
Multissistêmica, apenas a manutenção de ideias já elaboradas e discutidas por
outras teorias. No entanto, isso não diminui a importância ou relevância dessa

57
nova abordagem, visto que os estudos linguísticos estão sempre se baseando
nos anteriores, seja concordando ou discordando.
4.1.1.1. Postulado 1: a língua se fundamenta em um aparato cognitivo
Ao longo dos anos, foram criadas inúmeras correntes linguísticas que
visavam a analisar e descrever a língua a partir de um novo ângulo e que
tomavam por base o que já se tinha seja concordando ou não com as ideias
existentes. Com a Linguística Cognitiva (doravante LC) não poderia ser
diferente. Essa nova forma de abordar a língua surgiu como renovação dos
estudos funcionalistas que se opunham ao gerativismo de Chomsky (1986) por
intermédio dos linguistas Lakoff e Johnson (2002 [1980]).
A Gramática Gerativa não levava em conta o uso da língua em seus
estudos e a considerava modular, na medida em que separava os diferentes
módulos da gramática priorizando a sintaxe em detrimento da semântica e da
pragmática, ou seja, as orações, de acordo com essa corrente teórica
(CHOMSKY, 1986), deveriam ser descritas independentemente do contexto no
qual estariam inseridas. Para a gramática gerativa, a língua é interpretada como
um conjunto de sentenças, de orações, cujo correlato psicológico é a
competência linguística – capacidade do falante de produzir, interpretar e julgar
a gramaticalidade dessas sentenças. Além disso, outra característica básica
dessa visão sobre a língua é a de que a aquisição é inata e, portanto, os inputs
são restritos e não estruturados.

58
Não satisfeitos e percebendo que a língua não era apenas um conjunto de
sentenças e que o discurso e a interação social atuam no sistema linguístico,
abriu-se caminho para a Linguística de base Cognitiva, partindo do pressuposto
de que a cognição faz parte da linguagem – ou que a linguagem faz parte da
cognição – e não deve ser abandonada nos estudos linguísticos. Portanto, o
pressuposto dessa teoria é o de que a estrutura léxico-gramatical das línguas
naturais reflete a estrutura do pensamento de alguma forma e que a
representação do chamado “conhecimento de mundo” está intimamente ligada
à representação semântica, influenciando a gramática. Dessa forma, a cognição
– que ajuda a descrever um mundo em movimento a partir das relações sociais
-, a semântica e a pragmática passam a ser consideradas essenciais para um
estudo mais aprimorado da língua e conceitos que antes eram interpretados de
uma maneira pela Linguística Gerativa passam a ser entendidos de outra forma.
Como afirma Soares da Silva (2006:297),
“toda a linguagem é, afinal, acerca do significado. E o significado linguístico é flexível (adaptável às mudanças inevitáveis do mundo), perspectivista (não espelha, mas constrói o mundo), enciclopédico (intimamente associado ao conhecimento do mundo) e baseado na experiência e no uso (experiência individual e colectiva e experiência do uso actual da língua). São estes os princípios fundacionais da Linguística Cognitiva. E a polissemia é uma das evidências maiores destes princípios”.
A partir dessa passagem, podemos resumir sobre o que trata a
Linguística Cognitiva e apontar para a polissemia como uma grande evidência
dos princípios norteadores da teoria. Portanto, vale fazer uma breve referência

59
sobre como seria abordada a polissemia nesse contexto e qual a sua importância
real. Segundo Soares da Silva (2006), a polissemia seria uma associação de
sentidos múltiplos que se relacionam entre si apresentando uma única forma.
Em outras palavras, seria uma palavra ou expressão com inúmeros sentidos,
uma rede de sentidos flexíveis, adaptáveis ao contexto e abertos à mudança, já
que dependem do uso. Assim, podemos perceber que um dos conceitos básicos
da Linguística Cognitiva é a polissemia, pois esta é alcançada na medida em
que o contexto e o uso passam a fazer parte do sistema linguístico, da cognição
humana e, consequentemente, a interferir na linguagem. As representações
desse conceito, por sua vez, estão na metáfora, na metonímia e também na
categorização a partir de protótipos. No entanto, antes de entrar na descrição do
que se entenderia por metáfora, metonímia e categorização, é importante fazer
um breve percurso sobre o que sustenta a Linguística Cognitiva, as formas de
organização do conhecimento de mundo, que é um dos pilares da
Multissistêmica: os conceitos de Esquemas Imagéticos (EIs), frames e Modelos
Cognitivos Idealizados (MCIs). Segundo a LC, o nosso pensamento é
organizado a partir das nossas experiências de mundo e, para tanto, são
acessados esses conceitos anteriormente citados.
Os Esquemas Imagéticos (EIs) são, segundo Soares da Silva (2006, 185)
“Padrões imaginativos, não proposicionais e dinâmicos dos nossos movimentos no espaço, da nossa manipulação dos objetos e de interacções perceptivas. eles apresentam uma estrutura interna, ligam-se entre si através de transformações e podem ser metaforicamente elaborados”.

60
Dito de outra forma, os Esquemas Imagéticos são gestalts experienciais
que emergem da nossa atividade sensório-motora e através das quais
manipulamos e nos orientamos espacialmente, direcionando o nosso foco
perceptual. Assim, esses esquemas refletem a nossa relação com o mundo e com
a forma com a qual interagimos com o ambiente ao nosso redor. Como
exemplo, podemos citar o EI de percurso em que temos um ponto A
direcionando-se a um ponto B de destino e esse esquema pode ser ativado
quando queremos falar da relação de finalidade, por exemplo.
A B
Figura 2: Esquema Imagético do Percurso
Na formação vale-transporte, o esquema imagético de percurso é ativado,
na medida em que temos a relação de causa e finalidade visto que se trata de
um vale para ser usado no transporte, com a finalidade do transporte.
Segundo a LC, os frames são, por sua vez, sistemas que apresentam
conceitos tão relacionados que, para que se entenda um deles, é preciso
entender toda a estrutura na qual ele se insere (FILLMORE, 1982: 111). Quer-se
com isso dizer que o frame é um conjunto de vários conhecimentos integrados, é
uma base de conhecimento que é atualizada e evocada cotidianamente pelos
falantes e estruturado contextualmente. Como exemplo, podemos citar a

61
expressão usada por Fillmore (1982:380) café da manhã. Segundo o autor, essa
expressão evoca uma cena já previamente esquematizada na mente do falante.
Independentemente da hora em que o indivíduo se alimente, ou mesmo que ele
não tenha dormido, sabe-se que esta é a primeira refeição do dia e que tipos de
alimentos são consumidos.
Já os MCIs, ou Modelos Cognitivos Idealizados, são a representação do
conhecimento de mundo do falante e muito se assemelham aos frames, já que
também são representações cognitivas estereotipadas. O conceito de MCI, que
foi desenvolvido por Lakoff (1987), diz respeito à estruturação do pensamento e
à sua utilização na formação de categorias no raciocínio humano. A contraparte
Multissistêmica dos MCIs está expressa através dos Dispositivos
Sociocognitivos (DSC) supracitados. Assim como esses Modelos, os DSCs
também são entendidos como sendo o conhecimento de mundo do usuário da
língua, ou seja, toda a bagagem sociocognitiva trazida pelo falante. A diferença
está no fato de o DSC poder ser ativado, reativado ou desativado dentro dos
sistemas da língua como veremos no capítulo 6, e o MCI estar sempre ativado
na mente do falante, estando, portanto, sempre presente.
Assim, depois desse breve percurso sobre alguns conceitos da LC,
retornemos aos conceitos de metáfora, metonímia, polissemia e categorização,
muitos importantes na Teoria Multissistêmica. Um dos pontos de oposição
entre as abordagens Gerativa e a Cognitiva está na interpretação da metáfora e
da metonímia. Enquanto, na primeira corrente, esses conceitos eram tratados
apenas no campo da figuratividade; na segunda, eles passam a fazer parte da

62
linguagem cotidiana dos falantes e são interpretados como bases estruturantes
da linguagem. A Linguística Gerativa considerava a metáfora e a metonímia
como meras figuras de linguagem, assim como vinha sendo entendido até o
momento e desde a Filosofia Clássica. De acordo com essa visão, tais conceitos
seriam marginais à língua e utilizados apenas para fins literários e figurativos
(LAKOFF & JOHNSON, 2002:11). Em contrapartida, a Linguística Cognitiva
interpreta esses conceitos como princípios que estruturam a cognição e a
linguagem humanas. Segundo essa visão, o centro da linguagem estaria
justamente nessa figuratividade, já que a metáfora é vista como uma operação
cognitiva fundamental para a comunicação, na medida em que utilizamos
várias delas no dia a dia sem nem ao menos perceber.
De acordo com Lakoff e Johnson (2002), a metáfora é, antes de tudo, uma
propriedade do pensamento, um processo cognitivo através do qual somos
capazes de comparar dois domínios e interpretar, conceptualizar um por
intermédio de outro: sendo um o domínio-fonte e o outro, o domínio-alvo. Para
tanto, é necessário que o domínio-fonte seja mais básico que o domínio-alvo por
este estar diretamente associado à relação experiencial do falante / ouvinte e ser
somente a partir de conceitos que já experienciamos e já conhecemos que somos
capazes de conceptualizar novos conceitos. Os autores exemplificam essa
afirmação ao falarem de metáforas conceptuais, como AMOR É UMA VIAGEM,
ativadas pelo falante no momento da comunicação e através das quais
conseguimos entender frases e expressões do cotidiano como “Veja a que ponto
nós chegamos”, “Nossa relação não está indo a lugar algum”, dentre outras. É

63
através dessa aproximação conceptual que conseguimos conceber o amor como
uma viagem e o que nos permite dizer que chegamos ou estamos indo a algum
lugar quando o foco são as relações amorosas. Assim, como mencionado
anteriormente, a metáfora, segundo a LC, não é apenas um adorno, um recurso
dispensável à linguagem humana, mas um atributo do pensamento, já que está
presente na linguagem cotidiana representada em um enorme número de
expressões metafóricas, desempenhando um papel central no sistema
conceptual humano, permitindo que os usuários da língua concebam e
exprimam ideias abstratas a partir de suas experiências no domínio concreto.
A metonímia, por sua vez, igualmente vista na tradição clássica como
uma simples figura de linguagem, uma figura retórica, também gera forte
polissemia e nos ajuda a conceptualizar uma ideia a partir de outra, assim como
a metáfora. No entanto, na metonímia não existem domínio-fonte e domínio-
alvo, já que essa nova conceptualização se dá dentro de um mesmo domínio
cognitivo. Observando a frase “Eu comprei um Degas”, está claro que estou
afirmando ter comprado alguma obra do pintor e escultor francês e não o
próprio. Assim, só conseguimos entender que se trata da obra a partir de uma
conceptualização dentro do mesmo domínio em que se tem o produtor (no
caso, Degas) e o produto (nesse exemplo, as obras de arte em geral). Na
metonímia, o que ocorre é uma focalização e um destaque dentro de um mesmo
espaço semântico.
Nesse sentido, a Teoria da Metáfora de Lakoff e Johnson (2002 [1980])
parece ter grande interferência e valor na Multissistêmica, pois a

64
ressemantização, por exemplo, faz uso dela como um dos mecanismos para
atualização de significado das palavras e expressões, como veremos no capítulo
6.
Outra relevante contribuição da Linguística Cognitiva para a
Multissistêmica é a que diz respeito à Teoria dos Protótipos de Lakoff (1975
apud CASTILHO, 2010) que tem um importante papel na categorização e,
consequentemente, na polissemia. Nas abordagens ditas clássicas, as categorias
espelhavam uma realidade física e, por isso, eram dotadas de propriedades
inerentes. De acordo com essa visão, todos os membros de determinada
categoria deveriam exibir atributos criteriais idênticos, ou seja, todos deveriam
ter estatuto semelhante. No entanto, essa visão apresenta alguns problemas, na
medida em que nem todos os membros de uma categoria apresentam as
mesmas propriedades e a ausência de uma considerada de máxima
importância, não faz com que esse membro deixe de pertencer à categoria.
Podemos demonstrar essa crítica com o clássico exemplo dos seres humanos:
uma das características primordiais da categoria “homem” é ter dois braços e
duas pernas. Todavia, se temos um indivíduo com apenas uma perna, ele
deixaria de ser incluído nessa categoria? Como a resposta a essa pergunta é
negativa, vale buscar uma nova forma de categorização, sendo ela a abordada
pela LC.
Ao contrário de como eram vistas pelas abordagens clássicas, as
categorias, na teoria dos protótipos, não são entendidas como uma reprodução
da realidade e sim como uma representação. Dessa forma, não há limites

65
estanques entre elas, já que suas propriedades não são inerentes, mas flexíveis,
formando, assim, um continuum dentro da mesma categoria do mais prototípico
para o menos prototípico. Ainda assim, vale definir o que entendemos por
prototípico dentro dessa teoria. Os protótipos de uma categoria são os
elementos representantes da realidade que compartilham muitos traços comuns
e representam mais completamente determinada categoria. Em contrapartida, o
elemento ao final do continuum seria o menos prototípico, ou seja, aquele que
apresenta apenas alguns traços, sendo considerado como elemento marginal
dessa categoria.
Assim, a teoria dos sistemas complexos, ou Multissistêmica, emerge
nesses preceitos da LC e postula um “continuum categorial”, na medida em que
entende que é a
“similitude, e não a identidade, que deve ser buscada no processo de postulação de categorias. Seus traços definidores não devem ser estabelecidos a partir de propriedades necessárias e suficientes, ou a partir de seu valor de verdade, e sim a partir de certas semelhanças que os falantes percebem intuitivamente” (CASTILHO, 2010:70-71)
Portanto, pudemos perceber que, segundo esse postulado, a cognição é
uma das bases para a descrição linguística e é nessa medida que a Linguística
Cognitiva atua. Esse postulado foi considerado por nós mais geral e abrangente,
visto que levanta as questões presentes na Linguística Cognitiva, sendo,
portanto, uma das bases da teoria.

66
4.1.1.2. Postulado 2: a língua é uma competência comunicativa
A Teoria Multissistêmica tem por base muitas noções primárias do
funcionalismo, conforme será descrito nesta subseção. A primeira delas é a
interpretação da língua como um processo estruturante, contrapondo-se à ideia
primeira do estruturalismo que entendia a língua apenas como um conjunto de
produtos já finalizados. Segundo o funcionalismo, essa seria a visão mais
abrangente, já que a língua é dinâmica, é produção, é atividade (energia), nos
termos de Humbolt (1990:65 apud CASTILHO, 2010), e não somente um
produto.
Como afirma Neves (1997:15), “por gramática funcional entende-se, em
geral, uma teoria da organização gramatical das línguas naturais que procura
integrar-se em uma teoria global da interação social”. Assim, é, portanto, uma
teoria que compreende que as “relações entre as unidades e as funções das
unidades têm prioridade sobre seus limites e sua posição, e que entende a
gramática como acessível às pressões de uso” (NEVES, 1997:15). A autora
também afirma que a gramática funcional considera a competência
comunicativa do falante, ponto retomado pela Teoria Multissistêmica, e define
essa competência como sendo “a capacidade que os indivíduos têm não apenas
de codificar e decodificar expressões, mas também de usar e interpretar essas
expressões de uma maneira internacionalmente satisfatória” (NEVES, 1997:15),
ou seja, a competência comunicativa é a capacidade que o falante tem de se
comunicar com sucesso na língua, de se fazer entender. Nas palavras de Dik
(1997:6),

67
“A capacidade linguística do falante abrange não só a capacidade de criar e interpretar expressões linguísticas, mas também a capacidade de usar essas expressões de maneira apropriada e eficaz de acordo com as convenções da interação verbal que prevalecem em uma comunidade linguística”.6
Essa competência comunicativa está diretamente ligada às noções de
tema e rema – e à sua articulação na sentença – e de atos de fala, na medida em
que o falante deve ser capaz de articular essas informações satisfatoriamente a
fim de criar o processo comunicativo. O estatuto informacional vem sendo
amplamente discutido por inúmeros autores e as noções de tema e rema
possuem várias divisões a depender do ponto de vista do autor que as define.
No entanto, apesar dessas variações, todos os autores concordam com a
definição básica de que o tema é a informação velha, dada (que possui baixa
informatividade) enquanto o rema é a informação nova (que carrega alta
informatividade) da cláusula. Essas noções são muito importantes no processo
comunicativo, pois a língua só irá “funcionar” se os interlocutores conseguirem
se comunicar: o ouvinte conseguir entender e o falante ser capaz de se fazer
compreender. Assim, segundo Chafe (1976: 27-28), o processo de comunicação
só ocorrerá com sucesso se o falante levar em consideração o que pode se passar
na cabeça do ouvinte7 e o falante tem de ajustar o que está dizendo ao que ele
6 “[natural linguistic user’s] linguistic capacity comprises not only the ability to construe and interpret linguistic expressions, but also the ability to use these expressions in appropriate and effective ways according to the conventions of verbal interaction prevailing in a linguistic community”. 7 “Language functions effectively only if the speaker takes account of such states in the mind of the person he is talking to”. (CHAFE, 1976: 27-28).

68
assume que o ouvinte está pensando no momento da conversação. Por esse
motivo, é muito importante que se tenha em mente as noções de informação
dada e informação nova, visto que o falante deve estruturar a sua comunicação
a partir do que pressupõe ser novo ou velho para o seu ouvinte, ou seja, deve
acomodar sua fala ao conhecimento de mundo do seu interlocutor. Assim,
informação velha é a que o falante assume ser de conhecimento do seu ouvinte
e a informação nova é a que ele acredita estar introduzindo no conhecimento,
na consciência desse interlocutor. Já em relação aos atos de fala, podemos notar
que sua importância se dá na medida em que demonstram a intenção do
falante, ou seja, o que ele deseja passar e com que objetivo. Juntamente com
essas noções, também temos as de topicalização e focalização que são, ambas,
estratégias conversacionais que têm por objetivo destacar a informação mais
importante daquela cláusula em detrimento das outras.
Segundo o funcionalismo, a linguagem é uma atividade sociocultural
que serve de instrumento para a comunicação entre os seres humanos e faz com
que a forma linguística derive do seu uso no processo de comunicação,
devendo, portanto, ser analisada no discurso. Assim, a linguagem é um
fenômeno mental e primariamente social – devido a sua preocupação com o uso
– e uma entidade não autônoma, pois está diretamente correlacionada a fatores
comunicativos ou sociocomunicativos e cognitivos ou sociocognitivos, sendo,
dessa forma, um objeto contextualizado.
A língua, por sua vez, é considerada um sistema de unidades e
regularidades linguísticas sensíveis às situações de uso e de comunicação e à

69
interação verbal. Sendo assim, a língua é a conjunção entre regras, formas e
significados, levando em consideração a interação social entre os falantes. A
língua também é entendida como um sistema adaptável, maleável e em
constante transformação por responder às pressões de uso da interação
comunicativa. Segundo Dik (1997), a língua é um instrumento de interação
social que não existe por si só em algum tipo de estrutura arbitrária, mas existe
em virtude de ser utilizada para determinados fins8. Essa interação é definida
como sendo (DIK, 1989 apud PEZATTI, 2005:168), “uma forma de atividade
cooperativa que estrutura, em torno de regras sociais, normas ou convenções”.
O autor também afirma que a principal função dessa língua natural é
estabelecer a comunicação entre os seus usuários, ou seja, mais uma vez temos a
noção funcional de que a língua existe com uma função, um objetivo a ser
alcançado – que é a comunicação efetiva.
Os principais objetivos do funcionalismo que podem ser conjugados à
Multissistêmica são os de explicar a estrutura de uma língua, seus princípios e
entidades, levando em consideração a comunicação e o discurso – ou seja,
levando em conta a competência comunicativa – e esclarecer os fenômenos
linguísticos com base em aspectos semânticos, discursivos e pragmáticos e a
partir da sua funcionalidade, na medida em que considera o discurso um dos
sistemas básicos da língua.
Outro ponto da Linguística Funcional que também é levado em
consideração na Multissistêmica é o fato de aquela considerar a mudança
8 “[an instrument of social interaction] means that it does not exist in and by itself as an arbitrary structure of some kind, but that is exists by virtue of being used for certain purposes”. (DIK, 1997:5)

70
linguística como algo pancrônico, isto é, juntamente com fenômenos que
mudaram ao longo do tempo, convivem variantes que refletem um conjunto de
polissemias na língua. Dessa forma, podemos perceber que, no funcionalismo, a
dicotomia saussuriana sincronia X diacronia já estava sendo enfraquecida. No
entanto, apesar de usar essa ideia como base, a Multissistêmica vai além, pois
afirma que não somente a mudança é pancrônica, mas a língua como um todo,
como esclareceremos mais adiante, no postulado 5.
Portanto, podemos perceber que a Teoria Multissistêmica mantém
muitos dos preceitos do funcionalismo como base, assim como do cognitivismo.
Isso é possível, pois essas duas teorias partem dos mesmos pressupostos iniciais
– já que esta derivou daquela – e levantam questões interessantes acerca do
estudo da língua.
4.1.2. Postulados específicos
Mesmo tendo bases na Linguística Cognitiva e na Linguística
Funcionalista, a Teoria Multissistêmica pode ser intitulada uma nova
abordagem linguística, já que apresenta inovações no pensamento e na forma
de análise. Assim, nesta seção, buscamos descrever quais são os postulados
específicos da teoria utilizada como aporte teórico da pesquisa, abordando os
que diferenciam a Mutissistêmica das outras correntes linguísticas e a tornam
única dentre as demais.

71
4.1.2.1. Postulado 3: as estruturas linguísticas não são objetos
autônomos
Esse postulado está intrinsecamente ligado ainda ao postulado anterior,
tido como geral, pois também trata da língua sob o ponto de vista funcionalista.
No entanto, optamos por separá-los já que este é um postulado mais específico
do que aquele, visto que seleciona apenas uma noção em especial apresentada
pelo funcionalismo.
Como já foi antecipado, as estruturas linguísticas não são consideradas
objetos autônomos, pois são flexíveis e adaptáveis às pressões de uso. Essas
estruturas não são entendidas como arbitrárias, mas são dinâmicas e sujeitas à
mudança, contrariando as perspectivas formalistas que não aceitavam a ideia
de a língua natural sofrer qualquer interferência externa. Resumindo, Castilho
(2010: 73) afirma que as estruturas linguísticas podem ser interpretadas a partir
de algumas propriedades, sendo elas:
(1) As estruturas são flexíveis e permeáveis às pressões de uso [como já mencionamos], combinando-se a estabilidade dos padrões morfossintáticos cristalizados com as estruturas emergentes; (2) as estruturas não são totalmente arbitrárias; (3) as estruturas são dinâmicas e sujeitas a reelaborações constantes, através do processo de gramaticalização.
Portanto, podemos perceber que esse postulado está conectado à ideia de
contexto e de análise conversacional. Queremos com isso dizer que, ao contrário
do que se tinha no polo formalista de análise da língua, a Multissistêmica

72
considera que a variação, a mudança e o contexto podem interferir na estrutura
linguística e a mesma pode ser, então, alterada. Não se tem mais a ideia de que
ela é uma estrutura já pronta, pré-moldada e inalterável, pois a interação passa
a fazer parte dos estudos linguísticos.
4.1.2.2. Postulado 4: as estruturas linguísticas são multissistêmicas.
Segundo esse postulado, a língua, que é tanto produto quanto processo
conforme demonstraremos mais adiante, é entendida como um sistema
dinâmico e ao mesmo tempo complexo, pois todos os sistemas linguísticos
atuam mutuamente, não havendo, portanto, hierarquia entre eles. Dessa forma,
perde-se a ideia levantada pelas demais teorias de que haveria supremacia de
um sistema ou módulo linguístico em detrimento de outro, como no caso da
Gramática Gerativa que defendia a ideia de uma sintaxe absoluta e acima dos
demais sistemas e a Cognitiva que privilegia a semântica, por exemplo. Nesse
sentido, essa nova abordagem parte de duas premissas que vão nortear e
defender a ideia de a língua ser um processo e um conjunto de produtos ao
mesmo tempo. A primeira delas é a seguinte (CASTILHO, 2010: 77):
(1) Do ângulo dos processos, as línguas serão definíveis como um conjunto de
atividades mentais, pré-verbais, organizados num multissistema operacional.
Segundo essa premissa, a língua é dinâmica, organizada a partir de
alguns processos e entendida a partir de operações simultâneas, dinâmicas e

73
multilineares (por não ser uma entidade unilateral). De acordo com a Teoria
Multissistêmica, as línguas não se organizam sequencialmente, quebrando o
paradigma que se vinha observando, já que todos os sistemas têm o mesmo
grau de importância e atuam ao mesmo tempo na língua. Além disso, a língua
passa a não ser mais vista como uma entidade estática, pronta e pré-moldada,
pois tem a sua dinamicidade. Segundo essa nova teoria, as línguas podem ser
entendidas como processos, devido, principalmente, a esse caráter mais
dinâmico e não estático que apresenta.
A segunda premissa diz respeito à ideia de língua como produto.
Observe abaixo (CASTILHO, 2010: 77):
(2) Do ângulo dos produtos, as línguas serão apresentadas como um conjunto
de categorias igualmente organizadas num multissistema.
A língua enquanto produto é conceptualizada como um conjunto de
categorias agrupadas em quatro diferentes sistemas: o léxico, o discurso, a
semântica e a gramática. De acordo com essa visão, esses sistemas seriam
considerados autônomos e independentes uns dos outros, em uma abordagem
na qual não haveria derivação, hierarquia ou qualquer relação de determinação
entre eles. Assim, não se postula a ideia de haver um sistema geral e central,
visto que todos eles têm a mesma importância e o mesmo status na língua, como
explicitado anteriormente. Portanto, qualquer expressão linguística apresenta,
ao mesmo tempo, características dos quatro sistemas, como pretendemos
mostrar na análise de dados desta Dissertação.

74
Sendo assim, podemos perceber que o postulado 4 é específico da
Multissistêmica, pois inova ao entender a língua tanto como produto quanto
como processo, diferentemente das teorias anteriores que afirmavam ser ela um
ou outro.
4.1.2.3. Postulado 5: a língua é pancrônica – explicação linguística
Como já pudemos adiantar no postulado 2 acima, a língua, segundo o
funcionalismo, pode sofrer pressões tanto da diacronia quanto da sincronia,
acabando, portanto, com essa dicotomia criada por Saussure. Assim, tomando
por base os antecedentes funcionalistas, esse postulado da Teoria
Multissistêmica aborda o estudo linguístico como pancrônico, ou seja, leva em
conta a diacronia para explicar a sincronia, a convivência entre várias sincronias
na língua, discordando da dicotomia saussuriana.
Segundo essa visão, os estudos sincrônico e diacrônico não devem ser
feitos em separado, pois “pensar o presente é pensar o passado no presente”
(CASTILHO, 2010:77), na medida em que (a) existe a convivência entre as
gramáticas e (b) ambos os estudos são válidos e necessários para um melhor
entendimento sobre o funcionamento da língua. Dessa forma, na presente
análise acerca da nominalização em português por intermédio de –ura,
recorreremos à história para explicar a atual sincronia desse sufixo
nominalizador.

75
4.1.2.4. Postulado 6: um dispositivo sociocognitivo ordena os sistemas
linguísticos.
Como pudemos perceber ao longo deste capítulo, existe, na Teoria
Multissistêmica, um elemento primordial na língua que atua em todos os
sistemas: o chamado Dispositivo Sociocognitivo (DSC). Esse dispositivo é o
responsável por articular os processos e os produtos linguísticos captados pelos
quatro sistemas (léxico, gramática, discurso e semântica) sendo explicitado
através de três diferentes princípios: o de ativação, o de desativação e o de
reativação de propriedades.
Esse dispositivo é chamado de cognitivo, pois tem por base as categorias e
subcategorias cognitivas de pessoa, espaço, tempo, objeto, movimento e evento, por
exemplo, ou seja, parte da conceptualização cognitiva dessas categorias. Além
disso, também é social na medida em que é baseado na análise das situações
conversacionais, nas mudanças de turno, ou seja, fazem parte das relações
sociais dos interlocutores.
Portanto, esses dispositivos socicognitivos
“Gerenciam os sistemas linguísticos, garantindo sua integração para os propósitos dos usos linguísticos, para a eficácia dos atos de fala. De acordo com esse dispositivo, o falante ativa, reativa e desativa propriedades lexicais, semânticas, discursivas e gramaticais no momento da criação de seus enunciados, constituindo as expressões que pretende ‘pôr no ar’” (CASTILHO, 2010:79)

76
Como podemos perceber, esses dispositivos são o cerne da teoria e, nesta
Dissertação, pretendemos mostrar como eles atuam nos diferentes sistemas
linguísticos e apresentar os princípios de ativação, reativação e desativação das
propriedades em todos eles. É importante notar que, assim como os sistemas
não são hierárquicos, esses princípios também não o são atuando
simultaneamente, pois em um mesmo momento em que se está ativando um
significado, também se está desativando outro e reativando um novo – no caso
do sistema semântico, por exemplo.
4.2. Resumindo
Ao longo deste capítulo, buscamos descrever uma nova forma de análise,
abordagem e descrição da língua: a Teoria Multissistêmica. Pudemos perceber
que ela tem por base os conhecimentos já alcançados pelo funcionalismo e pelo
cognitivismo, sendo, portanto, um desdobramento dessas duas correntes
linguísticas. Em resumo, a Multissistêmica interpreta a língua como maleável e
considera a importância do discurso e do conhecimento de mundo na estrutura
da língua. Segundo essa nova abordagem, a cognição é de extrema importância
para que o processo comunicativo seja efetuado e a língua seja claramente
compreendida.
Além disso, também pudemos constatar que essa teoria não trabalha com
as mesmas noções apresentadas pelas gramáticas e defende a existência de
quatro sistemas linguísticos que se conectam independentemente uns dos
outros e não apresentam qualquer hierarquia. Essa é a grande inovação da

77
teoria, na medida em que surge para quebrar com os paradigmas presentes nas
anteriores de que há sempre um módulo da gramática que se sobreponha aos
demais. Segundo a Multissistêmica, os módulos do discurso, da semântica, da
gramática e do léxico atuam ao mesmo tempo na língua e são igualmente
importantes para o funcionamento linguístico.
Outro ponto relevante a ser relembrado é a existência de um Dispositivo
Sociocognitivo (DSC). De acordo com Castilho (2010), seria esse dispositivo que
regeria a língua e os quatro sistemas atuantes nela. Dito de outra maneira, esses
dispositivos seriam responsáveis por ativar, desativar ou reativar cada um
desses sistemas nas estruturas linguísticas e abarcariam tanto o conhecimento
de mundo dos falantes quanto as necessidades discursivas. Portanto, em um
mesmo momento, o DSC poderia ativar uma propriedade do módulo
semântico, desativar alguma do módulo discursivo e reativar outra do sistema
lexical.
Assim, buscamos mostrar, neste capítulo, quais os fundamentos da teoria
utilizada como base nesta Dissertação e quais as inovações que a mesma traz
em função das já existentes.

78
FUNÇÕES DA NOMINALIZAÇÃO
A ideia central de que a nominalização é um processo pelo qual verbos
tornam-se nomes e estes indicam a ação ou o estado da ação não é plenamente
aplicável ao sufixo –ura e isso se deve à ampla concorrência sincrônica existente
com outros afixos nominalizadores e à especialização semântica de cada um
deles na língua portuguesa contemporânea. Cabe ressaltar que, como
pretendemos deixar claro neste capítulo, essa concorrência se deve ao fato de
haver diversos afixos nominalizadores na língua, podendo essa relação ser
direta ou indireta.
Como notaram Valente & Castro da Silva (2011), -ura apresenta quatro
diferentes funções: (a) a nominalização de verbos – interpretação verbal
(abertura, soltura, varredura), (b) a referenciação – interpretação nominal
(abotoadura, fechadura, cobertura), (c) a abstratização de adjetivos (bravura, ternura,
altura) e, por fim, (d) a intensificação (feiura, loucura, lonjura). Vale salientar, no
entanto, que a comparação com outros afixos, a ser feita neste capítulo,
considera apenas a atual sincronia da língua9. Além disso, também é importante
lembrar que a comparação com os demais afixos será efetuada de maneira não
tão aprofundada, na medida em que este estudo é apenas sobre o afixo –ura.
9 Retomando a Gramática Multissistêmica apresentada no capítulo anterior, deve-se fazer uma perspectiva pancrônica da língua. Por isso mesmo, os resultados comparativos devem ser relativizados.
5

79
Portanto, vamos nos ater somente a alguns dados, a fim de demonstrar que as
formações coexistem, mas desempenham, cada uma delas, uma diferente
função na língua. Outro ponto relevante a ser salientado no presente capítulo é
o fato de que essas funções foram determinadas a partir do significado
prototípico das palavras selecionadas como exemplos e que, para tal seleção, foi
criado um pequeno corpus dos demais afixos apontados, que pode ser conferido
no anexo VIII desta Dissertação.
5.1. Os caminhos de –ura
Com o objetivo de percorrer a história do afixo –ura e identificar e
delimitar as funções supracitadas, realizamos uma coleta de dados para compor
um corpus inicial com base em dicionários eletrônicos (Houaiss e Aurélio), que
continha 171 formas terminadas em -ura. No entanto, a estranheza que algumas
palavras geraram fez com que nos questionássemos se as realizações por meio
desse formativo seriam mesmo produtivas no português brasileiro. Embora em
alguns casos o padrão morfológico seja opaco, é fácil perceber que há ótimas
condições de isolabilidade em palavras como podrura e zebrura. Porém, essas
não são palavras facilmente reconhecidas e utilizadas em nenhum contexto
pelos falantes. Para corroborar essa nossa ideia inicial, fizemos entrevistas
informais com falantes de português a fim de verificar se formas como essas são
reconhecidas e os resultados foram compatíveis com nossa intuição de que
algumas formas em -ura já não são compreendidas pelo falante comum
(VALENTE & CASTRO DA SILVA, 2011). A entrevista consistia em apresentar

80
informalmente essas palavras e pedir para os informantes identificarem seu
significado. O mesmo aconteceu com os vocábulos peladura e soldadura, por
exemplo, que não eram identificados pelos usuários da língua e os mesmos não
conseguiam explicar ou contextualizar essas palavras como explicitado no
capítulo 3. Outro indício que encaminhou nossa hipótese, que será descrita a
seguir, foi a consulta de todas as palavras desse corpus inicial na ferramenta de
busca do sítio Google. Enquanto palavras como candidatura resultaram em
37.400.000 ocorrências, podrura retornou 1120 resultados e zebrura, apenas 116, o
que corrobora a baixa ocorrência e acessibilidade do falante.
Assim, nesta Dissertação, estabelecemos um filtro na amostra de dados,
que impõe um número mínimo de 50.000 ocorrências na ferramenta da Internet,
para que possamos dar conta de dados recorrentes em português. Isso se fez
necessário na medida em que buscamos lidar com dados de uso da língua e, se
considerássemos vocábulos como podrura, não atingiríamos nosso objetivo de
analisar e descrever a nominalização por meio do afixo -ura em português nos
dias de hoje. Depois de feita essa varredura nos dados, excluindo do corpus
aquelas que eram opacas ou que possuíam baixa ocorrência na língua, restaram
98 palavras que constituem o corpus deste trabalho.
Conforme ressaltado, identificamos quatro funções nominalizadoras
exercidas pelo afixo em análise e, a partir do significado prototípico das
palavras, pudemos agrupá-las e tecer as considerações feitas a seguir. A partir
da análise dos grupos de palavras de cada função, pudemos perceber que o
grupo nominalização apresenta baixa quantidade de dados (apenas 10

81
vocábulos) em comparação ao número expressivo do grupo referenciação (45
dados). No gráfico abaixo, encontram-se os valores percentuais da distribuição
de substantivos em –ura nas quatro funções nominalizadoras:
Gráfico 1: distribuição dos dados entre as funções da nominalização.
Observando os dados do gráfico 1, poderíamos levantar a hipótese de
que o primeiro grupo já não forma novos itens lexicais em português, na
medida em que é o que possui menos ocorrências no corpus. No entanto, esse
argumento não se sustenta sozinho, mas pode ser reforçado quando verificamos
que todas as palavras pertencentes a esse grupo são, em sua maioria, anteriores
ao século XV, havendo apenas um caso posterior a esta data, benzedura, datado
do século XVIII, como podemos observar na tabela abaixo:

82
PALAVRA NATUREZA DA BASE DATAÇÃO
Benzedura Particípio XVIII
Censura Do latim XV
Embocadura Particípio XVII
Envoltura Particípio XIV
Investidura Particípio XV
Ligadura Do latim XIII
Rapadura Particípio XIV
Semeadura Particípio XV
Soltura Particípio XIII
Varredura Particípio XV
Tabela 2: Palavras do grupo referente à função de nominalização com a datação e a base.
Outro fator que poderia indiciar nossa hipótese é a categoria das bases,
invariavelmente particípios, como também podemos ver na tabela acima, nos
casos de soltura de solto e envoltura de envolto, por exemplo. Trazendo à baila
mais uma vez o que disse Maurer Jr. (1959), no latim, o sufixo -ura se anexava a
bases participiais, sendo uma inovação do latim vulgar a formação com bases
adjetivas. As palavras com bases participiais seriam, pois, um resquício do latim
clássico, ao passo que, no português, as novas formações viriam de adjetivos,
como veremos mais adiante. O fato de a base ser participial ou ter se originado
diretamente no latim não torna nenhuma dessas informações excludentes, mas
apenas corrobora a hipótese de que, no início, as palavras que se formaram a
partir desse afixo tomaram por base os padrões latinos de fazê-lo dessa forma.
Assim, apenas colocamos esses dados na tabela a fim de comprovar que esse

83
resquício se manteve, mas atentos para o fato de origem e categoria gramatical
da base serem características distintas.
Cabe, então, buscar evidências que nos possibilitem responder às
seguintes perguntas:
(i) Há novas formações de -ura na língua?
(ii) A categoria lexical das bases teria alguma relação com a improdutividade/
produtividade dos padrões?
(iii) Se afirmativo, quais categorias seriam favorecedoras da formação de novas
formas e quais não seriam?
Primeiramente, consultamos alguns dicionários etimológicos (CUNHA,
1999; NASCENTES, 1955; SILVEIRA BUENO, 1967; e MACHADO, 1973) para
verificar a data de entrada dos substantivos na língua portuguesa. Além disso,
também fomos buscar as ocorrências das palavras do corpus em textos antigos
do português consultados no sítio eletrônico “Corpus do Português”10. Os
resultados mais gerais são apresentados no gráfico 2, sendo que não foram
encontradas datações para apenas um vocábulo (chatura), quando mesclamos as
duas informações: as fornecidas pelos dicionários e as aparições em textos
antigos pela primeira vez.
10 www.corpusdoportugues.org

84
Gráfico 2: Distribuição dos dados entre os séculos
Os resultados obtidos nos permitem responder positivamente à pergunta
em (i), que se refere à formação de novos itens, já que o registro primário dos
vocábulos compreende o período do século XII ao XX. Por outro lado,
formações recentes na língua, como gostosura e fofura, são exemplos de que -ura
ainda é produtivo em português, restando saber em que casos atuam os
mecanismos geradores de novas palavras. Para tanto, consultamos a
distribuição da categoria gramatical das bases que são adicionadas ao sufixo de
acordo com a cronologia da língua. Num total, 32,99% derivam de adjetivos (33
ocorrências – verdura e ternura), 27,84% de particípios (27 ocorrências – atadura
e semeadura), 1,03% de advérbios (apenas uma ocorrência – lonjura), 2,06% de
substantivos (dois casos – belezura e nervura), 28,87% das palavras entraram no
português via latim (28 dados – cintura e cultura) e 7,22% das formas vieram
como empréstimo de outras línguas (7 dados – brochura e legislatura). Os casos

85
de empréstimos, que têm origem no francês, inglês e italiano, foram separados
do conjunto de palavras que vieram do latim, porque aqueles são bastante
escassos (representam somente 7 dados). Os resultados da distribuição
categorial das bases encontram-se no gráfico 3.
Gráfico 3: distribuição categorial das bases ao longo dos séculos
Podemos visualizar que do século XIII ao XIX o sufixo -ura era
adicionado, principalmente, a adjetivos e particípios passados. Outra fonte
bastante recorrente é a entrada de palavras com origem no latim. A formação
com particípios já não aparece no século XX, dando lugar ao adjetivo e ao
substantivo, com 60% e 20%, respectivamente, apesar de ser contabilizado
também o caso de laqueadura que parece ter surgido na língua no século XIX,
visto que os dicionários registraram o verbo laquear no século XVIII.
Os resultados exibidos no gráfico 3, de certa maneira, servem para
confirmar o que viemos argumentando: a cristalização de -ura anexado a bases
de particípio e a produtividade junto a bases adjetivas. Além disso, evidencia,

86
também, a forte contribuição de palavras latinas que integram o léxico do
português, já que aparece com índices expressivos nesse gráfico. As palavras
que entram no português como empréstimos de outras línguas parecem seguir
a entrada registrada nos dicionários etimológicos, uma vez que no gráfico 3 a
primeira entrada é no século XVI.
A respeito da datação, encontramos algumas divergências entre a data
registrada no dicionário para determinados vocábulos e o período em que o
mesmo vocábulo aparece primeiramente em um texto e, portanto, selecionamos
sempre a data mais antiga. No texto “Prosodia”, de Bento Pereira, datado de
1697 e disponível no Corpus do Português, notamos a palavra dentadura, por
exemplo, que só é registrada nos dicionários como do século XIX (1836).
5.1.1. Teste de aceitabilidade
Baseados na hipótese de que não são formados mais vocábulos com
bases participiais, elaboramos um teste de aceitabilidade (CASTRO DA SILVA
et alii, 2009) a fim de verificar se os falantes reconhecem formas com particípio.
Segundo alguns autores, como Maurer Jr. (1959), o sufixo -ura concorre com -ção
e -mento na nominalização, como no caso abreviação, abreviamento e abreviatura.
No teste, apresentamos palavras inexistentes em português, mas possíveis,
como cortação, cortamento e cortadura, ou twitação, twitamento e twitadura. Foi
pedido aos informantes, alunos da Faculdade de Letras da UFRJ, que julgassem
a aceitabilidade das formas em uma escala de 1 a 3 (do menos aceitável ao mais
aceitável).

87
Conforme Lemos de Souza (2010) afirma e veremos mais adiante, -ção e
-mento são afixos bastante produtivos e nossa intuição era que os falantes
dariam preferência às formas com esses sufixos e, em contraste, as palavras com
-ura deveriam ter menor anuência, já que haveria se cristalizado nesse tipo de
formação.
Apresentamos os resultados no quadro abaixo:
Plenamente aceitável Aceitável Não-aceitável Total
-ção 53/ 132 = 40% 58/ 132 = 44% 21/ 132 = 16% 132/ 132 = 100%
-mento 67/ 132 = 51% 52/ 132 = 39% 13/ 132 = 10% 132/ 132 = 100%
-ura 13/ 132 = 10% 21/ 132 = 16% 98/ 132 = 74% 132/ 132 = 100%
Quadro 1: resultados dos testes de aceitabilidade
De fato, os índices apresentados no quadro 1 confirmam nossa hipótese
inicial, posto que foram consideradas como plenamente aceitáveis as formas
com -ção e –mento, o que não aconteceu em grande parte com -ura. Somados os
dados de plenamente aceitável com os de aceitável, –ção teve 84% de aceitação e
–mento, 90%. Ao contrário, as palavras com -ura tiveram uma rejeição
expressiva: apenas 26% dos dados foram aceitos. Se formos levar em conta os
números do nível plenamente aceitável, aumenta-se a discrepância, já que
obteve apenas 10%.

88
5.2. Nominalização de verbos e referenciação de entidades
Nesta seção, unimos as funções de nominalização de verbo e
referenciação de entidades, na medida em que ambas são funções precípuas da
nominalização e que grande parte das palavras desses grupos possui ambos os
significados, apesar de um poder sobressair ao outro. Observe o exemplo
abaixo:
(1) Ela está com uma atadura abaixo do joelho11.
Embora, no dicionário, encontremos a definição de atadura como sendo,
primeiramente, “o ato ou o efeito de atar”, o significado que está presente na
língua hoje é o mais nominal, o que diz respeito à “tira de linho para
bandagens”, como podemos notar no exemplo (1) acima. Por esse motivo,
resolvemos, então, unir a descrição dessas duas funções do afixo quando
comparado a outros.
No que diz respeito a essas duas funções aqui reunidas em apenas uma,
–ura concorre na língua com os afixos –mento, –ção e –agem, entre outros,
possuindo, no entanto, cada um deles uma acepção distinta. Observe os
exemplos, apresentados abaixo, retirados de sites da internet no método de
busca do Google:
11 http://www.portaluhtv.com/2012/02/giro-de-noticias-com-atadura-na-perna.html . Acessado em 06/Ago/2012

89
(2) Alimentação sem sabor e restrita é o oposto do emagrecimento
saudável12.
(3) Neblina causa novo fechamento do aeroporto de Porto Alegre13.
(4) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) referendou
por unanimidade nesta quarta-feira o afastamento cautelar dos
desembargadores14.
(5) A animação digital é a arte de criar imagens em movimento
utilizando computadores15.
(6) Oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma
conversa, um pedido, um agradecimento16.
(7) “Eu nunca fiz algo que valesse a pena por acidente, nem nenhuma
das minhas invenções aconteceram por acidente; elas vieram pelo trabalho."
17(Thomas Edison).
(8) Uma barragem, açude ou represa, é uma barreira artificial, feita em
cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água.18
(9) Um sistema de drenagem de águas pluviais é composto de uma
série de unidades e dispositivos hidráulicos para os quais existe uma
terminologia própria19.
12http://balbacch09.blogspot.com.br/2011/04/emagrecer-10-dicas-para-o-emagrecimento.html - Acessado em 06/Ago/2012 13http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2012/04/neblina-causa-novo-fechamento-do-aeroporto-de-porto-alegre.html - Acessado em 06/Ago/2012 14http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5727034-EI306,00-Corte+do+STJ+confirma+afastamento+de+desembargadores+do+RN.html – Acessado em 06/Ago/2012 15http://truped.com.br/animacao/animacao-digital-uma-revolucao-de-imagem-e-movimento/ - Acessado em 06/Ago/2012 16 https://sites.google.com/site/opoderdareza/ - Acessado em 06/Ago/2012 17 http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?frase=8107 – Acessado em 06/Ago/2012 18 http://pt.wikipedia.org/wiki/Barragem - Acessado em 06/Ago/2012

90
(10) Aprendizagem é o processo pelo qual as competências, habilidades,
conhecimentos, comportamento ou valores são adquiridos ou modificados20.
(11) Os ciganos têm a ferradura como um poderoso talismã, que atrai a
boa sorte, a fortuna.21
(12) Pessoas com queimaduras profundas podem correr sério risco de
vida22.
(13) Se você perdeu um ou mais dentes, o uso de dentaduras pode
ajudar você a ter um sorriso mais bonito e fazer com sinta-se melhor23.
Em todos os exemplos, temos ocorrências de vocábulos formados pelos
quatro afixos citados e contextualizados, o que auxilia no entendimento do
significado veiculado. No caso de emagrecimento (2), fechamento (3) e afastamento
(4), percebemos vocábulos que possuem caráter mais verbal, ou seja, que ainda
mantêm forte relação com o verbo que serviu de base. Assim, enquanto o
primeiro pode ser entendido como o “ato de emagrecer”, o segundo seria “o ato
de fechar” (no caso da sentença, os aeroportos) e o terceiro, “o ato de afastar”.
Dessa forma, vale notar que as palavras formadas a partir desse afixo possuem
um caráter mais dinâmico e mais ligado ao verbo, como bem observou Lemos
de Souza (2010).
Já no que diz respeito a –ção, o que podemos perceber é justamente o
contrário, já que temos, em animação (5), oração (6) e invenção (7), vocábulos de 19 http://www.dec.ufcg.edu.br/saneamento/Dren01.html - Acessado em 06/Ago/2012 20 http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem - Acessado em 06/Ago/2012 21 http://forgetthefear.blogspot.com.br/2010/07/ferradura.html - Acessado em 06/Ago/2012 22 http://saude.terra.com.br/interna/0,,OI123328-EI1513,00.html – Acessado em 06/Ago/2012 23 http://www.maozinha.com.br/search/?hl=pt-BR&q=dentaduras – Acessado em 06/Ago/2012

91
caráter mais nominal e, por isso mesmo, menos relacionados ao verbo-base.
Animação não é, necessariamente, parafraseado como “o ato de animar”, nem
oração como o ato de orar e muito menos invenção como “o ato de inventar”.
Todas são palavras que nomeiam coisas no mundo. Enquanto a primeira faz
referência a uma arte no mundo contemporâneo – significado veiculado na
sentença (6) –, a segunda diz respeito a uma forma de expressão do homem com
Deus, por exemplo. Dessa forma, esse afixo difere do anterior no modo de
processamento, sendo este estático, enquanto aquele é dinâmico (LEMOS DE
SOUZA, 2010).
Em contrapartida, o caso do sufixo –agem poderia ser considerado como
intermediário entre os dois afixos anteriormente detalhados, já que indica um
processo ou designa uma coisa no mundo, possuindo, assim, tanto caráter
verbal quanto nominal. Como exemplo, podemos observar as palavras grifadas
em (8) barragem, (9) drenagem e (10) aprendizagem. Segundo Langacker (1987), as
categorias nome e verbo fazem referência a dois diferentes modos de
processamento: o escaneamento estático e o escaneamento dinâmico,
respectivamente. Dessa forma, a nominalização pode apresentar esses dois tipos
de processamento, visto que aproxima as características das duas categorias. O
escaneamento estático seria aquele que faz referência a um evento cujos
aspectos são todos coexistentes e simultaneamente disponíveis, ou seja, o modo
de processamento é simultâneo. Já o escaneamento dinâmico é definido como
representando uma transformação, ou seja, uma mudança de um estado, de um
evento para outro. Assim, retomando os exemplos anteriores, podemos

92
perceber que, no primeiro caso, temos um vocábulo representante do
escaneamento estático, na medida em que nomeia algo, nomeia um evento. Já o
segundo caso pode ser entendido como sendo intermediário, visto que drenagem
pode ser processado tanto dinâmica quanto estaticamente, ou seja, pode ser
tanto um produto, quanto um processo; no último exemplo, temos um caso de
escaneamento dinâmico, já que representa um processo. Vale ressaltar que essas
considerações foram feitas a partir da análise de um pequeno corpus e levando
em consideração os dados encontrados.
Por fim, o afixo –ura é, dentre todos os abordados anteriormente, o que
possui caráter mais nominal, como podemos perceber nos vocábulos grifados
em (11), (12) e (13), que indicam coisas no mundo: ferradura, queimadura e
dentadura. Assim, podemos perceber que –ura, quando adjungido a bases
verbais, distancia-se mais do verbo do qual se originou e passa a nomear
somente coisas, entidades, perdendo, dessa forma, a ideia de “ato ou efeito de
X”, em que X é a base, como adiantamos no exemplo (1).
Portanto, em uma escala estabelecida para este trabalho e com base nessa
análise, –ura é o mais nominal de todos, o que pode ser explicado a partir da
necessidade que este sofreu de se especializar, já que estava em concorrência
com os demais sufixos nominalizadores, adquirindo, dessa forma, caráter mais
designativo e menos verbal. Isso posto, podemos perceber que os afixos
nominalizam em diferentes níveis de processamento, mantendo uns o valor
mais verbal característico desse processo, enquanto outros o perdem. Portanto,
em uma escala, como a formalizada em (14) a seguir, –mento seria o mais verbal,

93
seguido por –agem, que mantém as duas formas de processamento, -ção, que é
mais nominal em relação ao outros, e, por fim, viria –ura que, dentre todos, é o
que possui maior caráter designativo.
(14) 24mais verbal ------------>--------------->--------------->---------------> mais
nominal
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
-mento -agem -ção -ura
5.3. Abstratização de adjetivos
Outra função de –ura é abstratização de adjetivos, ou seja, a
transformação de adjetivos em substantivos abstratos. Nessa função, o afixo em
questão também concorre com outros, como podemos ver nos exemplos abaixo,
também retirados do site de busca eletrônica Google:
(15) Pessoas que não estão incomodando as outras com sua chatice aí
acabam ficando solitárias no final.25
(16) O primeiro engano atribui-se ou ao acaso, ou à imprudência;
repetido, atribui-se à burrice ou à ignorância.26
24
Essa escala só é verdadeira quando não levamos em consideração o –ção com caráter mais verbal (falação) como veremos mais adiante. 25 http://www.grandesmensagens.com.br/frases-de-chato.html. Acessado em 07 / Ago / 2012 26 http://blogdoivandro.blogspot.com.br/2009/06/frases-sobre-burrice.html - Acessado em 07/Ago/2012

94
(17) Minha loucura se chama felicidade, minha idiotice se chama
liberdade27.
(18) Magreza exagerada de modelos não agrada à maioria das pessoas28.
(19) A avareza é madrasta de si mesma29.
(20) Sua riqueza encontra-se onde estão seus amigos30.
(21) Qual a grossura de um fio de cabelo?31
(22) “Não me culpe por não sentir amargura... / Isso não faz de mim
menos intenso.”32
(23) “A bravura provém do sangue, a coragem provém do
pensamento”. (Napoleão Bonaparte)33
Conforme podemos observar, as palavras destacadas em (15), (16) e (17),
respectivamente chatice, burrice e idiotice, atribuem propriedades eventuais,
momentâneas, ou seja, o afixo –ice se une a bases adjetivais para formar nomes
que indicam uma propriedade passageira do elemento ao qual se refere. Dessa
forma, burrice ou idiotice, por exemplo, não são estados que perduram, e sim que
permanecem por algum tempo apenas. Observe o exemplo abaixo para
confirmar essa hipótese:
27 http://tudosmulher.blogspot.com.br/2012/06/minha-loucura-se-chama-felicidade-minha.html - Acessado em 07/Ago/2012 28 http://entretenimento.r7.com/moda-e-beleza/noticias/magreza-exagerada-de-modelos-nao-agrada-maioria-das-pessoas-20120418.html - Acessado em 07/Ago/2012 29 http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?frase=87817 – Acessado em 07/Ago/2012 30 http://www.webfrases.com/ver_frase.php?id_frase=9272654e – Acessado em 07/Ago/2012 31 http://cocatech.com.br/qual-a-grossura-de-um-fio-de-cabelo - Acessado em 07/Ago/2012 32 http://fafapereira.blogspot.com.br/2009/12/nao-me-culpe-por-nao-sentir-amargura.html - Acessado em 07/Ago/2012 33 http://pensador.uol.com.br/frase/MTIxNzU/ - Acessado em 07/08/2012

95
(24) A velhice sempre tem acompanhado a humanidade como uma
etapa inevitável de decadência, declinação e antecessora da morte34.
A palavra velhice, destacada na sentença acima, indica um estado
passageiro na vida de uma pessoa, cuja duração vai depender de cada um.
Portanto, dure a velhice 2 anos ou 20, ainda assim será um estágio
momentâneo, assim como a juventude.
O segundo afixo que também tem por função abstratizar um substantivo
é o demonstrado nos exemplos (18), (19) e (20), respectivamente magreza, avareza
e riqueza. Podemos notar que esse afixo se une a bases adjetivas com a função de
abstratizar uma qualidade do ser que pode ou não ser duradoura. Geralmente,
um indivíduo tem por característica própria ser avarento ou não e o mesmo
acontece com a magreza. No entanto, nada o impede de se alterar esse estado ao
longo do tempo. Em contrapartida, quando observamos casos como riqueza,
pobreza e beleza, podemos perceber mais claramente a possibilidade de mudança
de estado, pois um mesmo indivíduo pode passar da pobreza à riqueza em
questão de segundos ou nunca sair de uma dessas zonas. Vale ressaltar que
estamos apenas tratando dos vocábulos com seus significados prototípicos,
pois, na medida em que o significado começa a ficar mais abstrato, essa
designação pode deixar de ser tão momentânea, como no caso do exemplo
abaixo:
34 http://www.ufrgs.br/e-psico/subjetivacao/tempo/velhice-texto.html - Acessado em 07/Ago /2012

96
(25) Curti e descurti a beleza da obra de Deus na natureza.35
Como podemos perceber no exemplo acima, o significado de beleza
torna-se mais abstrato e deixa de designar uma propriedade momentânea para
designar uma propriedade inerente, já que é um bem reconhecido há séculos
pela sua beleza. No entanto, não serão esses os casos dos quais trataremos
nesta seção, visto que estamos lidando apenas com dados prototípicos desses
afixos.
Por outro lado, o afixo –ura não se une a bases adjetivais com a finalidade
de atribuir propriedades eventuais, considerando o sentido prototípico. Como
podemos notar nas palavras destacadas em (21), (22) e (23), respectivamente
grossura, amargura e bravura, o afixo tem por função designar propriedades
inerentes, quando anexado a bases adjetivas. Tanto amargura quanto bravura são
propriedades imutáveis, duradouras e não mais eventuais, no seu sentido
prototípico, podendo mudar de acordo com o espraiamento semântico. De
todas as formas listadas em (26), a seguir, apenas tontura não nomeia uma
propriedade inerente, mas também não pode ser vista como eventual devido ao
seu caráter mais estático.
(26) altura, amargura, doçura, ternura, estatura, grossura, finura, tontura.
35http://pt-br.facebook.com/pages/curti-e-discuti-a-beleza-da-obra-de-Deus-na-natureza/103821559706089?sk=info. Acessado em 07 / Ago / 2012

97
Assim, também nessa função podemos perceber uma escala – de acordo
com os significados prototípicos –, como a formalizada em (27), que teria como
diferenciador o caráter mais ou menos inerente ou eventual. No polo
[+ inerente / - eventual], teríamos –ura, seguido por –eza e, por fim, -ice, que
seria o afixo que tem por função designar estados mais eventuais.
(27) [+ inerente/- eventual] --------------->---------------> [- inerente/+ eventual]
|-----------------------------|-------------------------------|
-ura -eza -ice
5.4. Função Intensificadora
Na Língua Portuguesa, existem inúmeros afixos intensificadores que
selecionam as mais diversas categorias gramaticais como base e exercem
diferentes funções na língua. Portanto, não estamos fazendo a comparação
apenas com afixos nominalizadores, mas com afixos que exercem essa mesma
função na língua. Assim, no que tange à função intensificadora, podemos
começar por –ão e –inho, afixos antes tidos como flexionais, mas agora
reconhecidos como derivacionais (cf. SOARES DA SILVA, 2006 e
GONÇALVES, 2005). Observemos os exemplos abaixo retirados de sites de
busca da internet:

98
(28) Peça para um homem descrever um mulherão. Ele imediatamente
vai falar do tamanho dos seios, na medida da cintura, no volume dos lábios, nas
pernas, bumbum e cor dos olhos.36
(29) Caraca. Você mora lonjão.37
(30) Se a gente não tá aguentando esse calor e esse solzão que está
aparecendo praticamente todos os dias... Imagina nossos cabelos?38
(31) Quem aquela mulherzinha achava que era para beijar meu
marido?39
(32) Para quem curte um filminho antigo40.
(33) Amo um cafezinho, ainda bem acompanhado da família e dos
amigos é tudo de bom.41
Em todos os exemplos acima destacados, podemos perceber que a função
aumentativa ou diminutiva não está presente nos vocábulos. O que entra em voga
em vocábulos como (28) mulherão e (31) mulherzinha, por exemplo, não é o
tamanho da mulher, mas uma ou mais propriedades da mesma entidade
intensificada. Um mulherão não é, necessariamente, uma mulher muito grande e
uma mulherzinha não é uma mulher muito pequena. Da mesma forma, um
filminho (32) não é um filme de curta duração e, geralmente, não o é. Nesse caso,
36 http://pensador.uol.com.br/frase/NTIwMDk1/ - Acessado em 07/Ago/2012 37 http://mepergunte.com/gaall/20380214. Acessado em 07 / Ago / 2012 38 http://www.vidacorderosa.com/page/15/ - Acessado em 07/Ago/2012 39http://www.fanfiction.com.br/historia/197730/crepusculoO_Verdadeiro_Poder_de_Bella/capitulo/15. Acessado em 07 / Ago / 2012 40 http://miamibygs.com/2012/01/09/para-quem-curte-um-filminho-antigo/ - Acessado em 07/Ago/2012 41 http://cafezinhodascinco.blogspot.com.br/2012/01/cafezinho.html - Acessado em 07/Ago/2012

99
o falante fez uso desses afixos para intensificar avaliativamente as formas que
objetiva realçar. No caso de (30), solzão, por exemplo, não temos um sol grande
e sim um sol forte, bonito. Assim, podemos perceber que esses dois afixos
também têm a função intensificadora. No entanto, não podemos dizer que são
sufixos nominalizadores, pois os mesmos não alteram a classe da base e nem
têm por função nominalizar, já que lonjão (29), por exemplo, tem por base um
advérbio e por produto também um vocábulo dessa classe.
Outro afixo que também apresenta função intensificadora é –oso, que se
une a bases nominais, sejam elas adjetivas ou substantivas. Observe os
exemplos abaixo:
(34) É o Ravióli Rosé, um prato saboroso e rápido de preparar42.
(35) Sauber C31 é mais um narigudo feioso na Fórmula 143.
Em ambos os casos acima, podemos perceber que a função de
intensificação se mantém na medida em que tanto (34) saboroso quanto (35) feioso
podem ser entendidos como mantendo em excesso a propriedade expressa pela
base (sabor bom e muito feio, respectivamente). No entanto, esse afixo também
possui propriedades distintas dos anteriormente explicitados: além de nem
sempre alterar a classe gramatical da palavra-base, -oso tem como output sempre
um adjetivo, o que descaracterizaria a concorrência com –ura, já que criam
produtos categorialmente distintos, visto que –ura sempre forma substantivos.
42 http://wp.clicrbs.com.br/anonymus/2012/04/26/sexta-feira-saborosa-com-ravioli-rose-na-tvcom/?topo=52,2,18,,197,e196 – Acessado em 07/Ago/2012 43 http://www.correiodopovo.com.br/blogs/pitlane/?p=5468 – Acessado em 07/Ago/2012

100
O afixo –udo, por sua vez, também tem a função de intensificar a base,
mas o seu output, assim como de –oso, também é um adjetivo, além do fato de
esse afixo ser mais comumente acessado para intensificar qualidades referentes
a partes do corpo humano. Observe os exemplos abaixo:
(36) Lá vem o narigudo que não para de falar.44
(37) Ele é careca, baixinho e barrigudo.45
Como podemos perceber, esse afixo mantém a mesma função que os
demais anteriormente descritos, já que intensifica uma característica do ser ao
qual se refere. Dessa forma, narigudo (36) e barrigudo (37) podem ser entendidos
como fazendo referência a alguém que possui um nariz muito grande e uma
barriga muito avantajada, respectivamente.
Observe, agora, os exemplos abaixo:
(38) Tenho pra mim que essa falação toda, essa
intimidade/cumplicidade imediata, tem algo a ver com o fato de que é
normal passar o dia de biquíni e Havaianas ou roupa de ginástica.46
(39) No meu colégio até pode beijar e ficar com alguém, mas nada de
muita pegação, claro.47
44 http://letras.mus.br/rock-rocket/1291072/ - Acessado em 07/Ago/2012 45 http://apocalipsetotal.wordpress.com/2012/01/15/o-anticristo-pode-ser-careca-baixinho-e-barrigudo/ - Acessado em 07/Ago/2012 46 http://webdiario.com.br/?din=view_noticias&id=65061&search=v%F4lei. Acessado em 07 / Ago / 2012 47 http://capricho.abril.com.br/voce/pegacao-escola-onde-ir-678411.shtml - Acessado em 07/Ago/2012

101
(40) No entanto, por trás dessa "beijação" que soa como brincadeira de
folião, há o risco de se contrair doenças sem que você nem perceba.48
Como podemos observar nos exemplos (38) falação, (39) pegação e (40)
beijação, o afixo –ção anexa-se sempre a bases verbais com o propósito de
intensificar o significado da base; falação, por exemplo, pode ser parafraseada
como “falar em excesso, em demasia, e desnecessariamente” e beijação como
“beijar em excesso, muitas pessoas se beijando ao mesmo tempo”. Sendo assim,
podemos notar que o modo de escaneamento cognitivo é processual, mais
dinâmico, na medida em que a relação com o verbo-base é mais direta e mais
acessível, ou seja, ainda podemos reconhecer o caráter verbal no substantivo
derivado. Além disso, também cabe salientar que esse pode ser interpretado
como um afixo nominalizador, visto que tem por característica alterar a
categoria gramatical da base, formando nomes a partir de verbos, sendo,
portanto, o que mais se aproxima de –ura, como veremos a seguir.
Por fim, podemos analisar o sufixo –ura a partir da mesma função dos
anteriormente explicitados. Tomemos por base os exemplos abaixo listados:
(41) Creio que quase sempre é preciso um golpe de loucura para se
construir um destino.49
(42) O cúmulo da baixura é sentar em uma moeda e ainda balançar os
pés50.
48 http://www.itaporangaonline.com.br/2012/02/beijacao-no-carnaval-nesse-periodo.html - Acessado em 07/Ago/2012 49 http://pensador.uol.com.br/frase/ODUwNA/ - Acessado em 07/Ago/2012

102
Com base nas sentenças (41) e (42), podemos perceber que o afixo
-ura também possui a função intensificadora, na medida em que tanto loucura
quanto baixura podem ser parafraseados como “X em excesso” ou “muito X”.
Assim, o afixo passa a se adjungir a bases adjetivas, substantivas e até mesmo
adverbiais, como nos exemplo (43), (44) e (45) abaixo, com a função de formar
substantivos abstratos na língua.
(43) O desfile de 2012 estava uma belezura51.
(44) E quando de dia a lonjura dos montes/ Azuis atrai a minha
saudade52.
(45) Há sempre fartura de capital à disposição dos que podem traçar
planos práticos para serem levados a efeito.53
Enquanto em (44), temos um substantivo abstrato com base adverbial,
longe, em (43), a base beleza é um próprio substantivo abstrato que deriva de um
adjetivo e mantém, portanto, uma relação mais direta com essa categoria
gramatical. Assim, podemos ver que, independentemente da base a qual se
anexa, -ura possui a função intensificadora de propriedades claramente
marcada.
50 http://www.guiagratisbrasil.com/frases-de-cumulos/ - Acessado em 07/Ago/2012 51 http://www.blocosebenzequeda.com/2012/02/e-o-desfile-2012-foi-uma-belezura.html. – Acessado em 07 / Ago / 2012 52 http://pt.scribd.com/doc/88351149/Poemas-de-Johann-Wolfgang-Von-Goethe - Acessado em 07/Ago/2012 53 http://frases.globo.com/napoleon-hill/15179 - Acessado em 07/Ago/2012

103
Ao contrário das outras funções anteriormente explicitadas, a função
intensificadora não foi gerada a partir da existência de uma concorrência entre
afixos, como pudemos perceber na descrição acima. Isso se deve ao fato de –ura
ser o único – dentre todos os apresentados – que possui a função de formar
substantivos abstratos a partir de bases adjetivas, substantivas ou adverbiais.
Os demais afixos, além de não necessariamente alterarem a classe gramatical,
como ocorre nos casos de –inho e -ão, não têm como output um substantivo
abstrato. Dentre eles, o único que mantém relação mais direta com –ura é -ção;
não se pode dizer, porém, que haja uma real concorrência, já que os sufixos
selecionam bases distintas e diferem quanto ao modo de processamento
cognitivo, já que o primeiro é resumitivo, ou seja, mais estático, enquanto o
segundo é processual, ou seja, mais dinâmico.
Observe a tabela abaixo:
Sufixos Bases Produto
-ão /-inho Não possui uma base específica Mantém a categoria da base
-oso Substantivos / adjetivos Adjetivos
-udo Substantivos Adjetivos
-ção Verbos / adjetivos Substantivos abstratos
-ura Substantivos, adjetivos e
advérbios.
Substantivos abstratos
Tabela 3: Sufixos intensificadores em português
Ao analisarmos a tabela e compararmos com os exemplos explicitados
anteriormente, podemos fazer algumas considerações relevantes acerca do afixo

104
–ura e dos demais intensificadores da língua. Observando a coluna referente ao
produto, que é o que nos move, é possível perceber que, dentre todos os afixos
apresentados, somente dois deles são nominalizadores de fato, já que partem de
uma base de outra categoria para formar substantivos em português. Nos
demais casos, a intensificação não está diretamente ligada à nominalização, já
que os formativos possuem como produto um adjetivo (-oso) ou não alteram a
categoria gramatical (-inho; -ão). No entanto, -ção e –ura não possuem
exatamente a mesma função e, por isso, não podemos dizer que são
concorrentes na língua. Isso se deve ao fato de selecionarem bases distintas.
Dessa forma, os afixos não competem por uma mesma posição ou por uma
mesma função, visto que têm objetivos distintos. Enquanto –ção tem por
finalidade nominalizar verbos; -ura, por sua vez, adjunge-se a outras categorias
para nominalizar intensificando.
5.5. Resumindo
Pudemos verificar que–ura possui quatro diferentes funções na língua,
sendo elas a nominalização de verbos, a designação de coisas no mundo, a
abstratização de adjetivos e, por fim, a intensificação. Observe a tabela abaixo:
Função Base Produto Descrição
Nominalização
de verbos
Verbos Substantivos Escaneamento mais
dinâmico, mais voltado
para o produto. Compete
com –ção, -mento e –agem.

105
Referenciação Verbos Substantivos Escaneamento mais
estático, mais voltado
para o produto. Também
compete com –ção, -mento
e –agem.
Abstratização
de adjetivos
Adjetivos e
particípios
Substantivos
abstratos
Indica propriedades
inerentes ao ser humano.
Compete com –eza e –ice.
Intensificação Adjetivos,
advérbios e
substantivos
abstratos
Substantivos
abstratos
Utilizado para indicar o
excesso da propriedade
descrita pela base.
Compete com –inho, -ão, -
udo, -oso e –ção.
Tabela 4: Funções do afixo –ura em português.
Conforme podemos notar na Tabela 4 e de acordo com o exposto ao
longo do capítulo, -ura adquiriu novas funções na língua, na medida em que
compete sincronicamente com outros afixos mais produtivos que exercem a
mesma função. Assim, foi necessária uma especialização do mesmo para se
manter ativo na língua. Primeiramente, -ura perdeu lugar para os outros afixos
nominalizadores com a função precípua da nominalização, já que –ção e –mento
são altamente produtivos em português. Em seguida, mantendo a relação com a
função designativa dos particípios, o afixo em questão passou a se anexar a
bases adjetivas, abstratizando-as, para, em seguida, alcançar a função de maior
produtividade no atual estágio da língua: a intensificação. Nesse caso,
diferentemente dos demais afixos, -ura vem se adjungir a predicadores para
formar substantivos abstratos, conforme será mais detalhado no capítulo
seguinte.

106
Assim, podemos constatar que o afixo –ura se especializou na língua,
passando a exercer uma nova função – a de intensificador – na medida em que
esta é a única para o qual não há concorrente direto na língua, pois, apesar de,
nas outras funções, não haver casos de sinonímia, é somente na função
intensificadora que o mesmo se diferencia dos demais.

107
SISTEMAS LINGUÍSTICOS
Neste capítulo, tratamos dos sistemas linguísticos reconhecidos pela
Gramática Multissistêmica conforme explicitado no capítulo 4. Assim, o
objetivo do capítulo é relacionar os quatro sistemas – léxico, gramática, discurso
e semântica – ao processo de nominalização por meio de –ura e mostrar como
atuam na língua, conjuntamente. No entanto, não pretendemos nos aprofundar
nos quatro sistemas da mesma forma, selecionando apenas dois que são mais
relevantes para esta análise: léxico e semântica. Porém, essa seleção não nos
impedirá de tratar dos outros dois sistemas e mostrar, rapidamente, como eles
atuam; apenas não os tomaremos como base para a análise.
Com base na análise do corpus, foi possível reconhecer quatro diferentes
funções do afixo na língua como anteriormente explicitado: (1) nominalização
de verbos (soltura, varredura); (2) designação de entidades (ferradura,
queimadura); (3) abstratização de adjetivos (altura, largura); e (4) intensificação
(lonjura, gostosura). Assim, no presente capítulo, temos por objetivo descrever
cada uma dessas funções de acordo com os diferentes sistemas elaborados por
Castilho (2010) e, em seguida, descrever e analisar como esses sistemas atuam
simultaneamente na descrição do formativo em discussão. Sendo assim, o
capítulo é dividido em seções nas quais se distribuem os sistemas propostos
6

108
pelo autor em uma ordem estipulada apenas para fins didáticos: gramática,
léxico, semântica e discurso.
6.1. Gramática
O primeiro sistema a ser abordado nesta dissertação é o que diz respeito
ao sistema gramatical. Segundo Castilho (2010:138), a gramática é
“o sistema linguístico constituído por estruturas cristalizadas ou em processo de cristalização, dispostas em três subsistemas: (i) a fonologia, que trata do quadro de vogais e consoantes, sua distribuição na estrutura silábica, além da prosódia; (ii) a morfologia, que trata da estrutura da palavra; e (iii) a sintaxe, que trata das estruturas sintagmática e funcional da sentença”.
Podemos perceber, portanto, que a gramática, segundo essa teoria, é um
sistema formado por produtos e processos nos campos da fonologia, morfologia
e sintaxe, diferentemente dos formalistas que entendiam a gramática como
sendo uma entidade a priori, ou seja, um conjunto de regras lógicas e
mentalmente pressupostas e anteriores ao discurso. Essa concepção de
gramática está um pouco mais ligada à visão funcionalista que a compreende
como uma entidade organizada por um conjunto de regras observáveis nos
usos da língua, sendo, dessa forma, posterior ao discurso, emergente dele. No
entanto, apesar de ter por base essa concepção funcionalista, a Multissistêmica,
por não prever hierarquia entre os sistemas, vai além dessa definição ao afirmar
que o discurso atua conjuntamente à gramática nos processos referentes a esta.

109
Já no que diz respeito ao conceito de gramaticalização amplamente
estudado por inúmeros autores como Hopper (1991), Hopper & Traugott (1993),
Casseb-Galvão et alii (2007), dentre outros, Castilho (2010) toma posição
diferente apenas no que se refere à ideia de sequenciação. A definição geral
sobre esse conceito é a de um conjunto de processos por que passa determinada
palavra, sintagma ou sentença em que são adquiridas novas propriedades
gramaticais (semânticas, sintáticas, morfológicas, fonológicas), transformando-
as em estruturas cada vez mais gramaticais. Segundo o autor, a
gramaticalização seria um processo de constituição da gramática em que se
elegem representações linguísticas para as categorias cognitivas que se
alterariam ao longo do tempo. Nesse sentido, a gramaticalização teria por
função alterar as categorias cognitivas da língua dentro do sistema gramatical e
juntamente com os outros sistemas linguísticos.
Na Multissistêmica, a gramaticalização pode se dar a partir de três
processos distintos: a fonologização, a morfologização e a sintaticização. O
primeiro deles diz respeito à formação e alteração de estruturas fonológicas
como a redução das vogais no latim vulgar, por exemplo. O segundo faz
referência à formação de morfemas na língua, sejam eles flexionais ou
derivacionais. Como exemplo, podemos citar o caso do pronome você no
português brasileiro, que deixou de ser uma forma de tratamento para integrar
o quadro de pronomes do caso reto do português. Por fim, a sintaticização
ocorre quando a estrutura sintática se altera, como no caso do verbo assistir, por
exemplo, que, na fala (e em alguns textos escritos também), vem sofrendo esse

110
processo na medida em que os falantes não mais o utilizam como um verbo
transitivo indireto.
(1) Sucesso nas bilheterias mundiais, “Os Vingadores” foi assistido por mais de
38 mil em Caxias54.
No caso da nominalização por intermédio do sufixo –ura, podemos
perceber um caso de fonologização no que tange à interpretação como um
único afixo e não três distintos, como explicitado no capítulo 2 e aqui retomado
para fins didáticos.
Como defendido no capítulo 2, o sufixo –ura sofreu gramaticalização por
fonologização, na medida em que passam a operar filtros fonológicos em sua
formação. Apesar de haver diferentes visões a respeito de sua natureza,
validamos a interpretação de que se trata de apenas um afixo considerando as
consoantes /t/, /d/ e /s/ resquícios das formas participiais – característica essa
herdada do latim.
A morfologização, por sua vez, ocorre quando o sufixo em questão deixa
de selecionar uma base pertencente a uma categoria em especial e passa a se
anexar a qualquer base, desde que sua função mais recente – a intensificadora –
seja ativada.
54 http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-tendencias/almanaque/noticia/2012/06/sucesso-nas-bilheterias-mundiais-os-vingadores-foi-assistido-por-mais-de-38-mil-em-caxias-3779830.html

111
Já o caso da sintaticização pode ser expresso a partir de duas ideias
principais: a do Princípio da Analogia (BASILIO, 1997) e a de função sintática
propriamente dita (BASILIO, 2007).
No que diz respeito ao Princípio da Analogia (PA), a autora afirma
parecer estar esse
“na base das formações de reestruturação morfológica que tanto podem criar novos elementos morfológicos quanto produzir palavras de efeito retórico ou poético, rompendo momentaneamente as barreiras da linearidade que aprisionam a expressão nas estruturas linguísticas de cunho sintagmático. Neste sentido, o PA serviria não apenas para dar conta da produtividade lexical, mas também da criatividade” (BASILIO, 1997:11)
Para comprovar sua hipótese, a autora cita inúmeros exemplos, como o
caso de emxadachim, criado por Guimarães Rosa, em que se tem uma analogia
clara à formação espadachim. O usuário da língua faz uma releitura de uma
estrutura já existente e adapta o novo conteúdo a ela, da mesma forma que
crianças no processo de aprendizagem da língua falam “eu fazi” no lugar de “eu
fiz” em analogia aos verbos regulares da língua. No entanto, o PA não atua
somente na morfologia, mas também na semântica, fonologia e sintaxe, por
exemplo, pois, como disse Coutinho (1976), a analogia é o princípio pelo qual a
linguagem tende a se tornar mais uniforme e a reduzir as formas mais
irregulares e menos frequentes.
No caso de –ura, observemos a expressão “Que faltura!” retirada de uma
manchete do Jornal O Globo. A reportagem falava sobre o péssimo serviço
prestado no dia em que o cronista foi a um restaurante e que, portanto, faltava

112
tudo: desde bom atendimento a boa comida. A partir dessa breve explicação,
podemos notar que o cronista criou essa expressão para dar título a sua matéria
a partir da analogia com a expressão “Que fartura!”, que faz referência
exatamente ao oposto do que ele quis dizer. Essa expressão está incluída numa
construção já cristalizada na língua, “Que X!”, em que a posição de X pode ser
ocupada por qualquer substantivo ou adjetivo com o intuito de indicar o
“excesso de X”. Portanto, podemos formar “Que belezura!”, “Que loucura!”,
“Que chatice!”, “Que lindo!”, dentre inúmeros outros exemplos.
Outro caso de sintaticização presente na formação por meio do sufixo
-ura é o que diz respeito à possibilidade de exercer inúmeras funções sintáticas
dentro da sentença. Retomando as funções da nominalização expressas
anteriormente, podemos lembrar que uma delas possibilita focalizar o agente
ou o objeto da ação expressa pelo verbo, isto é, sintetiza toda a ação verbal em
apenas um vocábulo, compactando toda a informação no nome. Observe:
(2) Cuiabá: bando que assaltou residência e roubou carro é capturado. A
vítima reconheceu os dois primeiros (suspeitos) como os autores do
roubo.55
No exemplo acima, podemos notar que o substantivo roubo sintetiza toda
a informação presente em “roubou carro”. Nesse sentido, a função anafórica do
nome consiste na retomada das ideias precedentes de forma a evitar repetições
55 http://www.sonoticias.com.br/noticias/9/155848/cuiaba-bando-que-assaltou-residencia-e-roubou-carro-e-capturado. Acessado em 01/Ago/2012.

113
e dar continuidade ao texto. Além disso, a nominalização permite que
possamos utilizar como núcleo do sujeito ou dos objetos, palavras de outras
categorias pertencentes a outras funções sintáticas na língua. Como exemplo,
podemos citar os adjetivos que exercem as funções sintáticas de adjuntos
adnominais e predicativos. Quando transformamos um adjetivo em
substantivo, também estamos permitindo que este passe a exercer outras
funções, sendo, portanto, o núcleo de um sujeito ou objeto. Observe os
exemplos abaixo:
(3) Optar por ser amarga é uma escolha de cada mulher. A amargura
apenas destrói a paz interna56.
(4) Gosto da brancura das tuas mãos, da sutileza das linhas do teu
rosto, da suavidade da tua voz57.
Podemos perceber que os adjetivos amargo e branco quando
nominalizados nos exemplos acima, passam a exercer ambos a função de núcleo
do sujeito e núcleo do objeto indireto, colocando em destaque as propriedades
definidas por esses adjetivos. Essa possibilidade só se concretiza devido à
nominalização, pois os substantivos podem ocupar esses lugares na sentença e
os adjetivos, não. Portanto, podemos perceber que a sintaticização também
ocorre na nominalização por meio do sufixo –ura, ampliando o alcance das
bases na sentença. Podemos confirmar essa análise retomando Basilio (2007)
56 http://missionariosonline.blogsome.com/2007/10/08/amargura/. Acessado em 01/Ago/2012. 57 http://omundodedentro.blogspot.com.br/. Acessado em 01/Ago/2012.

114
que afirma que a nominalização apresenta uma função sintática que diz
respeito à possibilidade de um termo nominalizado poder ocupar inúmeros
lugares na sentença, ampliando o campo de atuação da palavra-base.
6.1.1. Resumindo
Na presente seção, buscou-se definir o que se entende por gramática nos
moldes da abordagem multissistêmica. Além disso, também foi importante
salientar e discutir brevemente os conceitos ligados a esse sistema e o modo de
conceptualização do mesmo. Portanto, com base nessa breve análise do afixo
-ura sob a ótica do sistema gramatical, pudemos demonstrar a importância que
o mesmo tem no estudo da língua e como ocorrem os processos de
fonologização e sintaticização, por exemplo. Assim, foi possível constatar de
que maneira os dispositivos sociocognitivos atuam nesse sistema e como ativa,
desativa ou reativa as propriedades deste.
6.2. Léxico
Segundo o autor, o léxico seria o inventário pré-verbal de categorias e
subcategorias cognitivas e de traços semânticos inerentes; e o vocabulário, um
inventário pós-verbal, ou seja, o conjunto de produtos concretos, também
chamado de palavras. Portanto, para o linguista, a lexicalização poderia ser
definida como a criação de novas palavras na língua a partir de um padrão pré-
estabelecido e coordenado pelo dispositivo sociocognitivo. Assim, a palavra

115
“pode ser caracterizada (1) fonologicamente por dispor de esquema acentual e rítmico; (2) morfologicamente por ser organizada por uma margem esquerda (preenchida por morfemas prefixais), por um núcleo (preenchido pelo radical) e por uma margem direita (preenchida por morfemas sufixais); (3) sintaticamente por organizar ou não um sintagma; (4) semanticamente por veicular uma ideia (enquanto a sentença veicula uma proposição); (5) graficamente por vir separada por meio de espaços em branco”. (CASTILHO, 2010:111).
Como podemos perceber a partir da leitura do trecho destacado acima, o
autor aborda a formação de palavras voltada para o radical, já que, para ele, o
núcleo de um derivado é o radical, sempre considerado a cabeça lexical da
palavra morfologicamente complexa. Assim, como Castilho (2010) não se
aprofunda na descrição de fenômenos de base morfológica, partimos, então,
para uma análise baseada nos esquemas e subesquemas propostos por Booij
(2010), entendendo que esse modelo, chamado de Morfologia Construcional,
pode complementar e enriquecer a abordagem empreendida pela
Multissistêmica.
Segundo Booij (2010), as palavras se estruturam em construções que
englobam tanto a derivação quanto a composição e são formuladas a partir de
esquemas responsáveis pela instanciação de unidades do léxico. Além disso, o
autor faz a seguinte afirmação sobre essa abordagem da língua a partir de
esquemas:
"O uso de esquemas para expressar generalizações sobre padrões de formação de palavras tem outras vantagens também. A ideia de que afixos categoricamente determinados são as cabeças de palavras complexas, assim como os constituintes à direita de compostos, levanta problemas conceituais e empíricos. (...) Em primeiro lugar,

116
obriga-nos a atribuir um rótulo de categoria lexical para delimitar morfemas sem que esta propriedade esteja acessível em outras construções de palavras complexas. Além disso, ao contrário dos constituintes à direita de compostos, sufixos categoricamente determinados nem sempre funcionam como as cabeças semânticas das palavras que eles criam, e, portanto, é uma consequência feliz da abordagem esboçada até o momento que podemos realizar sem a regra de cabeça lexical à direita e sem perder a generalização relevante. (...) [Essa descrição de formação de palavras por subesquemas é vantajosa], a fim de fazer generalização sobre subconjuntos de palavras dentro de uma determinada categoria morfológica "58. (BOOIJ, 2010: 54-55)
Então, podemos notar que a análise através de esquemas pode nos ser
muito útil e relevante. Além disso, o fato de estarmos estudando um caso de
derivação em que o afixo possui diferentes acepções aponta para a extensão de
sentido permitida por esses esquemas, já que o sufixo não veicula significado
sozinho, na medida em que a base é altamente relevante para o significado
final. Sendo assim, segunda essa abordagem, não teríamos um núcleo em
específico, pois o significado é alcançado a partir da junção entre base e afixo.
No entanto, vale salientar que não estamos tratando aqui da nominalização por
meio do Princípio da Composicionalidade59, mas entendendo que o que temos é
58 “The use of schemas for expressing generalizations about word formation patterns has other advantages as well. The idea that category-determining affixes are heads of complex words, just like the right constituents of compounds raises conceptual and empirical problems. (…) First of all, it forces us to assign a lexical category label to bound morphemes without this property being accessible in other constructions than complex words. Furthermore, unlike the right constituents of compounds, category-determining suffixes do not always function as the semantic heads of the word they create, and hence, it is a happy consequence of the approach outlined so far that we can do without the RHR without missing the relevant generalization. (…) ´This description of word formation by subschemas is advantageous] in order to make generalization about subsets of words within a particular morphological category”. (BOOIJ, 2010: 54-55) 59 O princípio da Composicionalidade prevê que o significado da palavra é adquirido a partir da soma das partes (base + afixos ou base + base). Segundo esse princípio, a palavra menininho, por exemplo, seria interpretada a partir da junção da palavra menino com o sufixo diminutivo –inho, chegando ao resultado final “menino pequeno”. No entanto, esse princípio é muito geral e não resulta em especificações mais detalhadas, o que não é interessante para o nosso estudo, na

117
uma construção morfológica e que o significado final é atingido no momento
em que a base é inserida na construção, como demonstramos mais adiante.
Portanto, nesta seção, abordamos o léxico a partir de esquemas,
justificando os seus usos e exemplificando-os, na medida em que atuam na
língua. Vale ressaltar que, por se tratar de uma análise do léxico e do
vocabulário da língua, descreveremos como se dá a ativação, desativação e
reativação no léxico.
6.2.1. Nominalização de verbos
A primeira função exercida por –ura é de nominalização propriamente
dita, pois esse sufixo forma um substantivo abstrato a partir de uma base verbal
(participial). O formativo em questão, quando anexado a bases participiais que
mantenham uma ligação maior com o verbo de que constituem flexões, terá
como output substantivos cuja paráfrase é “ato ou efeito do que é descrito pela
base”. Foram destacados 10 vocábulos no corpus que exercem essa função na
língua: benzedura, censura, embocadura, envoltura, investidura, ligadura, rapadura,
semeadura, soltura e varredura. Como exemplo dessa paráfrase, podemos citar
benzedura e soltura que são, respectivamente, o “ato ou o efeito de benzer” e o
“ato ou efeito de soltar”.
medida em que não considera, por exemplo, o significado de menininho como marca de afetividade ou pejoratividade – a depender do contexto (BOOIJ, 2005)

118
Com base na análise da produtividade60, podemos afirmar que esse afixo
se torna menos produtivo quando tem essa função, visto que os oito vocábulos
encontrados foram formados nos séculos XIII, XIV e XV, séculos em que
apareceram os primeiros textos em português. Portanto, o fato de não haver
ocorrência de vocábulos com essa função nos séculos seguintes faz com que não
o consideremos tão produtivo na formação de novas palavras em português.
Sendo assim, segundo Booij (2010), a representação morfológica dessa
função seria a seguinte; em que x representa a base, V e N representam as
categorias lexicais da base e do produto, respectivamente e as variáveis i e j são
os índices lexicais das propriedades fonológicas, sintáticas e semânticas das
palavras:
(5) [[x]Vj ura]Ni [ato ou efeito em relação a Xj]i
6.2.2. Referenciação
O sufixo -ura, quando exerce a função de designar entidades, coisas no
mundo, pode ser parafraseado como “o resultado de X” como em assinatura,
queimadura e rachadura que são, respectivamente, o resultado de assinar, queimar
60 Entendemos por produtividade a possibilidade de ocorrerem determinadas estruturas e as suas devidas concretizações. Assim, consideramos um afixo produtivo quando este está acessível para fins lexicais e o falante forma novo vocabulário a partir dele. No entanto, vale ressaltar que consideramos a produtividade dentro de um continuum do mais produtivo para o menos e não a improdutividade total. Essa visão pode ser explicada a partir da ideia de que um afixo, por exemplo, pode estar apagado em determinado momento da língua, mas ressurgir a partir do uso. Portanto, a nossa noção de produtividade diz respeito à disponibilidade do afixo no léxico do falante e aos diversos níveis que pode haver de produtividade. Usando os termos de Castilho (2010), pode haver uma desativação das propriedades e uma subsequente reativação.

119
e rachar. Nessa função, o afixo se une a bases participiais para formar
substantivos tanto concretos quanto abstratos como é o caso dos exemplos
abaixo:
Substantivos concretos Substantivos abstratos
Abotoadura Assinatura
Ferradura Fritura
Dentadura Feitura
Rachadura Fervura
Fechadura Travessura
Tabela 5: Alguns exemplos de palavras desse grupo
Apesar do grande número de vocábulos (45 palavras), o afixo -ura é
pouco produtivo na língua com essa acepção, pois a maioria dos dados é
registrada como tendo entrado nos primeiros séculos de língua escrita e, os
mais recentes, datam do século XVIII, o que não pode ser chamado de
contemporâneo.
Sendo assim, a caracterização morfológica desse afixo com essa função
seria a seguinte, ainda com base na proposta de formalização encontrada em
Booij (2010):
(6) [[x]Vj ura]Ni [resultado de Xj]i
Podemos perceber que a caracterização morfológica do léxico com essa
função é a mesma da anterior, pois a diferença entre as duas está no sistema

120
semântico e não na característica morfológica. Isso pode ser explicado por meio
da ideia de que esses sistemas atuam simultaneamente não interferindo,
portanto, um no outro hierarquicamente, mas sim simultaneamente, somada à
metonímia atuante nesse processo.
6.2.3. Abstratização de adjetivos
O sufixo –ura, quando exerce a função de abstratização de adjetivos,
pode ser parafraseado como “propriedade do que está especificado na base”.
As formações que desempenham essa função têm por característica o fato de
terem por input adjetivos e outputs substantivos abstratos como nos exemplos
abaixo:
Altura Amargura
Brancura Doçura
Formosura Grossura
Bravura Finura
Gordura Grossura
Formosura Largura
Tabela 6: Alguns vocábulos desse grupo.
Nessa função, o afixo –ura é muito produtivo, o que pode ser atestado
pela presença de vocábulos formados nos fins do século XIX e devido ao alto
índice de dados. Sendo assim, a caracterização morfológica desse afixo com essa
função seria a seguinte:

121
(7) [[x]Aj ura]Ni [propriedade da SEMj]i61
6.2.4. Intensificação
A última função abarca os vocábulos que têm por acepção o excesso do
que é especificado pela base e têm por input diferentes categorias gramaticais, o
que é um indício para a sua alta produtividade. Quando o afixo –ura cumpre
essa função, passa a se ligar a diversas bases com a função de intensificar a
propriedade da mesma. No entanto, apesar desse input ser variável, o output
continua sendo um substantivo abstrato. Como exemplo dessa intensificação,
temos:
Apertura Baixura
Belezura Chatura
Frescura Fundura
Gastura Juntura
Lonjura Quentura
Tabela 7: Algumas palavras desse grupo.
Em todos os casos, o caráter intensificador é expresso pelo afixo como em
quentura, que pode ser parafraseado como “quente em excesso”, feiura, que
significa “feio em excesso” e chatura, que tem por paráfrase “chato em excesso”.
Essa função nominalizadora de -ura mostra-se muito produtiva por apresentar
palavras formadas no século XX, como feiura e gostosura e por apresentar inputs
diferentes, como é o caso de lonjura e de belezura, que derivam, respectivamente,
61 SEM representa a semântica da palavra base. (BOOIJ, 2010:17)

122
do advérbio longe e do substantivo abstrato beleza. Esse último fato demonstra a
produtividade do afixo para formar nomes com essa função, pois o faz anexado
a outras bases que não as prototípicas. Além disso, é interessante observar que,
para essa função, poderiam ser utilizadas inúmeras estratégias discursivas
como a utilização de um superlativo (sintético ou analítico), por exemplo. No
entanto, o uso do afixo como intensificação proporciona o alçamento dessa
noção intensificadora para a posição de tópico, o que não acontece nos outros
casos, em que o foco está no termo ao qual se relaciona e não a essa
propriedade. Observe abaixo:
(8) Este filme é chatíssimo.
(9) Este filme é muito chato.
(10) Este filme é uma chatura!
Nos três exemplos acima, podemos perceber que existe uma diferença na
intensão do falante em fazer uso de uma ou de outra forma e também é possível
notar que a nominalização – presente no exemplo em (10) – tem caráter muito
mais expressivo e enfático que as demais, apesar de as três indicarem que o
filme é chato em excesso.
Sendo assim, a caracterização morfológica desse afixo com essa função
seria a seguinte:
(11) [[x]Xj ura]Ni [excesso da SEMj]i

123
Vale ressaltar que a variável X é aplicada a várias categorias lexicais (no
caso verbos, adjetivos, substantivos abstratos e advérbios). Portanto, essa é,
dentre todas as funções previamente analisadas, a mais abrangente, como
verificamos nos demais sistemas a serem analisados a seguir.
6.2.5. Lexicalização, deslexicalização e relexicalização
A lexicalização, como previamente explicitado, pode ser definida como
sendo o processo pelo qual se criam novas palavras coordenadas pelo
dispositivo sociocognitivo. Compreende três estágios: ativação, reativação e
desativação.
A ativação, ou lexicalização propriamente dita, diz respeito à escolha de
“categorias cognitivas e seus traços semânticos, representando-os nas palavras”
(CASTILHO, 2010: 113). Essa lexicalização percorre alguns caminhos na língua,
ou seja, o léxico pode ser ativado de diferentes maneiras.
A primeira delas é a lexicalização por etimologia, processo pelo qual a
lexicalização ocorre ainda na língua-fonte, ou seja, ocorre quando um item da
língua-fonte é integrado na língua-alvo. Como exemplo, podemos citar duas
palavras do corpus em análise: abertura e escritura. Esses seriam casos de
lexicalização na medida em que foram integradas à língua portuguesa
diretamente do latim (apertura e scriptura, respectivamente).

124
O segundo tipo de lexicalização é o por neologia, definida pelo autor
como uma palavra nova que não foi herdada da língua-fonte, porém é
organizada de acordo com as regras morfológicas pré-estabelecidas na língua-
alvo. Nesse caso, teríamos palavras novas seguindo padrões da língua na qual
foi formada. No que tange ao formativo –ura¸ podemos citar a palavra faltura,
retirada de uma notícia do jornal O Globo. Esse seria um exemplo de
lexicalização por neologia, na medida em que não é uma palavra criada por
analogia ao termo fartura. Essa afirmação pode ser feita a partir do contexto no
qual foi criada a palavra, já que a mesma foi inserida no título de uma matéria
que falava sobre a falta de bom atendimento, de comida e de bebida em um
restaurante, como já descrevemos, mantendo o padrão [XVk –ura]Ni.
O terceiro tipo de lexicalização é o por empréstimo. Nessa lexicalização,
o que ocorre é que são importadas palavras, sufixos e prefixos de outras línguas
com as quais a língua-fonte teve contato direto ou indireto. Assim, a
lexicalização por empréstimo ocorre quando pegamos palavras já prontas de
outras línguas e incorporamos a nossa. Como exemplo, podemos citar
candidatura, brochura e desenvoltura. As duas primeiras palavras destacadas têm
por origem as formas francesas candidature e brochure, enquanto a terceira tem a
origem italiana desenvolture. Esses são exemplos de lexicalização por
empréstimo, pois as palavras foram formadas no francês e no italiano,
respectivamente, e já vieram prontas para a língua portuguesa, ou seja, foram
incorporadas ao vocabulário da língua e não criadas na língua-alvo.

125
A reativação do léxico é também chamada de relexicalização e consiste
no movimento mental de rearranjo das categorias semânticas e seus traços
cognitivos, ou seja, é uma renovação do vocabulário feita através da derivação e
da composição, principais mecanismos de formação de palavras. Nesse caso,
temos o processo de nominalização de fato como exemplo, pois o fato de se
formarem nomes a partir de verbos, adjetivos, substantivos ou advérbios com o
acréscimo do afixo –ura já aponta para essa renovação de vocabulário. Como
exemplo disso, podemos citar palavras como abertura, fritura, lonjura, amargura e
belezura. Em todas essas palavras, temos um rearranjo das categorias, na medida
em que se altera o significado das bases.
Por fim, a desativação lexical, também conhecida como deslexicalização
diz respeito à morte das palavras, ou seja, faz referência aos arcaísmos, palavras
que não são mais reconhecidas nem ativadas pelos falantes da língua. Como
exemplo, podemos citar as palavras podrura e zebrura, visto que o falante não
mais reconhece a sua existência (comprovado a partir de testes referenciados no
capítulo 5, seção 5.1), não consegue depreender o seu significado e muito menos
sabe como utilizá-las.
6.2.6. Resumindo
Nessa seção, mostramos como se entende o sistema lexical a partir da
Abordagem Multissistêmica e qual a importância que o mesmo tem para a
análise da nominalização. Apesar de fazermos uso da Teoria Multissistêmica,
nesta seção, apresentamos outra abordagem dada ao léxico e à sua constituição

126
e explicitamos o porquê de recorrermos a outro modelo de análise para tratar
sobre esse assunto. Além disso, também demonstramos como os DSCs atuam
no léxico e como ativam, desativam e reativam as propriedades desse sistema.
6.3. Semântica
Segundo Castilho (2010), a semântica é o sistema através do qual criamos
os significados expressos por palavras, sintagmas ou sentenças na língua,
operando por meio de algumas estratégias como:
“(i) organizando o campo visual através do estabelecimento de participantes e eventos; (ii) emoldurando participantes e eventos via criação de frames, scripts e cenários; (iii) hierarquizando os participantes e eventos via fixação de perspectivas, escopos, figura/fundo; (iv) incluindo, excluindo, focalizando participantes e eventos; (v) agregando participantes e eventos novos por inferência, pressuposição, comparação; (vi) movimentando os participantes e os eventos, real ou ficticiamente; (vii) alterando nossa perspectiva sobre os participantes e os eventos, via metáfora, metonímia, especialização, generalização”. (CASTILHO, 2010:122)
Além disso, o autor aborda a semanticização e define esse processo como
a criação de sentidos administrada pelo dispositivo sociocognitivo. O autor
ainda discorre sobre as diferentes categorias semânticas que organizariam esse
campo de estudo: (a) dêixis e foricidade; (b) referenciação, no sentido de
“denominação”; (c) predicação; (d) verificação; (e) conectividade; (f) inferência e
pressuposição; e (g) metáfora e metonímia. No entanto, vale salientar que não
nos aprofundaremos em todas essas categorias, na medida em que não se faz
necessário, no presente estudo, tratar de todas minuciosamente. Nesse sentido,

127
abordaremos apenas a dêixis e foricidade, a referenciação, a predicação e a
metáfora e metonímia. Além disso, também é importante ressaltar que apenas
essas duas últimas categorias serão aprofundadas por serem as que mais
interferem no processo de nominalização em análise, sem reduzir, no entanto, a
importância das demais categorias.
Conforme Castilho (2010:126), a foricidade é entendida como “remissão”
e representa “um segundo conhecimento da coisa, sendo que o primeiro
conhecimento é dado pelos processos de referência ou designação, e dêixis ou
localização”. As nominalizações X-ura podem ser utilizadas num processo
anafórico, como se observa na seguinte situação:
(12) “Imagem mostra o maior prédio do mundo! ... A altura final ainda
não foi divulgada mas tudo indica que poderá ter 900 m”62.
Nesse exemplo, temos o vocábulo altura retomando toda a ideia presente
no primeiro período, demonstrando que a nominalização também pode ser um
recurso anafórico.
No que concerne à referenciação, observa-se que a escolha por um
formativo de nominalização que possa concorrer com outros, sobretudo os
intensificadores, -ura promove a alteração da intensão da base, acentuando suas
propriedades definitórias básicas e aumentando a extensão das entidades
abarcadas pelo conceito (cf. CASTILHO, 2010:127). Estamos aqui entendendo os
62 http://www.e-farsas.com/burjdubai-o-maior-predio-do-mundo.html. Acessado em 01/Ago/2012.

128
conceitos de intensão e extensão assim como propostos por Castilho, ou seja, “a
intensão é o conjunto de propriedades lexicais das palavras, o conjunto de seus
traços semânticos inerentes (...) A extensão é o conjunto de indivíduos
denotados através das propriedades lexicais das palavras”. No entanto, ainda
ampliamos esses conceitos na medida em que passamos a compreender a
questão da referência a partir dos pressupostos do cognitivismo e entendemos a
extensão, por exemplo, como a alteração dessas propriedades inerentes
presentes e características da intensão. Portanto, nos casos de polissemia, por
exemplo, reduz-se a intensão inicial para ampliar a extensão e abarcar novos
sentidos às palavras ou expressões (SOARES DA SILVA, 2006). Observe abaixo:
(13) Uma fofura este embrulho da laranja que serve de sobremesa63
Na sentença destacada acima, temos reduzida a intensão referente à
maciez – propriedade inerente da palavra base fofo e aumentada a extensão, à
medida que a palavra em destaque passa a atribuir uma nova propriedade mais
relacionada à delicadeza, beleza e não mais à maciez.
No que diz respeito à predicação, como todo substantivo abstrato, um
nome terminado em -ura pode funcionar como operador alterando as
propriedades de um termo sob seu escopo (CASTILHO, 2010:127-128), pois, nos
termos de ROCHA LIMA (2008), os substantivos abstratos são aqueles que
dependem de alguém ou alguma coisa para se concretizarem. Dessa forma, é
63 http://www.fofuramaxima.blogspot.com . Acessado em 01/Ago/2012.

129
esperado que esses substantivos selecionem complementos nominais e,
portanto, sejam capazes de predicar.
Outro conceito importante e que vale ser relembrado por já ter sido
amplamente discutido no capítulo 4 é o de metáfora. Castilho (2010) usa como
aporte teórico a abordagem pioneira de Lakoff & Johnson (2002) e conceptualiza
a metáfora como sendo:
“(i) um fenômeno conceitual, não necessariamente ligado a expressões linguísticas; (ii) um mecanismo cognitivo básico e muito difundido que a Semântica não deve ignorar; (iii) o entendimento de um domínio de experiência em termos de outro; (iv) a projeção de um conjunto de correspondências entre um domínio-fonte e um domínio alvo”. (CASTILHO, 2010: 131-132)
Esta seção busca tratar dos diferentes significados de cada uma das
funções da nominalização a partir de –ura, como esses significados são
formados e o que isso reflete na língua. Assim, a ideia central de que a
nominalização é um processo pelo qual os verbos tornam-se nomes indicando a
ação ou o estado da ação não é plenamente aplicável ao sufixo -ura conforme
demonstrado no capítulo anterior. Também buscamos descrever como as
metáforas atuam nesse processo, levando em consideração que o conceito de
metáfora utilizado neste trabalho será o de Lakoff & Johnson (2002). Portanto,
nesta seção, o objetivo é descrever como a semântica atua nessas funções já
previamente explicitadas e estender mais a análise feita no capítulo precedente.

130
6.3.1. Nominalização de verbos
Essa primeira função do afixo faz referência à função inicial de um afixo
nominalizador que é a de indicar o ato ou o efeito do que é expresso pela base.
Apesar de -ura não ser altamente produtivo nessa função, a mesma não deve ser
excluída da análise por também estar presente na formação do léxico e possui
palavras muito recorrentes na língua. Observe os termos destacados nas frases a
seguir retiradas do site de busca Google:
(14) Justiça do DF faz varredura nas contas de Cachoeira e da Delta.64
(15) CPI apressa abertura de informações a Cachoeira para não atrasar
trabalho65.
(16) Tamar faz soltura de tartarugas66.
(17) Muitos sabem que foi a fervura da água que se usou para definir os
100º C.67
Podemos perceber que as palavras destacadas em (14), (15), (16) e (17),
respectivamente varredura, abertura, soltura e fervura, ainda mantém uma relação
direta com a base e podem ser parafraseadas como “ato ou efeito de X”, como,
por exemplo, soltura que equivale ao “ato de soltar” (as tartarugas, no caso da
64 http://www.dirigida.com.br/news/pt_br/justica_do_df_faz_varredura_nas_contas_de_cachoeira_e_da_delta_pernambuco_com/redirect_8555605.html - Acessado em 07/Ago/2012 65 http://www.camarasidrolandia.ms.gov.br/novo/exibe.php?id=63610&cod_editorial=&url=&pag=&busca= - Acessado em 07/Ago/2012 66 http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2012/03/10/ - Acessado em 07/Ago/2012 67 http://ktreta.blogspot.com.br/2010/01/fervura.html. Acessado em 07 / Ago / 2012

131
sentença). Cabe fazer essa descrição, por mais que essa não seja a acepção mais
veiculada pelo afixo; isso mostra que, mesmo que –ura exerça outras funções na
língua, a inicial, prototípica ainda está presente no léxico.
Um exemplo de dessemantização e consequente ressemantização nessa
função é a sentença abaixo, também retirada do Google:
(18) Estrelas e lendas do cinema vão à abertura do 65º Festival de
Cannes.68
Como é possível notar, o vocábulo abertura destacado em (18) e em
comparação ao selecionado em (15), sofreu uma mudança de significação
devido à atuação da metáfora (LAKOFF & JOHNSON, 2002). Essa metáfora
pode ser explicada a partir da ideia de que compreendemos a língua como um
conjunto de sistemas não modulares creditando o caráter relacional da
linguagem ao modo como agimos e nos relacionamos com o meio. Nesse caso,
ainda temos uma relação com o significado prototípico, pois o vocábulo
abertura, embora tenha caráter mais nominal nessa sentença, ainda mantém
qualquer relação com a definição “efeito de abrir”.
Esse seria um exemplo de desativação e reativação da semântica, visto
que existe um significado prévio que é desativado e reformulado a partir de
metáforas, ou seja, há um silenciamento do sentido anterior e simultânea
68 http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2012/05/estrelas-e-lendas-do-cinema-vao-abertura-do-65-festival-de-cannes.html. Acessado em 07 / Ago / 2012

132
ativação de um novo sentido, ou novos sentidos, já que podemos ativar
inúmeros outros, como nos exemplos abaixo:
(19) A equipe da R. A. Engenheira fez uma abertura na parede69.
(20) A abertura de “A Favorita” (uma telenovela) vai contar toda a
história da novela70.
Enquanto em (19), o sentido ativado é o de “fenda, buraco”; em (20), diz
respeito a um miniclipe exibido no início de um programa televisivo. Assim,
podemos constatar que o léxico de –ura pertencente a essa função também sofre
desativação e reativação, pois as metáforas atuam com esse objetivo, visto que
desativam o significado prototípico e reativam um novo.
6.3.2. Referenciação
A função de referenciação diz respeito também a uma característica
inicial da nominalização: formar nomes a partir de bases verbais. No entanto,
existem diversos nominalizadores na língua, como vimos no capítulo 5, e cada
um deles atua de forma diferente, importando-nos, aqui, apenas o –ura, já que é
este o foco deste trabalho. Observe os exemplos apresentados abaixo, todos
retirados de sites da internet no método de busca do Google:
69 http://revistacasaejardim.globo.com/Casaejardim/0,25928,EJE407507-2186,00.html. Acessado em 07 / Ago / 2012 70 http://www.musicaspraouvir.com/musicas/a-favorita. Acessado em 07 / Ago / 2012

133
(21) As armaduras leves geralmente não têm partes metálicas, e
normalmente são compostas de varias camadas de couro e/ou
acolchoamentos71.
(22) A cobertura é a melhor parte de um cupcake72!
(23) Abotoaduras ou Botões-de-punho são acessórios de moda usados
por homens e mulheres73.
(24) Empresa especializada no comércio de fechaduras, ferragens de
acabamento para construções74.
(25) Nasa fotografa rachadura quilométrica em geleira75.
Como vimos no capítulo 5, de todos os sufixos de nominalização, -ura é o
que possui caráter mais nominal (em comparação à –ção e –mento, por exemplo),
como podemos perceber nos vocábulos grifados em (21), (22), (23), (24) e (25), os
quais indicam coisas no mundo: tanto armadura quanto cobertura, abotoadura,
fechadura e rachadura. Assim, podemos perceber que -ura, quando adjungido a
bases verbais, distancia-se mais do verbo do qual se originou e passa a nomear
somente coisas, entidades, perdendo, dessa forma, a ideia de “ato ou efeito de
X”, em que X é a base.
Com essa função, o afixo –ura também sofre desativação e reativação de
sentidos a partir de metáfora e extensões de significado. O próprio exemplo
71 http://pt.wikipedia.org/wiki/Armadura. Acessado em 07 / Ago / 2012. 72 http://allrecipes.com.br/receitas/etiqueta-566/receitas-de-cobertura-de-cupcake.aspx. Acessado em 07 / Ago / 2012 73 http://pt.wikipedia.org/wiki/Abotoadura. Acessado em 07 / Ago / 2012 74 http://www.hotfrog.com.br/Produtos/Fechaduras-de-seguranca. Acessado em 07 / Ago / 2012 75 http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/11/nasa-fotografa-rachadura-quilometrica-em-geleira-na-antartida.html. Acessado em 07 / Ago / 2012

134
presente em (22) já demonstra essa dessemantização e ressemantização, pois a
base verbal é um particípio – um verbo, portanto – que indica ação (agir)
remontando, mais uma vez, à metáfora conceitual DESIGNAR É AGIR. Os
casos presentes nessa função são os representantes do resultado dessa metáfora,
visto que são elementos designativos que se originam de ações.
6.3.3. Abstratização de adjetivos
A terceira função do afixo –ura é a abstratização de adjetivos. Como já
vimos, essa função diz respeito à mudança de categoria gramatical (passagem
de adjetivo a substantivo abstrato). Nesta seção, vamos detalhar um pouco mais
a semântica dessa função. Observe os exemplos abaixo destacados:
(26) No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as
correntes da simpatia.76
(27) Aí seguiram várias explicações, e uma delas é que o pai influencia
mais na altura das filhas e a mãe, na altura dos filhos.77
(28) É preciso ser duro, mas sem perder a ternura, jamais78...
(29) Depois, observe a altura e a largura da testa e o desenho do queixo.79
76http://www.forumespirita.net/fe/o-livro-dos-mediuns/afabilidade-e-docura-28500/ Acessado em 08 / Ago / 2012 77 http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer,getBlog&uf=1&local=1&template=3948.dwt§ion=Blogs&post=69803&blog=117&coldir=1&topo=4235.dwt Acessado em 08 / Ago / 2012 78 http://pensador.uol.com.br/frase/NDkx/ Acessado em 08 / Ago / 2012

135
Quando o afixo em questão exerce a função de abstratizar um adjetivo,
passa a designar propriedades inerentes ao ser, como podemos ver nas palavras
destacadas em (26), (27), (28) e (29), respectivamente doçura, tontura, altura
ternura e largura. Isso se deve ao fato de todas serem propriedades imutáveis,
duradouras e não eventuais. Assim, pudemos constatar que o afixo –ura carrega
consigo a função de indicar que as propriedades veiculadas pela base adjetiva
são inerentes ao ser, estáticas e não dinâmicas e mutáveis. Além disso, vale
ressaltar que, mesmo nos casos em que essa inerência não esteja tão clara,
também não podemos dizer que seja uma propriedade eventual. Observe os
exemplos abaixo:
(30) Num voo de pombas brancas, um corvo negro junta-lhe um
acréscimo de beleza que a candura de um cisne não traria.80
(31) Um homem nobre jamais perde a sua candura infantil.81
Podemos perceber que em (30), o significado veiculado pelo vocábulo
grifado é o semantizado, ou seja, aquele adquirido a partir da ativação da
semântica na criação de um sentido. Isso se deve ao fato de este ser o seu
significado original, “livre” de qualquer metáfora ou qualquer outro recurso da
linguagem. Candura, no caso de (30), diz respeito à brancura, alvura,
79 http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL986422-5598,00.html Acessado em 08 / Ago / 2012 80 http://pensador.uol.com.br/frases_sobre_beleza_interior/7/ Acessado em 08 / Ago / 2012 81 http://frases.aaldeia.net/um-homem-nobre-jamais-perde-a-sua-candura-infantil/. Acessado em 08/ Ago / 2012.

136
luminosidade do cisne. Em contrapartida, no exemplo destacado em (31),
podemos perceber a atuação da metáfora. Partindo do pressuposto de que esse
recurso está presente em nosso dia a dia e que o acessamos a todo momento, é
possível verificar o porquê dessa dessemantização e da ressemantização. Nesse
caso, o sentido desativado foi o mesmo de (30) e o sentido reativado foi o de
“pureza, inocência”. Essa alteração só foi possível porque podemos
compreender a pureza ou a inocência a partir da ideia de luminosidade inicial:
um ser puro é um ser iluminado, limpo, com a alma clara. Assim, vemos que a
metáfora auxiliou na ativação de um novo significado, ou seja, que esse
vocábulo se ressemantizou via metáfora.
6.3.4. Função Intensificadora
Quando a função do afixo é intensificar, pudemos perceber, no capítulo
3, que -ura convive com inúmeros outros, mantendo, no entanto, cada um a sua
função específica e especializada. Nesta seção, o objetivo é detalhar um pouco
mais o que foi abordado anteriormente sobre essa função do afixo –ura.
Observem-se os exemplos abaixo:
(32) O filme foi aquela chatura!82
(33) Carne recheada é uma gostosura83!
82 http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&palavra=chatura. Acessado em 08 / Ago / 2012 83 http://www.sadia.com.br/vida-saudavel/4_dia+a+dia+na+cozinha/p5 Acessado em 08 / Ago / 2012

137
(34) O sabor do café envolveu-me numa quentura. Dançou as vísceras e
espírito. Deliciando calmamente cada gole.84
(35) A feiura é o que impede espécies diferentes de se misturar, afirma
pesquisa.85
(36) Não é segredo que eu tenho uma queda por coisas fofas, meigas,
cuti-cuti e uón. Mas essa semana me deparei com a maior fofura entre as
fofuras do universo.86
Com base nas sentenças (32), (33), (34), (35) e (36) e com o que já foi
exposto, podemos perceber que o afixo -ura possui a função intensificadora,
visto que todos os exemplos destacados podem ser parafraseados como “X em
excesso” ou “muito X”. Além disso, conforme previamente explicitado, o afixo
passa a se especializar, mantendo essa função como mais importante do que a
alteração categorial da base, visto que deixa de se adjungir a uma base
específica para se anexar a qualquer base com o intuito de intensificar. Assim, o
afixo passa a se unir a bases participiais, adjetivas, substantivas, adverbiais, por
exemplo, já que o objetivo principal é somar a essas bases o caráter
intensificador, sendo este um diferencial do sufixo –ura em detrimento dos
outros afixos com função similar. Abaixo, temos mais alguns exemplos de
vocábulos exercendo essa função, tendo o primeiro (37) como base o
substantivo abstrato beleza e o segundo (38), o advérbio longe. Em ambos os
84 http://hospiciopoetico.blogspot.com.br/2012/04/quentura.html. Acessado em 08 / Ago / 2012 85 http://www.tecmundo.com.br/ciencia/21602-a-feiura-e-o-que-impede-especies-diferentes-de-se-misturar-afirma-pesquisa.htm Acessado em 08 / Ago / 2012 86 http://casadagabi.com/o-cumulo-da-fofura/ Acessado em 08 / Ago / 2012

138
casos, podemos ver a função intensificadora claramente marcada se sobrepondo
à escolha da categoria gramatical da base. Observe:
(37) Fraudes, falcatruas, e toda a belezura desse nosso mundo das
academias de araque.87
(38) Viemos da distância e da lonjura dos tempos88.
Essa função da nominalização, assim como as demais, também sofre
desativação e reativação da semântica, nos moldes de Castilho (2010) e essa
reativação se dá por intermédio de metáforas. Podemos exemplificar essa
afirmação a partir dos seguintes exemplos:
(39) A frescura das madames incomoda as empregadas domésticas89.
(40) Deixa de frescura90.
(41) Por uma vida sem frescura91!
87 http://cienciabrasil.blogspot.com.br/2011/08/faca-aqui-sua-denuncia-fraudes.html. Acessado em 08 / Ago / 2012 88 http://edirol.blogs.sapo.pt/2011/07/ Acessado em 08 / Ago / 2012 89 http://www.pgletras.uerj.br/palimpsesto/num13/estudos/palimpsesto13estudos06.pdf Acessado em 08 / Ago / 2012 90 http://www.deixadefrescura.com/. Acessado em 08 / Ago / 2012 91 http://meioslinguagens2009.blogspot.com.br/2009/05/campanha-cintra-por-uma-vida-sem.html Acessado em 08 / Ago / 2012

139
Essa função da nominalização está intimamente ligada à anteriormente
explicitada (abstratização de adjetivos); uma grande parte dos dados mantém
uma relação estreita com aquela função. Dessa forma, esta é criada a partir de
uma metáfora desativando os sentidos iniciais de propriedade e reativando
novos sentidos referentes ao excesso da propriedade expressa pela base. Um
exemplo bastante claro é o de frescura, exposto nas frases em (39), (40) e (41),
estas últimas retiradas de uma propaganda de cerveja. Em (39), o substantivo
frescura se enquadra na função de abstratização de adjetivos, significando o
comportamento de ser fresco, enquanto, nos exemplos em (40) e (41), é a função
de intensificação a ativada, pois ambos os vocábulos demonstram reativação do
sentido de excesso, visto que significam “muito fresco” ou “fresco em excesso”.
Outro exemplo que podemos citar desse espraiamento é o vocábulo
brancura que se espraia do protótipo “abstratização” para a função
“intensificadora” a partir da mesma metáfora que o vocábulo anteriormente
analisado. Observe as frases abaixo:

140
(42) “A honra é como a neve, que, perdida a sua brancura, nunca mais se
recupera”. (Charles Duclos) 92
(43) “Ela era branca, branca. Dessa brancura que não se usa mais. Mas
sua alma era furta-cor”. (Mário Quintana)93
(44) Promoção Show de Brancura.94
(45) Banho de brancura95
Nos exemplos (42) e (43), o termo brancura está ligado à função de
abstratização, na medida em que somente indica a qualidade daquilo que é
branco – no primeiro, atribuindo à neve; no segundo, referindo-se a um tom de
branco que “não se usa mais”. Em contrapartida, os exemplos em (44) e (45) já
exerceriam a função intensificadora, visto que passariam a indicar algo “muito
branco”, “branco em excesso”. Essa acepção pode ser percebida a partir do
92
http://pensador.uol.com.br/frase/Nzc4NA/ Acessado em 08 / Ago / 2012 93 http://pensador.uol.com.br/frase/NTE5MzEy/ Acessado em 08 / Ago / 2012 94 http://mundodomarketing.com.br/artigos/redacao/5218/p-g-investe-em-promocao-para-ativar-marcas.html Acessado em 08 / Ago / 2012 95 http://www.unilever.com.br/brands/homecare/surf.aspx Acessado em 08 / Ago / 2012

141
próprio contexto, já que esses exemplos são extraídos de propagandas de sabão
em pó que têm por argumento principal o fato de deixar as roupas muito mais
brancas do que os concorrentes. Sendo assim, é esperado que o significado
veiculado seja o de excesso, pois tanto uma quanto outra empresa querem se
superar e vender o seu produto.
Corroborando essa ideia, também podemos observar as frases abaixo
retiradas dos textos que compõem o corpus e tecer algumas considerações.
(46) “E que cousa ha de tal brancura como o lírio” (Livro de vita Chirsti)
(47) “Nesse chão empapado de brancura”. (Meireles, Cecília. Olhinhos de
gato).
Observando esses exemplos, podemos perceber que o primeiro (46)
apresenta o vocábulo brancura em seu sentido prototípico de “propriedade de
X”, ou seja, podemos notar que o autor está fazendo uso da propriedade
daquilo que é branco para comparar o lírio a alguma coisa tão branca quanto.
Em contrapartida, em (47), o vocábulo brancura já apresenta o seu significado
intensificado, ou seja, já percebemos a diminuição da intensão e o aumento
consequente da extensão. O interessante desses exemplos é o fato de eles
demonstrarem a especialização do afixo, na medida em que o primeiro caso foi
retirado de um texto do século XV e o segundo de um do século XX.
O mesmo caso pode ser verificado com a palavra cobertura destacada nas
frases / expressões abaixo, também retiradas de textos antigos:

142
(48) “he abrem a sua mente e desvestem de si a sua cobertura do
engano” (Boosco Deleitoso)
(49) “Ela poderia comprar, por exemplo, um com cobertura diferente da
atual”. (Dantas, Francisco J. C. Cartilha do Silêncio)
Nos exemplos acima, podemos perceber o espraiamento semântico
presente no vocábulo destacado na sentença (49) e a manutenção do sentido
prototípico na frase (48), sendo esta registrada também no século XV e aquela
no século XX. Dessa forma, é possível notar que a história do afixo e seus
caminhos ao longo dos anos também são importantes para a análise e refletem
as mudanças semânticas sofridas com o passar do tempo.
6.3.5. Resumindo
Nesta seção, objetivamos apresentar os conceitos de sistema semântico e
todos os outros relacionados a este. Dessa forma, apresentamos como a Teoria
Multissistêmica compreende categorias como metáfora, metonímia e
referenciação, por exemplo, e qual a abordagem dada à semântica nessa teoria.
Além disso, também buscamos apresentar como os dispositivos sociocognitivos
atuam ativando, reativando ou desativando as propriedades desse sistema.
No que diz respeito à atuação desses dispositivos, pudemos verificar que
o afixo –ura possui quatro diferentes funções como sintetizamos na tabela
abaixo:

143
Função Base Produto Descrição
Nominalização
de verbos
Verbos Substantivos
abstratos
Escaneamento mais
dinâmico, menos voltado
para o produto.
Designação de
nomes
Verbos Substantivos
abstratos
Escaneamento mais estático,
mais voltado para o
produto.
Abstratização
de adjetivos
Adjetivos e
particípios
Substantivos
abstratos
Indica propriedades
inerentes ao ser humano.
Intensificação Adjetivos,
advérbios e
substantivos
abstratos
Substantivos
abstratos
Utilizado para indicar o
excesso da propriedade
descrita pela base.
Tabela 8: Funções do afixo -ura em português.
Como destacamos nesta seção, a semântica do afixo se altera de acordo
com a constituição do léxico e as diferentes categorias das bases: quanto mais
abrangente é a base, mais a significação final da função se torna abstrata.
6.4. Discurso
Segundo Castilho (2010), o discurso é entendido como um conjunto de
negociações envolvendo os interlocutores e propiciando uma interação entre
eles. De acordo com o autor, é através dessas negociações que
“(i) se instanciam as pessoas de uma interação e se constroem suas imagens; (ii) se organiza a conversação através da elaboração do tópico discursivo, dos procedimentos de ação sobre o outro ou de

144
exteriorização dos sentimentos; (iii) se reorganiza essa interação através do subsistema de correção sociopragmática; ou (iv) se abandona o ritmo em curso através de digressões e parênteses, que passam a gerar outros centros de interesse”. (CASTILHO, 2010:133)
Assim, a discursivização é entendida como o processo de criação de
textos administrado pelo dispositivo sociocognitivo. Dito de outra maneira,
vamos analisar a conversação e o texto, usando como base uma perspectiva
funcionalista cognitiva, pois o foco está no papel da língua, do discurso e do
aparato cognitivo dos usuários da língua. Dessa forma, para que haja um
processo de discursivização, é necessário que esses dispositivos atuem através
de algumas categorias cognitivas constitutivas do discurso: a moldura e a noção
de perspectiva.
Como já foi falado, para que haja interação, é necessário que seja ativado
o conhecimento de mundo dos interlocutores, ou seja, informações extratextuais
ativadas no momento da conversação. Como exemplo, podemos citar a seguinte
frase abaixo:
(50) Você sabe que horas são?96
Na sentença em destaque, podemos notar que a informação solicitada
não é, exatamente, a que está expressa na frase. O locutor da sentença não quer
apenas saber se o seu interlocutor sabe as horas, mas está pedindo que ele a
96 http://joselop.es/voce-sabe-que-horas-sao/ - Acessado em 08 / Ago / 2012

145
informe. Nesse momento, o conhecimento de mundo dos falantes de que
perguntas como essa não “devem” ser respondidas com sim ou não precisa ser
ativado para que a comunicação ocorra. Em outras culturas diferentes da
brasileira, por exemplo, informações como essa não seriam pedidas da mesma
maneira. Assim, é necessário que seja ativado esse conhecimento para que a
comunicação seja efetuada com total sucesso e é nesse momento que os
dispositivos sociocognitivos são ativados. É nesse ponto que também voltamos
à questão da moldura e da perspectiva.
A moldura pode ser explicada como uma percepção do mundo, das
funções sociais do discurso compartilhadas pelos interlocutores; é também um
dos processos de ativação do discurso que nos ajuda a compreender como se dá
a produção linguística.
Como exemplo, podemos citar a seguinte frase:
(51) Hoje vamos a uma festa97.
Ao dizer essa sentença, é ativada a moldura de festa que nos leva a um
enorme conjunto de movimentos mentais a serem ativados, pois essa moldura
ativa informações como: festa de aniversário, presente, roupa adequada, festa
infantil, festa de adulto, dentre inúmeros outros movimentos. Portanto,
podemos perceber que a seleção das informações contidas é efetuada no
momento da conversação e corresponde a uma expectativa sobre o mundo.
97
http://www.fanfiction.com.br/historia/71468/Horizonte_Azul/capitulo/2 Acessado em 08 / Ago / 2012

146
A noção de perspectiva, por sua vez, é outro processo de ativação
discursiva e é entendida como referente ao modo como o espaço é percebido,
ou seja, à maneira como compreendemos o espaço do discurso. A perspectiva
está diretamente ligada à noção de ponto de vista, atitude do falante, já que
enfocamos uma ou outra informação no discurso. Dessa forma, podemos notar
que os conceitos de moldura e perspectiva estão intrinsecamente interligados,
visto que a moldura seleciona conjuntos mais amplos de informações extra-
discursivas e a perspectiva é que vai se voltar para uma ou outra informação
listada. Dito de outra maneira, a moldura oferece pontos de vista e a
perspectiva os seleciona.
Assim como a gramática, este não será um sistema amplamente
discutido nesta Dissertação; porém, vale apresentar alguns exemplos de como o
contexto, o discurso, atuaria na nominalização por meio de –ura. Observem-se
os exemplos abaixo:
(52) É verdade que a altura da criança aos 2 anos, multiplicada por 2, é a
altura que ela terá quando adulta?98
(53) Um ônibus da viação Itapemirim que vinha do Rio de Janeiro sentido
São Paulo caiu em uma ribanceira na altura do km 125 da Rodovia99.
98 http://brasil.babycenter.com/toddler/desenvolvimento/altura-2-anos/. Acessado em 01 ago.2012. 99http://www.estadao.com.br/noticias/geral,onibus-vindo-rio-cai-em-ribanceira-na-altura-de-cacapava,904211,0.htm. Acessado em 01 ago.2012.

147
Podemos perceber que a palavra em destaque nas duas sentenças
apresenta significados distintos que podem ser explicados a partir do conceito
de metáfora previamente explicitado. No entanto, esses significados só foram
alterados graças ao contexto no qual as palavras estão inseridas. Dessa maneira,
o discurso é ativado quando a palavra entra em contexto de uso, ou seja, é
ativada uma perspectiva a partir da discursivização da palavra em questão.
Como exemplo também podemos retomar a propaganda apresentada
anteriormente e retomada aqui:
(54) Por uma vida sem frescura.
Nesse exemplo, o novo significado da palavra é ativado no momento em
que ela é inserida em um contexto discursivo específico: a propaganda. Assim,
o DSC atua ativando propriedades desse sistema juntamente com os outros
fazendo com que a palavra frescura adquira um novo sentido, já que esta é
também uma função da propaganda.

148
6.4.1. Resumindo
Nesta breve seção, pudemos destacar alguns conceitos básicos presentes
no sistema do discurso e defini-los a partir dos olhares de Castilho (2010) para
cada um deles. Além disso, apresentamos uma rápida exemplificação e análise
do formativo em questão para mostrar que o Discurso atua fortemente na
língua e é um sistema igualmente importante.
6.5. Sistemas Simultâneos
Como foi muito discutido no capítulo 4 e constantemente retomado ao
longo da Dissertação, a Teoria Multissistêmica considera a existência de quatro
sistemas que atuam simultaneamente, possuem a mesma importância e são
regidos por dispositivos sociocognitivos que ativam, reativam e desativam as
propriedades de cada um desses sistemas. Neste capítulo, tratamos dos quatro
sistemas apresentados separadamente e mostramos como atuam na língua –
alguns discutidos de forma mais aprofundada e outros de forma mais sucinta.
No entanto, ainda falta uma análise a ser apresentada devido a esse caráter de
simultaneidade muito marcado pela teoria: faltava exemplificar essa questão.
Portanto, nesta seção, esse é o nosso objetivo. Comecemos observando a
sentença apresentada abaixo retirada de um texto do Corpus do Português:
(55) Mas que loucura! Que ideia! Como você foi fazer isso, meu Deus!
(RODRIGUES, Nelson. Meu destino é pecar. 1944)

149
Podemos observar que ocorre um processo de sintaticização já
apresentado anteriormente, devido ao fato de a palavra destacada estar inserida
numa estrutura sintática própria, já cristalizada (Que X!) em que a posição de X
pode ser ocupada por qualquer substantivo, adjetivo, advérbio, dentre outros, a
fim de indicar intensificação. Portanto, podemos perceber a ativação das
propriedades sintáticas do sistema da gramática.
Além disso, ao mesmo tempo em que ocorre a sintaticização, também
podemos notar a semantização a partir da ativação de uma metáfora já
apresentada, na medida em que loucura deixa de indicar apenas uma
propriedade para fazer referência ao excesso dessa propriedade, diminuindo a
intensão e aumentando a extensão, consequentemente.
No caso do sistema do léxico, é possível notar a relexicalização, na
medida em que há uma renovação de vocabulário devido ao processo de
derivação, nominalização, pelo qual passa a base. Assim, temos que a palavra
louco se relexicalizou, pois, ao se anexar a um afixo (no caso –ura), teve suas
categorias semânticas e seus traços cognitivos rearranjados.
Quanto ao discurso, podemos perceber que o mesmo é ativado, na
medida em que tal palavra é inserida num contexto e determinado significado é
focalizado, em detrimento de outros.
Assim, a partir de apenas uma frase, é possível constatar que esses
sistemas estão atuando simultaneamente na língua e, portanto, essa teoria tem
um fundamento lógico muito relevante. Não há um sistema que se sobreponha

150
ao outro, mas quatro sistemas que convivem e convergem ao mesmo tempo na
língua.
Podemos observar a expressão apresentada no título deste trabalho.
Observe:
(56) Loucura, loucura, loucura!100
Tal expressão foi criada por um apresentador de televisão e demonstra as
mesmas explicações dadas ao exemplo anterior, com exceção da sintaticização.
No entanto, podemos ainda acrescentar que a intensificação, nesse caso, não se
dá apenas por meio da metáfora, mas também pelo contexto sintático e
discursivo. Dessa forma, mais uma vez podemos exemplificar a atuação dos
quatro sistemas simultaneamente.
6.6. Resumindo
Neste capítulo, apresentamos os quatro sistemas linguísticos descritos
por Castilho (2010) e buscamos descrever como cada um deles atua na língua
através dos DSCs.
No caso da gramática, particularizamos os casos de sintaticização e
fonologização apresentando exemplos que comprovassem a ideia de que em
todos os casos há a atuação desses sistemas. Já no que diz respeito ao léxico,
apresentamos uma visão diferente da trabalhada pela Teoria Multissistêmica
100 http://forum.cifraclub.com.br/forum/3/164409/ Acessado em 08 / Ago / 2012

151
para lidar com a formação de novas palavras e, para tanto, recorremos ao Booij
(2010) para formalizar o processo de maneira mais detalhada e aprofundada.
Além disso, também explicamos e exemplificamos os casos de lexicalização,
relexicalização e deslexização presentes na nominalização por meio de –ura a
fim de comprovar que esses processos acontecem a todo tempo na língua e não
são, portanto, casos isolados.
Em seguida, buscamos apresentar a visão que se tem sobre o sistema
relacionado à semântica e como ele se apresenta na Teoria Multissistêmica e na
nominalização mais especificamente. Além disso, também apresentamos os
conceitos relacionados a esse sistema, como metáfora, metonímia e focalização,
dentre outros, buscando sempre suporte na linguística de base cognitiva para
definir esses conceitos. Buscamos demonstrar, também, como atuam nas
funções da nominalização e apresentamos dados para comprovar nossas
hipóteses. Já no sistema do discurso, apresentamos como este é entendido na
teoria e apresentamos os conceitos. Além disso, também buscamos exemplificar
como esse sistema é ativado e qual a sua função básica na língua, sem nos
aprofundarmos, entretanto.
Por fim, fez-se necessário selecionar exemplos que comprovassem que a
atuação desses sistemas se dá simultaneamente e assim o fizemos. Buscamos
demonstrar como se concretiza a ideia de simultaneidade na língua. nessa seção
final, o nosso objetivo foi corroborar a ideia primária da Teoria Multissistêmica de
que a língua é composta de quatro sistemas que não apresentam qualquer
hierarquia e atuam simultaneamente por meio da ativação, desativação e
reativação de suas propriedades.

152
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta Dissertação, tivemos por objetivo apresentar e investigar o
processo de nominalização a partir do sufixo -ura levando em consideração os
pressupostos levantados pela Abordagem Multissistêmica de análise da língua
(CASTILHO, 2010). Dessa maneira, esperamos ter apresentado evidências de
que as formas X-ura são produtivas no português contemporâneo com bases
adjetivais, substantivas e adverbiais e que as bases participiais são encontradas
apenas em formações mais antigas. Além disso, a descrição dos sistemas de
acordo com a proposta de Castilho (2010) e a busca em dicionários etimológicos
e textos antigos do português demonstram o favorecimento das bases adjetivas
e comprovam a mudança ao longo da história em relação às categorias
selecionadas para preencher a posição de X no esquema genérico X-ura.
Pretendemos ter comprovado, ainda, que o sufixo –ura não concorre com
outros afixos da língua – no que diz respeito à atual sincronia – em uma mesma
função e que seu significado foi se especializando ao longo do tempo como
busca de um lugar próprio na língua.
Além disso, no que tange à abordagem linguística utilizada, esperamos
ter alcançado o objetivo inicial de fazer uma nova análise sob um ângulo
completamente diverso dos já estudados e comprovar que essa é uma teoria
que ainda pode gerar muitas outras pesquisas. Vale lembrar, também, que esta
7

153
Dissertação não teve por objetivo descrever todos os sistemas linguísticos
apresentados pela Multissistêmica, pois optamos por aprofundar apenas dois
deles: o léxico e a semântica.
Portanto, pretendemos ter conseguido analisar satisfatoriamente o
formativo em questão de acordo com os sistemas selecionados e responder a
todas as perguntas levantadas ao longo desta Dissertação. Além disso, também
buscamos descrever e exemplificar, mesmo que de maneira um pouco
superficial os outros dois sistemas linguísticos (gramática e discurso) e mostrar
que, apesar de não termos focalizado neles, estes também são importantes para
a análise linguística.

154
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, M. L. L. & GONÇALVES, C. A. V. “Aplicação da construction
gramar à morfologia: o caso das formas X-eiro”. In: Linguística. (PPGL/UFRJ), v.
2, 2006, p. 229-242
ARONOFF M. Word Formation in Generative Grammar. Massachusetts: The MIT
Press Cambridge, 1976
BASILIO, Margarida. “Das relações entre texto, gramática e cognição: o foco na
cognição”. Texto apresentado no Encontro InterGTs da ANPOLL. Campinas:
UNICAMP, 2011.
__________________. “O princípio da analogia na constituição do léxico: regras
são clichês lexicais”. In: Veredas: revista de estudos linguísticos. V.1, n.1, p. 9-21,
1997.
__________________. Estruturas lexicais do português: uma abordagem gerativa.
Petrópolis: vozes, 1980.
__________________. Formação de classes de palavras no português do Brasil. São
Paulo: Contexto, 2006.
__________________. Teoria Lexical. São Paulo: Ática, 2007 [1987].
8

155
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2009.
BOOIJ, G. Construction Morphology. New York: Oxford University Press, 2010.
_________. The Grammar of words. New York: Oxford University Press, 2005.
BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico, prosódico da língua
portuguesa. São Paulo: Saraiva, 1967.
BYBEE, Joan. Morphology: the relations between meaning and form.
Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 1985.
CAMARA JR., Joaquim Mattoso. História e estrutura da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Padrão, 1976.
CARONE, Flávia de B. Morfossintaxe. São Paulo: Ática, 1990.
CASSEB-GALVÃO et alii. Introdução à gramaticalização: princípios teóricos e
aplicação. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.
CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo:
Contexto, 2010.
CASTRO DA SILVA, Caio Cesar; VALENTE, Ana Carolina Mrad de Moura;
GONÇALVES, Carlos Alexandre; ALMEIDA, Maria Lucia Leitão de. “Percurso
histórico das formações parassintéticas a-X-ecer e e/n/-X-ecer: produtividade e

156
polissemia”. In: ALMEIDA, Maria Lucia Leitão de M. L. L. de et alii. Linguística
Cognitiva em Foco: Morfologia e Semântica. Rio de Janeiro: Publit, 2009.
CHAFE, Wallace L. “Giveness, constrastiveness, definiteness, subjects, topics
and points of view”. In: LI, C. Subject and topic. New York: Academic Press,
1976.
CHOMSKY, Noam. Knowledge of language, its nature, acquisition and us. Nova
York: Praeger, 1986.
COELHO, Livy Maria Real. "Uma Análise do Sufixo – ura com base na
Morfologia Categorial". In: Intertexto. Uberaba: UFTM, 2008.
COUTINHO, Ismael de L. Gramática Histórica. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico,
1976.
________________________. Pontos de Gramática Histórica. Rio de Janeiro: Ao
Livro Técnico, 1978.
CROFT, William & CRUSE, D. Alan. Cognitive Linguistics. Cambridge:
Cambridge University Press, 2004.
CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
CUNHA, Celso Ferreira da & CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do
português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexicon Informática, 2007.

157
DAVIES, Mark & FERREIRA, Michael. Corpus do Português: 45 million words,
1300s-1900s. http://www.corpusdoportugues.org, 2006.
DIK, S. C. The theory of Funcional Grammar. Berlim: Mounton de Gruyter, 1997.
EVANS, V. & GREEN, M. Cognitive Linguistic: An Introduction. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2006.
FARIA, E. Gramática superior da língua latina. Rio de Janeiro: Acadêmica, 1958.
FAUCONNIER, Gilees & TURNER, Mark. The way we think: conceptual blending
and the mind’s hidden complexities. Basic Books: New York, 2002.
FERRARI, Lilian. Introdução à Linguística Cognitiva. São Paulo: Contexto, 2011.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Eletrônico versão 5.12.
Curitiba: Positivo Informática, 2004.
FILLMORE, C. J. “Frame semantics”. In: Linguistics in the Morning Calm,
Hanshin, The Linguistic Society of Korea Soeul, 1982, p. 111-137.
FRANÇA, Aniela Improtta & LEMLE, Miriam. “Arbitrariedade Saussereana em
foco”. In: Revista Letras, n. 69. CURITIBA: EDITORA UFPR, 2006.
FREITAS, Horácio Rolim de. Princípios de Morfologia. Rio de Janeiro: Oficina do
Autor, 1997.
GONÇALVES, C. A. V. Flexão e Derivação em Português. 1. ed. Rio de Janeiro: Fac
Letras/UFRJ, 2005.

158
______________________ et alii. Linguística Cognitiva em foco: morfologia e
semântica do português. Rio de Janeiro: Publit, 2010.
______________________. Iniciação aos estudos morfológicos: flexão e derivação em
português. São Paulo: Contexto, 2011.
______________________ & ALMEIDA, Maria Lucia Leitão de. de. “Das relações
entre forma e conteúdo nas estruturas morfológicas do português”. In:
Diadorim: Revista de Estudos Linguísticos e Literários, v. 4, p. 27-55, 2008.
HENRIQUES, Cláudio Cezar. Morfologia: Estudos lexicais em perspectiva
sincrônica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
HOPPER, Paul J. "On some principles of grammaticalization”. In TRAUGOTT ,
Elizabeth Closs & HEINE Bernd, eds. Approaches to Grammaticalization, Vol. I.
Amsterdam: John Benjamins, 1991.
_________________ & TRAUGOTT Elizabeth. Grammaticalization. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003
HOUAISS, Antonio. Dicionário Eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Ed.
Objetiva: 2001.
ILARI. Rodolfo. Linguística Românica. São Paulo: Ática, 1992.
JACKENDOFF, Ray. “Morphological and semantic regularities in the Lexicon”
In: Language. n.51. 1975.

159
____________________. Semantics and Cognition. Cambridge: MIT, 1983.
JUCÁ FILHO, Cândido. Gramática histórica do Português Contemporâneo. Rio de
Janeiro: EPASA, 1945.
KATO, Mary. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo:
Ática, 1986.
KEHDI, Valter. Formação de palavras em português. São Paulo: Ática, 1989.
______________. Morfemas do português. São Paulo: Ática, 1999.
LAKOFF, George. Women, Fire and Dangerous Things: What categories reveal
about the mind. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
__________________ & JOHNSON, Mark. Metáforas da vida cotidiana. Campinas:
Mercado de Letras, 2002 [1980].
LANGACKER, Ronald. Foundations of cognitive grammar. Theoretical
prerequisites. Stanford: Stanford University Press, 1987.
LAROCA, Maria Nazaré de Carvalho. Manual de morfologia do português.
Campinas: Pontes; Juiz de Fora: UFJF, 1994.
LEMOS DE SOUZA, Janderson Luiz. A distribuição semântica dos substantivos
deverbais em -ção e -mento no português do Brasil: uma abordagem cognitiva. (Tese
de Doutorado) Rio de Janeiro: UFRJ, 2010.
LUFT, Celso Pedro. Moderna Gramática Brasileira. Porto Alegre: Ed. Globo, 1979.

160
_________________. Novo Manual de Português, gramática, ortografia oficial,
redação, literatura, textos e testes. 8. ed., São Paulo: Editora Globo, 1990.
MACHADO, José Pedro. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Lisboa:
Livros Horizonte, 1973.
MASIP, V. Gramática Histórica Portuguesa e Espanhola. São Paulo: Editora
Pedagógica e Universitária, 2003.
MAURER JR., Theodoro Henrique. Gramática do Latim Vulgar. Rio de Janeiro:
Livraria Acadêmica, 1959.
MENDES DE ALMEIDA, N. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Saraiva, 2005 [1979]
MONTEIRO, J. Morfologia Portuguesa. Campinas: Editora Pontes, 1988.
NASCENTES, Antenor. Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Acadêmica, 1955.
NEVES, Maria Helena de M. A Gramática Funcional. São Paulo: Martins Fontes,
1997.
PEZATTI, Erotilde G. “O Funcionalismo em Linguística”. In: MUSSALIM, F &
BENTES, A. C. Introdução à linguística: fundamentos epistemológicos. Volume 3. São
Paulo: Cortez, 2005.

161
PIZZORNO, Daniele Moura. Polissemia da construção X-eiro: uma abordagem
cognitivista. Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro: UFRJ, 2010.
RIO-TORTO, G. M. "Organização de redes estruturais em morfologia".
Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4561.pdf, 2005.
____________________. Morfologia derivacional: Teoria e Aplicação ao Português.
Porto: Porto Editora, 1998.
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa.
Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.
ROCHA, Luiz Carlos de Assis. Estruturas morfológicas do português. Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 1998.
ROSA, Maria Carlota. Introdução à Morfologia. São Paulo: Contexto, 2006.
SAID ALI, M. Gramática Histórica da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:
Melhoramentos, 1971.
_______________. Gramática Secundária da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:
Melhoramentos, 1969.
SANDMANN, Antônio José. Competência Lexical: produtividade, restrições e
bloqueio. Curitiba: Ed. da UFPR, 1988.
____________________________. Formação de palavras no português brasileiro
contemporâneo. Curitiba: Scentia et Labor: Ícone, 1988.

162
_____________________________. Morfologia Geral. São Paulo: Contexto, 1997.
SAUSSURE, F. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 1973.
SILVEIRA BUENO, F. de. A formação histórica da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Saraiva, 1967.
SOARES DA SILVA, Augusto. “A Linguística Cognitiva: uma breve introdução
a um novo paradigma” In: Revista Portuguesa de Humanidades. Braga, v.I, 1997,
p.59-101.
__________________________. O mundo dos sentidos em português: polissemia,
semântica e cognição. Coimbra: Almedina, 2006.
SWEETSER, Eve. From etymology to pragmatics. Metaphorical and cultural
aspects of semantic structure. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
VALENTE & CASTRO DA SILVA. “Loucura, loucura, loucura! Uma
abordagem morfossemântica do sufixo –ura”. In: Cadernos do NEMP. Vol. 2, n.
2, 2011. Disponível em http://www.nemp.com.br/images/pdf/cadernos-vol2-
ana%20e%20caio1.pdf
XAVIER, M. F.; VICENTE, M. G.; CRISPIM, M. L. Crispim,
http://cipm.fcsh.unl-pt/, 20/10/2009.

163
ANEXO I
Significado das palavras pelos dicionários Aurelio e Houaiss.
PALAVRA SIGNIFICADO
Abertura Ato de abrir. Ato de inaugurar, começo. Dimensão do espaço aberto. Composição que serve de introdução à ópera, bailado, sinfonia, etc.
Abotoadura Ato ou efeito de abotoar. Abotoamento. Conjunto de botões usado em peças do vestuário
Abreviatura Ato ou efeito de abreviar. Modo de escrever uma palavra com menos letras que as requeridas pelos sons e articulações que tem. Representação de uma palavra por meio de uma ou algumas das suas letras
Advocatura Amparo, mediação, patrocínio, proteção.
Agrura Sabor agro, acidez, azedume. Fig1: situação difícil, empecilho, obstáculo. Fig2: padecimento físico ou espiritual, insatisfação.
Altura Dimensão de alto a baixo. Elevação acima de um ponto. Eminência; altitude. Profundidade. Distância da base ao vértice oposto (no triângulo).
Alvura Qualidade, estado ou condição do que é alvo ou branco. Brancura. Fig.: qualidade do que ou de quem é cândido, puro, inocente.
Amargura Sabor amargo, amargor. Aflição, angústia, tristeza. Propriedade ou característica de severo
Andadura Ato de andar. Modo de andar. Passo da cavalgadura quando avança com a mão e o pé do mesmo lado. Passo.
Apertura Característica do que é estreito, apertado. Embaraço. Angústia, aflição.
Armadura Conjunto das peças metálicas que vestiam os guerreiros. Madeiramento que sustenta a parte essencial de uma obra de alvenaria ou de carpintaria;

164
armação.
Arquitetura Arte de projetar e construir edifícios. Fig. Forma, estrutura: arquitetura do corpo humano.
Assadura Ato ou efeito de assar. Parte da rês própria para assar. Inflamação cutânea provocada por calor ou fricção.
Assinatura Ato ou efeito de assinar; firma, nome escrito. Direito que se tem a alguma publicação ou comodidade mediante certo preço por determinado tempo.
Atadura Ato ou efeito de atar. Tira de tecido que serve para cobrir, também usada em curativos.
Baixura Característica do que é baixo. Depressão de terreno.
Belezura Coisa agradável de ver, beleza. Pessoa bonita, atraente.
Benzedura Ato ou efeito de benzer com ou sem o sinal da cruz. Ato de benzer, acompanhado de rezas supersticiosas.
Brancura Qualidade do que é branco. Fig. Inocência: a brancura de uma alma
Brandura Qualidade ou virtude do que é brando. Característica de quem é afável, doce. Ternura, carinho.
Bravura Qualidade de quem é bravo, coragem, bravor. Fig. Inocência: a brancura de uma alma.
Brochura Ato ou efeito de brochar livros. Estado do livro brochado. Folheto, livro de pequenas dimensões, revestido com capa de papel ou cartolina colada na lombada.
Candidatura Condição de candidato. Pretensão ou aspiração de candidato.
Candura Qualidade do que é cândido. Brancura puríssima. Embarcação das Maldivas. Pureza. Credulidade ingênua.
Cavalgadura Besta de sela, cavalar, muar ou asinina. Fig. Pessoa estúpida, malcriada.
Censura Ato ou efeito de censurar. Crítica severa, repreensão. Exame oficial de certas obras ou escritos.
Chatura Ação ou resultado de chatear, aborrecer. Chatice. Coisa que chateia, que amola.
Cintura Anatomia. Parte do corpo onde há junção óssea dos

165
membros ao tronco: cintura escapular, cintura pélvica. O meio do corpo. A parte das vestimentas que rodeia e aperta nessas partes.
Cobertura Ato ou efeito de cobrir; coberta, revestimento, invólucro. O que serve para cobrir; teto, telhado; tampa; capa.
Criatura Todo o ser criado. Pessoa; indivíduo. Pessoa inteiramente devotada a outra.
Cultura Ação ou maneira de cultivar a terra ou as plantas; cultivo: a cultura das flores. Fig. Conjunto dos conhecimentos adquiridos; a instrução, o saber: uma sólida cultura.
Curvatura Ação ou resultado de curvar. A parte curva de um corpo ou objeto.
Dentadura Conjunto formado por todos os dentes. Dentes artificiais. Dentes das rodas de qualquer máquina
Desenvoltura Grande desembaraço, viveza, agilidade. Fam. Turbulência, travessura
Ditadura O governo, a autoridade do ditador. Poder ou autoridade absoluta. Governo em que os poderes do Estado se concentram nas mãos de um só homem.
Dobradura Ato, processo ou efeito de dobrar. Curvatura; dobramento; vinco, prega. Ato de dobrar sobre si mesma a extremidade da artéria para suspender uma hemorragia.
Doçura Qualidade ou gosto de doce. Qualidade ou virtude do que é meigo, ternura.
Embocadura Ato ou efeito de embocar. Entrada de rua, avenida. Foz (de um rio). Tendência, propensão.
Envergadura Ato ou efeito de envergar, envergamento. Distância entre as extremidades das asas abertas de uma ave ou de qualquer animal alado. Distância máxima entre as extremidades das asas de uma aeronave.
Envoltura Ato ou efeito de envolver, envolvimento. Manta em que se envolvem as crianças
Escritura Documento ou forma escrita de um ato jurídico. O Antigo e o Novo Testamento: a Sagrada Escritura.

166
Espessura Qualidade ou característica do que é espesso. Grau de consistência, da densidade de algo. Medida de grossura.
Estatura Tamanho de uma pessoa. Altura ou grandeza de um ser
animado. Fig. Competência, capacidade, dignidade: não
tem estatura para o cargo.
Fartura Condição do que é farto, abundante. Abundância de alimentos, de provisões. Grande quantidade de algo
Fechadura Ato ou efeito de fechar. Dispositivo de metal que tranca portas.
Feitura Ato, efeito ou modo de fazer; efeito. Obra; execução; trabalho.
Feiura Condição ou estado de quem ou do que é feio; fealdade. Pessoa ou coisa feia.
Ferradura Peça de ferro que se prega na face inferior do casco dos animais de carga, tiro e sela. Reforço de ferro no salto do calçado.
Fervura Estado de um líquido a ferver; ebulição. Fig. Agitação, efervescência, alvoroço.
Finura Qualidade do que é fino, delgado. Característica do que é leve, delicado, sutileza.
Fofura Qualidade de fofo. Pessoa, animal ou coisa fofa, graciosa.
Formatura Ato ou efeito de formar; graduação universitária. Militar Disposição ou alinhamento de tropas.
Formosura Característica do que é formoso, boniteza, beleza.
Fratura Ato ou efeito de fraturar; rutura, quebradura.
Frescura Sensação na pele causada pelo contato de coisa fria. Uso informal: comportamento reservado ou constrangido, afeito a moralismo excessivo; reticência; melindre. Comportamento, modo, hábito próprio de indivíduo fresco, maricas.
Fritura Qualquer coisa frita. O que se frege de uma vez. Ato ou efeito de fritar.
Fundura Altura da profundidade. Comprimento entre a parte anterior e a posterior. Profundidade.
Gastura Bras. Comichão, prurido. Inquietação nervosa, aflição,

167
mal-estar.
Gordura Tecido adiposo dos animais. Característica daquele que é gordo, excesso de peso.
Gostosura Qualidade do que é gostoso. Iguaria saborosa, guloseima. Mulher bonita, capaz de agradar sexualmente.
Grossura Qualidade de grosso, do que tem grande diâmetro. Dimensão de um sólido que equivale à distância entre a superfície anterior e a posterior. Que é volumoso, corpulento, inchado. Bras. Pop. Grosseria, impolidez.
Investidura Ato de investir uma pessoa na posse de algum cargo ou dignidade; emposse.
Juntura Ato ou efeito de juntar. Ponto onde duas peças ou coisas se juntam ou se articulam. Conjunto de peças necessárias para jungir os bois ao carro.
Laqueadura Ato ou efeito de laquear (-se). Ligadura.
Largura Extensão tomada no sentido perpendicular ao comprimento. Qualquer plano apreciado quanto à sua dimensão transversal: largura do terreno.
Legislatura Corpo legislativo em atividade. Período para o qual se elege uma assembleia legislativa.
Licenciatura Grau universitário que dá o direito de exercer o magistério do ensino médio.
Ligadura Ação de ligar; o mesmo que ligamento. Atadura. Cirurgia. Operação que consiste em apertar um laço em torno de uma parte do corpo, em geral um vaso sanguíneo.
Longura Característica do que é longo, do que apresenta grande extensão no espaço. Retardamento no tempo; delonga demora.
Lonjura Afastamento físico significativo; grande distância. Local muito distante (e por vezes até deserto, ermo).
Loucura Distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir.
Magistratura Cargo, função ou dignidade de magistrado. O exercício desse cargo ou função: Destacou-se na magistratura. Duração desse exercício: Sua magistratura foi de 15 anos.

168
O conjunto dos magistrados.
Mordedura Ato ou efeito de morder. Marca deixada pela ação de morder.
Negrura A cor negra. Qualidade de negro, negridão. Atitude má, perversa. Profundo desencanto, melancolia, tristeza.
Nervura Cada uma das fibras ou veios das folhas e das pétalas. Linha ou moldura saliente que separa os panos de uma abóbada. Tubo córneo ramificado nas asas dos insetos.
Partitura Disposição gráfica das diversas partes que formam uma
peça musical, particularmente sinfônica.
Picadura Picada, ferida, mordedura.
Pintura Arte de pintar. Arte ou ofício do pintor. Revestimento de uma superfície com substância corante: A pintura do muro ficou ótima.
Postura Atitude do corpo. Composição para dar mais realce ao rosto; arrebique. Expressão da fisionomia.
Queimadura Ação ou resultado de queimar; queima; queimação. Ferimento causado por fogo, raios solares ou substância química.
Quentura Estado do que é quente, calor. Alta temperatura. Febre. Extensão de sentido: sensualidade.
Rachadura Ato ou efeito de rachar. Abertura longitudinal, resultante de fratura ou ruptura; racha; fenda, greta.
Rapadura Ato ou efeito de rapar; rapadela. Bras. Açúcar mascavo em forma de tijolo.
Secura Qualidade, estado ou condição de seco. Falta de água, estiagem, seca. Esterilidade.
Semeadura Ação ou resultado de semear; semeação. P.ext. Terra ou campo semeado; semeada. Quantidade de grão suficiente para semear uma extensão de terra.
Sepultura Ato de sepultar. Cova, lugar onde se sepultam os
cadáveres. Sepulcro; jazigo. O fim da vida, a morte.
Soltura Ato ou efeito de soltar. Arrojo; atrevimento. Dissolução; licenciosidade. Diarreia, disenteria.
Temperatura Estado sensível do ar frio ou quente. Grau de calor num

169
corpo ou num lugar.
Ternura Qualidade do que é terno; meiguice. Afeto brando e carinhoso.
Tenrura Qualidade ou estado de tenro.
Tessitura Disposição das notas musicais para se acomodarem a certa voz ou instrumento. Contextura; organização.
Tesura Estado de um corpo teso. Força, rigidez. Fig. Orgulho,
vaidade.
Textura Ação ou resultado de tecer. Trama, tecido, entrelaçamento dos fios, contextura. Constituição geral de um material sólido.
Tintura Ato ou efeito de tingir. Medicamento obtido por contato com álcool, de diversas substâncias de origem vegetal, animal ou químicas.
Tontura Perturbação cerebral. Sensação ilusória de movimento do corpo ou movimento à volta do corpo.
Travessura Ação de pessoa travessa. Traquinada de crianças.
Desenvoltura. Brincadeira, brejeirice, agitação; malícia.
Varredura Ação de varrer. Lixo que se acumula varrendo. Varredela. Exploração ou busca minuciosa; rastreamento.
Verdura A cor verde dos vegetais, a vegetação, verdor. Bot. Planta comestível, ger. cultivada em hortas; hortaliça.

170
ANEXO II
Categoria morfológica da base e primeira ocorrência na língua.
PALAVRA BASE CATEGORIA DATAÇÃO
Abertura Do latim abertura XIV
Abotoadura Abotoado Verbo (particípio) XIV
Abreviatura Do italiano abbreviatura
1536
Advocatura Do latim advocatura 1712
Agrura Agro Adjetivo XV
Altura Alto Adjetivo XIII
Alvura Alvo Adjetivo XIV
Amargura Amargo Adjetivo XIII
Andadura Andado Verbo (particípio) XIV
Apertura Aperto Verbo (particípio) 1516
Armadura Do latim armatura 1344
Arquitetura Do latim architectura 1561
Assadura Do latim assatura XIV
Assinatura Do latim assinatura 1504
Atadura Atado Verbo (particípio) XIV
Baixura Baixo Adjetivo XV
Belezura Beleza Substantivo abstrato XX
Benzedura Benzido Verbo (particípio) 1789
Brancura Branco Adjetivo XIII
Brandura Brando Adjetivo XIV
Bravura Bravo Adjetivo XIV

171
Brochura Do francês brochure 1820
Candidatura Do francês candidature 1858
Candura Cândido Adjetivo 1614
Cavalgadura Cavalgado Verbo (particípio) XIV
Censura Do latim censura 1402
Chatura Chato Adjetivo ---------------
Cintura Do latim cinctura XIV
Cobertura Do latim coopertura 1257
Criatura Do latim criatura XIII
Cultura Do latim cultura XV
Curvatura Do latim curvatura 1560
Dentadura Dentado Verbo (particípio) 1697
Desenvoltura Do italiano desenvolture
XV
Ditadura Do latim dictadura 1563
Dobradura Dobrado Verbo (particípio) 1562
Doçura Doce Adjetivo XV
Embocadura Embocado Verbo (particípio) 1673
Envergadura Envergado Verbo (particípio) 1844
Envoltura Envolto Verbo (particípio) XIV
Escritura Do latim scriptura XIII
Espessura Espesso Adjetivo XIV
Estatura Do latim estatura XV
Fartura Do latim fartura XIV
Fechadura Fechado Verbo (particípio) XIV
Feitura Feito Verbo (particípio) XIII
Feiura Feio Adjetivo 1918
Ferradura Ferrado Verbo (particípio) 1110

172
Fervura Do latim fervura XIV
Finura Fino Adjetivo XIX
Fofura Fofo Adjetivo 1994
Formatura Do latim Formatura 1697
Formosura Formoso Adjetivo 1344
Fratura Do latim fractura 1202
Frescura Fresco Adjetivo 1543
Fritura Frito Verbo (particípio) 1836
Fundura Fundo Adjetivo XV
Gastura Gasto Verbo (particípio) XIX
Gordura Gordo Adjetivo XIV
Gostosura Gostoso Adjetivo 1918
Grossura Grosso Adjetivo XIII
Investidura Investido Verbo (particípio) XV
Juntura Junto Verbo (particípio) XV
Laqueadura Laqueado Verbo (particípio) XX
Largura Largo Adjetivo XV
Legislatura Do francês legislature 1770
Licenciatura Do latim licenciatura 1654
Ligadura Do latim ligatura XIII
Longura Longo Adjetivo XIV
Lonjura Longe Advérbio XIX
Loucura Louco Adjetivo XIII
Magistratura Do latim magistratura Verbo (particípio) 1760
Mordedura Mordido Verbo (particípio) XIV
Negrura Negro Adjetivo XIV
Nervura Nervo Substantivo 1788
Partitura Do italiano partitura 1789

173
Picadura Picado Verbo (particípio) XV
Pintura Do latim pinctura 1103
Postura Do latim postura XIII
Queimadura Queimado Verbo (particípio) XV
Quentura Quente Adjetivo XIII
Rachadura Rachado Verbo (particípio) XVI
Rapadura Rapado Verbo (particípio) XIV
Secura Seco Adjetivo XIV
Semeadura Semeado Verbo (particípio) XV
Sepultura Do latim sepultura XIII
Soltura Solto Verbo (particípio) XIII
Temperatura Do latim temperatura XVII
Tenrura Tenro Adjetivo XVII
Ternura Terno Adjetivo XVI
Tessitura Do italiano tessitura XIX
Tesura Teso Adjetivo 1721
Textura Do latim textura 1691
Tintura Do latim tinctura XIV
Tontura Tonto Adjetivo 1836
Travessura Travesso Adjetivo XIII
Varredura Varrido Verbo (particípio) XV
Verdura Verde Adjetivo XIV

174
ANEXO III
Número de ocorrências no site de busca Google dos vocábulos utilizados no
corpus.
PALAVRA OCORRÊNCIAS NO GOOGLE
Abertura 81.400.000
Abotoadura 65.300
Abreviatura 3.000.000
Advocatura 106.000
Agrura 70.400
Altura 228.000.000
Alvura 2.550.000
Amargura 8.070.000
Andadura 3.250.000
Apertura 682.000.000
Armadura 14.300.000
Assadura 200.000
Assinatura 40.800.000
Atadura 40.800.000
Arquitetura 38.400.000
Baixura 70.900
Belezura 388.000
Benzedura 944.000
Brancura 224.000
Brandura 224.000
Bravura 7.820.000
Brochura 6.110.000

175
Candidatura 49.100.000
Candura 426.000
Cavalgadura 50.300
Censura 43.900.000
Chatura 247.000
Cintura 46.100.000
Cobertura 102.000.000
Criatura 19.700.000
Cultura 715.000.000
Curvatura 4.950.000
Dentadura 3.280.000
Desenvoltura 1.650.000
Ditadura 10.500.000
Dobradura 1.150.000
Doçura 3.370.000
Embocadura 638.000
Envergadura 8.220.000
Envoltura 4.180.000
Escritura 49.800.000
Espessura 9.760.000
Estatura 19.800.000
Fartura 6.350.000
Fechadura 3.490.000
Feiura 493.000
Ferradura 1.530.000
Fervura 722.000
Finura 1.400.000
Fofura 2.890.000
Formatura 5.850.000
Formosura 493.000
Fratura 2.680.000

176
Frescura 11.300.000
Fritura 1.240.000
Fundura 86.400
Feitura 2.550.000
Gastura 55.300
Gordura 13.200.000
Gostosura 388.000
Grossura 366.000
Investidura 4.230.000
Juntura 866.000
Laqueadura 200.000
Largura 32.000.000
Legislatura 26.800.000
Licenciatura 32.000.000
Ligadura 921.000
Longura 50.600
Lonjura 55.900
Loucura 20.900.000
Magistratura 13.700.000
Mordedura 1.060.000
Negrura 609.000
Nervura 191.000
Partitura 12.300.000
Picadura 2.640.000
Pintura 189.000.000
Postura 46.900.000
Queimadura 1.090.000
Quentura 131.000
Rachadura 674.000
Rapadura 2.500.000
Secura 5.630.000

177
Semeadura 866.000
Sepultura 17.700.000
Soltura 4.270.000
Temperatura 178.000.000
Ternura 22.300.000
Ternura 55.600
Tessitura 2.780.000
Tesura 79.400
Textura 28.700.000
Tintura 5.240.000
Tontura 800.000
Travessura 395.000
Varredura 2.390.000
Verdura 21.300.000

178
ANEXO IV
Separação dos vocábulos por século.
Sem datação
Chatura
Século XII
Palavra Datação
Pintura 1103
Ferradura 1110
Século XIII
Palavra Datação
Altura XIII
Amargura XIII
Brancura XIII
Criatura XIII
Escritura XIII
Feitura XIII
Grossura XIII
Ligadura XIII
Loucura XIII
Postura XIII
Quentura XIII
Sepultura XIII

179
Soltura XIII
Travessura XIII
Vestidura XIII
Fratura 1202
Cobertura 1257
Século XIV
Palavra Datação
Abertura XIV
Abotoadura XIV
Alvura XIV
Andadura XIV
Assadura XIV
Atadura XIV
Brandura XIV
Bravura XIV
Cavalgadura XIV
Cintura XIV
Envoltura XIV
Espessura XIV
Fartura XIV
Fechadura XIV
Fervura XIV
Gordura XIV
Longura XIV
Mordedura XIV
Negrura XIV

180
Rapadura XIV
Secura XIV
Tintura XIV
Verdura XIV
Armadura 1344
Formosura 1344
Século XV
Palavra Datação
Censura 1402
Agrura XV
Baixura XV
Cultura XV
Desenvoltura XV
Doçura XV
Estatura XV
Fundura XV
Investidura XV
Juntura XV
Largura XV
Picadura XV
Queimadura XV
Semeadura XV
Varredura XV

181
Século XVI
Palavra Datação
Assinatura 1504
Apertura 1516
Abreviatura 1536
Frescura 1543
Curvatura 1560
Arquitetura 1561
Dobradura 1562
Ditadura 1563
Rachadura XVI
Ternura XVI
Século XVII
Palavra Datação
Temperatura XVII
Tenrura XVII
Candura 1614
Licenciatura 1654
Embocadura 1673
Textura 1691
Dentadura 1697
Formatura 1697
Século XVIII
Palavra Datação
Advocatura 1712

182
Tesura 1721
Magistratura 1760
Legislatura 1770
Nervura 1788
Benzedura 1789
Partitura 1789
Século XIX
Palavra Datação
Brochura 1820
Candidatura 1858
Envergadura 1844
Finura XIX
Fritura 1836
Gastura XIX
Lonjura XIX
Tessitura XIX
Tontura 1836
Século XX
Palavra Datação
Feiura 1918
Gostosura 1918
Fofura 1994
Belezura XX
Laqueadura XX

183
ANEXO V
Separação dos vocábulos por função nominalizadora.
Nominalização Referenciação Abstratização Intensificação
Benzedura Abertura Agrura Apertura
Censura Abotoadura Altura Baixura
Embocadura Abreviatura Alvura Belezura
Envoltura Advocatura Amargura Chatura
Investidura Andadura Brancura Fartura
Ligadura Armadura Brandura Feiura
Rapadura Arquitetura Bravura Fofura
Semeadura Assadura Candura Frescura
Soltura Assinatura Desenvoltura Fundura
Varredura Atadura Doçura Gastura
Brochura Envergadura Juntura
Candidatura Espessura Longura
Cavalgadura Estatura Lonjura
Cintura Finura Negrura
Cobertura Formosura Quentura
Criatura Gordura Secura
Cultura Grossura
Curvatura Largura
Dentadura Loucura
Ditadura Nervura
Dobradura Postura
Escritura Ternura
Fechadura Tesura

184
Feitura Tontura
Ferradura Verdura
Fervura Tenrura
Formatura
Fratura
Fritura
Laqueadura
Legislatura
Licenciatura
Magistratura
Mordedura
Partitura
Picadura
Pintura
Queimadura
Rachadura
Sepultura
Temperatura
Tessitura
Textura
Tintura
Travessura

185
ANEXO VI
Textos utilizados na constituição do corpus histórico retirados do
CorpusdoPorguês.org.
TEXTO DATAÇÃO
A demanda do Santo Graal XV
Adonias Aguiar – Corpo Vivo 1962
Afonso X – Primeira Partida 1300
Aluísio de Azevedo – O Mulato 1881
Angela Abreu – Santa Sofia 1997
António Nunes Ribeiro Sanches – cartas sobre a educação da
mocidade
1760
Aquilino Ribeiro – Terras do Demo 1919
Artur Azevedo – A capital Federal XX
Bento Pereira – Prosodia 1697
Bento Pereira – Tesouro da Língua Portuguesa 1697
Boosco Deleitoso 1400-1451
Cecília Meireles – Olhinhos de gato 1939
Crónica da Ordem dos Frades Menores 1209-1285
Crónica do Conde D. Pedro de Meneses 1400-1500
Crónica Geral de Espanha de 1344 1344
Cronica Troyana 1388
Eça de Queirós – O Crime do Padre Amaro 1875
Eça de Queirós – O Primo Basílio XIX
Eça de Queirós – Os Maias 1888
Eça de Queirós– A ilustre casa de Ramires 1900
Emílio de Menezes – prosa de circunstância XIX

186
Érico Veríssimo – O tempo e o vento 1961
Euclides da Cunha – Peru versus Bolívia XIX
Euclides da Cunha – Sertões 1902
Fernão Lopes – Crónica de Dom Fernando XV
Fialho de Almeida – Gatos XIX
FOLHA:10064:SEC:des 1994
FOLHA:11348:SEC:soc 1994
Francisco Costa – cárcere invisível 1972
Francisco de Holanda – Da pintura antiga 1561
Francisco J. C. Dantas – Cartilha do Silêncio 1997
Francisco Rodrigues Lobo – Côrte na Aldeia e Noites de Inverno 1607
Frei Tomé de Jesus – Trabalhos de Jesus 1529-1582
Fróis – História do Japam 1 1560-1580
Garcia de Resende – Cancioneiro de Resende 1516
Garcia de Resende – Vida e feitos d’el-rey Dom João Segundo 1533
Gonçalo Fernandes Trancoso – Proveito 1517-1594
Gonçalo Garcia de Santa Maria - Euangelhos e epistolas con
suas exposições en romãce
1497
Jerónimo Cardoso – Dicionário Portugues Latim 1562
João de Barros – Gramática da Língua Portuguesa 1540
José de Alencar – Til XIX
José Pixote Louzeiro – Infância dos Mortos 1977
Joyce Cavalcante – Inimigas íntimas 1993
Lídia Jorge – Antonio XX
Lima Barreto – Cemitério dos vivos 1881
Livro de vita Christi 1446
Lucena - Historia da vida do Padre S. Francisco Xavier 1600
Machado de Assis – Dom Casmurro 1899
Machado de Assis – Esaú e Jacó 1904
Manoel de Oliveira Paiva – Dona Guidinha do Poço XIX
Notários – inquisições manuelinas XVI

187
Paulo de Carvalho-Neto – Suomi 1986
Pedro Taques de Almeida Paes Leme - Nobiliarquia paulistana
histórica e genealógica
1770
Pinheiro Landim 1997
Posturas do Conselho de Lisboa 1360
Rafael Bluteau – Vocabulario portuguez e latino 1712-1721
Rui de Pina – Crónica de Dom Duarte XV
Sílvio Benfica XX
Soror Maria do Céu – Aves Ilustrados 1738
Textos Notariais. Clíticos na História do Português 1304
Textos Notariais. Clíticos na História do Português 1402-1499
Textos Notariais. Documentos Notariais dos Séculos XII a XVI. 1200-1300
Textos Notariais. Documentos Notariais dos Séculos XII a XVI. 1300-1400
Textos Notariais. História do galego-português 1301-1399
Tomaz de Figueiredo – A Gata Borralheira 1954
Tratado da Cozinha Portuguesa 1400
Vida e feitos de Júlio Cesar 1400-1500
Xambioá: Guerrilha no Araguaia – Cabral, Pedro Corrêa 1993

188
ANEXO VII
EXPERIMENTO Sexo: ( ) M ( ) F Idade: ______ Período: ______ Neste experimento, estamos interessados em compreender as suas intuições, como falante nativo da língua portuguesa, sobre a aceitabilidade de alguns itens. Avalie as palavras a seguir atribuindo um valor de 1 a 3: da mais conhecida (1) à palavra menos recorrente (3). Sinta-se livre para usar qualquer valor da escala, escrevendo o número na linha abaixo de cada palavra. Mas não leve muito tempo pensando; marque os itens de acordo com a sua primeira impressão. Obrigado pela colaboração!
1) Twitação Twitamento Twitura
2) Bateção Batimento Batidura
3) Estudação Estudamento Estudadura
4) Zapeação Zapeamento Zapeadura
5) Cortação Cortamento Cortadura
6) Deletação Deletamento Deletura
1------------------------------------------------------ 3 ---------------------------------------------------5 | | | não aceitável aceitável plenamente aceitável

189
ANEXO VIII
Pequeno corpus com os outros afixos utilizados na comparação
Sufixo –mento
Palavra Categoria da base
Emagrecimento Verbo
Fechamento Verbo
Afastamento Verbo
Saneamento Verbo
Atropelamento Verbo
Firmamento Verbo
Comportamento Verbo
Sofrimento Verbo
Casamento Verbo
Crescimento Verbo
Sufixo -ção
Palavra Categoria da base
Animação Verbo
Oração Verbo
Invenção Verbo
Cotação Verbo
Medição Verbo
Competição Verbo
Terminação Verbo
Intensificação Verbo

190
Nominalização Verbo
Abstratização Verbo
Sufixo –agem
Palavra Categoria da base
Barragem Verbo
Drenagem Verbo
Aprendizagem Verbo
Filmagem Verbo
Decolagem Verbo
Folhagem Substantivo
Pastagem Verbo
Molecagem Substantivo
Criadagem Substantivo
Malandragem Adjetivo
Sufixo –ice
Palavra Categoria da base
Burrice Adjetivo
Chatice Adjetivo
Idiotice Adjetivo
Velhice Adjetivo
Gordice Adjetivo
Babaquice Adjetivo
Tontice Adjetivo
Meninice Substantivo
Tolice Adjetivo
Canalhice Adjetivo

191
Sufixo –eza
Palavra Categoria da base
Magreza Adjetivo
Avareza Adjetivo
Riqueza Adjetivo
Beleza Adjetivo
Esperteza Adjetivo
Tristeza Adjetivo
Dureza Adjetivo
Malvadeza Adjetivo
Frieza Adjetivo
Moleza Adjetivo
Sufixo –ão
Palavra Categoria da base
Mulherão Substantivo
Lonjão Advérbio
Solzão Substantivo
Carrão Substantivo
Filhão Substantivo
Cabeção Substantivo
Fortão Adjetivo
Festão Substantivo
Gordão Adjetivo
Chatão Adjetivo
Sufixo –inho
Palavra Categoria da base
Mulherzinha Substantivo

192
Filminho Substantivo
Cafezinho Substantivo
Carrinho Substantivo
Garotinho Substantivo
Fofinho Adjetivo
Lindinho Adjetivo
Pertinho Advérbio
Doidinho Adjetivo
Mortinho Substantivo
Sufixo –oso
Palavra Categoria da base
Saboroso Adjetivo
Feioso Adjetivo
Gostoso Adjetivo
Meloso Adjetivo
Jeitoso Adjetivo
Carinhoso Adjetivo
Danoso Adjetivo
Perigoso Adjetivo
Famoso Adjetivo
Maldoso Adjetivo
Sufixo –udo
Palavra Categoria da base
Narigudo Substantivo
Barrigudo Substantivo
Peitudo Substantivo
Bundudo Substantivo

193
Orelhudo Substantivo
Bicudo Substantivo
Peludo Substantivo
Barbudo Substantivo
Carnudo Substantivo
Pontudo Substantivo
Sufixo –ção intensificador
Palavra Categoria da base
Falação Verbo
Pegação Verbo
Beijação Verbo
Bebeção Verbo
Forçação Verbo
Colação Verbo
Mordeção Verbo
Começão Verbo
Compração Verbo
Ficação Verbo