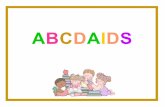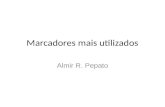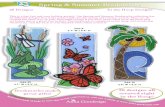Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
-
Upload
marcosdabata -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
-
8/18/2019 Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
1/10
Resumo
Os argumentos apresentados neste artigo partemde apontamentos etnográficos oriundos de pes-quisa antropológica realizada entre travestis quese prostituem. A partir da análise dessas notas,apresentam-se as categorias classificatórias acio-nadas pelas travestis que se prostituem a fim de,
por esses termos, demarcarem diferenças poucoconsideradas pelos formuladores de políticas desaúde, mas que são significativas para elas, pois sereferem a maneiras singularizadas de subjetivida-des nas quais gênero, geração, classe e raça estãoimplicadas. Assim, procura-se explorar como essesmarcadores sociais da diferença operam contextuale relacionalmente nas respostas que esses sujeitostêm elaborado frente à sistemática associação en-tre travestis e aids, e como esses eixos se enfeixamcompondo experiências específicas do adoecer e
do sofrimento, ao mesmo tempo em que permitemque as travestis mobilizem diversas estratégias deresistência e enfrentamento a processos de estig-matização. A discussão a ser empreendida vale-sedo escopo teórico pós-estruturalista, bem como dascontribuições do feminismo como crítica episte-mológica.Palavras-chave: Travestis; Aids; Marcadores Sociaisda Diferença: Diversidade; Diferença.
Larissa Pelúcio
Doutora em Ciências Sociais. Professora Assistente Doutora da
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação – Unesp Bauru.
Endereço: Rua São Gonçalo 10-74, apt. 131, Bauru, SP, Brasil.
E-mail: [email protected]
1 Financiamento: Os dados deste artigo provêm de pesquisa fi-
nanciada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp), entre os anos de 2003 e 2007.
Trabalho apresentado no II Encontro Paulista de Ciências Sociaise Humanas em Saúde, junho de 2009.
Marcadores Sociais da Diferença nas
Experiências Travestis de Enfrentamento à aids1
Social Markers of Difference in the Experiences of
Transvestites Coping with AIDS
76 Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.1, p.76-85, 2011
-
8/18/2019 Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
2/10
Abstract
The arguments presented in this study are basedon an ethnographic investigation resulting froman anthropological research carried out with trans- vestites involved in prostitution. From the analysisof the findings of this study, the transvestites were
classified according to categories denoting diffe-rences which generally are not adequately takeninto consideration by health policy-makers, butwhich are indeed significant to the transvestitessince those differences indicate singular mannersof subjectivity which include gender, generation,social class, and race. Therefore, this study focu-sed on investigating how these social markers ofdifference influence contextually and socially theanswers resulting from the systematic associationbetween transvestites and AIDS and also how these
facts are connected considering specific experiencesof becoming ill and suffering, at the same time thatthey enable them to develop resistance strategies todeal with stigmatization processes. The analysesare based on post-structuralist theories and oncontributions from feminism as an epistemologicalcriticism.Keywords: Transvestites; AIDS; Social Markers ofDifference; Diversity; Difference.
Fragmentos Etnográficos
Estou sentada à beira da cama de Monique Close,travesti que, além de ser dona de uma pensão paratravestis, é bombadeira, isto é, injeta silicone líqui-do no corpo daquelas que desejam ter formas maisarredondadas e, assim, silhuetas tidas como mais
femininas. Por três anos frequentei sua pensão,acompanhando a rotina daquele lugar, as festas,algumas sessões de “bombar” ou tirando fotos paraaquelas moradoras que desejavam ter imagens paradivulgar via internet. Naquela noite, o combinadoera que Monique me concederia uma entrevistasobre os aspectos relativos à saúde e à doençaentre as travestis que se prostituem2. Afinal, comobombadeira e “cafetina”3, ela é tida como detentoralegítima de uma série de saberes sobre corpo, saúde,sofrimento e cura.
Monique se ajeita na outra ponta da cama eespera a primeira pergunta, que ela responderá depronto: “Para você, qual é o maior problema de saúdeque as travestis enfrentam?”. “Pra mim, o maior pro-blema de saúde das travestis são as drogas”, avalia.É da experiência de já ter “bombado” mais de 30corpos e dos cuidados diários que precisa ter comas travestis que moram em sua pensão que Moniquefaz sua avaliação sobre as aflições relativas à saúdedesse segmento social, atribuindo às drogas ilícitas
um papel importante.
2 Grande parte dos dados e reflexões presentes neste texto provém de meu trabalho de campo durante os anos de 2003 e 2007, quandorealizei meu doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Esta investi-gação resultou no livro Abjeção e Desejo – uma etnografia travesti sobre o modelo preventivo de aids, publicado em setembro de 2009pela editora Annablume. Naquela pesquisa, a proposta era investigar e analisar, por meio da observação participante, a maneira comoo discurso oficial preventivo para DST e aids circula no “universo travesti” e como é ali resignificado. Serviu-me de campo empírico oprojeto Tudo de Bom, alocado na agência pública de saúde DST/Aids Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde. Ele é vol-tado para trabalhadores do sexo que atuam na capital paulistana, valendo-se da “educação entre pares” como recurso metodológico deintervenção. Assim, prostitutas mulheres, travestis e michês (homens que se prostituem) foram capacitados para atuarem como agentesde prevenção, o que implicou não só em uma atuação pelos espaços do mercado paulistano do sexo como no envolvimento em reuniõessemanais nas unidades de saúde às quais estavam ligados, participação em eventos afins e, em alguns casos, na realização de plantões
semanais que também tinham lugar nas respectivas unidades de saúde. Em outra ponta, o trabalho etnográfico desenvolveu-se nos espa-ços de prostituição, lazer e sociabilidade das travestis e clientes, assim como na casa/pensão administrada por travestis. Espaço que semostrou de grande importância no aprendizado das travestilidades e, dessa forma, nos preceitos morais que orientam muitas daquelaspessoas, seja nas percepções sobre saúde e doença, na significação dos episódios de sofrimento, nos cuidados corporais e estéticos, bemcomo sobre as regras que regem a dinâmica da rua e da própria casa.
3 Entre as travestis este termo não tem o mesmo significado que aquele da prostituição feminina, no qual uma assimetria de gênero parecepermear as relações entre a prostituta e o chamado cafetão. Entre as travestis a cafetina ocupa um papel organizador e ramificado narede das travestilidades. Atua na rua, na casa e nos corpos. É tanto aquela que explora e até maltrata, quanto a que cuida. Por interessesmateriais ou afetivos, é a ela que as travestis da casa reportam suas dores e problemas de saúde. Assim, a cafetina pode ganhar tambémum status de mãe, no sentindo de cuidadora e protetora. É ela quem impõe as regras que, se não cumpridas, podem custar muito caro àinfratora. A ela se paga a “diária”, que corresponde não só à moradia (e em algumas casas à alimentação), mas também à proteção na ruae ao direito de fazer ponto na região de domínio da cafetina.
Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.1, p.76-85, 2011 77
-
8/18/2019 Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
3/10
Em fevereiro de 2006, em visita à Casa de ApoioBrenda Lee , instituição que abriga travestis vivendo
com HIV/aids, converso com uma das moradoras que
se propôs a me dar entrevista. Melina4, à época com53 anos, conta sobre sua vida antes e depois do HIV.Nesse balanço, faz uma análise das questões de saú-de que, na sua percepção, mais matam as travestis e
diagnostica: “É a depressão”. Esta seria resultantede um cotidiano de “pressão”, no qual a violêncianão assume um caráter de excepcionalidade, masde rotina. Não é apenas na fala de Melina que a “de-pressão” aparece como doença, como um sofrimentoresultante do acúmulo de “pressão”. Márcia, travestique por 20 anos conheceu de perto a realidade da“rua”5, vê a pressão como consequência do duploestigma da prostituição e da travestilidade6. Na suaavaliação foi esse contexto que levou ao suicídio uma
famosa travesti. Nesse meio você não tem com quem contar. Porque
se você fala certas coisas com ela [uma colega de
rua, hipotética], ela começa a contar pra rua toda.
Por exemplo, se eu sou uma bicha de estrela e entro
muito [faz muitos programas], se ela fica sabendo
de algum problema meu, ela vai querer queimar
meu filme. Tanto que aquela bicha7 lá foi queimada
na internet, né? Aquela que se jogou... Camila! Se
jogou, né? De tanta pressão8. (Entrevista concedida
à pesquisadora em 14/11/2005, na residência deMárcia).
Márcia, que também é agente de prevenção,observa que nesse cotidiano de pressão fazer o tra-balho de convencimento para que as travestis quese prostituem compareçam ao posto de saúde é de-safiante, sobretudo quando se trata das “novinhas”.
“ As antigas se tratam, né? [...] E as novinhas... Sabeque é novinha, tá ali disponível, tá ali de biquíni...
Porque não sente frio, né? Pode tá o frio que tá elas
tão ali, de calcinha”. (Márcia, em entrevista conce-dida à pesquisadora, em 14/11/2005.)
Para muitas travestis “veteranas”, termo usadoentre elas para se referirem àquelas mais velhas e
com experiência na noite, as “novinhas” ou “ninfe-tinhas” são “abusadas”, ou seja, são desrespeitosase arrogantes. Por essas características, se arriscammais, seja enfrentando o frio nas esquinas, comorelata Márcia, ou demonstrando urgência na trans-formação do corpo, o que leva algumas a ingerir pordia grande quantidade de hormônios femininos.
A ingestão exagerada de pílulas anticoncepcio-nais ou de grandes doses desses hormônios de formainjetável leva algumas travestis a terem dificuldadesde ereção, comprometendo sua atuação profissional.Esse é um dos motivos pelos quais Greyce Negra nãose “hormoniza”. Ela é bastante cotada entre os clien-tes justamente por ser tida como “bem-dotada”, ouseja, ter pênis grande, e ser ativa no sexo (penetraro cliente) sempre que demandado. Ainda que desejefortemente ter seios, Greyce não tem coragem defazer tal intervenção. Ela me disse, certa vez, quesofria muito porque seu exu não gostava que elafosse travesti e “judiava” demais dela. Por isso,justifica-se, acaba consumindo muita cocaína e
bebidas alcoólicas.Os fragmentos etnográficos apresentados até
aqui mostram como as experiências que conformamas travestilidades no Brasil estão marcadas por umarecusa social dessa expressão de gênero, o que levaa situações de violência invisibilizadas, quando nãotoleradas, que marcam de forma dramática muitas
4 Todos os nomes foram trocados a fim de preservar a privacidade e a segurança das pessoas entrevistadas.
5 Rua/esquina/pista/avenida são termos usados pelas travestis para se referirem aos espaços de prostituição rueira.
6 O termo “travestilidade” vem sendo proposto por autores como William Peres (2005) não só para marcar a heterogeneidade de possibi-lidades identitárias das travestis, como também em substituição ao sufixo “ismo”, que remete à doença e a patologias. Trata-se ainda deuma busca por alargar aspectos de categorização identitária do termo “travesti”, que pode ser bastante simplificador quando se procuracontemplar a gama de possibilidades dessa experiência. Como ocorre com outros segmentos sociais, as travestis têm se referenciadoem imagens múltiplas do ser mulher/homem, em discussões cada vez mais presentes sobre os temas gênero e sexualidade veiculadasem diversos meios de comunicação. Somam-se a isso as variações regionais e de ambientes, as quais também incidem nessas escolhas. A pesquisa de Tiago Duque (2009) traz dados importantes nesse sentido, mostrando que há uma geração mais nova que expressa outraspercepções e reivindicações relativas à corporalidade, estética de gênero e à orientação sexual.
7 A maioria das travestis com as quais convivi trata-se por “bicha”. Termo que, na maior parte das vezes, não guarda a conotação pejorativaque costuma ter quando usado em contextos fora daqueles em que se dão as interações entre elas.
8 Refere-se a Camila de Castro, travesti considerada muito bonita e polêmica. Camila suicidou-se, pulando do sétimo andar do prédio emque morava. Quando isso aconteceu, ela tinha um quadro no programa Superpop, apresentado por Luciana Gimenez, na RedeTV .
78 Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.1, p.76-85, 2011
-
8/18/2019 Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
4/10
vidas. A dificuldade dos discursos hegemônicos emalocar as travestis em algum lugar seguro dentro dobinarismo de gênero tem feito com que estas nãosejam consideradas vidas legítimas, uma vez queseus gêneros não são inteligíveis.
Para a filósofa Judith Bulter, “gêneros inteligí- veis” são aqueles que, em certo sentido, instituem
e mantêm relações de coerência e continuidadeentre sexo, gênero, prática sexual e desejo (Butler,2003, p. 38). Essa inteligibilidade dada pela normaheterossexual é a mesma que torna as travestisseres “abjetos”, isto é, aqueles que são alocadospelo discurso hegemônico nas “zonas invisíveis einabitáveis” onde, segundo Judith Butler (2002, p.18), estão os seres que não são apropriadamentegenereficados, os que, vivendo fora do imperativoheterossexual, servem para balizar as fronteiras danormalidade, sendo fruto, portanto, desse discursonormatizador que institui a heterossexualidadecomo natural (Butler, 2002, 2003).
As notas de campo apontam, ainda, para o enfei-xamento dos marcadores sociais da diferença, taiscomo sexualidade, gênero, geração, classe, religiãoe raça/etnia, nas experiências que conformam atravestilidade. Assim, procurarei explorar nestetexto como esses marcadores operam contextual erelacionalmente nas respostas que esses sujeitostêm elaborado frente à sistemática associação entre
travestis e aids, e de como esses eixos se enfeixamcompondo experiências específicas do adoecer e dosofrimento, ao mesmo tempo em que permitem queas travestis mobilizem diversas estratégias de resis-tência e enfrentamento a processos de exclusão.
Para esse fim, começo apresentando uma brevediscussão sobre a interseccionalidade9 e o contextono qual esta proposta analítica surgiu. Em seguida,procuro trabalhar com a tensão entre diversidade ediferença, a necessidade de se conferir consistência
teórico-analítica ao primeiro termo e os ganhos quese pode ter com o enfrentamento das diferençase seus paradoxos, pensados a partir da busca por
refinamento teórico da noção de diferença10. Porfim, volto ao campo etnográfico para apresentaras categorias classificatórias acionadas pelas tra- vestis que se prostituem a fim de, por esses termos,demarcarem diferenças pouco consideradas pelosformuladores de políticas de saúde, mas que sãosignificativas para elas, pois se referem a maneiras
singularizadas de subjetividades, nas quais gênero,geração, classe e raça estão implicadas.
Intersecções e Diferenças
As discussões sobre os marcadores sociais da dife-rença são relativamente recentes. Historicamente,essas abordagens têm seu ponto de referência no“feminismo das diferenças”, nascido nos EstadosUnidos ao longo dos anos 1980. Essa vertente teó-rica surge como uma crítica à miopia do feminismo vigente, voltado, segundo formularam diversasautoras, para as mulheres brancas, anglófonas,heterossexuais, protestantes e de classe média.Estas vozes periféricas se articulam também parapropor uma epistemologia crítica capaz de superaras limitações teóricas expressas nos binarismoshomem/mulher, masculino/feminino, homo/hete-ro, West /rest , tomados como essencializadores ebiologizantes. O feminismo da diferença procurasalientar que o sujeito é social e culturalmente
constituído em tramas discursivas nas quais gênero,raça, religião, nacionalidade, sexualidade e geraçãonão são variáveis independentes, mas se enfeixamde maneira que o eixo de diferenciação constitui ooutro ao mesmo tempo em que é constituído pelosdemais. Esse debate avança e no final da década de1990 já reúne um escopo considerável de reflexões.Entre as contribuições teórico-conceituais elabo-radas naquele período vale reter as propostas pelafeminista e socióloga indiana Avtar Brah.
Três dessas propostas serão recortadas para osfins desse texto: a primeira delas é a de se pensara articulação dos marcadores sociais da diferença
9 O termo é tomado da discussão apresentada pelas teóricas feministas Avtar Brah e Ann Phoenix (2004) que propõem considerar os mar-cadores sociais da diferença de forma enfeixada, considerando que cada eixo de diferenciação compõe os outros e é composto por eles. As autoras consideraram, ainda, as implicações políticas, econômicas e culturais que cercam essas categorizações, além do contextohistórico na qual as intersecções ocorrem.
10 Minayo propõe que noção, enquanto termo teórico, descreve “unidades de definição que intermedeiam experiência e conhecimento, masnão possuem, ainda, clareza” (1999, p. 92).
Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.1, p.76-85, 2011 79
-
8/18/2019 Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
5/10
como prática, como um movimento transformadorde configurações relacionais. Opção metodológicaque a autora considera mais produtiva do que asapresentadas pelas grandes teorias, como o marxis-mo, por exemplo, que deu ênfase à classe em detri-mento de outros marcadores; ou alguns feminismosque encontraram no gênero um poder explicativo
que minimizava outros eixos de diferenciação cons-titutivos dos sujeitos.
Entre as travestis que compuseram meu campoetnográfico, o gênero apareceu como um marcadorcapaz de acionar uma micropolítica do cotidiano,sintetizada no “escândalo”. Por meio desse meca-nismo de enfrentamento, elas procuram afirmar-seno feminino, enfrentando rechaços, estigma e pro-cessos de exclusão. Para Don Kulick e Charles Klein,por meio da estratégia do escândalo as travestis
procuram estender o espaço de sua própria abjeçãoàqueles que comumente as recusam, humilham eoprimem (Kulick e Klein, 2003, p. 02). Essa “reter-ritorialização” da vergonha tem um sentido trans-gressivo, uma vez que as travestis usam o seu poderde “contaminação” para implicar o “bom cidadão”supostamente “de bem”, “limpo”, “másculo”.
A vivência da travestilidade recorta no cotidianobinário das representações de gênero um espaço decontestação (nem sempre consciente), onde, parafra-seando Brah, “posições de sujeitos e subjetividades
diferentes e diferenciais são inscritas, reiteradas ourepudiadas” (Brah, 2006, p. 361). As travestis vivem,muitas vezes, na tensão do binarismo de gênero,recusando por ora um e exacerbando outro, paraem algum momento resgatar o gênero repudiado eem outro criticar aquele desejado. Isso porque suas vivências pessoais, como as da maior parte das pes-soas, são informadas por discursos e práticas sociaisque constroem verdades sobre como devem ser oshomens e como precisam ser as mulheres, e o que
significa ser um ou outro (e nunca um e outro).Para ser entendido em toda a sua dimensão des-critiva e analítica, o gênero precisa ser pensado emsuas imbricações com raça que, por sua vez, não sesepara facilmente de um pertencimento de classe edas representações sobre sexualidade, corpo, saúde,do que é ser mulher ou homem, presentes de maneiramais ou menos sistematizada nos diferentes grupossociais.
A segunda proposta que considero importanterecortar no texto de Brah é a de se tomar as expe-riências como constitutivas dos sujeitos e não ocontrário. A experiência tomada como “processode significação” (Brah, 2006, p. 360) nos permiteabordá-la como “lugar de formação do sujeito” (Brah,2006, p. 361). As experiências que constituem as
travestilidades no Brasil estão entrecortadas pelaracialização e sexualização de determinadas classessociais e de certos fenótipos de cor, pela erotizaçãode relações subalternizantes e pela exigência de umacoerência que deve ser corporificada entre femini-lidade e passividade. Analisadas por esse prisma,as experiências dos sujeitos ganham sua dimensãocultural, social e política.
Dessa forma, as diferenças são vividas comodesigualdades, isto é, elas hierarquizam sujeitos e
coletividades. Quando se trata de indivíduos, essasdesigualdades tendem a singularizar, via estereó-tipos, esses sujeitos. E, no caso das coletividades,o que parece perceptível é a homogeneização dassingularidades, das vivências particulares, desconsi-derando-se, por exemplo, que existem diferenças ex-perimentadas lateralmente, isto é, singularizam semnecessariamente estabelecerem desigualdades.
E aqui chego à terceira contribuição que tomode empréstimo de Avtar Brah: pensar a diferençacomo uma ferramenta analítica, capaz de fornecer
elementos que, além de descritivos, possam nosajudar a articular os níveis micro e macrossocial, afim de se pensar quais são os processos que marcamcertos indivíduos e grupos como distintos, e como,a partir da experiência da diferença, enquanto desi-gualdade, os sujeitos se constituem subjetivamente. Ainda dentro desse marco, é interessante atentarpara a presença cada vez mais sensível, nos textosque orientam políticas públicas em saúde, de dis-cursos que procuram tratar da diversidade social
e cultural, sem que a diferença (que de fato é o queestá em questão) seja abordada em todas as suasconsequências políticas.
Diversidade e Diferenças
Para Homi Bhabha, a diversidade seria uma cate-goria focada na segmentação cultural, na qual cadasegmento teria seus direitos garantidos a partir de
80 Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.1, p.76-85, 2011
-
8/18/2019 Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
6/10
uma lógica liberal, e não libertária (Bhabha, 2005,p. 63 e 64). Seria, por essa perspectiva, uma espéciede “tribalização”, que circunscreve grupos e homoge-neíza os sujeitos. No caso específico da prevenção àaids, a opção pela “diversidade” como um referencialapenas descritivo, e não teórico/epistemológico, apa-ga “os marcadores efetivamente significativos, úteis
para a compreensão das continuidades e desconti-nuidades nas representações sobre corpo, emoção,pessoa, dor, doença e saúde” (Duarte, 1998, p. 18). Épreciso considerar que existe uma clara hierarquiaentre as diferentes matrizes explicativas sobre es-ses processos de significação, conferindo à ciênciamédica uma considerável hegemonia explicativa.Portanto, esses saberes descritos como diversos são,de fato, diferentes e desigualmente legitimados.
A diferença só pode ser entendida relacionalmen-
te, assumindo-se que existem normas e convençõestidas como válidas, mas das quais os “diferentes”se distanciam. O que quero dizer é que o conceitode “diversidade”, tal como vem sendo operacionali-zado, nubla as tensões que existem entre os muitosdiscursos11 produtores de visões de mundo. E, assim,dificulta uma abordagem que considere as relaçõesde poder implicadas na produção de regimes de verdades. É preciso considerar que no campo dasaúde (como em outros, evidentemente) existe umconhecimento tido como legítimo em detrimento
de outros que precisariam ser “adequados” àque-le. E que a hegemonia que este discurso chegou aalcançar só pode ser entendida se consideramos asrelações históricas que conferem a certos saberes (enão a outros) o poder de instituir verdades.
Problematizar a diferença nos colocaria frente aodesafio de lidar com as tensões que o enfrentamento
cotidiano com o “outro” provoca. Pois é no espaço doencontro com o diferente, com o “outro”, que nasce oembate, mas também os acordos. O convívio huma-niza o “estranho” e pode, por essa via, provocar mu-danças nos indivíduos e, assim, nas relações sociais.Na busca por essas mudanças, têm sido promovidaspolíticas que visam à igualdade. Paradoxalmente, es-
sas medidas acabam por sublinhar as diferenças quese quer combater. Porém, como discutiu Joan Scott(2005), esta pode ser uma estratégia necessária emcertos momentos, justamente para dar visibilidadea determinado conjunto de indivíduos que, por moti- vos históricos e políticos, foram privados do acessopleno aos direitos civis.
Trazendo essa proposta para o terreno dos fatos,e sem querer fazer uma crítica vazia, uma vez quereconheço o valor da iniciativa, penso como exemplo
a criação do Ambulatório para Travestis e Transe-xuais pela Secretaria da Saúde do Estado de SãoPaulo12. O projeto pioneiro nos coloca frente ao queScott (2005) chamou de “paradoxo da diferença”. Ao criar um serviço especializado e que pretendeconferir direitos constitucionais às travestis e aostransexuais, cria-se também um espaço de aten-dimento apartado, “guetizado” por um lado, masque, por outro, permite o acesso mais tranquilo erespeitoso a esses segmentos. Ao invés de apostarnas Unidades Básicas de Saúde (UBS) como ambien-
te “plural”13, criou-se um outro, especializado, queprocura contemplar direitos específicos, mas queisola pessoas que vêm experimentando os espaçosapartados há décadas.
Em termos teóricos, considero ser mais produ-tivo procurar entender quais foram os percursoshistóricos capazes de produzir certos grupos como
11 O termo é usado aqui no sentido empregado por Foucault (1987) quando se refere “ao conjunto de saberes e práticas que formam siste-
maticamente os objetos de que falam”. Ou seja, os discursos que estariam supostamente descrevendo um real pré-dado estão, de fato,implicados com a produção desse real e de seus sujeitos.
12 Em 2009, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo inaugurou na capital o Ambulatório para Travestis e Transexuais, por meiodo qual compromete-se em oferecer assistência integral a travestis e transexuais. Para tanto, disponibiliza atendimento especializadoem urologia, proctologia e endocrinologia (terapia hormonal), avaliação e encaminhamento para implante de próteses de silicone ecirurgia para redesignação sexual. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria, “as demandas foram estabelecidas com base nassolicitações mais recorrentes observadas nos serviços de saúde e apontadas também pelos movimentos sociais que atuam no setor”. O Ambulatório anunciado como o primeiro do Brasil voltado para esses segmentos tem, segundo a mesma fonte, capacidade para atenderaté 100 pacientes por mês. (Disponível em: .)
13 Coloco o termo entre aspas, pois sabemos que, de fato, os serviços públicos de saúde são mais acessados por pessoas provenientes dasclasses populares do que das classes médias e altas, por exemplo. De maneira que esta pluralidade não se aplica quando se pensa a partirda variável classe social.
Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.1, p.76-85, 2011 81
-
8/18/2019 Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
7/10
“minorias”14. Ao invés de concentrar-nos em estudosque abordam os diferentes segmentos por uma pers-pectiva teórica que corre sempre o risco de resvalarpara uma abordagem essencialista. Em termos prá-ticos, esse caminho pode parecer moroso, uma vezque as questões de saúde e cidadania são prementes.De forma que estabelecer políticas focadas para
certos segmentos a partir de estudos que abordemsociológica e antropologicamente as “subculturas”sexuais pode render respostas mais rápidas e, atémesmo, eficientes. Meu argumento não pretendequestionar os resultados científicos desses traba-lhos, mas a abordagem metodológica que toma asdiferenças como dadas, invisibilizando os processossociais que as criam (Scott, 1998). Mais produtivoseria “focar nos processos sociais classificatórios,hierarquizadores, em suma, nas estratégias sociais
normalizadoras dos comportamentos” (Miskolci,2007, p. 13). Por essa via, torna-se possível proble-matizar os processos de exclusão e estigmatizaçãoque patologizaram e criminalizaram as travestis, porexemplo. Além de provocar reflexões sobre o risco deguetização implicado em algumas políticas.
O Direito à “Sidadania”
Quando se cria políticas preventivas para HIV/aidsespecíficas para algumas populações ou ambula-
tórios exclusivos para outras, estamos diante deum dos paradoxos da igualdade, dos quais nos falaScott, em seu livro O Enigma da Igualdade (2005). Ao mesmo tempo em que se promove a igualdade,pelo acesso universal aos serviços de saúde, se estásublinhando justamente a diferença que se desejasuperar.
No caso das políticas preventivas para HIV/aids, épreciso considerar que estas tiveram em sua gênesepreocupações de matizes segregacionistas, muito
mais do que de atenção à diferença (a diversidade,nos idos dos anos 1980, sequer era pensada quandose elaborava tais medidas, até mesmo porque nãotinha adquirido seu tom político atual). Sabemosque tais ações, ao se centrarem na orientação e nocomportamento sexual dos indivíduos, acabaram
alimentando pânicos morais. Mais ainda, somarama processos de estigmatização já existentes umoutro elemento, no caso, a aids. Naquele contexto,as diferenças serviram para hierarquizar sujeitos ecomportamentos. Corrigir esse viés de origem nãotem sido tarefa fácil. Trata-se agora de “positivar” a“diferença”, tratando-a como “diversidade”. Porém,
para driblar a discriminação e promover a cidadania,é preciso tomar a diferença e a diversidade comotermos históricos e, por isso mesmo, políticos.
Em relação às travestis, é preciso considerar queantes da aids não se tinha políticas públicas nãopunitivas que as contemplassem, uma vez que suas vidas eram tomadas como desimportantes. Valendo-me do vocabulário teórico de Butler, as travestistêm sido constituídas como seres abjetos, isto é,pessoas às quais se têm negado sistematicamente o
privilégio da ontologia. Segundo Butler, “a abjeçãode certos tipos de corpos, sua inaceitabilidade porcódigos de inteligibilidade, manifesta-se em políti-cas e na política, e viver com um tal corpo no mundoé viver nas regiões sombrias da ontologia” (Butlerem entrevista a Prins e Meijer, 2002, p. 157).
Os processos sociais que têm constituído astravestis como abjetos são marcados por discursosque tomam o corpo como alvo privilegiado dos me-canismos e das relações de poder e, assim, instituem verdades sobre o que são esses sujeitos. Verdades
que se fundam, muitas vezes, na sexualidade e namaneira como se lida com ela. A heterossexualida-de, tomada como princípio, torna-se sinônimo denormalidade. Dessa forma, os que não se ajustam aesse padrão têm sido historicamente patologizados.E, por sua vez, a patologização e a criminalizaçãotêm proporcionado tecnologias para disciplinar enormalizar os desviantes (Foucault, 2003).
Nos nebulosos lugares de fronteira que são “anoite” e “a rua”, as travestis que se prostituem ne-
gociam formas de se fazerem visíveis, possíveis erespeitáveis. Quando os programas de prevenção asinterpelam nesses ambientes, mais um dos tantosparadoxos que cercam suas vidas aparece: o que seoferece a elas como direito civil e humano virá estrei-tamente ligado à aids, mantendo-as como pessoas
14 Miskolci atenta para a armadilha do termo minoria que, “sob a pretensa neutralidade numérica, desvaloriza grupos subordinados peloshegemônicos (propositalmente confundidos com maioria). Um exemplo claro é a incoerência de se referir às mulheres como minoria jáque elas constituem numericamente a maior parte da humanidade” (Miskolci, 2007, p. 01).
82 Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.1, p.76-85, 2011
-
8/18/2019 Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
8/10
associadas à patologia e ao desvio. E mais, essainterpelação acaba por exigir que as travestis abdi-quem de construir uma cultura própria, passando ase orientar por valores que lhes são alheios.
Ao não reconhecer o desejo das travestis comoalgo ponderável, o projeto de cidadanização do mo-delo preventivo se esvai: sai o “c” e entra o “s”. O que
ser quer, de fato, é “SIDAdanizadas”, numa alusãoque faço à SIDA, ou aids. A Sidadanização se dariapor meio da promoção de “programas educativos”e “de conscientização política”, que dizem respeitonão somente à divulgação de informações sobre adoença, mas almejam a mudança de comportamento.Porém, nessas intervenções tem se dado pouca aten-ção aos determinantes sociais que, muitas vezes,impedem que essas mudanças ocorram. Ou mesmoaos aspectos culturais que conferem significado às
condutas desses indivíduos. Acredito que, para se entender a relação das tra- vestis com a aids e com o sistema oficial de saúde,é preciso que se pense o fenômeno da travestilidadea partir da proposta antropológica de ouvir o queas pessoas têm para dizer de si mesmas. E, a partirdaí, buscar o potencial analítico das categoriasclassificatórias que servem para descrever os outrose a si mesmo.
“Eu me Cuido, Mona15
”Durante o período que estive em campo, a aids apa-receu com distintos sentidos nas falas das travestiscom as quais tive contato. Esses sentidos não sãoexcludentes, mas sobrepostos, uma vez que sãoconstruídos contextualmente e se relacionam comas diferentes experiências das travestilidades.
Entre as travestis mais novas e/ou aquelas ativasna prostituição não foi incomum que a aids fossetomada (a) como termo de acusação que serve para
comprometer e desprestigiar aquela/aquele que sedeixou contaminar. Aspecto expresso em sentençascomo “aids é coisa de bicha burra”. Das mais velhase também das mais pobres ouvi avaliações da doen-ça (b) como algo constituinte das travestilidades, verbalizado com frequência no refrão “todas têm
[aids]”. Em certos contextos, esse também era umbordão acionado pelas mais novas. Já as travestisengajadas em projetos preventivos e/ou ONG/Aids,a aids foi (c) percebida como um canal de visibili-dade e politização. Aqui, a categoria “informação”é acionada para descrever toda uma trajetória detransformação moral que as levou de “aidéticas” a
“ativistas”.Fosse nas andanças junto com agentes de pre-
venção do projeto Tudo de Bom ou em conversasinformais na casa de Monique, a sentença “Eu mecuido!” foi acionada inúmeras vezes para remetera um conjunto de cuidados fortemente assentadona dedicação ao corpo, pois dele dependem paratrabalhar e, acima de tudo, para serem travestis.Esses tratos começam com medidas epidérmicas,cotidianamente reiteradas; envolvem ingestão de
hormônios e de vitaminas como a B12, tomadasantes de “se hormonizar”; passam por aprender aabrigar-se nas noites frias sem perder o apelo desedução; exigem um constante autovigiar-se, a fimde modelar a voz e suavizar os gestos; manter-sebronzeada; dominar técnicas sexuais para lidar coma clientela e garantir mais conforto corporal para si;observar como estão pênis e ânus; garantir dinheiropara a diária devida à cafetina e, assim, assegurar oteto e a proteção. “Cuidar-se”, “na noite”, requer jogode cintura para lidar com a rivalidade de uma outra
travesti, com o cliente que não quer pagar, com os“bandidos” que vêm fazer um acerto ou roubá-las;para se esquivar da abordagem policial, muitas vezeshumilhante e violenta. Como se vê, esse “cuidar-se”pouca relação tem com aquele apregoado pelo sis-tema oficial de cuidados/tratamento.
Uma travesti top se cuida. Se assim não fosse,não poderia assegurar esse título que lhe confereum status diferenciado. Sua aparência impecável,segundo padrões vigentes de beleza (corpo esbelto,
pele bronzeada, cabelos tratados), revela um cuidadoextremado na busca da feminilização, reforçandoo vínculo expresso por diversos segmentos sociaisentre beleza e saúde. Tal esmero também é esperadodas “europeias”, travestis que tiveram experiênciasinternacionais bem-sucedidas financeiramente, o
15 Entre as travestis com as quais convivi, o termo “mona”, derivado do ioruba-nagô, é largamente usado nas interlocuções com outratravesti, e significa “menina”.
Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.1, p.76-85, 2011 83
-
8/18/2019 Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
9/10
que fica visível não só em bens materiais adquiridoscomo em uma transformação corporal que pode in-cluir diversas cirurgias plásticas, o que lhes rendeprestígio na rede das travestilidades. Assim, dificil-mente tops e “europeias” recorrerão às unidades desaúde especializadas em DST/aids em busca de exa-mes e/ou insumos. Distanciar-se do “gueto” faz parte
dos “cuidados” que estas costumam tomar para nãose deixarem “contaminar” pelas “bandidas”, “trave-cões”, “penosas”, enfim, por aquelas desprestigiadasseja por sua conduta, pela idade, estilo corporal ouposses materiais. São estas as que costumam fazeruso sistemático de drogas lícitas e ilícitas, recursoacionado a fim de contornar as pressões cotidianas,o insucesso com o processo de feminilização, o en- velhecimento, a solidão e o estigma.
Nessas classificações próprias do universo tra-
vesti se encontram enfeixados diversos marcadoressociais da diferença, como geração (ninfeta/vetera-na), estilos (top/travecão), raça (potranca/bandida)16,que incidem sobre a percepção sobre o corpo, a saúdee sobre os cuidados de si. Conformam-se, assim,subjetividades singulares, ainda que socialmentemarcadas pela experiência comum da abjeção.
Historicamente patologizadas, criminalizadas,assassinadas e ridicularizadas, as travestis têmperseguido projetos que tornem suas vidas maishabitáveis. Assim, muitas delas aprendem desde
muito cedo a viver nos entre-espaços, construindouma vasta rede de sociabilidade e negócios quepossam assegurar-lhes o direito de viver uma vidatravesti. Das fugas de casa, a fim de protegerem-se,às escapadelas furtivas pela noite, em busca de re-ferências; das alianças domésticas à filiação a umatravesti mais velha; dos “truques” estéticos aos jogoseróticos, que garantem o seu poder de sedução; do“escândalo” acionado como mecanismo de proteçãoe resistência, as travestis mostram sua “capacida-
de de fazer”. Essa agência confere à maioria delaspoder sobre seus corpos e, assim, sobre suas vidas. Ainda que estas sejam alvo constante de violênciae controle.
Referências
ABATE, M. C. “No lugar da tutela, o diálogo e oprotagonismo”. In: MESQUITA, F.; SOUZA, C. R. .DST/Aids a nova cara da luta contra a epidemia
na Cidade de São Paulo. São Paulo: Raiz da Terra,2003.
BENEDETTI, M. Toda feita: o corpo e o gênero dastravestis. Rio de Janeiro: Garamond Universitária,2005.
BHABHA, H. O local da cultura. Belo Horizonte:Editora da UFMG, 2005.
BRAH, A.; PHOENIX, A. Ain’t I a woman?Revisiting intersectionality. Journal ofInternational Women’s Studies, Bridgewater, MA, v. 5, n. 3, p. 75-86, may 2004,
BRAH, A. “Diferença, diversidade, diferenciação”.Cadernos Pagu. Campinas, n. 26, p. 329-376, jan/jun. 2006
BUTLER, J. “Cuerpos que Importan” – Sobre loslímites materiales y discursivos del “sexo”. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós, 2002.
BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismoe subversão da identidade. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2003.
DUARTE, L. F. D. “Pessoa e Dor no Ocidente”. Horizontes Antropológicos. Porto Alegre, ano 4, n.9, p. 13-28, p. 13-28, outubro 1998.
DUQUE, T. Montagens e desmontagens: vergonhae estigma na construção das travestilidadesna adolescência. Dissertação de mestradoapresentada ao Programa de Pós-Graduaçãoem Sociologia, Centro de Ciências Humanas,Universidade Federal de São Carlos, 2009.
FOUCAULT, M. Arqueologia do Saber . Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1987.FOUCAULT, M. História da Sexualidade , v. 1 – A Vontade de Saber. 13. ed. São Paulo: Graal, 2003.
16 É interessante observar que entre clientes e travestis não é incomum que as loiras ou aquelas de pele mais clara sejam as nomeadascomo “deusas”, as “mulheres perfeitas”, enquanto as negras e mulatas são as “potrancas”, aquelas que têm “um lindo clitóris” (eufemis-mo acionado entre clientes para se referirem ao pênis das travestis) valorizado pela sexualização ancestral que se faz dos negros numasociedade de passado escravocrata como a nossa (Para uma discussão mais aprofundada sobre a relação entre travestis e clientes verPelúcio, 2007).
84 Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.1, p.76-85, 2011
-
8/18/2019 Marcadores Sociais Da Diferença Nas Experiências Travestis de Enfrentamento à aids
10/10
KULICK, D.; KLEIN, C. “Scandalous Acts: thepolitics of shame among Brazilian travestiprostitutes”. In: HOBSON, Barbara. The Struggle for recognition. Oxford: Blackwell, 2003.
MINAYO, C. O desafio do conhecimento. São Paulo:Hucitec, 1999.
MISKOLCI, R. “A Teoria Queer e a questão dasdiferenças”. In: CONGRESSO DE LEITURA NOBRASIL, (COLE) 16, 2007, Campinas. Anais... Campinas: ALB Associação de Leitura do Brasil, v.1. p. 1-19. 2007.
PELÚCIO, L. “‘Mulheres com Algo Mais’ – corpos,gêneros e prazeres no mercado sexual travesti”.Revista Versões, São Carlos, v. 03, p. 77-93, 2007.
PELÚCIO, L. Abjeção e desejo – uma etnografiatravesti sobre o modelo preventivo de aids. São
Paulo: Annablume, 2009.
PERES, W. S. Subjetividade das travestisbrasileiras: da vulnerabilidade da estigmatizaçãoà construção da cidadania. Tese de Doutorado –Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Rio deJaneiro, 2005.
PRINS, B.; MEIJER, I. C. “Como os corpos setornam matéria: entrevista com Judith Butler”.Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, v.10, n. 1, p. 155-167, 1 semestre, 2002.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Saúde. Spganha primeiro ambulatório para travestis etransexuais do país. Portal do Governo, São Paulo,09 jun. 2009. Disponível em: . Acesso em:15 dez. 2010.
SCOTT, J. W. “O enigma da igualdade”. EstudosFeministas. Florianópolis, v. 13, n. 1, p.11-30, jan./abr. 2005.
SCOTT, J. W. “A Invisibilidade da Experiência”.Projeto História. São Paulo, PUC, n. 16, p. 297-325.1998.
Recebido em: 20/09/2010Aprovado em: 04/10/2010
Saúde Soc. São Paulo, v.20, n.1, p.76-85, 2011 85