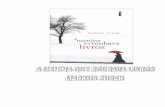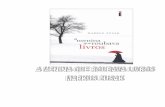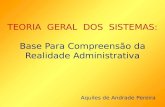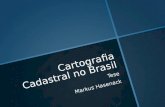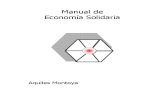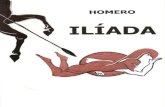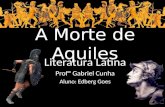MARCOS ROBERTO ALVES OLIVEIRA O CONFRONTO … · Ao meu filho amado e ainda no inicio da vida...
Transcript of MARCOS ROBERTO ALVES OLIVEIRA O CONFRONTO … · Ao meu filho amado e ainda no inicio da vida...
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS MESTRADO EM ÉTICA E EPISTEMOLOGIA
MARCOS ROBERTO ALVES OLIVEIRA
O CONFRONTO ENTRE THOMAS KUHN E IMRE LAKATOS SOBRE A RACIONALIDADE CIENTÍFICA
TERESINA 2012
MARCOS ROBERTO ALVES OLIVEIRA
O CONFRONTO ENTRE THOMAS KUHN E IMRE LAKATOS SOBRE A
RACIONALIDADE CIENTÍFICA
Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do título de Mestre, pelo Mestrado em Ética e Epistemologia, Centro de Ciências Humanas e Letras, Universidade Federal do Piauí. Orientador: Prof. Dr. Gerson Albuquerque de
Araújo Neto.
TERESINA 2012
TERMO DE APROVAÇÃO
MARCOS ROBERTO ALVES OLIVEIRA
O CONFRONTO ENTRE THOMAS KUHN E IMRE LAKATOS SOBRE A RACIONALIDADE CIENTÍFICA
Dissertação aprovada como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ética e Epistemologia, Centro de Ciências Humanas e Letras, Universidade Federal do Piauí, pela seguinte banca examinadora:
__________________________________________________________
Prof. Dr. Gerson Albuquerque de Araújo Neto – UFPI (Orientador)
___________________________________________________________
Prof. Dr. Paulo Eduardo Oliveira – PUC/PR (Examinador externo)
__________________________________________________________
Prof. Dr. Emerson Carlos Valcarenghi – UFPI (Examinador/MEE)
Teresina, 24 de setembro de 2012
AGRADECIMENTOS
Agradeço em primeiro lugar, a minha mãe, Hildenê Alves Oliveira, pelo seu amor incondicional, pelo apoio e incentivo em todos os momentos da minha vida.
A minha irmã, Márcia Cristina Alves Oliveira, pelos diálogos, sorrisos e “brigas” que temos todas as vezes que estamos juntos.
A minha tia/mãe Mirian Mesquita dos Remédios, pelo seu carinho e atenção que me foi dado durante todos os momentos vividos nesta jornada em Teresina.
Ao meu tio Solimar Oliveira pela compreensão e apoio dado em um momento importante de minha vida.
A todos os amigos que fiz em Teresina e dentro do Campus da UFPI. Assim como aos amigos da minha turma do MEE, cada um uma história, cada um uma vitória.
Ao amigo conterrâneo Ivan Pessoa, pela jornada que fizemos juntos em busca de nossa qualificação profissional, pelos vários momentos de reflexões que tivemos ao dividirmos a mesma moradia e pelos vários momentos de entretenimentos regados a muitas risadas.
Ao amigo Luis Magno, parceiro de diálogos filosóficos e de trabalho.
A todos os Professores do MEE e em especial ao meu orientador Prof. Dr. Gerson Albuquerque, um exemplo de dedicação, cultura e bom humor.
As Professoras do CESTI-UEMA, Natércia Garrido e Lucimeire Rodrigues Barbosa, pelo apoio e diálogo sobre o trabalho realizado.
Ao meu filho amado e ainda no inicio da vida Markus Aquiles, para que possa sempre se orgulhar do seu pai e que seja um incentivo para que venha a ser também um amigo da sabedoria.
“[...] Se vai tentar, Vá em frente
Não há outro sentimento como este Ficará sozinho com os Deuses
E as noites serão quentes Levará a vida com um sorriso perfeito
É a única coisa que vale a pena.”
(Charles Bukowski)
RESUMO
Este trabalho tem por objetivo evidenciar o confronto entre o pensamento de Thomas Kuhn e Imre Lakatos no que se refere a racionalidade científica. Está organizado em quatro capítulos, onde inicialmente é caracterizada a contextualização histórica do debate científico, enfatizando a metodologia indutivista moderna, em seguida é apresentado as teorias de Thomas Kuhn e Imre Lakatos, caracterizando os seus pensamentos e destacando a influência de Karl Popper nos trabalhos desenvolvidos por estes autores. No segundo capítulo, o pensamento sobre a obra de Thomas Kuhn é aprofundado e enfatiza-se o conceito de paradigma. No terceiro capítulo, mostramos como se desenvolve a metodologia dos programas de pesquisa de Imre Lakatos o que nos leva gradualmente a uma confrontação com as teses kuhnianas. No quarto capítulo aprofundaremos o confronto propriamente dito entre Kuhn e Lakatos naquilo em que eles defendem quanto à visão de desenvolvimento científico. Concluímos mostrando as principais divergências entre Kuhn e Lakatos a respeito da racionalidade científica decorrentes, sobretudo, da maneira diferenciada que cada um concebe a história da ciência, demonstrando que em Kuhn, ela parece ser o resultado de todos os tipos de interferências humanas (relativista), já para Lakatos, é considerada como atividade ideal (racional), distanciada de todo contágio com a realidade sócio-psico-cultural.
Palavras-chave: Racionalidade científica; História da ciência; Filosofia da ciência.
ABSTRACT
This paper aims to look upon the divergence between Thomas Kuhn and Imre Lakatos' thoughts towards science's progress. It is organized in three chapters, in which historical contextualization of scientific debate is initially characterized, emphasizing modern indutivist methodology so we can present Thomas Kuhn and Imre Lakatos' theories thereafter, characterizing their thoughts and pointing out Karl Popper's influence in their works. In the second chapter we analize Thomas Kuhn's work deeply, emphasizing the concept of paradigm. In the third chapter we present how Imre Lakatos' research programs' methodology is developed, which gradually leads us to a confrontation with kuhnian thesis. In fourth chapter deepen the confrontation itself between Kuhn and Lakatos on what they argue about the vision of scientific development. We conclude this paper by showing the main differences between Kuhn and Lakatos regarding scientific progress, observing their different points of view concerning science history, showing that in Kuhn's, it appears to be the result of all kinds of human interferences, but for Lakatos it is considered as an ideal activity (rational one), far away from all the cultural - psycho- social reality influence. KEYWORDS: Rationality scientific. Science history. Science philosophy.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO...................................................................................................................................... 11
CAPÍTULO I -THOMAS KUHN E IMRE LAKATOS: EM BUSCA DE UMA NOVA FILOSOFIA DA CIÊNCIA A PARTIR DA CRÍTICA POPPERIANA AO PENSAMENTO INDUTIVO-POSITIVISTA.................... ................................................... 13
1 Panorama geral sobre o progresso da ciência e sua contextualização histórica.................... 13
2 Karl Popper: o epicentro das divergências entre Thomas Kuhn e Imre Lakatos.................. 15
3 A ruptura de Thomas Kuhn e a ampliação de Imre Lakatos da concepção popperiana de ciência.................................................................................................................................... 18
CAPÍTULO II - AS REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS: O MODELO P ROPOSTO POR THOMAS KUHN..................................................................................................................... 29
1 Ciência normal e ciência revolucionária: em busca das resoluções de quebra-cabeças de acordo com o paradigma vigente......................................................................................... 29
2 O Paradigma enquanto Matriz Disciplinar: generalizações simbólicas, modelos, valores e solução exemplar de problemas........................................................................................ 37
3 O papel da História e da Sociologia dentro da obra A Estrutura das Revoluções Científicas............................................................................................................................ 45
CAPÍTULO III - PROGRAMAS DE PESQUISA: UMA RECONSTRU ÇÃO RACIONAL LAKATOSIANA................................................................................................ 47
1 O falseacionismo............................................................................................................... 49
2 A Metodologia dos Programas de Investigação Científica............................................... 60
3 Lakatos: a história da ciência e sua reconstrução racional................................................ 65
CAPÍTULO IV - O CONFRONTO ENTRE O RACIONALISMO LAKA TOSIANO VERSUS O RELATIVISMO KUHNIANO...........................................................................
72
CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................... 77
REFERÊNCIAS........................................................................................................................ 82
11
INTRODUÇÃO
Ao refletir-se sobre a ciência, busca-se fundamentalmente analisar aquilo que a caracteriza
enquanto um tipo de conhecimento e atividade. Tem-se como objetivo desta reflexão
problematizar a constituição de um tipo de conhecimento científico, o seu processo interno de
desenvolvimento, os questionamentos estabelecidos entre este tipo de conhecimento/atividade e
seu contexto sociocultural (história interna x história externa).
O desenvolvimento da atividade científica nos últimos séculos é inquestionável, pois a
necessidade do homem de conhecer e ampliar seus domínios produz transformações constantes
na natureza. Porém, foi no século XX que a atividade científica provocou um enorme debate a
respeito do significado e importância da própria ciência, principalmente quando buscou estudar
as possibilidades e os limites da investigação científica e como se realiza sua interpretação da
realidade.
Entre as diversas questões dignas de preocupação sobre a discussão do progresso científico,
suas fontes e a validade dos conhecimentos produzidos, destacamos os seguintes
questionamentos: como as teorias científicas são desenvolvidas? Qual a relação entre as teorias e
a experiência? Em que consiste o método científico? Como uma teoria ganha precedência sobre
outra?
Caracterizar o progresso da ciência quando esta é entendida como atividade que se
desenvolve no interior de um paradigma, conforme é entendida por Thomas Kuhn, e como
atividade identificada como Metodologia de Programas de Pesquisa, de acordo com Imre
Lakatos, bem como marcar as diferenças originadas da convicção comum aos dois autores de que
a ciência é um empreendimento condicionado por sua História, são os objetivos que constituem o
fio condutor deste projeto.
Quanto à apresentação deste trabalho, podemos descrevê-lo em três capítulos: no primeiro
capítulo, começamos fazendo uma abordagem geral das discussões sobre a racionalidade
científica, onde busco situar o problema a partir das posições tomadas por pensadores adeptos da
metodologia indutivista exaltada no pensamento moderno, pois a análise do indutivismo moderno
é fundamental para a compreensão dos posicionamentos assumidos por Kuhn e Lakatos. Dando
continuidade ao capítulo, partimos para a compreensão da ciência proposta por Karl Popper, que
serve tanto de distanciamento como de aproximação das ideias de Kuhn e Lakatos, onde faremos
12
um destaque aos aspectos gerais introdutórios à obra desses autores; no segundo capítulo,
elaboramos uma espécie de acompanhamento central das ideias de Kuhn, dando maior enfoque
ao caminho percorrido pela evolução do conceito de paradigma, destacando, neste espaço, o peso
da comunidade científica e de suas decisões na formulação de uma determinada teoria científica;
no terceiro capítulo, apresentaremos primeiramente as ideias centrais de Lakatos e
paulatinamente, mostrando o quanto a teoria lakatosiana inviabiliza as teses kuhnianas,
principalmente no que diz respeito à condenação feita por Lakatos da dependência direta das
decisões científicas oriundas por parte da comunidade científica. O estatuto de cientificidade para
Lakatos só é possível a partir de critérios lógico-metodológicos, fato que verificamos no
itinerário percorrido pelo autor através daquilo que denominou de programas de pesquisa como
regras que determinam as atitudes que o cientista deve ou não tomar; no quarto e último capítulo
confrontaremos Kuhn e Lakatos naquilo em que eles defendem enquanto visão de
desenvolvimento científico, uma vez que Kuhn defende um relativismo e Lakatos um
racionalismo presente na ciência.
E por fim, nas considerações finais de nosso trabalho, procuramos recapitular alguns
aspectos que parecem centrais na divergência entre Kuhn e Lakatos. Após reconhecermos que o
elemento comum a ambos é o recurso à História da Ciência, indicamos que tipo de compreensão
cada um dos autores tem da História. A conclusão de que, para Kuhn, a História é repleta das
circunstâncias reais que compõem a vida do cientista em geral e de que, para Lakatos, a História
é alguma coisa do tipo ideal, independente dos condicionantes sócio-psicológicos, é algo que não
seria possível sem a consideração da presença significativa do pensamento de Karl Popper.
Reconhecer, finalmente, que a ciência e seu desenvolvimento foram profundamente marcados
pelo pensamento desses autores nos permite afirmar que, como uma atividade profundamente
humana, a ciência, longe de ser compreendida pelo seu sentido conclusivo, se abre, extrapolando
toda tentativa de dogmatismo através do exercício da crítica, desenvolvida num duro exercício de
enfrentamento, encontrando em Kuhn e Lakatos argumentos que transformaram definitivamente
a maneira de se conceber o progresso da ciência.
13
CAPÍTULO I – THOMAS KUHN E IMRE LAKATOS: EM BUSCA D E UMA NOVA FILOSOFIA DA CIÊNCIA A PARTIR DA CRÍTICA POPPERIANA AO PENSAMENTO INDUTIVO-POSITIVISTA.
1 Panorama da racionalidade cientifica e sua contextualização histórica.
A abordagem do processo de produção do conhecimento científico tem sido apontada como
de fundamental importância para compreender a ciência como uma atividade humana
historicamente contextualizada.
Formas diferentes de pensar a atividade científica se originaram na tentativa de estabelecer
um método capaz de definir uma forma de racionalidade cientifica, sua importância e seu
desenvolvimento, construídos a partir de duas visões: uma baseada em observações que vão do
particular para o geral, identificando a determinação das causas pelo estabelecimento da
regularidade dos acontecimentos, o método indutivo, e outra que afirma que a elaboração das
teorias não é explicada a partir da indução, uma vez que não podemos reduzir os conceitos
teóricos à sua base observacional, o método dedutivo.
Entre os pensadores que formularam importantes considerações a respeito do conhecimento
científico destaca-se, no período de transição do século XVI para o século XVII, Francis Bacon,
que fez da ciência a referência principal de sua obra. Bacon é considerado o grande responsável
pela matriz empirista, influenciando a atividade científica durante um longo tempo.
Para Bacon, o conhecimento científico resulta da valorização da experiência e da
articulação do homem com a natureza. A experiência associada a técnica de experimentação
constituem a base e o objetivo do conhecimento. Em sua obra Novum Organum, ele busca
caracterizar uma estratégia metodológica que tenha um alcance maior que a lógica aristotélica até
então aceita.
A importância de Bacon é mostrada na sistematização do conhecimento através da
utilização de um método experimental, contribuindo desta forma, para a compreensão da ciência
e da racionalidade. Seu pensamento sobre a ciência baseia-se na reformulação da indução,
admitida até então como um processo enumerativo pela tradição aristotélica, tornando-se para ele
uma atividade ampliativa, onde se conclui um enunciado geral a partir de um número
14
determinado de ocorrências particulares.
Após um século da análise baconiana sobre o indutivismo, David Hume inicia uma nova
análise que questiona as bases indutivistas e, sobretudo a sua justificação. Hume apesar de
romper com o indutivismo mantém uma visão empirista / observacionalista como base da
atividade científica. Na obra Investigação acerca do entendimento humano, Hume delineia o
caminho da experiência indutivista ao conceber o conhecimento como fruto das informações
fornecidas pelas percepções do espírito: “Portanto, deve ser assunto digno de nossa atenção
investigar qual é a natureza desta evidência que nos dá segurança acerca da realidade de uma
existência e de um fato que não estão ao alcance do testemunho atual de nossos sentidos ou do
registro de nossa memória” (HUME, 1992 p. 78).
As discussões estabelecidas na filosofia da ciência dos séculos XIX e XX são
caracterizadas por uma mistura de posições acerca da racionalidade científica. Nesse contexto,
encontramos os que rejeitam e os que buscam a reformulação dos princípios existentes a partir de
Bacon até Hume, destacando-se o grupo de Viena, sobretudo no início do século XX, que mais
tarde tomaria a denominação de Círculo de Viena, com a publicação de diversos textos.- As
discussões abordadas por este grupo adquiriram destaque a partir da publicação de um Manifesto
intitulado A concepção científica do mundo: o Círculo de Viena.
Através deste manifesto, seus autores tentaram lançar as bases de um movimento de
reformulação da compreensão e análise do conhecimento humano, enfatizando o conhecimento
científico, o que mais tarde originou um movimento denominado empirismo lógico. Seus
objetivos eram lançar as bases da construção de uma ciência unitária e imunizar a ciência contra a
contaminação metafísica.
O empirismo lógico harmoniza duas concepções: a empirista, que afirma ser a experiência
sensível a única base sólida do conhecimento e a teórica de matriz lógica, onde estão situados
Frege, Russell e também Wittgenstein do Tractatus Lógico - Philosophicus, cuja importância foi
determinante para os trabalhos do Círculo de Viena.
Ao refletir-se sobre a ciência, sua compreensão e desenvolvimento, a qual foi tomando
forma a partir das convicções de que a mesma se orienta principal e essencialmente para a análise
de um objeto, que podem ser considerados a parte ou simplesmente não considerados outros
aspectos que podem influenciar na compreensão de uma racionalidade científica, é que nos
capítulos seguintes procuraremos apontar as linhas básicas de uma reflexão sobre a filosofia da
15
ciência, desenvolvidas por Kuhn e Lakatos, naquilo em que eles se confrontam, desenvolvida a
partir da crítica formulada à atividade científica como acabamos de verificar.
2 Karl Popper: o epicentro das divergências entre Thomas Kuhn e Imre Lakatos.
O pensamento neo-positivista, ao adotar a verificação empírica como critério para
estabelecer a distinção entre os enunciados dotados de sentido daqueles destituídos dos mesmos,
transformou a investigação sobre a ciência no esforço que procura saber em que condições e
segundo que critérios aquilo que se afirma tem um caráter científico. Na obra do Círculo de
Viena, foi estabelecido como ponto prioritário o rompimento com a filosofia, uma vez que seus
problemas tradicionais estavam destinados ou bem a serem reformulados através de sua
transformação em problemas empíricos, ou abandonados por se comportarem como
pseudoproblemas (HAHN, et al., 1986).
O pensamento positivista defende a tese de que a utilização lógica da razão humana é um
instrumento para se chegar à verdade e que a ciência é a maior conquista desse modelo. Sob esta
perspectiva, podemos aceitar a inexistência de problemas filosóficos. A atividade filosófica tem,
doravante, estatuto e objetivos bem definidos, ou seja, tem a tarefa de clarear os problemas ou os
enunciados por meio dos quais as questões são formuladas.
O empirismo lógico adota, como modelo de todo o conhecimento, o conhecimento
científico. Assim, o manifesto do Círculo de Viena organizado em agosto de 1929 por Hans
Hahn, Otto Neurath e Rudolf Carnap, apresenta não somente seu ângulo retrospectivo mas
também sua força prospectiva. Ele é adotado como único modelo de tudo aquilo que pretendemos
ter como conhecimento e nessa perspectiva, pretende ser, de alguma maneira, elemento a esgotar
a questão. Parece ter sido a teoria da relatividade, elaborada por Albert Einstein, a mais
importante aliada dos positivistas, principalmente na abordagem feita sobre o tema da
causalidade, que perde sua característica antropomórfica de uma “atração” ou “conexão
necessária” reduzindo-se “à relação de condicionalidade ou de coordenação funcional” (HAHN,
et al. 1986, p. 15). No entanto, parece ter sido também este acontecimento que fez suscitar
16
vigorosas críticas à perspectiva empirista tanto do conhecimento científico como do
conhecimento em geral.
A mais importante destas críticas parece ter sua origem na obra de Karl Popper, A Lógica
da Pesquisa Científica surgida em Viena no ano de 1934. Nessa obra, Popper tem um interesse
demarcacionista, ou seja, o interesse em encontrar um critério que permita distinguir a ciência da
não ciência, um critério que permita mostrar porque a física de Newton e Einstein, por exemplo,
são consideradas científicas, enquanto as construções da psicanálise ou do marxismo não o são.
Popper inicia, portanto, uma crítica ao positivismo e as verdades dos enunciados lógicos,
defendidas pelos teóricos do Círculo de Viena. Ele não aceita a distinção feita pelo Círculo de
Viena entre proposições não científicas e proposições destituídas de sentido. Acredita que as
questões metafísicas guardam um sentido do qual as ciências não podem se subtrair. Na busca
por uma demarcação entre ciência e metafísica e consequentemente tecendo severas críticas à
visão positivista da ciência, Popper (2006, p. 341, grifo do autor) declara:
Posta em breves palavras, a minha tese resume-se ao seguinte: as reiteradas tentativas de Rudolf Carnap para demonstrar que a demarcação entre ciência e metafísica coincide com a demarcação entre sentido e sem-sentido falharam. A razão é que o conceito positivista de “significado” ou “sentido” (ou de verificabilidade, ou de confirmabilidade indutiva, etc.) é inadequado para efectuar esta demarcação – pelo simples motivo de que a metafísica, apesar de não ser ciência, não tem, por isso, de ser desprovida de sentido. Em todas as suas variantes, a demarcação por falta de sentido tendeu a ser simultaneamente demasiado restrita e demasiado lata: contra todas as intenções e pretensões, revelou tendência para excluir teorias científicas como desprovidas de significado, ao mesmo tempo que se mostrava incapaz de excluir até mesmo aquela parte da metafísica que é conhecida como “teologia racional”.
É notório que o critério que permitia fazer a demarcação entre o conhecimento científico do
não científico, numa tradição que vai de Bacon ao Círculo de Viena, passando por John Stuart
Mill até Ernst Mach, foi associado ao método indutivo e na generalização por ele estabelecida,
através da observação dos fatos transformando-os em lei, “baseados nas teses indutivistas de que
a partir de experiências feitas no passado é possível se prever o resultado das experiências
futuras” (PELUSO In CARVALHO, 1989b, p.111). Esse processo, segundo Popper, apresenta
várias dificuldades, sendo que uma delas é a possibilidade de se justificar racionalmente a
passagem das observações particulares aos enunciados universais. Popper não deseja somente
reformular o problema de Hume, ele pretende também solucioná-lo.
17
Na análise feita por Hume, da indução, Popper distingue dois diferentes problemas: um
lógico e outro psicológico. O problema lógico se refere ao desafio de saber se é ou não possível, a
partir da repetição, passar dos casos surgidos da experiência aos casos dos quais não temos a
experiência; sabemos que a resposta no contexto humeano é negativa, qualquer que seja o
número de repetições que se tome em consideração. O problema psicológico, por sua vez, reflete
a necessidade de saber por quais razões os homens vivem a convicção segundo a qual os casos
nos quais a experiência não estava presente serão produzidos no futuro. A resposta de Hume é
dada através das repetições e dos hábitos que tem a função de organizar nossas experiências e
nossas expectativas. Popper retoma tais distinções e as reformula de modo a colocar em termos
de conhecimento objetivo aquilo que, em Hume, estava formulado sobre a força da crença
subjetiva. Observa Popper, que o problema lógico da indução torna-se, agora, o problema de
compreender a verdade ou falsidade das leis universais, ou seja, sua validade, relativas aos
enunciados experimentais fornecidos.
Popper parece concordar com Hume quanto à impossibilidade de se estabelecer a
universalidade de um enunciado a partir de uma série finita qualquer de observações, mas se
afasta de Hume por não concordar com uma explicação psicológica dos processos indutivos. É
sobre este ponto que Popper se opõe à tradição epistemológica dos últimos séculos. A solução do
problema para ele se apoia no fato de que o conhecimento humano não procede por indução,
“pois a crença na Lógica Indutiva deve-se em grande parte a uma confusão entre problemas
psicológicos e problemas epistemológicos” (POPPER, 1972, p. 31).
Os dados do problema são, dessa maneira, inteiramente reformulados. Mostra que a ciência
não é indutiva. O principio de indução, como tal, não pode ser justificado indutivamente, o que
forçaria a uma regressão ao infinito. A ciência não constrói suas hipóteses por indução e da
mesma maneira, não as confirma por verificação. Diz Popper (1972, p. 30):
Pois, se se deve atribuir grau de probabilidade a enunciados que se fundamentem em inferência indutiva, esta terá de ser justificada pela invocação de um novo princípio de indução, convenientemente alterado. E surgirá a necessidade de justificar esse novo princípio, e assim por diante. Nada se ganha, aliás, tomando o princípio da indução não como ‘verdadeiro’, mas apenas como provável. [...] Como todas as outras formas da lógica indutiva, a lógica da inferência provável, ou ‘lógica da probabilidade”, conduz ou a uma regressão infinita ou à doutrina do apriorismo.
18
A solução oferecida por Popper indica a necessidade de se fazer uma substituição do
processo indutivo pelas conjecturas, de um lado e de outro, substituir a exigência de
verificabilidade pelo de falseasionismo 1. É a presença de conjecturas que conduz à audaciosa
formulação de teorias. A falseabilidade inverte a ordem metodológica da verificabilidade, já que
se trata agora, de verificar se a observação falseia ou não a hipótese formulada; caso dê negativo,
se dirá que a observação corrobora a hipótese formulada. Em outras palavras, Popper não acredita
que consigamos verificar teorias, já que por mais que acumulemos fatos concretos positivos, isso
não acrescenta nenhuma certeza objetiva. Todavia, se não conseguimos verificar podemos
falsear, porque basta a presença de um único fato concreto que contrarie a teoria para afirmar que
esta já não é verdadeira. Todo o trabalho de Popper resiste aos imperativos do critério de indução.
O método indutivo não pode ser admitido como forma de alcançar as leis e nem tampouco servir
para a justificação posterior de um conhecimento empírico já adquirido, pois a indução não passa
de uma quimera tanto no contexto da descoberta quanto no contexto de sua justificação.
3 A ruptura de Thomas Kuhn e a ampliação de Imre Lakatos da concepção popperiana de
ciência.
Apesar de todas as críticas dirigidas ao indutivismo e ao positivismo, Popper desenvolve
suas ideias no interior de um quadro epistemológico que marca os limites da filosofia da ciência
desde seu aparecimento. Esse quadro pode ser caracterizado pelo fato de concentrar toda sua
atenção sobre um problema maior: o problema da tematização, do qual derivam todas as outras
questões. Este problema se apresenta como o problema da cientificidade, ou seja, do
estabelecimento de critérios que permitam aproximações ou exclusões entre enunciados,
problemas, saberes. É por esse motivo que se pode perceber, apesar das controvérsias, um
fundamento essencial nos grandes temas da filosofia das ciências no século XX, especificamente
por volta dos anos sessenta.
1
O termo “falseability” usado no original por Karl Popper é traduzido no Brasil ora por falseabilidade, falseacionismo, falsificabilidade ou ainda por falseamento.
19
Quando falamos de uma nova filosofia da ciência, de certa forma estamos falando de um
enfraquecimento e até mesmo do fim daquela problemática abordada na perspectiva indutivo-
positivista, sobretudo ao colocarmos em evidência um novo desafio de demarcação científica.
Mostrar de que maneira a formulação de um problema depende de outros problemas
adjacentes, que a seu tempo afetam e alteram o que foi proposto inicialmente, onde o núcleo de
uma questão se constitui não independentemente, mas a partir de uma gama de problematizações
periféricas que lhe conferem ou retiram significado, torna-se o enfoque principal dessa nova
filosofia da ciência do século XX.
Fundamentando-se nesse pensamento é que podemos empreender uma análise do
problema da ciência e de seu progresso articulado a partir das teses defendidas por Thomas Kuhn
e Imre Lakatos. A problemática a possibilitar tal análise é ampla e para este empreendimento
consideramos o seguinte posicionamento. O constructo lakatosiano opõe-se em alguns aspectos
ao empreendimento Kuhniano, visto que Lakatos tem a necessidade de proceder a uma
reconstrução racional do quadro popperiano em busca de um programa de investigação
historiográfico.
Para nosso trabalho, é importante entender as posições assumidas por Karl Popper,
servindo-nos como material básico para se compreender as reconstruções racionais elaboradas
por Imre Lakatos e consequentemente o aperfeiçoamento da teoria popperiana. O triângulo
desenhado pela aproximação desses três autores (Popper, Kuhn e Lakatos) se configura como
algo muito fecundo porque o elemento que serve como pano de fundo para a proposta teórica
reside, como ainda faz notar Stegmuller (1977, p. 360), “na grande atenção dos aspectos
históricos da ciência” por eles dispensada. Ao se deparar com teses popperianas, Thomas Kuhn
confessa existir entre ele e Popper mais similaridades do que propriamente contradições.
Embora Kuhn reconheça os méritos das orientações popperianas, é preciso desconfiar da
proximidade acima reconhecida. Para o autor de A Estrutura das Revoluções Científicas2 (1962),
os popperianos não se deram conta de que uma análise da história do desenvolvimento científico
permite concluir que os processos do fazer científico não obedecem às dinâmicas do falseamento
propostas por Karl Popper, chegando a afirmar que entre os dois existe uma “mudança de
gestalte” (KUHN In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 08, grifo do autor), levantando o
2 Ao citarmos esta obra ao longo do nosso trabalho utilizaremos a abreviatura ERC, já consagrada pela literatura
vigente.
20
seguinte questionamento: “Como poderei ensiná-lo a usar meus óculos quando ele já aprendeu a
olhar através dos seus para tudo o que possa apontar?” (idem, ibdem).
A proposta original do falseamento apresenta limites e se inviabiliza a partir das críticas
feitas por Kuhn à perspectiva lógica de Popper. Nesse sentido, Lakatos buscou uma ampliação do
pensamento popperiano através de sua Metodologia dos Programas de Investigação Científica3.
Assim, o eixo da discussão está centralizado em Kuhn, e o confronto que primeiramente estaria
entre ele e Popper, é desviado, agora, para o confronto com o pensamento de Lakatos. Os
desdobramentos desse confronto começam a surgir quando se acompanha o desenvolvimento das
propostas apresentadas sobre a ciência e seu desenvolvimento a partir da concepção kuhniana de
paradigma em detrimento dos programas de pesquisa científica apontados por Lakatos.
Na perspectiva desses desdobramentos uma das obras de maior repercussão foi a ERC, de
Thomas Kuhn. Com ela, um modo de compreender a ciência que revolucionou o discurso
científico foi tomando forma e, pouco a pouco, uma imagem da ciência e de seu desenvolvimento
foi se configurando em oposição a uma tradição que considerava a forma e o conteúdo da ciência
como aquisições em certo sentido irreversíveis. A respeito do seu propósito ao escrever tal obra,
Kuhn (2006b, p. 115) afirma:
Em vez de tentar situar o estado atual da filosofia da ciência com respeito ao seu passado – tema a respeito do qual minha autoridade é pequena -, tentarei situar meu estado atual na filosofia da ciência com respeito a seu próprio passado – um tema a respeito do qual é provável que eu seja, ainda que imperfeitamente, a maior autoridade que há.
Dentro desse aprofundamento sobre a filosofia da ciência outorgado pelo próprio Kuhn,
que perpassa o interior dessa nova filosofia da ciência, apresentaremos de forma resumida o
constructo da sua obra principal (ERC), sustentado por uma base de pelo menos seis pilares
principais:
1. Todo discurso científico apresenta uma estrutura de base – “o paradigma” – que tem
como objetivo fornecer ao cientista os modelos tanto para a formulação quanto para a solução dos
problemas nas mais variadas etapas de uma investigação científica (KUHN, 2006a, p. 29-42);
3 Utilizaremos a sigla MPIC para designar Metodologia dos Programas de Investigação Científica ao longo do nosso
trabalho.
21
2. A ideia de que, durante a vigência de um paradigma, a comunidade científica vivencia
o período da denominada “ciência normal”. Período em que, reunidos em torno de um
paradigma, os cientistas se esforçam para que elementos dispersos encontrem seu lugar adequado
no cenário geral da pesquisa, o que chamou de período de resolução de quebra-cabeças –“jigsaw
puzzle”4 (idem, p. 57-66);
3. A presença de momentos em que, durante o desenvolvimento da ciência, surgem
anomalias que não se adaptam ao paradigma vigente, e colocam em crise as convicções
tradicionais; esse momento é apresentado por Kuhn como “ciência extraordinária”, por guardar
em germe a possibilidade de revolucionar as convicções aceitas (idem, p. 77-92);
4. A existência das revoluções científicas, entendidas como mudança de paradigma.
Momento em que a comunidade científica faz a passagem de uma teoria considerada antes como
fundamental para uma nova teoria incompatível com aquela primeira (idem, p. 125-144);
5. A convicção de que os cientistas acolhem o novo paradigma por razões que vão além
dos critérios lógicos. Os cientistas acreditam como em uma espécie de fé no sentido religioso,
que o novo paradigma consegue resolver os problemas que o antigo paradigma não conseguia, e
qualquer tipo de crítica feita ao paradigma soa como anátema5 (idem, p. 145-181);
6. O posicionamento, segundo o qual o progresso científico não se dirige a um fim
predeterminado, mas se desenvolve segundo regras nascidas do posicionamento dos cientistas,
sobre o qual é a maneira mais idônea e convincente para se praticar a ciência (idem, p. 183-213).
O período que se seguiu logo após a publicação da ERC parece ter feito reunir inúmeros
autores que marcam em suas contribuições pelas críticas dirigidas às posições kuhnianas. É
oportuno notar que tal obra foi alvo de análises principalmente entre os pensadores (J. W. N.
Waikins; S. E. Toulmin; L. Pearce Willians; Margaret Masterman; P. K. Feyerabend; K. R.
Popper e Imre Lakatos) da mesma tradição histórica defendida por Kuhn.
O empreendimento mais significativo foi a realização, em 1965, do Simpósio
Internacional sobre filosofia da ciência, no Bedford College, em Londres. As atas desse Simpósio
se tornaram registros de um empreendimento que, de certa maneira, se propôs a esclarecer, por 4 “Quebra-cabeças”. Termo assim traduzido na ERC. “Cada uma das peças é parte da figura desejada possuindo uma e somente uma posição adequada no todo a ser formado” (KUHN, 2006a, p. 59). 5A crítica ao paradigma é uma maldição para o progresso da ciência.
22
meio de uma revisão crítica, os pontos obscuros da teoria kuhniana sobre a ciência e sua
racionalidade.
Utilizando-se das ideias básicas contidas na ERC, o conjunto dos participantes daquele
Simpósio, em sua quase unanimidade, fizeram severas críticas à obra de Kuhn, acusando-o de ser
o porta voz da irracionalidade e da subjetividade extrema dentro da ciência. A maioria dos
posicionamentos proferidos naquele Simpósio constituíram-se em espaços de ataque aos
posicionamentos kuhnianos (LAKATOS; MUSGRAVE, 1970). Thomas Kuhn tem à sua frente
um conjunto teórico elaborado por Popper, cuja proposta é, talvez, a contrapartida dos esforços
kuhnianos. A dependência entre tais teorias é bem visualizada no decorrer dos pronunciamentos
realizados no referido Simpósio.
Duas conferências marcaram a participação de Kuhn nas discussões acontecidas por
ocasião do Simpósio. A conferência intitulada Lógica da Descoberta ou Psicologia da Pesquisa?,
demonstrou que o autor pretendia “justapor o ponto de vista sobre o desenvolvimento científico,
esboçado no seu livro “The Structure of Scientific Revolutions (A Estrutura das Revoluções
Científicas), aos pontos de vista mais conhecidos do nosso presidente, Sir. Karl Popper” (KUHN
In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 05, grifo do autor).
Nesta sua primeira participação no Simpósio, Kuhn faz notar que o empreendimento de
Popper, ao propor que em geral, uma teoria nova será aceita como digna da consideração dos
cientistas se ela for mais falsificável que sua rival, e especialmente se ela prevê um novo tipo de
fenômeno não tocado pela rival (CHALMERS, 1993), não se diferenciaria muito daquilo que ele
propõe enquanto modelo de pesquisa científica. Contudo, a conferência de Kuhn encerra com
uma certa ironia acadêmica com a função mais de distanciamento que de aproximação do
pensamento de Popper. É preciso olhar atentamente para a crença kuhniana (KUHN In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 7-8) de sua proximidade com o empreendimento
popperiano.
Sir Karl e eu apelamos para os mesmos dados; vemos uma extensão incomum (sic), as mesmas linhas no mesmo papel; indagamos sobre essas linhas e esses dados, damos, não raro, respostas virtualmente idênticas ou, pelo menos, respostas que inevitavelmente parecem idênticas na limitação imposta pelo processo de pergunta e resposta.
23
Por sua vez, na conferência intitulada Reflexões sobre meus críticos6, após quatro anos do
ocorrido Simpósio de 1965, Kuhn, conhecendo o teor das críticas que lhe foram dirigidas pelos
opositores de seu pensamento em tal Simpósio, pretende arquitetar uma espécie de defesa e, com
idêntica ironia, esclarece a cisão operada em sua trajetória por forças exteriores à sua vontade.
Kuhn (In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 285-286) parece querer indicar a existência de um
suposto clone, criado por seus críticos. Assim é encaminhada a sua defesa:
Kuhn1 é o autor deste ensaio e do primeiro artigo deste volume. Também publicou, em 1962 um livro chamado “A Estrutura das Revoluções Científicas”, o mesmo que ele e Masterman discutiram em outra parte . Kuhn2 é o autor de outro livro com o mesmo título. É ele quem é aqui citado repetidamente por Sir Karl Popper e pelos professores Feyerabend, Lakatos, Toulmin e Watkins. O terem os dois livros o mesmo título não será de todo acidental, pois os pontos de vista que apresentam coincidem com frequência e, de qualquer maneira, são expressos com as mesmas palavras. Chego, porém, à conclusão de que suas preocupações centrais são em geral muito diferentes. Segundo afirmam meus críticos (não me foi possível, infelizmente, conseguir-lhe o original), Kuhn2 parece, em algumas ocasiões, defender pontos de vista que subvertem aspectos essenciais da posição delineada pelo seu homônimo.
Em 1969, por ocasião da tradução da ERC para a língua japonesa, Thomas Kuhn prepara
um Posfácio em consequência das severas críticas sofridas no Simpósio de 1965, principalmente
as feitas por Margaret Masterman aos diversos conceitos de paradigma encontrados em sua obra
(ERC). Nele, Kuhn (2006a, p. 217-218) faz notar que:
Agora reconheço aspectos de minha formulação inicial que criaram dificuldades e mal-entendidos gratuitos. Já que sou o responsável por alguns desses mal-entendidos, sua eliminação me possibilita conquistar um terreno que servirá de base para uma nova versão do livro.
6Texto que foi reeditado na obra: KUHN, Thomas S. O caminho desde A Estrutura. São Paulo: Ed. UNESP, 2006b. (Ensaios Filosóficos, 1970-1993, com uma entrevista autobiográfica / Parte 2 – Comentários e réplicas. p. 155-216)
24
A leitura comparativa nos faz notar uma proximidade bastante acentuada entre o Posfácio
de 1969 e a Reflexão sobre meus críticos de 1965. É possível contar passagens idênticas quanto a
alguns assuntos abordados. A preocupação do Posfácio é dirigida para o esforço de rever o
conceito de paradigma e a relação de dependência que aquele tem da comunidade científica que
dele comunga.
A teoria kuhniana é ampliada em novas revisões numa obra que reúne vários artigos e se
intitula, originalmente, The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Traditional Change7,
publicada em 1977. No prefácio dessa coletânea de textos, o autor indica a natureza de seu
empreendimento, acentuando o papel da história e o significado do papel desempenhado pelas
comunidades científicas na construção do conhecimento. Nas palavras de Kuhn (1977, p. 24) a
obra adquire esta tonalidade.
As discussões tradicionais sobre o método científico procuram um conjunto de regras que permitem a qualquer indivíduo que as seguisse produzir conhecimento correto. Em vez disso, tentei insistir que, embora a ciência seja praticada por indivíduos, o conhecimento científico é intrinsecamente um produto de grupo e que nem a sua peculiar eficácia nem a maneira como se desenvolve se compreenderão sem referência à natureza especial dos grupos que a produzem. Neste sentido, o meu trabalho foi profundamente sociológico, mas não de modo a permitir que o tema seja separado da epistemologia.
Notamos que a extensão da obra de Thomas Kuhn com o intuito de discutir a ciência e sua
racionalidade é, de ponta a ponta, a certeza de uma novidade que caracteriza o trabalho científico
como um empreendimento marcado por divergências, “e as divergências gigantescas estão no
próprio cerne dos episódios mais significativos do desenvolvimento científico” (KUHN, 1977, p.
276).
No entanto, o pensamento de Imre Lakatos vai de encontro à concepção kuhniana de
ciência. Basicamente, sua obra procurou proporcionar um refinamento à abordagem
falseacionista popperiana, que o inspirou, mediante a incorporação de conceitos desenvolvidos
por Kuhn, mas sem negar algumas das hipóteses clássicas do falseacionismo, como os critérios
demarcacionistas e a ênfase na investigação e nos testes empíricos. John Worral e Elie Zahar, no
prefácio organizado para a obra de Imre Lakatos, intitulada originalmente Proofs and Refutations
7Em nosso trabalho utilizamos a tradução para o português realizada por Ruy Pacheco e revisão feita por Artur Morão. KUHN, Thomas, S. A tensão essencial. Lisboa: Edições 70, 1977.
25
– The Logic of Mathematical Discovery8, fazem a seguinte consideração sobre o itinerário
lakatosiano (ZAHAR In LAKATOS, 1978, p. 8):
Sem dúvida, sua posição intelectual mudou consideravelmente nos treze anos decorridos desde seu doutoramento até a sua morte. As principais modificações em sua filosofia geral revelam-se nos seus trabalhos [1970]. Lakatos pensava que sua metodologia de programas de pesquisa científica tinha importantes implicações quanto à sua matemática.
Autor de uma obra que se formou a partir de um conjunto de textos singulares, Lakatos
esteve preocupado com questões nascidas em decorrência de seus estudos sobre a matemática. Os
textos produzidos têm como característica fundamental uma certa autonomia epistemológica. Ao
lermos seus textos, a análise de cada um nos vai revelando as preocupações fundamentais desse
autor que, com originalidade, dá nova direção ao falseacionismo elaborado originalmente por
Popper.
Neste trabalho, nossa preocupação se volta para aquele conjunto de textos e livros
organizados por seus discípulos, que indicam a preocupação de Lakatos com a ciência, sua
racionalidade e a compreensão de como acontece o progresso dos conhecimentos científicos.
Quanto a isso, a preocupação do autor do conceito de programas de pesquisa pode ser assim
resumida (LAKATOS, 1998, p. 77-78, grifo do autor):
O problema central da filosofia da ciência é o problema da apreciação normativa de teorias científicas; e em particular, o problema da enunciação de condições universais debaixo das quais uma teoria é científica. Este último caso limitador do problema de apreciação é conhecido em filosofia como o problema da demarcação e foi dramatizado pelo Círculo de Viena e especialmente por Karl Popper que pretendia mostrar que algumas teorias alegadamente científicas como o marxismo e freudismo, são pseudocientíficas e, por isso, não são melhores do que, suponhamos, a astrologia.
Percebemos a relevância foi o empreendimento lakatosiano no que diz respeito à tentativa
de demarcar a ciência dentro dos critérios lógicos de racionalidade, mostrando que o problema
não é insignificante e há muito ainda por fazer para se chegar a uma solução.
8Em nosso trabalho utilizamos a tradução feita por Nathanael C. Caixeiro, intitulada: LAKATOS, Imre. A lógica do descobrimento matemático: provas e refutações. RJ: Ed. Zahar, 1978.
26
Em 1965, Imre Lakatos ocupou o cargo de Secretário Honorário do Simpósio Internacional
sobre Filosofia da ciência, evento este ao qual já nos referimos anteriormente; ele participou
também com uma intervenção que ficou concluída em 1969. A participação de Lakatos foi
denominada O Falseamento e a Metodologia dos Programas de Pesquisa Científica. É
justamente nesse trabalho que encontramos os fundamentos da posição de Lakatos sobre a ciência
e sua compreensão de progresso. Em linhas gerais, podemos apresentar o constructo lakatosiano
que funda a Metodologia dos Programas de Investigação Científica, sustentado pelo
reconhecimento que o autor faz do aspecto metodológico; “algumas nos dizem quais são os
caminhos de pesquisa que devem ser evitados (heurística negativa), outras nos dizem quais são os
caminhos que devem ser palmilhados (heurística positiva)” (LAKATOS In LAKATOS;
MUSGRAVE, 1970, p. 162).
Quando a análise científica é elaborada com base em programas particulares de pesquisa,
entendemos de forma mais clara o que Lakatos denominou como sendo os papéis da heurística
negativa e da heurística positiva. Desta análise, resulta uma compreensão a respeito do progresso
científico que aponta para a visão central do trabalho de Lakatos sobre a racionalidade científica,
ao afirmar: “o que tenho sobretudo em mente não é a ciência com um todo, senão programas
particulares de pesquisa” (idem, ibdem, grifo do autor).
Lakatos reconhece a regra popperiana para o desenvolvimento da ciência, ou seja, o fato de
serem propostas conjecturas que tenham mais conteúdo empírico que as precedentes. Para ele, as
conjecturas que adquirem sentido são aquelas que levam à formulação de um programa de
investigação fecundo, ou provoquem modificações substanciais de teorias prévias e, por
consequência a explicações mais amplas e profundas. A principal característica desta proposta
consiste na constatação de que a sucessão de teorias, tais como: T’, T”, T”’, está ligada por um
elemento de continuidade, que é o que denominou o núcleo do programa.
Fazendo parte do programa de investigação científica, encontramos, segundo Lakatos, um
núcleo sólido, um núcleo irredutível ou de programa, que assume sua configuração pela força de
um conjunto de pressupostos relativamente gerais a partir dos quais é possível articular diferentes
teorias científicas e regras metodológicas. Esse núcleo está protegido por um cinturão protetor
constituído por hipóteses auxiliares. Segundo Lakatos “É esse cinto de proteção de hipóteses
auxiliares que tem de suportar o impacto dos testes e ir se ajustando e reajustando, ou mesmo ser
27
completamente substituído, para defender o núcleo assim fortalecido.” (In LAKATOS;
MUSGRAVE, 1970, p. 163)
Para que o núcleo se mantenha intacto, sem modificações, Lakatos evidencia o papel da
heurística negativa, que “nos proíbe dirigir o modus tollens para esse ‘núcleo’” (idem, ibdem,
grifo do autor). Cabe ao grupo de cientistas decidir pela não refutação do núcleo do programa,
uma vez que o mesmo é considerado progressivo em relação ao seu programa de pesquisa rival,
decisão esta de caráter metodológico.
Considerando o papel da heurística negativa como decisão metodológica que evita o
falseamento do núcleo, Lakatos (In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 163) indica o papel
desempenhado pela heurística positiva, que “consiste num conjunto parcialmente articulado de
sugestões ou palpites sobre como mudar e desenvolver as ‘variantes refutáveis’ do programa de
pesquisa, e sobre como modificar e sofisticar o cinto de proteção ‘refutável’”.
Entendida desta maneira, a prática científica deveria, segundo a concepção de Imre
Lakatos, obedecer a dois critérios distintos para que seus méritos fossem evidenciados. Esses
critérios são apontados, conforme Chalmers (1993, p. 117), da seguinte maneira:
Em primeiro lugar, um programa de pesquisa deve possuir um grau de coerência que envolva o mapeamento de um programa definido para a pesquisa futura. Segundo, um programa de pesquisa deve levar à descoberta de fenômenos novos, ao menos ocasionalmente. Um programa de pesquisa deve satisfazer às duas condições para se qualificar como programa científico.
Nesse sentido, a ideia a ser desenvolvida pelo autor da MPIC se constrói à sombra dos
escritos popperianos e como crítica aos estudos kuhnianos. Lakatos parece, a um tempo, reunir
esforços para corrigir algumas proposições do falseacionismo de Popper e, em outro, apontar a
inconsistência de uma ciência entendida como vigência de paradigma conforme fora proposto por
Thomas Kuhn, algo que veremos de forma mais aprofundada no próximo capítulo. Lakatos
(1999) aponta também que o choque entre esses dois teóricos (Kuhn e Popper) não é uma questão
meramente técnica da epistemologia, mas está ligado aos nossos valores intelectuais centrais que
irão implicar não só para a física teórica como também para as ciências naturais, ainda pouco
desenvolvidas, e até para a filosofia moral e política. Para Lakatos (1999), Popper e Kuhn estão
28
bastante próximos enquanto motivadores de uma visão de ciência que passa a ser entendida como
prática que envolve uma metodologia de programas de investigação científica.
29
CAPÍTULO II - AS REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS: O MODELO P ROPOSTO POR
THOMAS KUHN.
1 Ciência normal e ciência revolucionária: em busca das resoluções de quebra-cabeças de acordo com o paradigma vigente.
As teses defendidas por Popper e apresentadas de forma sucinta em nosso trabalho
provocaram a reação de muitos filósofos, sobretudo daqueles voltados para o estudo da história
da ciência, como é o caso de Kuhn. Físico teórico de formação, ao lançar sua obra (ERC-1962)
alcançou enorme ressonância entre filósofos, historiadores, sociólogos e psicólogos. Tal obra soa
como um empreendimento que renova a visão que se tem da ciência e de seu desenvolvimento no
quadro da moderna filosofia da ciência, dando ênfase em seu estudo às contribuições advindas da
análise histórica da atividade científica. Logo, não poderemos compreender o alcance de sua
proposta se nos distanciarmos de uma necessária consideração sobre a história da ciência. Nesse
sentido, procuramos destacar o alcance de tais considerações.
Na ERC, Kuhn se empenha em mostrar que muitas pesquisas em ciência ainda hoje estão
sustentadas por uma historiografia senão arcaica pelo menos viciada e repleta de incongruências,
pois se atentarmos para a história da ciência, que contraria as versões de manuais e de obras de
divulgação, a mesma nos mostrará que não existe a ciência como um tipo de atividade unívoca
para todas as épocas e grupos humanos. Kuhn (2006a, p. 19) assim se refere a esta tradição: “Se
a ciência fosse vista como um repositório para algo mais do que anedotas ou cronologias, poderia
produzir uma transformação na imagem de ciência que atualmente nos domina.”
Esta visão de desenvolvimento científico, ainda dominante principalmente nos meios
acadêmicos, limitar-se-á apenas a descrever o aparecimento de fatos, teorias e métodos de forma
ilustrativa, originando uma imagem da ciência fundada no conceito de desenvolvimento por
acumulação, fazendo com que Kuhn dirija suas principais críticas a esse modelo de ciência, uma
vez que para ele, a partir desta visão, a história da ciência passa a ser considerada como algo que
representa apenas um conjunto de realizações científicas acabadas.
30
O que representaria uma visão da ciência como algo estagnado, indicando que tal postura
veiculada nas produções científicas possuiria apenas um objetivo persuasivo e pedagógico, o que
inevitavelmente nos levaria a um olhar dogmático sobre o desenvolvimento científico; portanto,
da ciência não poderíamos esperar mais nada, uma vez que não restaria mais nada a descobrir
(KUHN, 2006a).
Nessa perspectiva, Kuhn se colocaria contra o que ele denominou livros clássicos ou
manuais de aprendizagem da ciência, pois eles nos têm enganado em aspectos fundamentais.
Encontraríamos a natureza desse engano em dois aspectos: de um lado, naqueles textos que
procuram apresentar a ciência como sendo uma expressão daquilo que está registrado em suas
páginas, uma vez que esses textos frequentemente parecem implicar que o conteúdo da ciência é
exemplificado de maneira ímpar pelas observações, leis e teorias descritas em suas páginas; por
outro lado, nota-se que a deturpação da ciência pode ser observada pelo fato de que a questão
metodológica, apresentada nos textos presentes nos livros ou manuais que cada nova geração
utiliza para aprender seu ofício, se restringe àquelas técnicas neles expressas, visto que (KUHN,
2006a, p. 20):
os livros têm sido interpretados como se afirmassem que os métodos científicos são simplesmente aqueles ilustrados pelas técnicas de manipulação empregadas na coleta de dados manuais, juntamente com as operações lógicas utilizadas ao relacionar esses dados às generalizações teóricas desses manuais.
Se os procedimentos científicos se restringirem ao que pedem os livros ou manuais, então
os cientistas nada mais fazem do que contribuir com um ou outro elemento para esta constelação
específica. Sendo assim, restringir-se-ia também o papel do historiador da ciência que deve, a um
tempo, determinar quando e por quem cada fato, teoria ou lei foi descoberta ou inventada e em
outro, descrever e explicar os amontoados de erros, mitos e superstições que inibiram a
acumulação mais rápida dos elementos constituintes do moderno texto científico (KUHN,
2006a).
Como consequência imediata desse posicionamento tradicional de se ver a ciência,
estabeleceu-se uma visão do que se entende por noção de desenvolvimento científico, ou melhor,
do que se convencionou chamar de progresso dos conhecimentos científicos. No entanto, a partir
31
dessa dimensão historiográfica tradicionalista, que vai ser alvo das críticas do autor da ERC, que
traz em seu bojo uma série de conceitos, tendo como o mais marcante a noção de paradigma
dentro da ciência, o mesmo mostra que essa visão de “desenvolvimento torna-se o progresso
gradativo através do qual esses itens foram adicionados, isoladamente ou em combinação, ao
estoque sempre crescente que constitui o conhecimento e a técnica científicos” (KUHN, 2006a, p.
20). Isso só vem demonstrar, segundo Kuhn, a necessidade de reconhecer a incapacidade que esta
tradição tem de auxiliar na compreensão da produção científica, uma vez que o seu tempo é um
tempo ocupado por muitos estudiosos que percebem a impossibilidade de se compreender a
ciência a partir do exercício exclusivo de clarificar e aprofundar a compreensão dos métodos ou
conceitos científicos contemporâneos mediante a exibição de sua evolução. Os efeitos mais
prováveis da história da ciência sobre os campos de que se ocupa são indiretos, fornecendo uma
compreensão crescente da própria empresa científica. É nesse aspecto que Kuhn (1977, p. 161)
vai se referir ao novo exercício para a compreensão da ciência:
Embora a instrução se pareça ainda mais com fumo do que com luz, a filosofia da ciência é hoje o campo onde o impacto da história da ciência é mais evidente. Feyerabend, Hanson, Hesse e Kuhn insistiram todos, recentemente, na inadequação da imagem ideal da ciência do filósofo tradicional, e na busca de uma alternativa, todos eles mergulharam intensamente na história.
Ao se resgatar a história da ciência numa perspectiva mais profunda, Kuhn buscará
alternativas para poder contestar a visão tradicional de ciência, onde não se poderia aceitar a ideia
de desenvolvimento acumulativo sem a presença de rupturas, para em seguida contestar a
fragilidade das diretrizes que desejam estabelecer a linha divisória; ou seja, a demarcação entre o
que pode e o que não pode ser considerado como científico. Segundo Kuhn se atentarmos para o
momento e para a vida dos homens que produzem ciência, veremos que não existem dados
sólidos capazes de garantir a segurança de uma realidade pretendida como científica. “A mesma
pesquisa histórica, que mostra as dificuldades para isolar invenções e descobertas individuais, dá
margem a profundas dúvidas a respeito do processo cumulativo que se empregou para pensar
como teriam se formado essas contribuições individuais à ciência” (KUHN, 2006a, p. 21).
32
A saída considerada como uma alternativa seria a busca de uma reconstrução da história
interna; nas palavras de Kuhn a tarefa consiste em apresentar a integridade histórica daquela
ciência, a partir de sua própria época. Assim, não se trata mais de uma análise externa na
tentativa de procurar as contribuições permanentes de uma ciência mais antiga, ou seja, agir
buscando uma comparação entre a produção de uma determinada época sobre aquelas anteriores
ou posteriores. Na historiografia kuhniana, os historiadores “por exemplo, perguntam não pela
relação entre as concepções de Galileu e as da ciência moderna, mas antes pela relação entre as
concepções de Galileu e aquelas partilhadas por seu grupo, isto é, seus professores,
contemporâneos e imediatos nas ciências” (KUHN, 2006a, p. 21-22).
Nesse sentido, passamos a ter uma nova compreensão do empreendimento científico, que se
torna totalmente incompatível com a ideia tradicional de desenvolvimento de pesquisas
científicas compreendidas pela acumulação de conhecimentos. Porém, a nova tese kuhniana não
está livre de problemas e o autor da ERC sabe disso, uma vez que Kuhn (2006a, p. 27) indica na
sua obra a proximidade do seu pensamento relacionado a outras áreas de conhecimento:
Dizemos muito frequentemente que a história é uma disciplina puramente descritiva. Contudo, as teses sugeridas acima são frequentemente interpretativas e, algumas vezes, normativas. Além disso, muitas de minhas generalizações dizem respeito à sociologia ou à psicologia social dos cientistas. Ainda assim, pelo menos algumas das minhas conclusões pertencem tradicionalmente à Lógica ou à Epistemologia.
Nota-se que, embora seja muito improvável que uma apreensão mais clara da natureza do
desenvolvimento científico venha a resolver todos os questionamentos particulares de
investigação, ela pode estimular reconsiderações de matérias como a educação, a administração e
a política da ciência (KUHN, 1977). Diante do exposto até agora, emergem muitos pontos
importantes do posicionamento de Thomas Kuhn sobre a racionalidade científica e as condições
de seu desenvolvimento. Analisaremos, adiante, o que Thomas Kuhn compreende como
revolução do conhecimento científico através dos conceitos presentes no decorrer de sua obra
(ERC), o que implicará a sua racionalidade sobre a própria ciência.
Só podemos falar em ciência, segundo Kuhn, na medida em que existe um modelo
compartilhado que define o sentido da pesquisa, seu âmbito e seus instrumentos. No entanto,
teremos duas formas de praticar a ciência, que estarão sempre relacionadas ao que ele chamou de
33
paradigmas. A primeira se caracterizará, segundo Kuhn, como sendo a ciência normal, uma
atividade de pesquisa completamente regida por um paradigma bem consolidado, onde “homens
cuja pesquisa está baseada em paradigmas compartilhados estão comprometidos com as mesmas
regras e padrões para a prática científica” (KUHN, 2006a, p. 30), que não é discutido e que
geralmente não é percebido como tal, um modelo irrefletidamente aceito. Já a ciência
revolucionária consiste na atividade que se desenvolve quando um paradigma está em crise até
que outro paradigma venha a substituí-lo, o que acarretará nas chamadas revoluções científicas,
que são as substituições de um paradigma por outro.
As teses defendidas por Kuhn vão de encontro à visão que a tradição tem a respeito das
ciências empíricas, visto que defendem uma acumulação de conhecimentos que se processa em
duas etapas. Leônidas Hegenberg (1976, p. 196) assim esclarece tal modelo:
Em primeiro lugar, em extensão: procedimentos cada vez mais sofisticados de observação e de mensuração levam, como é natural, a novas descobertas, novos fatos, novas situações. Em segundo lugar, em profundidade: regularidades empíricas recebem vestes matemáticas e ganham maior coesão e sistematicidade. De outro lado, essa idéia de acumulação de conhecimentos deixa implícito que as velhas teorias não são abandonadas, mas apenas aperfeiçoadas de modo que elas continuem a ter certa credibilidade, embora bem melhor delimitada e mais restrita.
A filosofia da ciência defendida por Kuhn repudia tal modelo. Ao analisarmos a história
interna da ciência feita por ele, vamos encontrar o lugar ocupado por aquilo que ele denominou
revoluções científicas. A marca da ciência é, portanto, a descontinuidade, que revela uma revisão
ampla de todas as teorias aceitas, o que não permite um compromisso só com o aperfeiçoamento,
mas com a própria substituição da teoria por outra mais abrangente. Kuhn (2006b, p. 41) afirma
que as “mudanças revolucionárias são, de certa forma, holísticas. Isto é, elas não podem ser feitas
gradualmente, um passo de cada vez.”
A atividade do pesquisador dentro da ciência normal é “aquilo que produz os tijolos que a
pesquisa científica está sempre adicionando ao crescente acervo de conhecimento científico”
(KUHN, 2006b, p. 23-24). Uma atividade quase que totalmente dominada pelo paradigma
vigente. O cientista normal ocupa-se exclusivamente daquele tipo de problemas que o paradigma
definiu como científicos, aborda-os com aqueles recursos metodológicos consagrados também
34
pelo paradigma e espera resolvê-los de acordo com a solução padrão fornecida igualmente pelo
paradigma.
Se por acaso o problema se mostrar rebelde com respeito às pautas paradigmáticas, o
cientista normal intensificará seus esforços para adequar o problema àquelas pautas. Enquanto
não atingir este objetivo, o cientista considerará o fracasso como sinal de sua própria falta de
habilidade, e não como indício de uma falha no paradigma. Assim, se todos os esforços falharem,
o cientista talvez deixe o problema de lado, esperando que seja resolvido pelas gerações futuras.
O cientista normal é definido por Kuhn como solucionador de quebra-cabeça, é uma
personalidade predominantemente conservadora com relação ao paradigma que
inconscientemente defende, representando-o como uma maneira natural de cultivar a ciência.
Quanto ao cientista revolucionário, trata-se daquele que percebe as falhas do paradigma
vigente como tais, e que chega eventualmente a propor e até a impor um novo paradigma. O
cientista revolucionário lida com anomalias que se apresentam como obstáculos para o avanço da
ciência, questões para as quais o paradigma vigente não oferece meios de soluções e que exigem
um novo paradigma de acordo com o qual seja possível tratá-los e resolvê-los. A figura do
cientista revolucionário é particularmente interessante porque, segundo Kuhn, a sua luta em favor
de um novo paradigma envolve não apenas recursos lógicos ou apelos à experiência, mas também
uma certa capacidade de persuasão para conseguir uma verdadeira conversão dos outros
cientistas ao novo paradigma. A imposição do novo paradigma depende, contudo, de que ele
mostre ser um modelo de procedimento efetivo na resolução de pelo menos alguns dos problemas
que o paradigma anterior não conseguia resolver.
Dentro dessa compreensão explicitada por Kuhn, a ciência não começaria por revoluções,
nem tampouco o homem de ciência vai em busca delas, mas certamente em um momento
posterior, ela deverá entrar em crise em períodos bem caracterizados, tornando-se revolucionária.
Contudo, no que diz respeito ao conceito de ciência normal, Kuhn (2006a, p. 29) busca defini-lo
da seguinte forma: “‘ciência normal’ significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais
realizações científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por
alguma comunidade científica específica como proporcionando os fundamentos para sua prática
posterior.”
Mas, para se chegar a tal definição, faz-se necessário se remeter às origens dos seus
trabalhos. Segundo Kuhn, quando nos anos de 1958 e 1959 ele empreendeu esforços para
35
preparar o texto sobre mudança revolucionária, teria se deparado com a dificuldade para dar um
tratamento adequado àquele período situado entre as revoluções. Kuhn (1977, p. 21-22) assim se
expressa:
Nessa época, concebia a ciência normal como resultado de um consenso entre os membros de uma comunidade científica. No entanto, as dificuldades apareceram quando tentei especificar esse consenso com a enumeração dos elementos supostamente aceitos pelos membros de uma dada comunidade.
As complicações que surgiram inicialmente, principalmente no que se refere ao termo
consenso, mais do que o de paradigma, foram lenta e gradativamente tomando contornos. O que
estava em jogo, segundo Kuhn, não era a necessidade de estabelecer concordância entre os
cientistas sobre os termos específicos dos objetos da investigação científica, e sim, considerar as
maneiras padronizadas de resolução de problemas seletos. Assim, o termo consenso se referia ao
campo de atuação geral e não a esse ou àquele detalhe específico da pesquisa. Vai ser justamente
esse o momento em que vemos surgir a noção de paradigma, a princípio para expressar os
exemplos padronizadores e orientadores da ciência normal. Com a ideia do consenso entre os
cientistas, o termo foi, segundo Kuhn (1977), durante o processo de elaboração final do texto
sobre as revoluções científicas, ganhando vida própria, deslocando largamente o anterior debate
sobre a ideia de consenso. Essa mudança gradual é apresentada da seguinte forma (KUHN, 1977,
p. 23):
Tendo começado simplesmente como soluções de problemas exemplares, expandiram o seu império para incluir, primeiro, os livros clássicos em que estes exemplos aceitos aparecem inicialmente e, por fim, o conjunto global de incumbências partilhadas pelos membros de uma comunidade científica particular. Esse uso mais global do termo é o único que a maior parte dos leitores do livro reconheceu, e o resultado inevitável foi a conclusão: muitas coisas ditas aí acerca de paradigmas só se aplicam ao sentido original do termo. Embora os dois sentidos me parecem importantes, é preciso distingui-los, e a palavra paradigma só é apropriada ao primeiro. É claro que criei dificuldades desnecessárias para muitos leitores.
36
Na pesquisa realizada por Margareth Masterman intitulada A Natureza de um Paradigma,
torna-se mais claro aquilo que Kuhn tentou explicar. Masterman, com muita propriedade,
conseguiu elencar um conjunto polissêmico em torno do conceito de paradigma e nota que as
dificuldades parecem residir no fato de o trabalho de Kuhn ser “ao mesmo tempo, cientificamente
claro e filosoficamente obscuro” (MASTERMAN In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 73).
Sua contagem caracterizou vinte e um diferentes sentidos para aquilo que se abriga sob o
conceito de paradigma, estimulando o autor da ERC a escrever um Posfácio em 1969. Kuhn,
graças às reações dos críticos e ao seu trabalho adicional, passou a compreender melhor
numerosas questões; ao reconhecer as várias definições apontadas sobre paradigmas, passa então
a explicar que “a maioria dessas diferenças é devida a incongruências estilísticas” (KUHN,
2006a, p 228)9 e que só uma análise de seus escritos poderia melhor esclarecer.
É notório, na apresentação feita até agora sobre a obra ERC de Kuhn, que sua filosofia da
ciência tem fundamentos sócio-psicológicos, amparando-se em uma visão da história das
ciências. Cada ciência começa por ter uma espécie de pré-ciência; na linguagem de Kuhn seria
um período pré-paradigmático, antes de sua constituição, o que se encaminharia para o que ele
chamou de paradigma dentro da ciência normal. Porém, deixemos de lado a discussão do que
pode significar rigorosamente tal conceito de paradigma para Kuhn, algo analisado
extensivamente por Masterman. Contudo, não podemos deixar de notar que em cima de tal
conceito ocorre o que poderíamos chamar de evolução do seu entendimento, uma vez que o
sentido original de paradigma não é mantido no decurso de sua obra. Sem pretensões em dar com
precisão uma definição sobre o que é paradigma, na sua expressão mais geral, é uma espécie de
modelo ou visão genérica do universo e, em especial, da ciência que esteja em questão.
Percebemos então que, no seu sentido de origem, os paradigmas constituem soluções de
problemas concretos que uma profissão acabou por aceitar. Este conceito, no entanto, foi
utilizado pelo autor em outro sentido em escritos que surgiram paralelamente e posteriormente à
sua obra (ERC). Kuhn parece não ter consciência de tal transformação, uma vez que somente ao
escrever seu Posfácio em 1969, sete anos após a publicação da ERC, é que o conceito será
melhor trabalhado, dada a necessidade de elaborar respostas às críticas provocadas por sua
9Ou Kuhn (2006a, p. 228) se equivoca, ou o mesmo encontra mais um conceito dentre os vinte e um (21) apontados por Margareth Marterman em sua pesquisa apresentada no Simpósio Internacional de Filosofia da Ciência, pois no seu Posfácio de 1969 ele afirma que Masterman “preparou um índice analítico parcial e concluiu que o termo é utilizado pelo menos de vinte e duas (sic) maneiras diferentes” (grifo nosso).
37
ambiguidade. Ele afirma: “Já que sou o responsável por alguns desses mal-entendidos, sua
eliminação me possibilita conquistar um terreno que servirá de base para uma nova versão do
livro” (KUHN, 2006a, p. 219).
Isso nos leva a concluir que tal mudança consciente do conceito de paradigma, que
permanece até nossos dias, é muito mais uma correção e uma explicação das formulações e
alusões anteriores do que, propriamente, uma mudança substancial em sua criação. Conforme sua
afirmação: “Quanto ao fundamental, meu ponto de vista permanece quase sem modificações”
(idem, ibdem). O que, por um lado, só vem demonstrar que o conceito original é ainda o elemento
central de sua obra principal (ERC) e o responsável pela crítica presente, sendo igualmente o
dado que constitui o essencial em sua filosofia da ciência.
Uma vez que Kuhn recorre à história da ciência para formular o conceito de paradigma,
seria algo em vão tentarmos recorrer à mesma história da ciência anterior à análise de sua obra
sobre tal conceito, visto que só encontraríamos uma visão bastante tradicional usada como
teorias, crenças, pontos de vista. A isto Kuhn chamou de livros clássicos ou manuais, o que por
sua vez seria este o principal fator impulsionador a fazer com que Kuhn desenvolvesse sua noção
do conceito de paradigma. Logo, os exames do conceito de paradigmas nos textos que se
seguiram à sua obra principal (ERC) nos permite distinguir dois direcionamentos paralelos: a
matriz disciplinar e a matriz exemplar.
2 O Paradigma enquanto Matriz Disciplinar: generalizações simbólicas, modelos, valores e
solução exemplar de problemas.
Em função da ambiguidade de termos encontrados sobre o conceito de paradigmas em sua
obra principal (ERC), Kuhn debruçou-se novamente sobre tal conceito para melhor defini-lo. Por
matriz disciplinar, Kuhn ressalta a natureza do paradigma como um conjunto de elementos
ordenador de diferentes tipos, entre os quais generalizações simbólicas, crenças ontológicas e
exemplares de realizações passadas. Já por matriz exemplar, denota o fato de ser propriedade
intelectual dos membros de uma determinada comunidade científica, que são revelados nos seus
38
manuais, conferências e exercícios de laboratório. A origem de tal desenvolvimento pode ser
encontrada na formulação que entende ser o paradigma concebido como aquilo que está contido
nos livros sobre ciência, no uso largamente aceito de solução de problemas exemplares. Em
seguida, o termo paradigma é utilizado para referir não somente a solução daqueles problemas,
mas também para tratar os clássicos científicos que servem de modelo para a prática científica, ou
seja, o paradigma é aplicado à teoria contida nestes clássicos, ou melhor, para os cientistas que
partilham de uma teoria ou de um conjunto de teorias. Nesse aspecto, a compreensão kuhniana
sobre o conceito de paradigma será tomada como algo que envolve todos ou quase todos os
objetos de compromisso do grupo, que vai desde a teoria aceita de maneira geral, incluindo a
solução de problemas e exemplares, à condução da pesquisa com implicações sobre tudo o que
existe na realidade, as questões que devem ser formuladas, os métodos que podem ser utilizados
na condução dessas questões e as respostas que podemos esperar diante das questões formuladas
(KUHN, 2006a).
Ao se analisar o conceito de paradigma a partir deste contexto, nota-se que Kuhn admite
que existam vários elementos de várias espécies, cada um deles exigindo uma determinação mais
pormenorizada, sujeitas ao consenso profissional dentro de uma comunidade científica específica,
que podem ser utilizadas em sentido estrito e em sentido amplo, ainda que ambos tenham funções
variadas. Em seu artigo intitulado Lógica da Descoberta ou Psicologia da Pesquisa?, Kuhn vai
trabalhar o conceito de paradigma com o objetivo de também dar um tratamento aos conflitos
associados à posição defendida em sua obra (ERC). Esta tarefa de recapitulação do sentido
original se faz com a introdução dos termos que distinguem matriz disciplinar e exemplares.
Nesse aspecto, o que é designado por matriz disciplinar, serve para substituir aquilo que era
indicado pelo paradigma em seu sentido amplo, enquanto que aquilo que se designa por matriz
exemplar pretende substituir aquilo que se compreendia em seu sentido mais estrito de
paradigma. A matriz disciplinar, representando a totalidade dos objetos do consenso científico,
contém, além de outros elementos, os exemplares aos quais o termo paradigma era propriamente
aplicado. Contudo, esses elementos não serão discutidos como se constituíssem uma única peça.
A precisão de tal termo parece se dissolver, obrigando Kuhn a abandoná-la. No entanto, aquilo ao
qual o termo se referia, ou seja, os objetivos exemplares de ostentação e de exclusão permanecem
indispensáveis, tanto filológica como autobiograficamente (KUHN, 2006a).
39
Ao analisarmos os trabalhos desenvolvidos por Kuhn no que diz respeito ao seu Posfácio
de 1969, perceberemos que a utilização do termo paradigma ganha uma vida própria, ficando
associado ao sentido que lhe confere a noção de soluções de problemas exemplares. “Com essa
expressão quero indicar, antes de mais nada, as soluções concretas de problemas que os
estudantes encontram desde o início de sua educação científica, seja nos laboratórios, exames ou
no fim dos capítulos dos manuais científicos” (KUHN, 2006a, p. 234), ou seja, no sentido estrito,
embora ocasionalmente possamos encontrar passagens que a ele se referem no sentido amplo
como matriz disciplinar.
Tais paradigmas, cujo aparecimento coincide com a maturidade de uma ciência, são
compartilhados pela comunidade científica e dirigem as pesquisas, com ou sem regras derivadas,
nos períodos que constituem a vigência da ciência normal, e que se trata, fundamentalmente, da
determinação dos fatos científicos significativos, da harmonização dos fatos com a teoria
paradigmática e da articulação da teoria e em que a atividade fundamental dos cientistas é
resolver enigmas ou quebra-cabeças. Assim, notamos uma outra dimensão no desenvolvimento
do conceito de paradigma, trata-se de uma revisão realizada na ideia de que o paradigma expressa
uma propriedade de aceitação universal.
Na ERC, assim como em outros escritos, a noção de paradigma está estreitamente
associada àquela de ciência normal que procura descrever um consenso entre os especialistas que
participam da prática científica. O consenso em torno do paradigma tem um papel nas
explicações que a investigação nos períodos de normalidade produz, funcionando como uma
estrutura de base consensual em que os cientistas se apoiam. Mas Kuhn faz notar um limite nesta
abordagem e, com a finalidade de evitar maiores transtornos, ele acaba por abandonar a ideia de
que o paradigma deve expressar uma aceitação universal, pois “a própria existência da ciência
depende da delegação do poder de escolha entre paradigmas e membros de um tipo especial de
comunidade” (KUHN, 2006a, p. 212).
Ora, os elementos consensuais entre comunidades científicas não podem ser denominados
paradigmas, uma vez que neles não se encontra presente o que pretendemos como aceitação
universal para elaborar um paradigma, pois a emergência de uma escola com elementos não
competitivos também precisava ser descrita como aquisição ou emergência de um paradigma.
Isso acaba por nos levar a uma compreensão do paradigma sob o ponto de vista da ciência
normal. Tal conceito assemelha-se a uma entidade quase mística com uma propriedade
40
carismática, vale dizer, com o poder de transformar aqueles que são por ela tocados. Kuhn não se
detém em seu conceito inicial de paradigma, pois essa transformação pode ser encontrada no
momento em que procuramos ter a compreensão entre o período que antecede o surgimento de
um paradigma (pré-paradigmático), aquele de sua emergência (ciência revolucionária) e
consequentemente aquele que a ele se segue (paradigmático) (KUHN, 2006a, p. 14-15):
Minha distinção entre os períodos pré e pós-paradigmáticos no desenvolvimento da ciência é demasiadamente esquemática. Cada uma das escolas, cuja competição caracteriza o primeiro desses períodos, é guiada por algo muito semelhante a um paradigma; [...] A simples posse de um paradigma não é um critério suficiente para a transição.
O que torna o paradigma enfraquecido vai ser justamente a dificuldade de associá-lo com a
fase de uma situação de pré-consenso para a fase de consenso. Conforme já fizemos notar, foi a
expressão encontrada e os resultados ambíguos que geraram a distinção entre a matriz disciplinar
e exemplares nos escritos produzidos no Posfácio de 1969. Matriz disciplinar é utilizada para
substituir o paradigma em sentido amplo, englobando a totalidade dos objetos do consenso
científico. Entretanto, o paradigma, em sentido amplo, não é inteiramente congruente com matriz
disciplinar, pois como nota Kuhn, há momentos nesses consensos que nunca foram levados em
consideração na expansão incontrolada do conceito de paradigma. A função conferida à matriz
disciplinar em uma determinada comunidade científica é responsável pelo relativo preenchimento
de sua comunicação profissional e da relativa unanimidade em seus julgamentos profissionais, se
constituindo “uma estrutura bem mais limitada em natureza e alcance” (KUHN, 2006a, p. 228).
Dentro do que foi exposto sobre o termo matriz disciplinar por Kuhn, o mesmo mostra que
tal termo precisa ser compreendido por diferentes elementos que a constituem e a compõem.
Kuhn elenca quatro elementos principais constituintes de uma matriz disciplinar, que são:
generalizações simbólicas, modelos, valores e solução exemplar de problemas.
Kuhn analisa também o uso da linguagem em relação a um dado paradigma. A mudança de
paradigma implica na mudança de sentido dos termos usados pelos cientistas, apesar de que esses
termos pareçam continuar sendo os mesmos. Essa mudança de significado é em grande medida
responsável pela quase impossibilidade de que um novo paradigma se imponha por meio de
recursos puramente lógicos ou experimentais, e pela necessidade de uma conversão dos membros
41
do novo paradigma. Assim, as generalizações simbólicas consistem nas proposições universais
requeridas por uma comunidade científica como leis naturais ou equações fundamentais de
teorias. Essas generalizações, além de funcionarem como leis empíricas, devem também
determinar conceitos relacionados ao seu caráter de leis, na medida em que se apresentam como
um tipo importante de componente do paradigma. Sobre isso Kuhn (2006a, p. 229) nos diz:
Falo dos componentes formais ou facilmente formalizáveis da matriz disciplinar. Algumas vezes são encontradas ainda sob a forma simbólica: f =ma ou I=V/R. Outras vezes são expressas em palavras: “os elementos combinam-se numa proporção constante aos seus passos” ou “a uma ação corresponde uma reação igual e contrária.”
As proposições universais que fazem parte da matriz disciplinar devem encontrar um uso
na prática científica por meio de uma leitura puramente formal, separadas dos significados de
todos os constituintes não lógicos, símbolos matemáticos, que servem como artefatos construídos
pelo filósofo da ciência. As generalizações simbólicas não funcionariam apenas como leis
empíricas, mas devem determinar igualmente conceitos ligados ao seu caráter de leis.
No que diz respeito às leis e às equações fundamentais como componentes da matriz
disciplinar, Kuhn busca abstrair os significados dos seus conceitos empíricos. A razão para tal
reside no fato de que o consenso da comunidade científica sobre leis e equações fundamentais
contêm dois momentos consensuais distinguíveis entre si. O primeiro envolve um acordo sobre a
forma lógica de leis e equações que Kuhn denominará generalizações. O segundo, diz respeito à
interpretação lógica dessas fórmulas, à maneira como são interpretadas. “Com frequência as leis
podem ser gradualmente corrigidas, mas não as definições, que são tautologias” (KUHN, 2006a,
p. 230).
Vemos então, que as comunidades científicas diferentes podem concordar com
generalizações simbólicas mas diferir a respeito das interpretações empíricas atribuídas a essas
generalizações. Logo, o maior interesse de Kuhn está relacionado aos significados dos conceitos
empíricos. Diga-se de passagem que a mudança de sentido obriga a uma árdua tarefa de tradução
do sentido dos termos em um paradigma para o sentido que eles adquirem em um outro
paradigma, como condição para se alcançar aquela conversão. Mas para se chegar a tais
42
interpretações consensuais dos conceitos empíricos, os mesmos deveriam ser tomados a partir de
outro componente da matriz disciplinar, denominados soluções exemplares de problemas.
Os chamados modelos dentro da matriz disciplinar, assim como as generalizações
simbólicas, possuem sentidos diversos para Kuhn. De acordo com a necessidade, podem se
referir a modelos heurísticos, analogias e, em outro sentido, a convicções ontológicas. Contudo,
em seu texto da ERC, ele utiliza somente o segundo, designando-se de paradigmas metafísicos ou
partes metafísicas dos paradigmas.
Ao organizar o seu Posfácio de 1969, Kuhn admite a necessidade de utilizar o primeiro
sentido: “Se agora reescrevesse este livro, eu descreveria tais compromissos como crenças em
determinado modelos e expandiria a categoria ‘modelos’ de modo a incluir também a variedade
relativamente heurística” (KUHN, 2006a, p. 230-231).
Observemos então que os modelos, para a comunidade científica, desempenham duas
funções similares na ótica kuhniana. Eles desempenham papéis na identificação de problemas não
resolvidos e na aceitação de soluções propostas para eles. Para Kuhn, estes modelos diferem dos
outros componentes da matriz disciplinar porque frequentemente pertencem ao consenso no
interior de uma comunidade científica, desse modo auxiliam a determinar o que será aceito como
uma explicação.
Faz parte da concepção de Kuhn sobre os paradigmas a afirmação de que estes envolvem,
como um dos seus aspectos mais importantes, um consenso dos cientistas sobre determinados
valores. Sem tal consenso, o empreendimento científico não seria possível. Logo, o conhecimento
científico, para Kuhn, é o produto de grupos altamente especializados, sendo que esta
especialidade é decorrente de valores especiais, que são tipicamente sociais. Os valores, para ele,
são os componentes da matriz disciplinar menos sujeitos à variação. Podemos verificar então, que
o sistema de valores de uma comunidade científica partilha de um mesmo padrão comum,
obtendo desta forma uma descrição universal abstrata.
No entanto, Kuhn chama a atenção para o fato de que mesmo que os cientistas estejam de
acordo sobre determinados valores, isso não garante que a aplicação dos critérios de valor seja,
nos casos concretos, unívoca ou mecânica, uma vez “que nas situações onde valores devem ser
aplicados, valores diferentes considerados isoladamente, ditariam com frequência escolhas
diferentes” (KUHN, 2006a, p. 232). A mesma causa que permite que haja opção entre teorias
43
rivais por meios puramente lógicos ou experimentais, tampouco permite que as valorações que
necessariamente fazem parte da prática da ciência ocorram sempre da mesma maneira.
Os valores científicos desempenham basicamente duas ações em relação à avaliação da
pesquisa. Enquanto o processo individual ocorre com frequência, sendo ou não a teoria bem
sucedida, a avaliação geral é reservada para algumas fases especiais do processo de
desenvolvimento. Nessas fases especiais as avaliações individuais funcionam como instrumental
para as avaliações gerais. No contexto das revoluções científicas, o interesse de Kuhn pelos
valores se evidencia pelo importante papel que eles desempenham no processo global de
avaliação das teorias.
Entre os valores citados por Kuhn na publicação A Tensão Essencial, destacam-se:
precisão, exatidão, consistência, simplicidade, abrangências, produtividade, a unidade da ciência,
o poder de explanação, a naturalidade, a plausibilidade e a capacidade de uma teoria para definir
e resolver tantos problemas teoréticos experimentais quanto for possível.
Devido ao seu caráter abstrato e universal, os valores podem causar uma certa
indeterminação nas atividades dentro da comunidade científica. De acordo com Kuhn, isto ocorre
por duas razões básicas: primeiro, os valores individuais de uma dada comunidade podem ser
interpretados de maneiras diferentes por diferentes membros da comunidade; segundo, porque
diferentes valores podem entrar em contradição entre si em uma determinada aplicação concreta,
ora pendendo para um lado, ora para outro.
As avaliações elaboradas pelos cientistas estão sujeitas às suas experiências individuais,
uma vez que cada um desenvolve suas atividades em campos de trabalho e momentos distintos.
Além disso, recebem também as influências de outros elementos, denominados por Kuhn de extra
científicos, tais como: as convicções religiosas e filosóficas, as opções políticas de cada um, o
espírito de aventura ou a timidez, bem como suas preferências pessoais. Neste sentido, Kuhn
tenta demonstrar que as escolhas e os julgamentos feitos pelos cientistas são tomados a partir de
valores.
Os valores inseridos na matriz disciplinar constituem a base da teoria kuhniana, pois sua
principal inovação consiste na utilização dos componentes sociológicos na história do
desenvolvimento científico. Sobre isto, Kuhn (In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 294)
afirma: “Seja o que for o processo científico, temos que explicá-lo, examinando a natureza do
grupo científico, descobrindo o que ele valoriza, o que ele tolera, o que ele desdenha.”
44
As soluções de problemas exemplares constituem o quarto componente da matriz
disciplinar, tendo como objetivo as soluções que indicam, através de exemplos, como devem
(refere-se aos iniciantes da ciência) realizar seu trabalho. O processo de solução de um problema
concreto constitui dois momentos de consenso: a concordância a respeito de situações
particulares que constitui o problema científico propriamente dito, e a concordância com a
aceitação das soluções científicas que as situações particulares propõem. Dois aspectos básicos
no consenso são distinguidos neste processo: o primeiro referente ao aspecto normativo local, que
tem como objetivo o domínio das regras consensuais que articulam o trabalho científico
específico de uma comunidade científica; o segundo referente ao aspecto normativo global,
direcionando as regras de consenso geral que determinam a atividade científica particular.
Os exemplares são constituídos de problemas concretos e suas soluções são compartilhadas,
por isso têm importante papel no reconhecimento daquilo que a comunidade compartilha. Kuhn
cita o exemplo da criança, quando se pede para que a mesma montem um quebra-cabeças de
animais ou rostos escondidos no desenho do matagal ou das nuvens. “Uma vez encontradas, já
não voltam a confundir-se com o fundo, porque a maneira como as crianças viam a imagem
mudou” (KUHN, 1977, p. 369). Para concluir sobre o elemento problemas exemplares Kuhn
(1977, p. 369) diz: “o seu critério básico é uma percepção de semelhança, que é tanto lógica
como psicologicamente anterior a qualquer dos numerosos critérios pelos quais essa identificação
de semelhança pode ter sido feita.”
A relação produzida a partir da interação dos componentes da matriz disciplinar influi
diretamente na produção científica e no seu entendimento,sendo que à medida que um elemento
sofre alterações, essas alterações são percebidas na matriz como um todo, modificando a
localização da investigação de um grupo e também os respectivos padrões de verificação
(KUHN, 1977).
Do ponto de vista de Kuhn, esses elementos podem ser concebidos separadamente,
possibilitando a realização de um exame de caráter individual destes. Sobre outro aspecto,
utilizando o termo teorias e não matriz disciplinar como referência, Kuhn (1977, p.48) coloca:
As teorias, [...] não podem decompor-se em elementos constituintes em vista de uma comparação direta tanto com a natureza quanto entre si. Não quer isso dizer que não possam ser analiticamente decompostas, mas antes que as partes normativas produzidas pela análise não podem [...] funcionar individualmente em tais comparações.
45
A forma como estes elementos se relacionam passa a ser decisiva na formulação e no
desenvolvimento do conceito de paradigma. A relação entre esses e sua unidade singular
impossibilita sua concepção em separado.
3 O papel da História e da Sociologia dentro da obra A Estrutura das Revoluções Científicas
As diversas críticas feitas a ERC, no que diz respeito a propriedade dos métodos utilizados
por Kuhn nessa obra, ao sustentar que a história e a psicologia social são as bases adequadas para
se chegar a conclusões filosóficas sobre a racionalidade científica, faz com que o mesmo procure
contrapor um a um dos seus seus críticos, no intuito de melhor explicar sua concepção. Kuhn (In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 288-289) diz: “Meus críticos respondem às minhas opiniões
com acusações de irracionalidade, relativismo e defesa da regra das multidões. Todos são rótulos
que rejeito categoricamente.”
Ao longo do que foi visto em relação à sua obra principal (ERC) – a qual, diga-se de
passagem,é uma das obras mais citadas no mundo científico, principalmente dentro das ciências
sociais, Kuhn destaca a necessidade de se investigar o papel da história da ciência para que possa
ser entendido o seu modelo explicativo sobre o desenvolvimento científico. Contudo, Kuhn
salientou também que existem certezas na produção científica que vão além de uma lógica de
investigação propriamente dita, ao afirmar que: “Seja o que for o processo científico, temos de
explicá-lo examinando a natureza do grupo científico, descobrindo o que ele valoriza, o que ele
tolera e o que ele desdenha” (KUHN In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 294).
Ora, Kuhn defende a impossibilidade de imparcialidade e se posiciona contra aqueles que
defendem a não históricidade da produção científica sem que não possa estar atrelado a uma
razão sociológica. Busca a todo momento mostrar que seus principais críticos possuem trechos
em sua obras “que só podem ser lidos como descrições dos valores e atitudes que os cientistas
deverão possuir se, eles quiserem triunfar fazendo progredir seu empreendimento” (KUHN In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 294).
Sabemos que essa concepção kuhniana tornou-se por muito tempo em pilares defendidos
por várias linhas de pesquisas científicas, principalmente no que tange às ciências sociais, o que
46
torna Kuhn uma grande referência no que diz respeito à visão humanistíca dentro da prática
científica. Mas não podemos nos iludir, uma vez que as ciências humanas sempre tiveram essa
compreensão. Se a produção científica não se caracteriza como um atividade neutra como até
então se imaginava, não podemos deixar de observar que a tese defendida por Kuhn gira em torno
daquilo que sempre se fez dentro da ciência, onde por mais que essa pesquisa seja de cunho
lógico-normativa sempre vai ser exigida das faculdades ou das forças racionais do homem, uma
compreensão de suas próprias ações.
No intuito de mostrar que a sua concepção não foge de uma base normativa de investigação
científica e que são seus críticos que sofrem de uma mudança de gestalt, Kuhn (In LAKATOS;
MUSGRAVE, 1970, p. 294) fala a respeito de um dos seus principais críticos:
O falseacionismo sofisticado de Lakatos vai até mais longe. Em quase todos os sentidos, apenas dois dos quais são essencias, sua posição está agora muito próxima da minha. Entre os sentidos em que concordamos, embora ele ainda não o tenha percebido, figura o nosso emprego comum de príncipios explanatórios que são de estrutura basicamente sociológica ou ideológica.
Contudo, tal afirmação de Kuhn é contraposta ao nos deparamos com a concepção lógico-
normativa desenvolvida Lakatos através de sua MPIC, algo que iremos mostrar no capítulo
seguinte, na tentativa de contapor as teses até então defendidas pelo autor da ERC,
principalmente no que diz respeito ao consenso estabelecido por uma comunidade científica a
respeito da ciência vigente. Assim, as análises desenvolvidas neste capítulo tiveram como
objetivo expor os aspectos básicos da concepção de ciência kuhniana.
47
CAPÍTULO III - PROGRAMAS DE PESQUISA: UMA RECONSTRU ÇÃO RACIONAL
LAKATOSIANA.
A epistemologia de Imre Lakatos (1922-1974) constitui-se em uma das mais importantes
reflexões na filosofia da ciência no século XX, interrompida bruscamente com a sua morte
prematura em 1974. Quando tinha quase quarenta anos de idade, Lakatos, saindo da Hungria por
motivos políticos, entrou em contato com a filosofia de Karl Popper, o que o levou a afirmar
(LAKATOS, 1999, p. 151) :
As ideias de Popper representam o mais importante desenvolvimento na filosofia do século XX; uma realização na tradição – e ao nível – de Hume, Kant ou Whewell. Pessoalmente, a minha dívida para com ele é incomensurável: mais do que qualquer outra pessoa, ele modificou a minha vida. [...] A sua filosofia ajudou-me a fazer um corte final com a perspectiva hegeliana que tinha defendido durante cerca de vinte anos. E, o mais importante ainda, proporcionou-me uma série de problemas imensamente fértil, na realidade, um autêntico programa de investigação.
Quanto aos trabalhos desenvolvidos por Imre Lakatos, abordaremos nesta pesquisa os que
se referem à sua preocupação com a ciência, sua racionalidade e a compreensão de como
acontece o progresso dos conhecimentos científicos. Entre eles destacam-se: Falsificação e
Metodologia dos Programas de Investigação Científica e A História da ciência e suas
construções racionais10.
A concepção de Lakatos sobre o desenvolvimento da ciência caracteriza-se por um
exercício de reconstrução das diversas alternativas de reflexões que guiam os caminhos da
racionalidade científica. A reconstrução proposta por Lakatos foi inovadora, distinguindo-se
como um crítico experiente e tornando-o uma referência necessária no cenário das discussões
científicas.
Mesmo percebendo os limites da concepção popperiana, Lakatos propõe a reconstituição da
proposta falseacionista, proposta esta que sofrera severas críticas kuhnianas, o que o leva a
10 Para ambos os trabalhos de Lakatos utilizamos a tradução de Emília Picado Tavares Marinho Mendes. Lisboa: Edição 70, 1999 e 1998.
48
recusar a visão da ciência e de seu desenvolvimento apontada por Kuhn.
A reconstrução proposta por Lakatos inicialmente evidencia a inconsistência dos
enunciados que compõem os alicerces da ciência moderna. Isto porque, ao longo dos séculos
XVII e XVIII, a ciência se desenvolve sustentada por alicerces justificacionistas. Lakatos define
o justificacionismo como sendo a identificação dos conhecimentos com o conhecimento provado
através de observações (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970).
O credo justificacionista, ao afirmar que o conhecimento científico consistia em
proposições demonstradas, não resistiu ao impacto tanto da geometria não-euclidiana e da física
não-newtoniana, como aos desafios propostos pelo esforço para construir, via lógica, uma base
empírica e uma lógica indutiva na elaboração dos conhecimentos. Lakatos indica, portanto, que a
honestidade científica própria do justificacionismo, exigindo que não se afirmasse nada que não
estivesse provado empiricamente, fosse substituída antes que o ceticismo, como o proposto por
Hume, marcasse indelevelmente a ciência e sua prática (LAKATOS In LAKATOS;
MUSGRAVE, 1970).
O probabilismo ou neo-justificacionismo veio à luz em meio a este momento de
insegurança. Para salvaguardar a ciência, livrando-a da pecha de sofisma e ilusão, uma fraude
desonesta, o critério de honestidade científica deveria ser levada em consideração, agora que
existem proposições que são provavelmente11 verdadeiras. O reconhecimento elaborado pelo neo-
justificacionismo de que a proposições da ciência são altamente prováveis, imprime um novo
vigor àquela impossibilidade de demonstrações referida pela crítica humeana: a evidência
empírica apresenta, segundo os defensores do probabilismo, diferentes graus de probabilidade
Lakatos aponta para os trabalhos que foram realizados por Karl Popper no sentido de indicar a
igual fragilidade do probabilismo quando do exercício de se validar os conhecimentos científicos.
Lakatos não deixa de reconhecer que a força da probabilidade no lugar da força da prova tinha
significado um recuo importante do pensamento justificacionista. Esclareceu, no entanto: “logo
se evidenciou, graças sobretudo aos persistentes esforços de Popper, que em condições muito
gerais todas as teorias têm uma probabilidade zero, seja qual for a evidência; todas as teorias não
são apenas igualmente indemonstráveis, mas também igualmente improváveis” (LAKATOS In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 114-115).
11Esclarece Lakatos, que este deve ser entendido, “(no sentido de cálculo das probabilidades) relativos a evidência empírica disponível” (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 114).
49
Lakatos conclui que, embora o probabilismo tenha significado um avanço em relação ao
justificacionismo, também se mostrou insuficiente como programa de validação dos enunciados
científicos. Diante dessa dupla impossibilidade de se validar uma teoria científica, vemos surgir
uma nova proposição. O falseacionismo vai emergir na reflexão de Popper e, depurado de suas
limitações por um cuidadoso trabalho realizado por Imre Lakatos, se constituir no elemento
básico para o estabelecimento da MPIC.
1 O falseacionismo.
Diante das impossibilidades apresentadas a partir dos pressupostos justificacionistas e
probabilistas, a busca por fundamentos seguros torna-se o grande desafio da ciência
contemporânea. A solução para esta situação, segundo Popper, está no critério de falseabilidade,
cuja principal função é a demarcação entre a ciência com base empírica da não ciência.
Nesse sentido, em detrimento das impossibilidades apresentadas pelo probabilismo,
Lakatos apresenta a alternativa do falseacionismo, que segundo Chalmers (1993, p. 65), é uma
atividade em que se “vê a ciência como um conjunto de hipóteses que são experimentalmente
propostas com a finalidade de se descrever e explicar acuradamente o comportamento de algum
aspecto do mundo ou do universo.”
Para Lakatos, o falseacionismo provocou uma mudança dramática no exercício da ciência
quando do surgimento desta nova formulação teórica e aponta suas consequências. “Em certo
sentido, o falseacionismo foi um novo e considerável recuo do pensamento racional. Mas, sendo
um recuo de padrões utópicos, esclareceu muita hipocrisia e muito pensamento confuso, de modo
que na realidade acabou representando um avanço” (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE,
1970, p. 115).
A concepção lakatosiana fundamenta-se a partir de uma postura que busca corrigir e
aprimorar a concepção popperiana. Segundo Lakatos, a racionalidade apresentada nas reflexões
popperianas se consolidam na seguinte convicção: “Na sua opinião, a virtude não está na cautela
em evitar erros, mas na implacabilidade com que se limitam erros. Audácia nas conjecturas de
um lado e austeridade nas refutações de outro: essa é a receita de Popper” (LAKATOS In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 111).
50
Sobre a proposta de Popper, Lakatos em sua análise, indica três diferentes direcionamentos
desta atividade demarcativa: o falseacionismo dogmático (ou naturalista); o falseacionismo
metodológico e o falseacionismo metodológico sofisticado. Através desta análise, foi possível
identificar os limites e avanços possíveis em cada uma destas linhas de trabalho científico.
Lakatos assim descreve o falseacionismo dogmático: “há uma base empírica de fatos
absolutamente firmes que se pode usar para refutar teorias” (LAKATOS In LAKATOS;
MUSGRAVE, 1970, p. 116). Para tanto, na elaboração de uma experiência científica, se o
resultado não comprovar determinada teoria, esta deverá ser abandonada. Neste sentido, a base
empírica funciona como elemento de salvação do critério de demarcação. Desta forma, para
elaboração do critério de honestidade científica é necessário “considerar uma proposição como
‘científica’ não se for uma proposição factual provada, mas também se não passar de uma
proposição falseável, isto é, se houver técnicas experimentais e matemáticas disponíveis na
ocasião que designem certas afirmações como falseadores potenciais” (LAKATOS In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 116).
Nesse contexto, a visão lakatosiana faz notar o estabelecimento de uma dicotomia no
campo da ciência. De um lado estariam aqueles responsáveis pela reformulação das teorias (são
os teóricos) e de outro, os responsáveis pela sua aplicação (são os experimentadores), divisão
essa que não contribui para o esclarecimento dos critérios que indicam o dado científico e o dado
não científico.
O falseacionismo dogmático tem como objetivo a derrubada de teorias através de fatos
concretos. Sobre isto, Lakatos (In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 117) afirma:
Desse modo, a ciência avança através de especulações ousadas, que nunca são demonstradas ou probabilizadas, mas algumas das quais, mais tarde, são eliminadas por refutações concretas e conclusivas e logo substituídas por novas especulações ainda mais ousadas e, pelo menos no início, não refutadas.
Sob o ponto de vista de Lakatos, o falseacionismo dogmático é insustentável por apresentar
suposições falsas e critérios muito rigorosos na demarcação entre o que é ciência e não ciência.
As suposições falsas abrangem inicialmente uma fronteira natural, psicológica entre o universo
teórico e o universo factual. A afirmação de que se uma proposição satisfaz ao critério
51
psicológico de ser factual ou observacional (ou básica), ela é verdadeira; porém a severidade do
critério de demarcação pode ser assim formulada: “só são ‘científicas’ as teorias que impedem
certos estados de coisas observáveis e, portanto, são factualmente refutáveis. Ou uma teoria será
‘científica’ se tiver uma base empírica” (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 118,
grifo do autor).
Lakatos argumenta que o critério psicológico impossibilita uma demarcação natural entre o
factual e o teórico, derrubando desta forma a primeira suposição. Em relação à segunda
suposição, esta se invalida porque de acordo com a lógica não existem garantias que se possa
provar a validade de uma suposição a partir da experiência. Por fim, o procedimento
metodológico se contrapõe ao rigor demarcacionista quando admite a refutação das mais bem
fundamentadas teorias científicas. Concluindo desta maneira sobre o falseacionismo dogmático
Lakatos (In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 125) afirma:
Se aceitarmos o critério de demarcação do falseacionismo dogmático,e também a idéia de que os fatos podem provar proposições “factuais”, teremos de declarar que as teorias mais importantes, senão todas elas, propostas na história da ciência, são metafísicas, que a maior parte do progresso aceito, senão todo ele, é pseudo-progresso, que quase todo, senão todo, o trabalho feito é irracional.
Após rejeitar os critérios de racionalidade contidos no modelo falseacionista dogmático,
Lakatos direciona-se para o falseacionismo metodológico, buscando respostas às indagações não
respondidas pelos justificacionistas, probabilistas e naturalistas, tais como: “Ainda podemos
opor-nos ao ceticismo? Podemos salvar a crítica científica do falibilismo? É possível ter uma
teoria falibilista do progresso científico ? Em particular, se a crítica científica é falível, baseados
em quê poderemos algum dia eliminar uma teoria?” (LAKATOS In LAKATOS;
MUSGRAVE,1970, p.125, grifo do autor).
As respostas surgem a partir da análise feita quanto ao falseacionismo metodológico, que
segundo Lakatos é uma espécie de convencionalismo, cuja origem pode ser compreendida a partir
de duas posturas: uma denominada de teoria passivista e a outra denominada ativista. Na teoria
passivista o conhecimento verdadeiro é obtido quando a mente recebe passivamente as
impressões que a natureza nela imprime, a atividade mental só pode resultar em parcialidade e
distorção. Assim agiam os empiristas clássicos. Já na teoria ativista o mundo sempre é olhado a
52
partir de nossas experiências, “não podemos ler o livro da Natureza sem atividade mental, sem
interpretá-lo à luz das nossas expectativas ou teorias” (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE,
1970, p. 126).
Desta forma, podemos reconhecer duas classes distintas de pensadores ativistas: os ativistas
conservadores que, como Kant, acreditam na transformação das expectativas do mundo exterior
em nossas expectativas particulares, o que fatalmente nos distanciaria do mundo real, obrigando-
nos a viver para sempre na prisão do nosso mundo; e os ativistas revolucionários, caracterizando-
se por acreditarem que os conhecimentos construídos a partir do nosso mundo individual podem
ser por decisão própria substituídos por outros conhecimentos superiores, isto porque de acordo
com Lakatos, “somos nós que criamos nossas ‘prisões’ e também podemos, com espírito crítico,
demoli-las”(LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p.126, grifo do autor). Segundo
Lakatos, foi através do trabalho de Poincaré e Whewell que ocorreu a passagem do ativismo
conservador para o ativismo revolucionário12.
Uma característica marcante nos trabalhos desses autores é a força da decisão metodológica
que os cientistas devem tomar diante da necessidade de explicarem o êxito de uma teoria. Nas
decisões tomadas para solução das anomalias, deve-se utilizar aquilo que Popper denominou
estratagemas convencionalistas, que seriam decisões consensuais dos cientistas com o auxílio de
hipóteses auxiliares para proteger a teoria de uma suposta refutação, a qual segundo Lakatos (In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 127, grifo do autor) será transformada em um
convencionalismo conservador:
Esse convencionalismo conservador, no entanto, tem a desvantagem de nos incapacitar para sair das prisões a que nós mesmos nos impusemos [...]. De acordo com o convencionalismo conservador, as experiências podem ter força bastante para refutar teorias jovens, mas não têm força para refutar teorias velhas, estabelecidas: à proporção que a ciência cresce, a força da evidência empírica diminui.
Em decorrência da crítica dirigida ao convencionalismo conservador de Poincaré, surge o
convencionalismo revolucionário, baseado na concepção de Duhem, através da qual se afirma
que se uma teoria resiste ao processo de refutação, não resiste, no entanto, às contínuas correções 12 Verificar o tratamento dado por Lakatos, primeiro ao trabalho de Whewell e depois, ao de Poincaré, Milhaud e Le Roy na distinção feita nas páginas 126 e 127 (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970).
53
que se fazem em suas estruturas, “quando as ‘colunas comidas pelos vermes’ não podem suportar
por mais tempo ‘o edifício vacilante’; a teoria perde a sua simplicidade original e precisa ser
substituída” (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 128).
Contrapondo-se ao simplismo de Duhem, Popper elabora uma outra espécie de
convencionalismo, o falseacionismo metodológico, que sob o ponto de vista de Lakatos (In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 128),
é convencionalista e falseacionista a um tempo, mas ele difere dos convencionalistas [conservadores] por sustentar que os enunciados decididos por consenso não são [espaço-temporalmente] universais, mas [espaço-temporalmente] singulares; e difere do falseacionista dogmático por sustentar que o valor-de-verdade de tais afirmações não pode ser provado por fatos mas, em alguns casos, pode ser decidido por consenso.
Esse consenso pode ser estabelecido através de diferentes formas. Lakatos, em seu
entendimento acerca do falseacionismo metodológico popperiano, expõe quatro diferentes formas
de decisão: na primeira, o consenso é pleiteado com o objetivo de selecionar os enunciados que
não são falseáveis, “pelo fato de existir na ocasião, uma ‘técnica pertinente’ tal que ‘quem quer
que a tenha aprendido’ será capaz de decidir que o enunciado é ‘aceitável’” (LAKATOS In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p.129); a segunda refere-se de que forma, ou através de quais
procedimentos serão separados o “conjunto de enunciados básicos aceitos do resto” (idem,
ibdem). Para Lakatos, nesta forma de decisão, estão os enunciados observacionais13 de uma
teoria, aqui entendido apenas como conhecimento de fundo e não em seu sentido próprio.
As consequências destas duas primeiras decisões, de acordo com Lakatos são: “O
falseacionista metodológico compreende que, se quisermos conciliar o falibilismo com a
racionalidade (não justificionista), precisamos encontrar um jeito de eliminar algumas teorias. Se
não o conseguirmos, o crescimento da ciência não será mais do que um caos cada vez maior”
(LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 131).
Através destas duas decisões são evidenciadas as diferentes posições assumidas de um lado
pelo falseacionismo metodológico, em que “somente são científicas as teorias, isto é, proposições
13 Com relação a este termo, diz Lakatos: “Ficamos a imaginar se não seria melhor acabar com a terminologia do falseacionismo naturalista e rebatizar as teorias observacionais com o nome de ‘Teorias de Pedra de Toque’ (‘touch stone theorie’) Nota de rodapé nº 53 (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 130).
54
não– observacionais – que proíbem certos estados de coisas ‘observáveis’ e, portanto, podem ser
‘falseadas’ e rejeitadas; [...] uma teoria é ‘científica’ (‘ou aceitável’) se tiver uma base empírica.”
(LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 132, grifo do autor). E no outro, pelo
falseacionismo dogmático, que reconhece como científicos somente aqueles enunciados que
expressem teorias refutáveis, levados por um número finito de observações.
Essas duas decisões do falseacionismo metodológico dão maior flexibilidade à atitude
metodológica, permitindo reunir um número significativo de teorias ao conjunto daquelas aceitas
como científicas, desse modo ultrapassando a rigidez daquele utilizado pelo falseacionismo
dogmático. Neste contexto estão inseridas as teorias probabilistas, que “embora sejam falseáveis,
podem facilmente tornar-se ‘falseáveis’ por uma decisão adicional (de terceiro tipo) que o
cientista pode tomar, especificando certas regras de rejeição capazes de tornar a evidência
estatisticamente interpretada ‘inconsistente’ com a teoria probabilística” (LAKATOS In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 133, grifo do autor).
De acordo com Lakatos (In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 133-134) – fazendo alguns
questionamentos em cima das ideias de Popper, estes três tipos de decisões descritas evidenciam
a impotência do fazer científico diante das seguintes questões:
Como se podem interpretar teorias, como a teoria newtoniana da dinâmica e da gravitação, de “unilateralmente decidíveis”? Como podemos fazer em casos assim genuínas “tentativas de suprimir teorias falsas – de encontrar os pontos fracos de uma teoria a fim de rejeitá-la se ela for falseada pelo teste”? Como podemos levá-las ao domínio da discussão racional?.
Para tentar responder a essas questões, os falseacionistas utilizam um quarto tipo de
decisão, que consiste “quando ele testa uma teoria juntamente com uma cláusula ceteris paribus14
e descobre que essa conjunção foi refutada, precisa decidir se deve tomar a refutação também
como refutação da teoria específica” (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p.134,
grifo do autor). Para Lakatos, ao tomarmos essa decisão, levando em conta a cláusula ceteris
paribus, corremos o risco de utilizarmos certas anomalias, insignificantes em um enunciado,
14 Com relação a este termo, nos diz Lakatos (In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 123, grifo do autor): “essa cláusula ‘ceteris paribus’ não precisa ser normalmente interpretada como premissa separada.” (Nota de rodapé nº 30)
55
como prova decisiva contra o seu falseamento. Vale ressaltar que, através de decisões como esta,
o falseacionista metodológico compreende e amplia as possibilidades de verificar o grau de
cientificidade de um enunciado.
Mesmo assim, Lakatos vai mais adiante ao questionar: “Por que não decidir que uma teoria
– que nem essas quatro decisões podem converter numa teoria empiricamente falseável - é
falseada se entra em conflito com uma outra teoria que é científica por algum dos motivos
anteriormente especificados e é igualmente bem corroborada?” (LAKATOS In LAKATOS;
MUSGRAVE, 1970, p. 136). Como solução para este questionamento, Lakatos apresenta uma
quinta decisão, capaz de ir mais além das quatro decisões anteriores, por ele justificada da
seguinte forma: “se rejeitamos uma teoria porque verificamos que um dos seus falseadores
potenciais é verdadeiro à luz de uma teoria observacional, por que não rejeitar outra teoria por
completar diretamente com uma que pode ser relegada ao conhecimento de fundo não-
problemático?” (idem, ibdem, grifo do autor).
Sobre o aspecto convencional do falseacionismo metodológico, Lakatos afirma ser
impossível abandoná-lo definitivamente, isto porque a metodologia utilizada por estes
falseacionistas não pode renegar a importância das decisões, até mesmo quando elas não
fornecem o melhor caminho a ser seguido. “As decisões, todavia, podem levar-nos
desastrosamente para o mau caminho. O falseacionismo metodológico é o primeiro a admiti-lo.
Mas isso, [...] é o preço que temos de pagar pela possibilidade de progresso” (LAKATOS In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 137).
Para ultrapassar o modelo de racionalidade da ciência, “cumpre apreciar a atitude
diabolicamente atrevida do nosso falseacionismo metodológico” (idem, ibdem), superando a
atitude cética do justificacionismo indutivista, que faz abandonar os padrões intelectuais e
também a ideia de progresso científico. Lakatos diz que: por “dois mil anos, cientistas e filósofos
de espírito científico” optaram por quimeras justificacionistas de alguma espécie, afirmando que
tinham “de escolher entre o justificacionismo indutivista e o irracionalismo” ( idem, ibdem, grifo
do autor).
O justificacionismo metodológico admite que o caminho para tal superação é arriscado.
“Tem plena consciência dos riscos, mas insiste em que é preciso escolher entre uma espécie de
falseacionismo metodológico e o irracionalismo. Oferece um jogo em que temos poucas
esperanças de vencer, mas afirma que é melhor jogar do que desistir”, e rejeita “orgulhosamente”
56
essa forma de “escapismo”, defendida pelos justificacionistas indutivistas (idem, ibdem, grifo do
autor). A razão para isso é encontrada no âmbito da metodologia que dá identidade a este
procedimento, ou seja, a metodologia inerente a esta classe de falseacionismo não pode prescindir
de papel desempenhado pelas decisões. Estas, quando tomadas, não fornecem nenhuma espécie
de segurança, não indicam o bom caminho que deve ser adotado pelo homem da ciência. Em
outras palavras, elas não eliminam o risco. Como o cientista que participa desta crença
falseacionista vê o tênue alicerce das decisões? Salvaguarda uma metodologia que permite
combinar a atitude crítica e a novidade do conjunto teórico falibilista implica em correr risco, e o
falseacionista não os desconhece. Sabe que o progresso exige que se continue a apostar, embora
adiante saiba que apostar não signifique necessariamente ganhar.
Lakatos indica a possível irracionalidade contida nas estruturas teóricas de pensadores
como Neurath e Hempel. Essa irracionalidade possível nasce da crítica estruturada por esses
autores que não deixam espaço para algum modelo alternativo. O desenvolvimento de suas
teorias relegam o falseacionismo ao papel de um pseudo-racionalismo por não conseguir
visualizar algo mais do que aquilo que está abrigado sobre a formulação do falseacionismo
ingênuo. Embora, conforme aponta Neurath, todas as proposições sejam falíveis, é preciso pensar
como Popper, que defende com vigor o ponto crucial de que não podemos fazer progresso sem
uma estratégia ou método racional firme para guiar-nos quando elas colidem (LAKATOS In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970).
Na tentativa de comprovar os limites do falseacionismo metodológico, Lakatos aponta para
a história da ciência. É nela que se pode perceber um insistente desafio que não confirma a
racionalidade científica desejada. O que o falseacionismo enfatiza, tanto em sua versão
dogmática quanto em sua versão metodológica, é que no caso específico de um teste, a disputa
está bem situada em dois polos distintos, a saber: de um lado se encontra a teoria e, de outro, a
experiência; a batalha final é travada entre esses dois únicos adversários. Já quanto ao resultado
final, pretende-se um falseamento conclusivo, ou seja, as descobertas não são outra coisa que o
resultado das refutações de hipóteses científicas.
Então, quais as confirmações da história da ciência? No que se refere aos testes, ela indica
três pólos distintos: duas teorias adversárias diferentes e a experiência. Quanto aos resultados,
percebe-se uma maior ocorrência de confirmação do que falseamento.
Diante da análise elaborada por Lakatos, percebe-se uma certa incapacidade na formulação
57
de uma teoria coerente sobre a racionalidade científica. Isto pode ser evidenciado no
justificacionismo, pois o procedimento indutivista não garantia a eficácia de um modelo de
racionalidade exigido pelos procedimentos de comprovação. Ao postularem os critérios de
honestidade científica que admitiam somente os enunciados elaborados via experiência, não
resistiram às transformações ocorridas na ciência, com o surgimento da Mecânica Quântica.
Através do justificacionismo, buscou-se elaborar uma nova racionalidade, baseada na
afirmativa de que embora os enunciados não sejam comprovados via experiência, são
provavelmente verdadeiros. Para os probabilistas, as teorias, além de não serem indemonstráveis,
também não são improváveis. O critério de honestidade probabilístico que colocava os
enunciados como provavelmente verdadeiros não foi suficientemente sólido para o progresso
científico.
No falibilismo, a busca da racionalidade consistiu em devolver credibilidade aos
enunciados científicos, o que possibilitou diferentes direcionamentos. Sob o aspecto dogmático, o
falseacionismo constituiu-se um avanço importante. Contudo, ao exigir uma base empírica para a
formulação dos enunciados, tornou-se demasiadamente autoritário. Os critérios de demarcação
utilizados por este procedimento não resistiram a uma revisão elaborada pela psicologia, pela
lógica e às regras de julgamento metodológico.
Diante dos limites apresentados pelo falseacionismo dogmático, buscou-se uma outra
versão denominada falseacionismo metodológico, em que a atividade científica busca um caráter
convencional, evidenciando desta forma, a força das decisões tomadas pelos homens de ciência.
Contudo, Lakatos (In LAKATOS; MUSGRAVE, p. 139, grifo do autor) não está totalmente
convencido do tipo de racionalidade implícito no falseacionismo metodológico, pois questiona:
Mas a estratégia firme da classe do falseacionismo metodológico discutida até aqui não será firme demais? As decisões que ele advoga não estarão fadadas a ser demasiado arbitrárias? Alguns podem sustentar que a única coisa que distingue o falseacionismo metodológico do dogmático é que ele é falibilista da boca para fora.
O que só vem mostrar para Lakatos que no contexto do falseacionismo metodológico, o seu
racionalismo não justificacionista é convencionalista; logo não está comprometido em eliminar
algumas teorias do contexto geral da pesquisa.
58
Utilizando como recurso a história da ciência, Lakatos constata a incapacidade
metodológica apresentada pelo falseacionismo, inserindo duas novas atitudes no contexto
científico. A primeira consiste em abandonar os esforços para dar uma explicação racional do
êxito da ciência. Assim, os mecanismos de avaliação racional de uma teoria e os elementos
necessários ao seu desenvolvimento deixam de existir. Nesta atitude, o modelo kuhniano de
desenvolvimento científico, sob o ponto de vista da psicologia social, é rejeitado, uma vez que
para Lakatos a mudança em termos de paradigmas está inserida no contexto da irracionalidade.
A segunda atitude consiste em (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, p. 141, grifo do
autor):
tentar, ao menos, reduzir o elemento convencional do falseacionismo (não podemos de maneira alguma eliminá-lo) e substituir as versões ingênuas do falseacionismo metodológico. [...] por uma versão sofisticada que daria um novo fundamento lógico ao falseamento e, por esse modo, salvaria a metodologia e a idéia de progresso científico. Este é o caminho de Popper, e o caminho que pretendo seguir.
De acordo com Lakatos, a partir desta estrutura de mudança do falseacionismo é possível
distinguir duas classes de falseacionismo metodológico: uma postura ingênua e outra sofisticada.
O aspecto diferenciador pode ser compreendido da seguinte forma (idem, ibdem):
Para o falseacionismo ingênuo qualquer teoria que se possa interpretar como experimentalmente falseável é ‘aceitável’ ou ‘científica’. Para o sofisticado, uma teoria só será ‘aceitável’ ou ‘científica’ se tiver um excesso corroborado de conteúdo empírico em relação à sua predecessora (ou rival), isto é, se levar à descoberta de fatos novos.
A partir dessas mudanças, a versão sofisticada do falseacionismo diz que uma teoria deve
ter um conteúdo empírico excedente, para que parte deste possa ser verificado, enquanto que o
falseacionismo ingênuo reconhece uma teoria a partir do falseamento dos enunciados
observacionais conflitantes com a teoria. Este conflito pode surgir no enunciado, ou em
decorrência de uma decisão da teoria que considera o enunciado conflitante.
No falseacionismo sofisticado, para uma teoria falsear outra existente é necessário que esta
59
tenha um excesso de conteúdo empírico, apresente fatos novos até então não visualizados e nem
permitidos pela teoria original. Além disso, deve explicar todos os fatos não explicados pela
teoria anterior, e ter parte do seu conteúdo corroborado.
Já no contexto do falseacionismo ingênuo, percebemos que quando uma teoria é colocada à
prova, os esforços são direcionados no sentido de preservá-la. Isto porque na experimentação é
utilizado como recurso o isolamento lógico das hipóteses auxiliares, compreendidas como
conhecimento de fundo não problemático, “em que ela (hipótese auxiliar escolhida) se converte
em um alvo fácil para o ataque de experimentos de testes” (LAKATOS In LAKATOS;
MUSGRAVE, 1970, p. 142, grifo nosso).
Para Lakatos, não é possível preservar uma teoria, utilizando os recursos do falseacionismo
ingênuo, uma vez que a história da ciência não apresenta garantias à racionalidade contida neste
empreendimento científico. Como último recurso para a salvação de uma teoria são indicados os
ajustamento teóricos, efetuados a partir de determinados padrões. “Alguns desses padrões, na
verdade, são conhecidos há séculos e vemo-los expressos em epigramas seculares dirigidos
contra as explicações ad hoc, os subterfúgios vazios, as evasivas, os truques linguísticos”
(LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 142-143, grifo do autor).
O simplismo e o bom senso evidenciados pela concepção de Duhem foram recursos
rejeitados, uma vez que os padrões neles citados não garantem a cientificidade de uma teoria.
“Em que sentido foi a teoria copernicana, por exemplo, ‘mais simples’ que a ptolemaica? A vaga
noção de ‘simplicidade’ duhemiana deixa a decisão, como o falseacionista argumentou
corretamente, à mercê do gosto e da moda” (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p.
143). Melhorando a proposta de Duhem, Popper argumenta que apesar das hipóteses auxiliares
conciliarem as teorias e as proposições factuais, para salvar uma teoria é preciso que estas
satisfaçam as exigências de definição do que é científico e pseudocientífico, o racional do
irracional. Segundo Lakatos (idem, ibdem): “De acordo com Popper, salvar uma teoria com
ajuda de hipóteses auxiliares que satisfazem a certas condições bem definidas representa
progresso científico; mas salvar uma teoria com a ajuda de hipóteses auxiliares que não
satisfazem a essas condições, representa degeneração.”
As hipóteses auxiliares são importantes no sentido de que possibilitam avaliar uma teoria
junto com o conjunto de hipóteses auxiliares, especificando o tipo de mudança produzida.
Baseado nisso, Lakatos afirma que, neste caso, avaliamos uma série de teorias e não teorias
60
isoladas. Neste sentido, o progresso científico ocorre a partir das reformulações estruturais do
falseacionismo metodológico. Nesta reformulação, os critérios para o falseamento antes baseados
em uma teoria isolada, agora tomam como base a avaliação de uma série de teorias,
possibilitando a transferência progressiva e transferência degenerativa de problemas (LAKATOS
In LAKATOS; MUSGRAVE, p. 144-145, grifo do autor).
Seja-nos permitido chamar progressiva à transferência de problema se ela for, ao mesmo tempo, teórica e empiricamente progressiva, e degenerativa se não o for. Só “aceitamos” a transferência de problemas como “científicas” se elas forem teoricamente progressiva; se não o forem, “rejeitamo-la” como “pseudocientíficas”.
Diante das novas propostas falseacionistas para o progresso científico, Lakatos (In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 145) constata: “o progresso mede-se pelo grau em que a
série de teorias nos conduz à descoberta de fatos novos. Consideramos ‘falseada’ uma teoria da
série quando ela é suplantada por uma teoria com um conteúdo corroborado mais elevado.”
Sintetizando o falseacionismo ingênuo e o sofisticado, obtemos as seguintes
contraposições:
• Falseacionismo ingênuo: o critério empírico que julga satisfatória uma teoria é a
concordância com os fatos observados, exigindo o teste da teoria falseável e a rejeição das teorias
não falseáveis;
• Falseacionismo sofisticado: o critério empírico que julga uma série de teorias é a
produção de novos fatos, apresentando novas teorias que antecipem fatos novos e rejeitem teorias
que tenham sido suplantadas por outras mais vigorosas.
2 A Metodologia dos Programas de Investigação Científica.
Lakatos procurou desenvolver argumentos que fossem capazes de eliminar os obstáculos
enfrentados pela proposta falseacionista. O falseacionismo, em sua postura ingênua, utiliza
61
recursos de um modelo racionalista incapaz de proteger a necessidade de se manter uma
formulação teórica com a denominação de científica. Em consequência disto, buscou-se uma
sofisticação dos mecanismos metodológicos, capazes de proteger e conservar os enunciados
científicos. Neste contexto, evidenciaram-se claramente os pontos característicos que separam
cada tipo de atitude falseacionista, pois enquanto no ingênuo a atenção é dirigida para teorias
isoladas, no sofisticado a atenção é direcionada para uma sucessão de teorias.
A capacidade de afirmar se uma teoria é científica ou pseudocientífica, agora se alterou no
sentido de que somente uma série de teorias são consideradas científicas ou pseudocientíficas.
Apesar de concordar com o falseacionismo em sua versão sofisticada, Lakatos (In LAKATOS;
MUSGRAVE, 1970, p. 161) afirma que é preciso ter precaução, para tanto ele indica a existência
daquilo que ele denominou paradoxo de rodeios (tacking paradox), compreendido por ele da
seguinte forma:
De acordo com nossas definições, acrescentar hipóteses de baixo nível completamente desconexas a uma teoria dada pode constituir uma “transferência progressiva”. É difícil eliminar tais transferências provisórias sem exigir que as asserções adicionais devam ser ligadas a asserção original mais intimamente do que por simples conjunção.
Essas alterações se configuram a partir da ligação existente entre as asserções adicionais e
as originais, que funcionam com o objetivo de dar continuidade, despertando desta forma o
interesse de Lakatos, concluindo que os principais problemas da lógica da descoberta só podem
ser satisfatoriamente discutidos na estrutura de uma metodologia dos programas de pesquisa.
Lakatos ressalta que a objetividade do progresso científico só pode ser entendida a partir da
transferência progressiva e degenerativa dos problemas, considerando nesta abordagem a
competição entre uma série de teorias. Nesta relação competitiva surge um elemento que permite
a interdependência entre as teorias em competição, caracterizando assim uma continuidade que
liga seus elementos. Para Lakatos, é esta continuidade que marca as características próprias de
um programa de pesquisa, evidenciando as regras metodológicas com distintas funções. Neste
ponto de vista, existiriam regras que indicariam quais atividades devem ser evitadas durante a
pesquisa e outras que indicariam os caminhos a serem trilhados pela atividade científica. As
62
primeiras são denominadas como componentes da heurística negativa, enquanto as segundas
compõem a heurística positiva. “O programa consiste em regras metodológicas; algumas nos
dizem quais são os caminhos de pesquisa que devem ser evitados (heurística negativa), outras
nos dizem quais são os caminhos que devem ser palmilhados (heurística positiva)” (LAKATOS
In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 162, grifo do autor).
Quando a análise científica é elaborada com base em programas particulares de pesquisa,
entendemos de forma mais clara os papéis da heurística negativa e positiva. Desta análise resulta
uma compreensão a respeito do progresso científico que aponta para a visão central do trabalho
de Lakatos sobre a racionalidade científica, ao afirmar: “o que tenho sobretudo em mente não é a
ciência como um todo, senão programas particulares de pesquisa” (LAKATOS In LAKATOS;
MUSGRAVE, 1970, p. 162, grifo do autor).
Na proposta lakatosiana, o programa de pesquisa é compreendido da seguinte forma: é
imprescindível a existência de um núcleo regulador, protegido de todos os ataques dirigidos a ele
durante uma prova, ou teste, “com um ‘centro firme’ convencionalmente aceito (e deste modo
mercê de uma decisão provisória ‘irrefutável’)” (LAKATOS, 1998, p. 31). A principal
característica desta proposta consiste na constatação de que a sucessão de teorias, T, T’, T’’, está
ligada por um elemento de continuidade, que é o núcleo do programa.
No entendimento sobre a predominância de um programa de pesquisa, observamos que a
série de teorias funciona como elemento protetor de determinados enunciados, prolongando o
tempo de duração destes, que vai além do limite normal de uma teoria isolada. Somente através
de uma série de teorias é que o núcleo pode se manter por decisão metodológica, infalseável. Este
fato possibilita o entendimento do valor de um programa de pesquisa, sua capacidade para
solucionar problemas e ainda seu perfil de progressividade em relação aos outros programas. O
que afirma Lakatos (1998, p. 32, grifo do autor): “A metodologia dos programas de investigação
pode explicar, desta maneira, o alto grau de autonomia da ciência teórica; as cadeias incoerentes
de conjecturas e refutações do falseacionismo ingênuo não o podem fazer.”
Em seu trabalho, Lakatos elabora um aperfeiçoamento do falseamento de Popper. Neste
sentido, a história da ciência é registrada sem retoques ou ajustamentos mutilantes. Na visão
popperiana, a história da ciência tem de se adaptar ao seu programa, levando em alguns casos, a
defesa de enganos lógicos, pois, “a mera ‘falsificação’ (no sentido de Popper) não deve implicar a
rejeição” (LAKATOS, 1998, p. 32). A teoria popperiana resume-se em um enfrentamento de uma
63
teoria e os fatos, enquanto na lakatosiana o enfrentamento se dá entre três pontos essenciais: duas
teorias em competição e os fatos.
Desta forma, as relações de transferência progressiva ou degenerativa de problemas são
alteradas. Neste sentido, é importante ressaltar os aspectos que compõem a heurística negativa, na
proteção do núcleo. “A heurística negativa de um programa nos proíbe dirigir o modus tollens
para esse ‘núcleo’. Ao invés disso, precisamos utilizar nosso engenho para articular ou mesmo
inventar ‘hipóteses auxiliares’ que formam um cinto de proteção em torno do núcleo, e
precisamos redirigir o modus tollens para elas” (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970,
p. 163, grifo do autor).
O cinto de proteção do núcleo é composto pelas hipóteses auxiliares, que servem como
pontos de resistência, tornando-o inviolável. Essas hipóteses servem como escudo protetor
durante os testes, fortalecendo e sofisticando o núcleo através do processo de ajustamento /
reajustamento ou mesmo a substituição constante do cinto de proteção. Desta forma, o programa
de pesquisa será bem sucedido se tudo isso conduzir a uma transferência progressiva de
problemas, porém mal sucedido se conduzir a uma transferência degenerativa de problemas.
Na transferência progressiva, uma teoria precisa ter um conteúdo empírico excedente em
relação às teorias anteriores, ou seja, a nova teoria precisa anteceder novos fatos, que a teoria
anterior não pode prever. Além disso, o excedente do conteúdo empírico deve ser corroborado,
trazendo à luz o estabelecimento de fatos novos. Caso essas exigências não sejam satisfeitas, a
transferência será degenerativa. Como afirma Lakatos (1998, p. 33, grifo do autor):
Diz-se que um programa de investigação está a progredir enquanto o seu desenvolvimento teórico antecipar o seu desenvolvimento empírico, ou seja, enquanto ele continuar a predizer fatos novos com algum sucesso (“alteração de problemas progressivo”); ele estagna se o seu desenvolvimento teórico ficar para trás do seu desenvolvimento empírico, ou seja, enquanto fornecer somente explicações post hoc tanto de descobertas ocasionais como de fatos antecipados e descobertas no seu seio por um programa rival ( “alterações de problemas degenerativos”).
Para evidenciar o que foi exposto, segundo o próprio Lakatos (1970), vamos ter como um
exemplo clássico de programa de pesquisa bem sucedido, a teoria gravitacional de Newton,
talvez seja até o mais bem-sucedido programa de pesquisa já levado a cabo.
64
A heurística positiva inicialmente fornece as regras que vão interferir nas variantes
refutáveis, e posteriormente modificar e sofisticar o cinto refutável de proteção do núcleo, como
estratégia não só para as predizer (produzir) mas também para as digerir. Pois embora o cientista
tenha decidido tornar irrefutável o núcleo de um programa de pesquisa, ele não pode renegar as
anomalias que surgem durante a atividade de investigação científica. Neste sentido, a heurística
positiva fornece estratégias para que o cientista não se confunda num oceano permanente de
anomalias, e também fornece modelos entendidos por Lakatos (In LAKATOS; MUSGRAVE,
1970, p. 167, grifo do autor) da seguinte forma: “um ‘modelo’ é um conjunto de condições
iniciais (possivelmente junto com algumas teorias observacionais) que se sabe condenado a ser
substituído durante o subsequente desenvolvimento do programa, e que até se sabe mais ou
menos como será.”
Lakatos (1970) chega a conclusão que a heurística positiva avança aos poucos, com
dificuldades, e com descaso quase completo das refutações fornece os pontos de contato com a
realidade, ou melhor, em geral, é mais flexível do que a negativa.
Diante do exposto, retomamos a questão inicial deste trabalho: a racionalidade científica.
Lakatos entende que o progresso científico se dá numa perspectiva de revoluções, na medida em
que, “se tivermos dois programas de investigação rivais, um deles progressivo e outro
degenerativo, os cientistas tendem a aderir ao programa progressivo. Esta é a base racional das
revoluções científicas” (LAKATOS, 1998, p. 19). Visão esta que se distancia do caráter refutador
de teorias isoladas popperiano e também discorda dos pressupostos utilizados por Kuhn (“sócio-
psicológicos / crítica anátema”)15 ao tentar dar uma identidade ao processo de desenvolvimento
científico. Afirma Lakatos (1998, p. 19):
A metodologia dos programas de investigação científica, em contraste com Popper, não oferece uma racionalidade imediata. [...] A crítica não é um golpe de misericórdia popperiano, por refutação. A crítica importante é sempre construtiva: não há refutação sem uma teoria melhor. Kuhn está errado ao pensar que as revoluções científicas são mudanças de visão súbitas e irracionais. A história da ciência refuta tanto Popper como Kuhn: uma análise mais aprofundada revela como mitos tanto as experiências cruciais popperianas como as revoluções kuhnianas: o que geralmente acontece é que os programas de investigação progressivos substituem os degenerativos.
15 A mudança de paradigma é uma espécie de conversão mística que não pode ser explicada por regras da razão, mas somente na esfera da psicologia (social) da descoberta, onde a crítica em tempos normais soa como uma maldição. (LAKATOS, 1999, p. 10-11).
65
Lakatos com a sua MPIC, procura fazer uma ampliação do falseacionismo popperiano, ao
mesmo tempo que procura mostrar que as ideias defendidas por Kuhn “justifica, sem dúvida, não
intencionalmente, o credo político básico dos maníacos religiosos contemporâneos (‘estudantes
revolucionários’)” (LAKATOS, 1999, p. 11), por não prescindirem de regras metodológicas no
que diz respeito a compreensão do desenvolvimento científico. Tal pensamento será melhor
evidenciado a seguir, ao mostramos a reconstrução racional lakatosiana da história da ciência.
3 Lakatos: a história da ciência e sua reconstrução racional.
Embora Lakatos defenda que as reconstruções históricas efetuadas, levando-se em conta
sua metodologia dos programas de investigação, sejam as que possibilitam uma abrangência
histórica maior – ou seja, conseguem explicar, racionalmente, uma maior quantidade de fatos
históricos – que outras metodologias, ele também esclarece a distância que necessariamente há
entre a história reconstruída e a história real.
A história e a filosofia da ciência possuem, para Lakatos, uma forte relação de
interdependência: a filosofia da ciência por meio de suas metodologias de investigação científica
permite a história da ciência da reconstrução racional de seu objeto de estudo; em contrapartida,
Lakatos propõe que a história da ciência (normativamente interpretada) possa avaliar as
reconstruções racionais obtidas por meio das metodologias rivais, propostas pela filosofia da
ciência.
A demarcação essencial entre o normativo-interno e o empírico-externo é diferente para cada metodologia. Em conjunto, as teorias historiográficas internas e externas determinam, em larga medida, para o historiador, a escolha dos problemas. Mas alguns dos problemas mais cruciais da história externa só podem formular-se em termos da metodologia aceite; por conseguinte, a história interna, assim definida, é primária, sendo a história externa unicamente secundária (LAKATOS, 1998, p. 22).
Para Lakatos, o historiador da ciência não pode prescindir de estabelecer critérios para
distinguir claramente o que seja ciência. Ao buscar uma reconstrução racional de seu objeto de
66
estudo, que é a ciência, o historiador faz a distinção entre os dados e os fatos históricos que
podem ser reconstruídos racionalmente. A distinção entre história interna e história externa, além
de bastante peculiar, é decisiva para o entendimento da relação que Lakatos pretende estabelecer
entre história e filosofia da ciência. Trata-se de uma distinção que depende do posicionamento
epistemológico do historiador que, por sua vez, está diretamente relacionado com a MPIC,
produzida pela filosofia da ciência, à qual o historiador se filia.
A MPIC – como lógica da descoberta – possui uma dupla função: a de servir como um
código de honestidade científica que não deve ser violado e como núcleo de programas de
investigação historiográfica. Assim, a MPIC dá suporte para a reconstrução da história da ciência.
Nessa medida, pode-se dizer, segundo Lakatos, que a MPIC acaba por gerar programas de
investigação historiográfica. Cada programa de investigação historiográfica, por sua vez,
constitui um marco teórico diferenciado para o historiador. Essa diferenciação acaba por
produzir, entre um programa e outro, de um lado, diferenças de demarcação entre história interna
e história externa, e de outro, diferentes modelos de desenvolvimento racional. Assim, a título de
exemplificação, Lakatos descreve como enquadra, dentro desse esquema de interpretação da
ligação entre a filosofia e a história da ciência, o que ele próprio considera como as quatro
principais lógicas da descoberta: o indutivismo, o convencionalismo, o falseacionismo
metodológico de Popper, e por fim, a sua própria metodologia (MPIC). As reconstruções
históricas com base na metodologia indutivista, demarcam como história interna os
descobrimentos de fatos puros e suas generalizações indutivas. Já a história interna
convencionalista é composta por descoberta de fatos, da construção de sistemas e sua
substituição por outros cada vez mais simples. Os falseacionistas procuram construir sua história
interna enfatizando as conjecturas ousadas e as mudanças que trazem aumento de conteúdo.
Também enfatizam os experimentos cruciais que dizem ver na história. Já a MPIC do próprio
Lakatos (1998, p. 31) se caracteriza por ser “programas de investigação que podem avaliar-se em
termos de alterações progressivas e degenerativas de problemas; e as revoluções científicas
consistem na substituição (ultrapassagem no progresso) de um programa de investigação por
outro.”
Cabe reforçar que, para Lakatos, qualquer reconstrução racional da ciência (história
interna) é feita a partir de um programa de investigação historiográfico e sempre requer a
complementação de uma história externa. Isso ocorre por dois motivos: porque há,
67
necessariamente, uma discrepância entre história reconstruída e a história real; porque os critérios
de racionalidade presentes nas metodologias que dão origem aos programas de investigação
historiográficas não correspondem, necessariamente, aos critérios de racionalidade utilizados
pelos programas de investigação científica que são objetos de reconstrução historiográfica.
O que nos leva a uma reconstrução histórica sempre conjectural e inconclusa, não havendo
como eliminar a discrepância entre a reconstrução e os fatos históricos. Para Lakatos, o acesso do
historiador a uma pretensa história real está negado pela impossibilidade de constituição de uma
metodologia historiográfica indutiva. Não há como falar na História ou em história real; o que
seria para um historiador indutivista um fato histórico puro é, para Lakatos, um fato impregnado
de teoria. Sob esse aspecto, ao argumentar contra a possibilidade do fato histórico puro, Lakatos
transporta para o método da história da ciência as críticas que Popper lançou ao indutivismo
enquanto método da ciência.
Lakatos utiliza-se da argumentação popperiana contra a lógica indutiva, retirando-se do
campo do ataque original – que em Popper era a possibilidade da existência de enunciados
básicos indutivos na ciência – e levando-a para o campo da historiografia, utilizando-a para atacar
a possibilidade de constituição de enunciados historiográficos indutivos. Por indução entenda-se,
para Lakatos, uma argumentação tal que, dadas algumas premissas empíricas (singulares ou
particulares), estas levem a uma conclusão universal ou a uma teoria universal, seja com certeza
lógica, seja probabilisticamente (no âmbito em que o termo é usado no cálculo de
probabilidades). Tais argumentos são popperianos, os quais apresentamos em capítulos
anteriores.
Assim, ao avaliar os programas de investigação historiográfico, Lakatos os constitui com
base na MPIC, por extensão os critérios de demarcação do que é história interna e do que é
história externa também são, no limite, convenções. Posto que os programas de investigação
historiográfica da ciência constituem-se em tais bases, nenhum programa pode, em princípio,
solicitar precedência sobre os demais. Dito isto, para evitar um relativismo metodológico ou uma
atitude cética quanto à possibilidade objetiva16 de reconstrução racional da história da ciência, é
16O termo “objetivo” é aqui transportado do universo popperiano,no qual diz respeito ao conhecimento científico, para o universo conceitual de Lakatos no qual diz respeito ao conhecimento historiográfico, para indicar que esse conhecimento (a reconstrução histórica) deve ser justificável, independente de capricho pessoal. Assim como sucede com o conhecimento científico em Popper, um conhecimento será justificável se puder ser submetido à avaliação e compreendido por todos. Como a reconstrução histórica é conjectural, ela nunca será definitivamente justificável. A extrapolação de Lakatos remete a Popper (1972, p. 46 / Capítulo I, Seção 8).
68
de fundamental importância que o historiador possa avaliar as múltiplas metodologias que a
filosofia da ciência lhe oferece como parâmetros para a reconstrução historiográfica e que possa
escolher entre elas.
Além disso, há outro motivo para Lakatos não prescindir da tentativa de estabelecimento de
uma escolha das metodologias de investigação, que se dá pela avaliação das reconstruções
históricas: é da avaliação da reconstrução historiográfica que é gerado o estreito vínculo entre
filosofia e história da ciência. Contudo, Lakatos enfrenta uma séria objeção aos resultados de sua
concepção de avaliação dos programas de investigação historiográfica. Nesse sentido, Kuhn (In
LAKATOS; MUSGRAVE, 1970, p. 234) aponta a existência de uma divisão entre história
interna e história externa em Lakatos, da qual o historiador lança mão para a reconstrução da
ciência, diferindo do uso que comumente o historiador faz desses termos.
Em virtude de um sistema de valores que difere do sistema comum em sua aplicabilidade, alguns cientistas precisam escolhê-la logo para que ela possa desenvolver-se até chegar ao ponto de lograr a capacidade geral de persuasão. Entretanto, as escolhas ditadas por esses sistemas atípicos de valores geralmente são erradas. Se todos os membros da comunidade aplicassem valores da mesma maneira arriscada, a atividade do grupo cessaria. Creio que Lakatos passa por alto este último ponto e, com ele, o papel essencial da variabilidade individual no que só mais tarde é a unânime decisão do grupo. [...] A comunidade científica não pode esperar pela história, embora alguns membros individuais o façam. Os resultados necessários são logrados, em lugar disso, distribuindo-se pelos membros do grupo o risco que deve ser aceito.
Para Kuhn, no uso habitual entre os historiadores, a história interna inclui considerações
idiossincráticas de ordem pessoal que possuem influência na escolha de teorias ou no ato de
produzi-las. No entanto, Lakatos procura igualar história interna à história racional e com isso,
inclui no termo interno uma característica própria do termo racional ou critérios de
racionalidade. Esses critérios, entretanto, são utilizados por Lakatos para delimitar o que é interno
e o que é externo e são, como vimos, dados de antemão ao historiador17 , parecem ser
independentes da história reconstruída. Se de fato Lakatos agisse como aponta Kuhn, a relação
entre filosofia e história da ciência pareceria distanciar-se da interdependência almejada, pois o
17
“O historiador que aceita a orientação desta metodologia procurará na história programas de investigação rivais” (LAKATOS, 1998, p. 35).
69
filósofo não encontraria, na história interna, nada além de uma reconstrução histórica que fosse
como uma imagem de sua própria metodologia refletida no espelho.
Entretanto, se assentada nas bases pretendidas por Lakatos, a relação entre filosofia e
história da ciência deve permitir que o filósofo, por meio da reconstrução histórica, avalie se sua
metodologia supera uma outra rival. Ou seja, que avalie se sua metodologia de investigação
consegue fornecer um programa de investigação historiográfico que possibilite uma reconstrução
histórica que, por sua vez, represente um aumento de poder explicativo por parte da história
interna em relação a programas de investigação historiográfica fornecidos por metodologias
rivais. E, principalmente, se pode permitir um aumento progressivo desse poder explicativo da
história interna a partir da possibilidade de abandono de um programa de investigação
historiográfico por outro, no qual a linha divisória entre o que é interno e o que é externo
signifique incremento da história interna. Se isso for possível, ao contrário do que diz Kuhn, a
filosofia da ciência dependeria da história da ciência, e o filósofo da ciência teria bons motivos
para orientar seu trabalho sem perder de vista a historiografia de seu objeto de estudo. Cabe,
agora, explicar os critérios pelos quais Lakatos pretende que a avaliação dos programas de
investigação aconteça.
Com o intuito de vencer as dificuldades apresentadas, Lakatos arquiteta uma teoria de
avaliação dos programas de investigação historiográfica fornecidos pelo MPIC que, segundo ele,
permite uma crítica histórica a essas metodologias, independentemente de haver ou não uma
crítica epistemológica ou lógica a elas. A ideia básica dessa crítica é que “todas as metodologias
funcionam como teorias (ou programas de investigação) historiográficas (ou meta-históricas) e
podem ser criticadas criticando as reconstruções históricas racionais a que conduzem”
(LAKATOS, 1998, p. 44-45, grifo do autor).
Essa teoria de avaliação dos programas de investigação historiográfica busca definir: se um
programa de investigação historiográfica provê juízos básicos de valor adicionais à luz dos
programas preexistentes; se esses novos juízos de valor conduzem a uma revisão dos juízos de
valor previamente tidos como básicos.
Esses critérios são definidos por Lakatos, partindo do pressuposto de que ao mudar, na base
convencionalista, os critérios de cientificidade adotados pelos programas de investigação
historiográfica, também mudam os critérios de demarcação entre história interna e história
externa desses programas. Tal crítica, ou avaliação, não busca eliminar ou falsear definitivamente
70
um programa de investigação historiográfica. Além disso, sugere que um programa de
investigação historiográfica só será abandonado por outro que represente uma mudança
progressiva da série de programas que servem de base para reconstruções históricas racionais.
Assim é possível, segundo Lakatos, por meio da comparação dos programas de investigação
historiográfica, perceber como é o desenvolvimento do conhecimento metodológico sobre a
ciência. Lakatos (1998, p. 44-45, grifo do autor) diz:
Imaginemos, por exemplo, que apesar do progresso objetivo dos programas de investigação astronômica, todos os astrônomos são subitamente assaltados por um sentimento de “crise” kuhniana e se convertem, em seguida, por uma alteração irresistível dos seus padrões cognitivos (Gestalt-swith), à astrologia. Eu consideraria esta catástrofe como um problema horroroso, a ser descrito por uma explicação externalista empírica. Mas esse não seria o ponto de vista de um kuhniano. Tudo o que ele vê é uma “crise”, seguida de um efeito de conversão em massa na comunidade científica: uma revolução normal. Nada é problemático ou inexplicável.
Enveredar pela perspectiva kuhniana de ciência seria colocar todo o programa de pesquisa
historiográfico a perder. Ora, ao invés de propor a eliminação de um programa de investigação
historiográfico e da metodologia que o gerou, Lakatos propõe classificá-lo. Se a alteração de
demarcação entre história interna e externa trazida pelo programa de investigação historiográfica
representar um aumento do que pode ser explicado pela história interna em detrimento da história
externa – tendo como referência um programa de investigação historiográfica anterior ou rival –
então o programa de investigação historiográfica que trouxer esse incremento será considerado
progressivo.
Trata-se, evidentemente, de uma transposição da classificação da MPIC, elaborada no
interior da metodologia dos programas, e que tem por objetivo servir de critério para a avaliação
de programas de pesquisa rivais. Uma vez que transporta para o interior da metodologia da
história da ciência, a tipologia da classificação (progressivo, estagnado e degenerativo), que tem
por objetivo servir de critério de avaliação, não propriamente do trabalho do historiador, mas das
regras que compõem o programa de investigação historiográfica, regras que, em última instância,
são dadas pela MPIC à qual o programa (historiográfico) encontra-se vinculado. Notamos então
que, com essa transposição, Lakatos pretende estabelecer um método de avaliação que, por meio
71
da reconstrução histórica, permite a escolha entre as metodologias de investigação da filosofia da
ciência que formam um campo de estudos da filosofia sobre a ciência.
A avaliação, contudo, dá-se na reconstrução histórica: se um programa de investigação
historiográfica não mais promover o incremento da história interna em detrimento da história
externa, mas ao contrário, o acúmulo de “anomalias” – fatos históricos de relevância para a
comunidade de pessoas que se dedicam a pensar sobre a ciência – provocar um incremento da
história externa, esse programa de investigação historiográfica será considerado degenerativo.
A partir dessa classificação dos programas de investigação historiográfica, Lakatos procura
constituir uma ordem progressiva das metodologias que tais programas geraram e que perfazem o
conjunto da filosofia da ciência. Essa ordem leva em consideração o princípio de que o abandono
de um programa de investigação historiográfica, por parte do historiador, acontece se representar
uma mudança progressiva na reconstrução histórica, ressalvando que, embora haja mudança
progressiva na série de programas de investigação historiográfica, eles sempre vão conter
anomalias. Essas anomalias, por sua vez, deverão ser explicadas pelo historiador por meio da
história externa, enquanto o programa de investigação historiográfica for progressivo, ou por um
novo programa de investigação historiográfica, quando o acúmulo de anomalias tornar o
programa degenerativo.
72
CAPÍTULO IV - O CONFRONTO ENTRE O RACIONALISMO LAKA TOSIANO
VERSUS O RELATIVISMO KUHNIANO.
Nos estudos feitos até agora da produção teórica elaborada por Thomas Kuhn e Imre
Lakatos é que procuramos formular as razões de nosso empreendimento que se situa no confronto
das suas posições. Os diferentes direcionamentos assumidos pela crítica não deixam de indicar a
novidade dos estudos elaborados por estes dois autores no que diz respeito a uma nova visão do
progresso científico.
Ao analisarmos os pontos a favor de Thomas Kuhn, podemos observar o empenho do
mesmo centrado no desenvolvimento próprio da ciência, buscando renovar a sua prática. Ao
percorremos sua concepção, deparamo-nos com a ciência viva. Seus praticantes estão
condicionados pelas ferramentas proporcionadas pelo paradigma vigente que fornece esperança
para soluções futuras aos quebra-cabeças até então não resolvidos. O que exigirá dos membros da
comunidade científica uma desenvoltura criativa, ou seja, competência em suas ações. Na opinião
de Stegmuller (1977, p. 355), Kuhn examinou “os fenômenos da ciência natural com olhos quase
extraterrenos, para ver o processo científico em termos de ação tipicamente humana, que se
manifesta na história do nosso planeta.”
A maneira de descrever esse relacionamento recíproco, essencial, entre a ciência como
produto e o homem como produtor, torna as revoluções científicas kuhnianas um acontecimento
até certo ponto fundamental, uma vez que os materiais históricos daí derivados nos auxiliam na
difícil tarefa de superar aquele, conforme aponta Lakatos ( In LAKATOS; MUSGRAVE,1970, p.
110), “o hiato existente entre a especulação e o conhecimento estabelecido.”
Já o constructo lakatosiano surge da necessidade de compreender a ciência como um
programa de pesquisa que não invalida o arcabouço de conquistas já visualizadas em Kuhn. O
avanço significativo protagonizado pela MPIC resgata algo que parece ter passado despercebido
ao autor da ERC. Esse avanço é compreendido pelo caráter programático adquirido pela prática
científica. “Um programa de pesquisa lakatosiano é uma estrutura que fornece orientação para a
pesquisa futura de uma forma tanto negativa quanto positiva” (CHALMERS, 1993, p. 113). Ou,
ainda, como o próprio Lakatos (In LAKATOS; MUSGRAVE,1970, p. 217, grifo do autor) faz
perceber: “A ciência madura consiste em programas de pesquisa em que se antecipam não só
73
fatos novos mas também, num sentido importante, novas teorias auxiliares; a ciência madura – à
diferença do ensaio-e-erro corriqueiro – tem força heurística”.
A revolução científica, segundo o empreendimento de Lakatos, ultrapassa a simples crise
apontada por Kuhn ou muito menos o que foi proposto pela tese popperiana, assumindo um papel
de ir mais adiante uma vez que (LAKATOS, 1987, p. 289):
O característico da ciência não é um conjunto especial de proposições – já sendo estas verdadeiras por prova, altamente prováveis, simples, falseáveis, dignas de crença racional senão uma forma especial segundo a qual um conjunto de proposições – ou um programa de investigação – é substituído por outro.
O que, de certa forma, acaba por nos mostrar que tanto os pensamentos de Kuhn quanto
os de Lakatos procuraram enfatizar o caráter histórico da pesquisa científica, afirmando que não
se pode examinar a verdade de uma teoria científica sem situá-la no seu contexto e relacioná-la
com os pesquisadores envolvidos. Contudo, esta valorização dos aspectos sociológicos se choca
com a própria necessidade de sobrevivência das teorias científicas dentro do seu caráter lógico-
normativo, ou seja, a capacidade de explicar os fenômenos empíricos de maneira objetiva como
propõe a ciência. E é justamente nesse aspecto que os dois teóricos entram em confronto.
De acordo com o que foi exposto sobre o pensamento de Imre Lakatos, fica claro que ele
desejava defender uma posição normativa ou racionalista sobre o desenvolvimento da ciência, e
que ele via com aversão a proposta relativista de Thomas Kuhn. Segundo Lakatos, o debate tem
haver com nossos valores intelectuais centrais (LAKATOS In LAKATOS; MUSGRAVE, 1970).
Lakatos declarou explicitamente que o problema central da filosofia da ciência é o problema de
explicar condições universais sob as quais uma teoria seja científica; um problema que é ligado
intimamente ao problema da racionalidade da ciência e cuja solução deveria nos oferecer
orientação quanto a quando é ou não racional a aceitação de uma teoria científica. Do ponto de
vista de Lakatos, uma posição relativista como a de Kuhn, segundo a qual não há padrão mais
alto que o da comunidade relevante, não nos permite criticar aquele padrão. Se não há maneira
alguma de julgar uma teoria a não ser avaliando o número, a fé e energia vocal de seus
partidários, então a verdade se encontra no poder exercido por essa comunidade; desta forma a
mudança científica se transforma em uma questão de psicologia das multidões e o progresso
74
científico é, em sua essência, um efeito de adesão aos vitoriosos. Na ausência de critérios
racionais kuhnianos que guiem a escolha de teorias, sua mudança aproxima-se da conversão
religiosa.
A retórica de Lakatos não deixa, portanto, muito espaço para a dúvida quanto ao fato de
que ele desejava defender uma posição racionalista e deplorava a posição relativista proposta por
Kuhn. O critério universal de Lakatos para a avaliação de teorias segue-se de seu princípio de que
a metodologia dos programas de pesquisa científica é mais adequada para a aproximação da
verdade em nosso universo real que qualquer outra metodologia. A ciência progride por meio da
competição entre os programas de pesquisa. Um programa de pesquisa é melhor que um rival se
for mais progressivo; a natureza progressiva de um programa depende de seu grau de coerência e
a extensão em que ele tenha levado ao sucesso novas predições, como foi discutido no Capítulo
III. O objetivo da ciência é a verdade, e segundo Lakatos, a metodologia dos programas de
pesquisa fornece a melhor maneira de avaliar em que extensão tivemos sucesso em nos
aproximarmos dela.
Kuhn, divergindo da proposta lakatosiana, menciona um certo número de critérios que
podem ser usados para avaliar se uma teoria é melhor que uma teoria rival. O que podemos logo
notar é que Kuhn está preso a análise de teorias isoladas, enquanto Lakatos se propõe a analisar
séries de teorias em competição através da MPIC. As análise das teorias kuhnianas incluem:
precisão de previsão, especialmente da previsão quantitativa; o equilíbrio entre os assuntos
esotéricos e os cotidianos; o número de problemas diferentes resolvidos e também, embora não
tão importantes para Kuhn, simplicidade, escopo e compatibilidade com outras especialidades
(ERC, 1962). Critérios como este constituem os valores da comunidade científica. Os meios
pelos quais são especificados estes valores devem, em última análise, ser psicológicos ou
sociológicos, isto é, devem constituir uma descrição de um sistema de valores, de uma ideologia,
juntamente com uma análise das instituições através das quais o sistema é transmitido e
executado. Não há padrão mais alto que o assentimento da comunidade relevante. Estes aspectos
da posição de Kuhn o caracterizam de forma bem clara como sendo um defensor de um
relativismo científico. Se uma teoria é ou não melhor que outra é um assunto a ser julgado em
relação aos padrões da comunidade apropriada, e os padrões variarão, tipicamente, com o cenário
histórico e cultural da comunidade. Em Kuhn não existe uma lógica normativa como propunha
Lakatos para se compreender o desenvolvimento científico.
75
Entretanto, Kuhn nega a alcunha de relativista dada por seus críticos. Em respostas as
acusações feitas, afirma que defende que as teorias científicas mais recentes são melhores que as
antigas para se resolver enigmas dentro dos diferentes ambientes nos quais possam ser aplicadas.
Tal posicionamento para ele não caracterizaria a posição de um relativista e sim demonstraria a
sua crença em um progresso científico. Porém, dentro da mesma obra (KUHN, 2006a), Kuhn
entra em contradição, ao defender que paradigmas em competição devem levar em consideração
questões do tipo estéticas (segundo as quais se pode dizer que a nova teoria é a mais elegante,
mais adequada ou mais simples que a antiga) e que podem ser decisivas na escolha do mesmo, o
que o traria de volta a posição relativista. O relato da ciência do próprio Kuhn implica que o que
deve ser considerado como um problema científico vai depender do paradigma ou da comunidade
científica.
A respeito da questão da escolha de teorias, Kuhn insiste que não existem critérios de
escolha que sejam logicamente convincentes. Não existe nenhum algoritmo neutro que sirva de
escolha para estabelecer teorias, nenhum procedimento sistemático de decisões que, corretamente
aplicado, deva levar cada indivíduo num grupo à mesma decisão sobre o paradigma vigente ou
muito menos a garantia que o paradigma resolverá todos os problemas, “e nessas circunstâncias a
decisão deve basear-se mais nas promessas futuras do que nas realizações passadas, [...] uma
decisão desse tipo só pode ser feita com base na fé” (KUHN, 2006a, p. 201) no sentido em que se
aproxima do caráter religioso.
Assim, podemos elencar alguns aspectos em que a proposta de Kuhn se apresenta como
relativista, em detrimento do racionalismo lakatosiano. Por não dar uma ênfase ao papel da crítica
no período em que vigora o paradigma. Ao fato dele não dar importância a competição entre
programas de pesquisa ou paradigmas uma vez que defende a incomensurabilidade entre os
mesmos. No relato da ciência de Kuhn, os valores operativos no processo da ciência e que
determinam a aceitação ou rejeição de teorias devem ser discernidos pela análise psicológica e
sociológica da comunidade científica, sustentando que os cientistas escolhem suas teorias à luz de
certos padrões ou critérios compartilhados. Entretanto, nenhum dos critérios para escolher entre
teorias rivais obriga um cientista a aceitar uma nova posição sob pena de irracionalidade. Nem
todos os critérios têm que ser operativos em todos os casos. Em muitos casos, eles conflitam
entre si. Os cientistas podem discordar entre si a respeito de sua aplicabilidade ou de seus pesos
relativos. Mas as discordâncias individuais ou de grupo combinam-se - geralmente utilizando-se
76
do critério persuasivo de um membro mais velho e experiente dentro da comunidade científica,
para definir uma média estável, que representa um consenso (KUHN, 2006a). Contudo,
permanece sem explicação a emergência e estabilidade do consenso.
Um outro ponto marcante da teoria de Kuhn bastante criticado por Lakatos, é o debate
acerca dos fundamentos conceituais de qualquer paradigma ou programa de pesquisa, defendidos
por Lakatos como historicamente contínuos - fenômeno relegado por Kuhn a breves períodos de
crise – o que em Lakatos vai permanecer constante ao longo de toda tradição de pesquisa ativa.
Kuhn não foi capaz de apontar nenhum longo período da História de algum paradigma
importante em que seus partidários ignoraram os problemas conceituais gerados pela ciência
normal. Uma importante razão pela qual essas questões fundamentais raramente desaparecem
vem de outra característica da ciência que Kuhn ignorou; a saber, a raridade com que qualquer
paradigma consegue essa hegemonia em seu campo, exigido por Kuhn para a ciência normal.
Quer consideremos a química do século XIX, a mecânica do século XVIII ou a mecânica do
século XX. Quando examinamos a teoria da evolução da biologia, a mineralogia da geologia, a
teoria da ressonância da química ou a teoria das provas na matemática, vemos uma situação bem
diferente segundo Lakatos (1970; 1998), do que a análise de Kuhn permite. Tem sido regra haver
dois (ou mais) programas de pesquisa em cada uma dessas áreas. É difícil encontrar um longo
período de tempo em que só um paradigma ou programa de pesquisas se mantenha solitário em
algum setor da ciência.
Portanto, entendemos que a posição de Kuhn sobre o desenvolvimento científico, não deixa
margem para se criticar as decisões e o modo de operação de comunidade científica,
impossibilitando ferramentas científicas para melhor distinguir as formas aceitáveis e as
inaceitáveis para se alcançar um consenso sobre o que é uma teoria científica. Quanto a isso, a
concepção de Lakatos é muito clara na medida em que oferece regras lógicas-metodológicas para
que se possa avançar através da MPIC, do contrário, “os epifenómenos psicológicos kuhnianos de
‘crise’ e ‘conversão’ podem acompanhar, quer mudanças objetivamente progressiva ou
objetivamente degenerativas quer revoluções ou contra-revoluções” (LAKATOS, 1998, p. 59).
As colocações de Lakatos sugerem que pode muito bem haver uma maneira de analisar a ciência,
seus objetivos e seu modo de progresso que se concentre nas características da própria ciência,
sem levar em conta aquilo que possam pensar indivíduos ou grupos.
77
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
O desenvolvimento deste trabalho buscou resgatar e acompanhar o caminho percorrido de
algumas concepções filosóficas sobre a racionalidade científica, ressaltando os trabalhos de
Thomas Kuhn e Imre Lakatos. Observamos que embora estes autores se aproximem no sentido
de salientar a importância da história das ciências para o fazer científico, eles se confrontam ao
apresentarem um esquema de desenvolvimento da forma como cada um entende o exercício da
ciência.
Inicialmente foi feito um resgate dos fundamentos científicos no sentido de apoiar as nossas
reflexões e posicionamentos a respeito de como a teoria lakatosiana em detrimento da teoria
kuhniana acaba por ter um grau maior de racionalidade no que diz respeito ao avanço científico.
Neste último capítulo enfatizamos o nosso principal objetivo: confrontar os aspectos da teoria
kuhniana e lakatosiana sobre a ciência e seu desenvolvimento, não tendo com isso a ousadia de
esgotar as questões acerca de uma racionalidade científica e suas implicações naquilo que os
autores estudados se propuseram, posto que, as questões levantadas sempre vão realimentar mais
questionamentos tanto a respeito do discurso científico quanto da filosofia.
O espaço de enfrentamento das concepções de ciência, como vigência de Paradigmas e
como Programas de Investigação Científica, se esboça como uma crítica. Embora Lakatos
conclua que criticar uma teoria da crítica é quase sempre muito difícil, mas este é o caminho
adequado para a sistematização dos conhecimentos científicos e seu desenvolvimento.
Os estudos direcionados à atividade científica e suas particularidades apresentam uma
espécie de consenso no que se refere à adoção de uma concepção científica produzida a partir do
enfoque indutivista, o que pode ser observado nos capítulos iniciais deste trabalho. É importante
ressaltar que a metodologia indutivista ainda executa um papel no processo de compreensão da
ciência e na busca de expandir os conhecimentos sobre o real e seu comportamento. Neste
sentido, a caracterização empírico-indutiva da atividade científica ainda é apropriada e produz
versões interpretativas, as mais amplas e abrangentes – o positivismo lógico associa a tradição
empirista com a teórica de matriz lógica, onde se destacam pensadores como Frege, Russell e,
também, o Wittgenstein do Tractatus Lógico - Philosophicus – cuja contribuição mantém-se fiel
aos procedimentos dos positivistas lógicos.
Nas observações de Popper sobre a demarcação dos conteúdos científicos e não científicos,
78
houve uma quebra e um distanciamento daquelas análises de base empírico-indutiva. À medida
que se evidenciaram os limites da ciência indutiva, outros elementos foram utilizados na busca de
um novo enfoque explicativo. Sobre as contribuições popperianas, destacamos a sua importância
como figura mediadora para o surgimento das concepções de Kuhn e Lakatos. Isto pode ser
observado na proporção em que conhecemos o empreendimento científico destes autores e
constatamos a presença de alguns traços característicos da concepção popperiana nos mesmos.
Ao propor sua MPIC, Lakatos procurou trabalhar a teoria falseacionista desenvolvida por
Karl Popper. Contudo, o distanciamento entre estes dois autores evidenciou-se à medida que
Lakatos adquire uma autonomia de pensamento e passa a criticar explicitamente a teoria
popperiana, sem o comprometimento de sua originalidade, uma vez que ele usa esta teoria como
ponto de referência. Ao se distanciar, Lakatos parece indicar uma espécie de salvação do
princípio popperiano, onde a MPIC, por conta de sua autonomia como ciência, trabalha no
sentido de ampliá-la, completando aquilo que as concepções popperianas não conseguiram
garantir.
As críticas kuhnianas em relação a obra de Popper, possuem um outro direcionamento, isto
porque o pensamento de Kuhn aproxima-se da sociologia da ciência e do enfoque histórico
atribuído à filosofia da ciência por autores como Whewell e Duhem, distanciando-se das
preocupações racionalistas críticas de Karl Popper. Mesmo quando Kuhn admite que entre ele e
Popper existem mais semelhanças do que diferenças, ainda assim observamos que os trabalhos
destes autores geram diferentes linhas de pensamento para a filosofia da ciência, o que vai
possibilitar justamente o empreendimento lakatosiano sobre uma nova perspectiva de
compreensão da científica.
As afirmações kuhnianas a respeito da presença dinâmica da comunidade científica, como
critério de validação das teorias, causaram inquietação a Popper e também a Lakatos, uma vez
que este se propôs melhorar as contribuições do mestre. Pois enquanto Lakatos depende
diretamente de Popper para ultrapassá-lo, Kuhn obtém sua autonomia no enfrentamento e na
divergência de suas convicções com aquelas defendidas por Popper.
Então, o que podemos reter do pensamento de Popper no que diz respeito ao confronto
entre Kuhn e Lakatos? Sinteticamente, a força da crítica científica vai ser o legado popperiano
para Lakatos, pois de acordo com a concepção popperiana nos estudos sobre o desenvolvimento
científico, o indivíduo deve ser definido como um ser que se posiciona criticamente, o que
79
Popper denominou de racionalismo crítico, e não tomado sua formação ética ou psicológica
como propôs Kuhn.
Nessa perspectiva, a concepção dos três mundos desenvolvida por Popper, nos escritos de
1968, distingue-se pela manifestação preponderante da história e também pela tentativa de
solucionar o problema da legitimação das teorias. Entendemos que é neste ponto que se
encontram as principais divergências entre Kuhn e Lakatos. Uma teoria é válida à medida que
relaciona o seu empreendimento com o mundo real, compreendido aqui como o primeiro mundo,
constituído pelos processos materiais, geológicos, físico-químicos, etc. É o mundo real que existe
independentemente das interpretações subjetivas do homem. O segundo mundo é constituído pelo
mundo dos homens, ou seja, pelos estados mentais subjetivos, desejos, convicções, crenças, etc.
Já o terceiro mundo é formado pelo conhecimento objetivo, onde situamos toda a cultura
humana: as histórias, os mitos, as teorias científicas ou não, os argumentos críticos e
principalmente o conhecimento desenvolvido nas ciências matemáticas e lógicas, etc.
Nesse sentido, com o objetivo de resguardar a racionalidade científica, Popper inseriu o seu
critério de demarcação científica no terceiro mundo, proporcionando desta forma uma
reconstrução racional da ciência feita por Lakatos e mostrada em capítulos anteriores, o que se
distancia completamente do mundo das crenças tão reverenciado por Kuhn. O confronto entre
Kuhn e Lakatos se evidencia à medida em que se privilegia o papel da história no
desenvolvimento da ciência. Em Lakatos, o conhecimento é distanciado da história circunstancial
e o critério de cientificidade encontra-se inserido no terceiro mundo de Popper. Já em Kuhn, a
história da ciência é descrita como um conhecimento que surge a partir do poder de persuasão e o
empreendimento científico se desenvolvem no contexto do segundo mundo, o das crenças.
Kuhn e Popper concordam quanto à insuficiência do método indutivo, optando desta forma
pelos aspectos históricos da ciência, mesmo que para Kuhn os aspectos privilegiados dessa
história sejam os subjetivos. Entretanto, Kuhn afirma existir uma falha básica na teoria
popperiana, pois em nenhum dos processos, dentre os que até hoje foram revelados pelos estudos
históricos, guarda a menor semelhança com os padrões de falseamento proposto por Popper. De
acordo com Kuhn, a rejeição de uma teoria só pode ter lugar com base em dados conflitantes. O
que levantaria a seguinte questão: se no terceiro mundo o real é encontrado de forma clara, como
conceber que em um determinado momento possamos simplesmente nos deslocar do segundo
mundo conflitante para as convicções do terceiro mundo?
80
A solução de Lakatos para as críticas feitas por Kuhn a um processo de racionalidade na
ciência, é a criação de uma nova metodologia desenvolvida a partir de uma história reconstruída
racionalmente, onde é necessário substituir a história circunstancial – como é proposta por Kuhn,
por uma história racional. O objetivo de Lakatos é uma história ideal, cujo desenvolvimento leva
a uma compreensão racional do seu desenvolvimento, onde se estabelece uma demarcação entre
história interna e externa, que é nitidamente diferente da estabelecida por Kuhn. Contudo, esta
compreensão só é possível se os erros e desvios ocorridos na reformulação dos enunciados forem
extintos.
O conhecimento científico para Lakatos é o único capaz de promover o progresso racional
no mundo, para tanto deve satisfazer os critérios racionais que lhes são característicos,
impossibilitando assim alterações ou ajustes (ad hoc)18, pois segundo Lakatos, as normas de
racionalidade são intocáveis, sendo melhor desqualificar um trabalho científico como pseudo-
científico do que aceitar uma só mudança nas regras de especificação racional. O cumprimento
destas regras garante o progresso do conhecimento científico.
Lakatos afirma que Kuhn privilegia a história externa (descritivo-empírica) e subestima a
história interna (normativa), cometendo desta forma vários erros ao defender o psicologismo, o
sociologismo, o autoritarismo, o historicismo e o pragmatismo. O que só vem evidenciar mais um
dos erros cometidos por Kuhn, pois de acordo com Lakatos o principal deles é o fato de
apresentar a ciência como o resultado de um acordo entre os cientistas de uma determinada
comunidade.
Lakatos sintetiza assim, um traço da pesquisa kuhniana que diz não devemos estudar a
mente do cientista individual, mas a mente da comunidade científica. A psicologia individual é
substituída pela psicologia social, a imitação dos grandes cientistas, pela submissão à sabedoria
coletiva da comunidade. Ele concorda em parte com Kuhn ao dizer que é certo as objeções feitas
ao falseacionismo ingênuo, acentuando desta forma a continuidade de uma racionalidade
científica, o que destacaria a tenacidade que algumas teorias científicas possam vir a ter. Porém,
Kuhn equivoca-se ao rejeitar o falseacionismo ingênuo na tentativa de excluir todas as classes de
falseacionismo.
18 “Distingo três tipos de hipóteses auxiliares ad hoc: as que não apresentam conteúdo empírico adicional comparativamente às suas predecessoras (‘ad hoc¹’), as que apresentam esse conteúdo adicional mas sem que esteja corroborada (‘ad hoc²’) e finalmente naquelas que são ad hoc nestes dois sentidos mais não fazem parte integrante da heurística positiva (‘ad hoc³’)” Nota de rodapé nº 32 (LAKATOS, 1998, p. 65).
81
Tais objeções põem em risco todo o programa popperiano de pesquisa, impossibilitando
desta maneira qualquer possibilidade de reconstrução racional da ciência. Assim, Lakatos ao
reconstruir o progresso científico como uma proliferação de programas rivais de pesquisa, com
suas transferências progressivas e degenerativas de problemas, acaba por fornecer um
empreendimento que muito se difere daquele proporcionado pela reconstrução de sucessões de
teorias ousadas e seus comoventes aniquilamentos. Penso que este desenvolvimento das
metodologias dos programas de pesquisa proposta por Lakatos é suficiente para escapar à crítica
de Kuhn.
Percebe-se que as novas filosofias da ciência atribuem à sua história um sentido
propriamente racional, desempenhando uma importante função na compreensão de sua natureza e
de seu processo de desenvolvimento. Nestas novas perspectivas, a distinção entre contexto de
descoberta e de justificação e o critério da falseabilidade como demarcador para o conhecimento
científico são reavaliados, redimensionados e muitas vezes expostos em suas dificuldades
internas como propôs Lakatos. Em um outro enfoque, o apresentado por Kuhn, temos as
propostas que tematizam a ciência em sua contextualização sócio-histórica como um tipo de
conhecimento atividade, através do exame das crenças e compromissos compartilhados pela
comunidade produtora do saber científico, com suas cosmovisões e padrões pedagógicos.
Em contraste com a teoria kuhniana, a proposta lakatosiana, apesar de reconhecer o papel
constitutivo das ideias metafísicas na condução do processo, leva a repensar o conceito de
racionalidade histórica, que exibe um instrumental analítico mais sensível às problematizações
contextuais, exigindo assim, um novo modo de conceber a história das ciências a cumprir sua
tarefa epistemológica. O historiador da ciência, sob pena de cegueira perante seu objeto de
estudo, não poderia deixar de definir seus critérios de cientificidade, a partir dos quais demarcaria
o que é ou não ciência e definiria quais fatos históricos pertenceriam à reconstrução racional da
ciência e quais, à luz de seus critérios, não poderiam ser explicados racionalmente.
Por sua vez, o filósofo da ciência, ao elaborar os critérios de cientificidade, não poderia
deixar de considerar que tais critérios serviriam de base para a constituição de um programa de
investigação historiográfica, sob pena de desconsiderar a reconstrução histórica racional de
grande parte das teorias científicas, em última instância, sob pena de esvaziamento. Assim, para
Lakatos, diferentemente de Kuhn, deve-se buscar na história das ciências uma história instruída,
racional, para ser capaz de ensinar e compreender o seu próprio desenvolvimento.
82
REFERÊNCIAS
ABRANTES, Paulo César Coelho. Imagens da natureza, imagens da ciência. Campinas, SP: Ed. Papirus, 1998. (Coleção Papirus ciência)
BACON, F. Novum Organun. Bacon. São Paulo: Abril Cultural,1973. (Col. Os Pensadores) BUNGE, Mario. Epistemologia: curso de atualização. São Paulo, SP. Ed. T.A. Queiroz,Ed. da Universidade de São Paulo, 1980. (Biblioteca de ciências naturais; v. 4)
CHALMERS, Alan F. O que é ciência afinal. São Paulo: Brasiliense, 1993. CARRILHO, Manuel Maria. Epistemologia: posições e críticas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991.
CARVALHO, Maria Cecília Marigoni de. (Org.). Paradigmas filosóficos da atualidade. Campinas, SP: Papirus, 1989.
HANS, Hans; NEURATH, Otto; CARNAP, Rudolf. A Concepção Científica do Mundo – O Círculo de Viena. CADERNOS DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA. nº 10, p. 5-20, 1986. ISSN 0101-3424. HEGENBERG, Leônidas. Etapas da investigação científica. São Paulo: EPU - Ed. da Universidade de São Paulo, 1976. (2v. ilust.)
HUME, David. Investigação acerca do entendimento humano. 5. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1992. HARRÉ, Rom. As filosófias da ciência. Lisboa:Edições 70, 1984.
JAPIASSU, Hilton. Como nasceu a ciência moderna. Rio de Janeiro: Imago, 2007.
KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. 9 ed.,São Paulo, SP: Perspectiva, 2006a.
_____ A tensão essencial. Lisboa: Edições 70, 1977.
_____O caminho desde A Estrutura. São Paulo: UNESP, 2006b. (Ensaios Filosóficos, 1970-1993, com uma entrevista autobiográfica)
_____A função do dogma na investigação científica. In: DIAS DE DEUS, J. Rio de Janeiro: Zahar, 1970, p. 53-80.
LAKATOS, Imre; MUSGRAVE, Alan. (Org.). A Crítica e o desenvolvimento do conhecimento. São Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo, 1970. LAKATOS, Imre. A História da ciência e suas construções racionais. Tradução de: Emília Picado Tavares Marinho Mendes. Lisboa: Edição 70, 1998.
83
_____ Falsificação e Metodologia dos Programas de Investigação Científica. Tradução de: Emília Picado Tavares Marinho Mendes. Lisboa: Edição 70, 1999. _____ A lógica do descobrimento matemático: provas e refutações. Rio de Janeiro:Zahar, 1978.
MORGENBESSER, Sidney (Org). Filosofia da ciência. SãoPaulo, SP:Cultrix, 1971.
OLIVA, Alberto (Org.). Epistemologia: a cientificidade em questão. Campinas, SP: Papirus, 1990.
POPPER, Karl. A Lógica da Pesquisa Científica. São Paulo:Cultrix, 1972.
_____ Conjecturas e refutações. Coimbra: Almedina, 2006.
_____ Conhecimento objetivo. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1975.
SIMON, Samuel. (Org.). Filosofia e Conhecimento: das formas platônicas ao naturalismo. Brasília: Universidade de Brasília, 2003. (Com duas conferências inéditas de John Watkins).
STEGMULLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea. São Paulo, SP: E.P.U. 1977. (vol. 2)
WITTGENSTEIN, Ludwing. Tratado Lógico-Filosófico. Trad. Luiz Henrique Lopez dos Santos. Ed. Universidade de São Paulo, 2008.