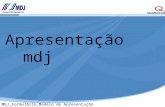Mdj
-
Upload
susana-ribeiro -
Category
Engineering
-
view
186 -
download
1
Transcript of Mdj
1
ÍNDICE
Introdução ........................................................................................................................................................................................... 3
1 | Análise da Zona de Estudo e Traçado da Rede de Distribuição de Água ........................................................................................ 4
1.1 | Dados fornecidos pelo Professor ................................................................................................................................. 4
1.2 | Análise da Zona de Estudo ........................................................................................................................................... 5
1.3 | Análise do Traçado da Rede de Distribuição de Água .................................................................................................. 5
2 | Cálculo dos caudais de projeto ....................................................................................................................................................... 6
2.1 | População .................................................................................................................................................................... 6
2.2 | Capitação ..................................................................................................................................................................... 6
2.3 | Fator de Ponta Instantâneo ......................................................................................................................................... 7
2.4 | Fugas e Perdas ............................................................................................................................................................. 7
2.5 | Caudais ........................................................................................................................................................................ 7
3 | Materiais ........................................................................................................................................................................................ 8
4 | Dimensionamento da Rede (Ano 40).............................................................................................................................................. 9
4.1 | Coeficiente de Distribuição (CD) .................................................................................................................................. 9
4.2 | Tabelas Resumo ........................................................................................................................................................... 9
4.3 | Comprimentos Equivalentes (Leq) ................................................................................................................................ 9
4.4 | Caudal de Percurso Unitário (Qúnico) ............................................................................................................................. 9
4.5 | Caudais de Percurso (Qperc) ........................................................................................................................................ 10
4.6 | Caudal a Jusante (Qmont) e Caudal a Montante (Qjus) .................................................................................................. 10
4.7 | Caudal Equivalente (Qeq) ............................................................................................................................................ 10
4.8 | Risco de Incêndio ....................................................................................................................................................... 10
4.9 | Diâmetro Mínimo ...................................................................................................................................................... 10
4.10 | Pré-Dimensionamento ............................................................................................................................................... 11
4.11 | Método de Hardy-Cross ............................................................................................................................................. 11
4.12 | Dimensionamento ..................................................................................................................................................... 12
4.13 | Distribuição Final de Caudais ..................................................................................................................................... 12
4.14 | Cota de Soleira do Reservatório ................................................................................................................................ 12
5 | Verificação das Condições de Funcionamento da Rede ............................................................................................................... 13
5.1 | Verificação da Velocidade Mínima (Ano 0) ................................................................................................................ 13
5.2 | Verificação do Risco de Incêndio (Ano 40) ................................................................................................................. 13
6 | Elementos Acessórios da Rede ..................................................................................................................................................... 14
6.1 | Juntas ........................................................................................................................................................................ 14
6.2 | Válvulas de Seccionamento ....................................................................................................................................... 14
6.3 | Válvulas de Purga ou de Descarga ............................................................................................................................. 15
6.4 | Hidrantes (Marcos de Incêndio) ................................................................................................................................ 15
6.5 | Bocas de Rega ............................................................................................................................................................ 15
6.6 | Ventosas .................................................................................................................................................................... 15
6.7 | Medidor de Caudal .................................................................................................................................................... 15
6.8 | Contadores Domiciliários ........................................................................................................................................... 16
2
Bibliografia ......................................................................................................................................................................................... 17
Anexos ............................................................................................................................................................................................... 18
A | Declaração de Originalidade ................................................................................................................................................... 19
B | Cálculos ................................................................................................................................................................................... 20
C | Mapa de Acessórios da Rede de Distribuição de Água ........................................................................................................... 21
D | Peças Desenhadas .................................................................................................................................................................. 22
E | Tabelas de Materiais ............................................................................................................................................................... 23
3
INTRODUÇÃO
A presente memória descritiva e justificativa refere-se a Projeto de Conceção e
Dimensionamento de Rede de Água elaborado na Unidade Curricular de Saneamento Básico
do 3º ano da licenciatura de Engenharia Civil da ESTG do Instituto Politécnico de Leiria.
Prevê-se que a rede de águas a projetar, localizada no concelho de Leiria, entre em
funcionamento no prazo de um ano.
Para a elaboração do projeto, foram fornecidos pelo docente alguns dados base e imposições,
tendo os cálculos e escolhas sido feitos em conformidade com o Regulamento Geral dos
Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais
(RGSPPDADAR), Decreto Regulamentar Nº 23/95 de 23 de Agosto, tendo sido tidos ainda em
conta a bibliografia da Unidade Curricular bem como as boas práticas em Engenharia Civil,
transmitidas no decorrer das aulas.
4
1 | ANÁLISE DA ZONA DE ESTUDO E TRAÇADO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1.1 | DADOS FORNECIDOS PELO PROFESSOR
Como já foi atrás mencionado, foram-nos facultados (ao Grupo 40) alguns dados a ter em
conta, indicados no quadro abaixo:
a) Ponto de entrada de água no sistema
Localização
do ponto de entrada
Reservatório A
b) Número de pisos/fogos acima do solo (incluindo o piso térreo), para os quais deve ser assegurada a pressão mínima de serviço até ao ano horizonte de projeto
Lotes 1 a 20 6
Lotes 21 a 31 4
Lotes 32 a 56 2
c) Número médio de habitantes por fogo (a capitação tende a aumentar até ao ano horizonte de projeto)
Ano de Entrada em Funcionamento
Ano Horizonte de Projeto
5 8
d) Lei de Resistência (admitir que a taxa de degradação da infraestrutura é igual a 0,5% ao ano)
Hazen Williams
5
1.2 | ANÁLISE DA ZONA DE ESTUDO
A zona de estudo situa-se na União de Freguesias de Marrazes e Barosa, no Concelho de Leiria.
Trata-se de uma urbanização nova, que necessita de projeto das várias infraestruturas,
nomeadamente as de interesse à presente Unidade Curricular. Por isto, não irão ser
consideradas infraestruturas existentes na área abrangida.
Localização da zona de estudo, a vermelho.
1.3 | ANÁLISE DO TRAÇADO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
A definição do traçado foi elaborada tendo em conta disposições regulamentares tais como
distância da tubagem ao limite de propriedade não inferior a 0,80 m. Assim, tentou colocar-se
a tubagem à distância mínima regulamentar das propriedades e, uma vez que o arruamento é
relativamente estreito, considerou-se apenas uma, tentando que fosse sempre no lado com
mais fogos, uma vez que colocar duas tubagens paralelas não seria uma solução
economicamente atraente.
Não foi necessário ter em conta a existência de outras infraestruturas, por inexistência das
mesmas.
Relativamente ao formato da rede (ramificada, emalhada ou mista), considerou-se que seria
mais vantajosa uma rede emalhada pelas mais-valias que este tipo de rede compreende. São
elas o facto de ser possível fechar troços sem ficar comprometido o fornecimento de água,
redução do problema de estagnação e deposição, pois a água pode correr livremente, mesmo
que não existam consumos em determinados pontos da rede e ainda o facto de permitir uma
melhor distribuição de pressões.
6
Foram colocados “nós” de rede em todos os pontos de cruzamento de tubagens,
extremidades, pontos intermédios que eventualmente permitam diferenciar características de
dimensionamento e ainda em zonas de cota topográfica mais alta e mais baixa (estas últimas,
por questões práticas, no sentido de saber logo se as pressões mínima e máxima estão
satisfeitas).
O desenho do traçado pode ser observado em Anexo.
2 | CÁLCULO DOS CAUDAIS DE PROJETO
Para se poder calcular caudais, há diversos pormenores (população, capitação, fatores de
ponta e percentagem de perdas) que devem ser analisados e escolhidos primeiro, e só depois
estaremos aptos a avançar para o cálculo dos caudais.
2.1 | POPULAÇÃO
Para calcular a população a ser servida pela Rede de Abastecimento de Água, foram tidos em
conta os dados relativos aos pontos b) e c) do primeiro quadro, nomeadamente o número de
pisos/fogos acima do solo e número médio de habitantes por fogo.
𝑃𝑜𝑝 = 𝑁º𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 × 𝑁º𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ℎ𝑎𝑏 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑔𝑜
Foram feitos os cálculos para o ano zero (ano de entrada em serviço), ano vinte e ano quarenta
(ano horizonte do projeto). O número médio de habitantes que considerámos para o ano 20,
foi de 6,5 uma vez que corresponde ao valor médio entre o valor relativo ao ano de entrada
em funcionamento (5 hab) e o de horizonte de projeto (8 hab).
População
Ano 0 1070 habitantes
Ano 20 1391 habitantes
Ano 40 1712 habitantes
2.2 | CAPITAÇÃO
Relativamente a este ponto, o Artigo 13º - Consumos Domésticos – do Regulamento diz-nos
que, para uma população de entre 1000 a 10000 habitantes, as capitações na distribuição
exclusivamente domiciliária nunca devem ser inferiores a 100 l/habitante/dia. No entanto,
durante as aulas, foi-nos transmitido que os valores usuais para capitações na zona geográfica
em que se localiza a área de estudo (Leiria) estão entre os 150 e os 200 l/habitante/dia. Assim
7
sendo, adotou-se um valor de 180 l/habitante/dia para capitações no ano de entrada em
funcionamento da rede a projetar, verificando assim as exigências regulamentares e os valores
correntes.
Considerou-se ainda, por imposição do enunciado, que a capitação aumenta com o tempo, no
valor de 1 l/habitante/dia, uma vez que é o valor intermédio dos valores que nos foram
transmitidos como tidos como referência para este acréscimo de capitação (entre 0,5 e 2,0
l/hab/dia).
Capitação Estimativa de Acréscimo de
Capitação
[l/habitante/dia] [l/habitante/dia]
Ano 0 180 1
Ano 20 200 1
Ano 40 220 -
2.3 | FATOR DE PONTA INSTANTÂNEO
O fator de ponta instantâneo foi obtido através da fórmula:
𝑓𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜 = 2 +70
√𝑃𝑜𝑝
Onde Pop é a população do ano em cálculo, uma vez que não dispúnhamos de dados
suficientes para estabelecer fatores de ponta instantâneos.
2.4 | FUGAS E PERDAS
Segundo o Artigo 17º do Regulamento, não deverão nunca ser admitidas perdas inferiores a
10% do volume de água que entra no sistema. Assim, admitiu-se um valor de 20% para perdas
na rede, uma vez que é uma rede nova e devemos ser otimistas. Assim:
𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = 20% × 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
2.5 | CAUDAIS
Com os pontos acima determinados, pode avançar-se para o cálculo dos caudais. Foram
considerados apenas caudais domésticos, visto não haver registo de previsão de atividade
comercial intensa, nem de consumos industriais ou similares. Considerou-se ainda que os
8
consumos públicos (para rega, limpeza de coletores,…) estavam já incluídos nos caudais
domésticos.
Começou-se então por calcular o caudal médio doméstico, através da fórmula:
𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝑜𝑝 × 𝐶𝑎𝑝
E seguidamente, calculou-se o caudal de ponta doméstico, multiplicando o caudal médio
doméstico, encontrado anteriormente, ao fator de ponta instantâneo, mencionado com ponto
2.3.
O caudal de ponta total é, neste caso, a soma do caudal de ponta doméstico com o caudal de
perdas considerado. Assim:
𝑄𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎,𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠
Deste modo, chegou-se a um valor para o caudal de ponta total no ano horizonte de projeto
de 16,97 l/s.
3 | MATERIAIS
Os materiais plásticos mais usuais para execução de condutas de distribuição de água são o
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e o Policloreto de Vinilo (PVC).
O PEAD é fornecido em rolos de comprimento superior ao PVC, o que evita algumas emendas,
e é ainda mais resistente ao impacto mas requer maior nível técnico na aplicação (mão de obra
e equipamento) e é mais dispendioso. O PVC cumpre as suas funções e acaba por ser mais em
conta, o que é um fator importante tendo em conta o actual contexto económico e o
montante de investimento inicial.
Assim, escolheu usar-se PVC, com classe de resistência de 1,0 Mpa. Apesar de sabermos que,
segundo o Regulamento, a pressão máxima admitida na rede é de 0,6 MPa, utilizámos um
material com uma classe de resistência ligeiramente superior. Uma vez que a rede é
dimensionada para 40 anos e é espectável alguma degradação no material das condutas,
pretende garantir-se as condições de segurança no ano horizonte de projeto. Após alguma
pesquisa, utilizámos tabelas da Politejo, nomeadamente as da gama Hidropress, ou
equivalente, para servir de apoio ao dimensionamento. Estas poderão ser consultadas em
anexo.
Relativamente aos acessórios será usado ferro dúctil da Saint-Gobain (PAM), ou equivalente.
9
4 | DIMENSIONAMENTO DA REDE (ANO 40)
Começou por fazer-se uma representação esquemática da rede de distribuição de água, onde
estavam indicados os nós da rede, que se iriam utilizar para desenvolver os cálculos. Através
deste croqui, consegue-se identificar o número de fogos que iriam ficar afetos a cada troço de
rede considerado (parte de conduta entre dois nós). Aqui, convém ainda indicar os
comprimentos e numeração de cada troço, indicação e numeração das malhas e ainda os
sentidos que escolhemos para movimentação dos caudais pela rede.
4.1 | COEFICIENTE DE DISTRIBUIÇÃO (CD)
Após apuramento dos comprimentos de todos os troços, foi calculado o coeficiente de
distribuição relativo a cada troço. Este coeficiente relaciona a quantidade de fogos afetos a
cada troço, com o troço com maior número de fogos, em que CD=1. Os restantes são
calculados em proporção a este.
4.2 | TABELAS RESUMO
Posteriormente foram feitas tabelas com o resumo dos dados recolhidos e cálculos efectuados
até este ponto (nomeadamente troços e nós correspondentes, cotas topográficas dos nós,
comprimentos dos troços, coeficientes de distribuição, caudais concentrados (que não
existiam no nosso caso), material a utilizar, e caudal de percurso para o ano 40, calculado no
ponto 2.5 desta memória). Estas tabelas têm interesse para conseguirmos visualizar num só
sítio todos os dados que já possuímos.
4.3 | COMPRIMENTOS EQUIVALENTES (LEQ)
Com recurso aos coeficientes de distribuição (CD), foram calculados os comprimentos
equivalentes relativos a cada troço. Ou seja, multiplicando os comprimentos de cada troço
encontrados, pelo CD, os comprimentos equivalentes acabam por relacionar o comprimento
efectivo de cada troço com a quantidade de fogos afetos a esse mesmo troço. É importante
para definir os caudais de percurso em cada troço.
4.4 | CAUDAL DE PERCURSO UNITÁRIO (QÚNICO)
Este caudal encontra-se através da divisão do caudal de percurso (que é a subtracção dos
caudais concentrados (que não temos) ao caudal de dimensionamento (Ano 40)) pelo
somatório de todos os comprimentos equivalentes achados no ponto anterior.
10
4.5 | CAUDAIS DE PERCURSO (QPERC)
Conhecendo o caudal de percurso unitário, pode passar-se a descobrir os caudais de percurso
em cada troço. Isto traduz-se na multiplicação do caudal de percurso único pelo comprimento
equivalente de cada troço.
4.6 | CAUDAL A JUSANTE (QMONT) E CAUDAL A MONTANTE (QJUS)
Posto o ponto anterior, pode passar-se ao cálculo do Caudal a Jusante em cada troço. Para tal,
guiamo-nos pelo croqui feito inicialmente, para ir somando os vários caudais que vão
“aparecendo”, por ordem. O Caudal a Montante é a soma do Caudal a Jusante nesse troço com
o Caudal de Percurso que irá percorrer esse mesmo troço.
4.7 | CAUDAL EQUIVALENTE (QEQ)
Este caudal obtém-se através da seguinte fórmula:
𝑄𝑒𝑞 = 𝑄𝑗𝑢𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 + 0,55 ∗ 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
É utilizado para simular que o escoamento, que varia ao longo da rede, tem um
comportamento semelhante ao do escoamento uniforme. É este caudal que vai ser utilizado
nos cálculos seguintes. O valor de 0,55 pode por vezes ser substituído por 0,5 por uma questão
de simplificação.
4.8 | RISCO DE INCÊNDIO
O Regulamento diz-nos que deve estar previsto um volume de água que garanta as eventuais
necessidades de combate a incêndio, e que estas variam consoante a ocupação do solo e o
tipo de edificado. O Artigo 18.º tem a definição de cada grau de incêndio e indica-nos ainda o
caudal que teremos (posteriormente) que considerar para o combate a incêndios segundo o
grau escolhido. A zona em estudo é uma zona de Grau 3 de risco de incêndios, uma vez que os
nossos edifícios são de habitação, ou pequeno comércio e não atingem os 10 pisos.
4.9 | DIÂMETRO MÍNIMO
Quando se define o grau de risco de incêndio, estamos também a condicionar os diâmetros
mínimos a utilizar. O ponto 2 do Artigo 23.º diz-nos que o diâmetro mínimo para uma zona
com grau 3 de risco de incêndio é de 100 mm.
11
O outro valor que devemos considerar para definir o diâmetro mínimo a utilizar, segundo o
Artigo 23.º, é de 60 mm em aglomerados com menos de 20 000 habitantes (o nosso caso).
O valor a considerar para o diâmetro mínimo deve ser o máximo destes dois valores. Assim,
tivemos em consideração que os diâmetros que iríamos escolher não poderiam ser inferiores a
100 mm.
4.10 | PRÉ-DIMENSIONAMENTO
Após tudo isto, é possível fazer o pré-dimensionamento.
Pegando numa tabela do material escolhido, calcula-se as velocidades máximas e os caudais
máximos que cada diâmetro consegue “suportar”. Olhando para os nossos caudais a montante
em cada troço (que será o caudal máximo a circular nesse troço), adota-se para cada troço um
diâmetro da tabela do fornecedor que aguente esse caudal.
4.11 | MÉTODO DE HARDY-CROSS
Seguidamente utilizou-se este método que, partindo da equação da energia, calcula, através
de sistema iterativo, as correções de caudal (∆Q) que se devem efetuar em cada troço dentro
de uma determinada malha, de modo a obter um equilíbrio hidráulico. Quando se observou
que o somatório das perdas de carga (∆H) era igual ou inferior a 10 cm, podem considerar-se
os caudais equivalentes obtidos através desta última correção.
Para isto, teve que se admitir um sentido para o escoamento (já mencionado acima, quando se
falou do croqui).
Assim, usou-se a equação de Hazen-Williams, que era uma obrigação imposta pelo enunciado:
∆𝐻 =10.674∗𝐿
𝐶𝐻𝑊1,852∗ 𝐷4,87
∗ 𝑄1,852 e ∆𝑄 =∑ ∆𝐻
𝑛∗ ∑∆𝐻
𝑄
Onde,
L – comprimento do troço
Q – caudal equivalente inicial
D – diâmetro interior da tubagem
C – coeficiente de Hazen-Williams, (relacionado com a rugosidade do material, poderá oscilar entre 125 e 140 no
caso de materiais plásticos). O valor escolhido para o ano 0 foi de 130 (por ser intermédio). Posteriormente aplicou-
se uma degradação da tubagem, obtida através de:
𝐶𝑓 = 𝐶𝑖 ∗ (1 − 𝑡)𝑛
12
Em que,
Cf – coeficiente final
Ci – coeficiente inicial
n – expoente na equação de Hazen-Williams (1,852)
Para cada nova correção de caudais obtida, eram novamente aferidos diâmetros que
conseguissem abarcar o caudal em cada troço e feita uma nova iteração/correção.
4.12 | DIMENSIONAMENTO
Assim, (e depois do somatório das perdas de carga em todas as malhas ser inferior a 10 cm)
obteve-se o caudal equivalente final que, no fundo, é um caudal corrigido, através do qual se
podem (finalmente) determinar os diâmetros finais a utilizar.
4.13 | DISTRIBUIÇÃO FINAL DE CAUDAIS
Após todo este percurso, já com dados quase “oficiais” de dimensionamento, é feito um ponto
de situação, onde são listados os vários caudais aferidos (Qeq, Qmont, Qjus e Qpercurso), os
diâmetros escolhidos e as perdas de carga (∆H) finais em cada troço.
4.14 | COTA DE SOLEIRA DO RESERVATÓRIO
Para determinar a cota de soleira do reservatório, tem que se ter em conta as perdas de carga
acumuladas ao longo da rede de distribuição. Assim, foi a primeira coisa que se calculou aqui,
tendo em consideração os novos sentidos de escoamento que o método de Hardy-Cross nos
deu.
Posteriormente, importa calcular as “barreiras” para a cota de soleira (a máxima e a mínima)
admissíveis para cada ponto. Para tal, importa conhecer as pressões mínimas e máximas
necessárias e admitidas na rede. O Artigo 21.º do Regulamento orienta-nos nestes cálculos.
Assim, sabe-se que a pressão máxima admitida na rede é de 600 Kpa (o que equivale a 61,22
m.c.a.) e que a pressão mínima é obtida através da fórmula:
𝐻 = 100 + 4 ∗ 𝑛
Em que n é o número de pisos acima do solo. No nosso caso, os edifícios com menos pisos
terão a módica quantia de 2 pisos, o que equivale a uma pressão mínima de H = 18,37 m.c.a.
Importa ainda conhecer as cotas topográficas de cada ponto, que também indicámos logo no
início. Devemos ainda definir uma altura de água dentro do reservatório. Definimos que esta
seria de 4 m de altura, uma vez que nos foi transmitido que usualmente se usava um valor
entre 3 e 6 m, e o enunciado não impunha qualquer valor.
13
Após conhecermos os limites máximos e mínimos para a cota de soleira do reservatório,
possíveis para cada nó, procuramos o valor máximo de todos os valores mínimos e o valor
mínimo de todos os valores máximos. No nosso caso ficámos a saber que a cota de soleira para
o nosso reservatório deveria estar entre 71,99 e 97,62 m. Sabíamos ainda que a cota
topográfica do terreno onde iria estar o nosso reservatório (ponto A) era de 51,30 m. Assim,
escolheu-se um valor de 75,00 m para a cota de soleira do reservatório, de modo a ser um
valor “redondo”, deixando uns 3 m do valor mínimo para alguma eventualidade e de modo a
não fazer uma construção demasiado elevada (que significaria mais custos).
Para finalizar, verificou-se quais seriam os valores de flutuações de pressões em cada troço da
rede. O regulamento admite para este parâmetro um valor máximo de 300 Kpa.
5 | VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE
5.1 | VERIFICAÇÃO DA VELOCIDADE MÍNIMA (ANO 0)
Esta verificação, das velocidades mínimas em cada troço, é feita para o Ano 0, que é o ano de
arranque do projeto e corresponde à altura em que as pressões poderão ser menores. A alínea
b) do Ponto 1 do Artigo 21.º do Regulamento diz-nos que devem ser verificadas velocidades
mínimas de 0,30 m/s para todos os troços. Para aqueles em que isto não se verificar devem ser
previstos dispositivos adequados para descarga periódica (válvulas de descarga de fundo).
Assim, os cálculos efetuados para esta verificação são muito semelhantes aos do
dimensionamento, tendo em atenção que devem utilizar-se sempre os diâmetros finais para as
tubagens encontrados anteriormente, no dimensionamento da rede para o ano 40. Deve ainda
ter-se em conta que a tubagem, no ano 0, ainda não sofreu qualquer degradação. Assim, o
coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams (C) deve ser o valor escolhido, ou seja, 130.
Os cálculos desta verificação podem ser observados em anexo.
5.2 | VERIFICAÇÃO DO RISCO DE INCÊNDIO (ANO 40)
Os sistemas de distribuição pública de água devem também garantir a satisfação dos requisitos
de necessidades de água para o combate a incêndios. Estas necessidades variam com a
ocupação e número de pisos dos edifícios, como já foi anteriormente mencionado.
Foi também anteriormente mencionado que se considerou que a zona em estudo estava
incluída no grau 3 de risco de incêndio e que isto iria influenciar tanto os diâmetros mínimos
como um caudal instantâneo que satisfaça as necessidades de combate a incêndio que, neste
caso, é de 30,0 l/s.
Assim para esta verificação, teremos que adicionar este caudal (os tais 30,0 l/s) a garantir para
o combate a incêndio, à rede já existente. De seguida, repete-se o procedimento adotado na
14
verificação das velocidades mínimas, tendo em atenção que, neste caso, devem ser
considerados os caudais para o ano horizonte de projeto (Ano 40), uma vez que se pretende
verificar pressões mínimas e velocidades máximas (e considerou-se que, neste ano, os
consumos seriam os mais elevados e, portanto, maiores as velocidades).
De seguida, são calculadas as perdas de carga em cada troço da rede, de modo a podermos
calcular a pressão final em cada troço, subtraindo, à cota de soleira já definida do reservatório
(75 m), a perda de carga e cota topográfica do respetivo nó. Finalmente, comparam-se os
valores com os da pressão mínima admissível (descritos no Artigo 21.º do Regulamento).
Relativamente às velocidades máximas, o regulamento (também no Artigo 21.º) define uma
expressão para calcular as velocidades máximas regulamentares para cada troço. Compara-se
então este valor com o valor máximo da velocidade, calculado para cada troço, através da
equação da continuidade, uma vez que se sabem os diâmetros e os caudais.
Faltou dizer que, para um grau 3 de risco de incêndio, devem ser colocados marcos de
incêndio na rede, de 130 em 130 m, no máximo. Estes devem estar localizados junto de lancis
de passeio, em cruzamentos e bifurcações (Artigo 55.º), de modo a serem exclusivamente
utilizados pelas corporações de bombeiros e serviços municipais (Artigo 54.º).
6 | ELEMENTOS ACESSÓRIOS DA REDE
No Regulamento, estes elementos são abordados no Capítulo IV, nomeadamente a partir do
Artigo 39.º. Relativamente ao material escolhido para os elementos acessórios da rede (e
todos os acessórios complementares para a sua montagem) escolheu-se os acessórios em
ferro dúctil da Saint-Gobain (PAM), ou equivalentes, (no nosso caso pesquisados através da
página do Humberto Poças). São eles:
6.1 | JUNTAS
Devem ser estanques, possibilitar a dilatação e facilitar a montagem e desmontagem de tubos
e acessórios, devendo ser tidas em conta todas as recomendações do fabricante para a sua
correta execução.
6.2 | VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO
De acordo com o Artigo 40.º, colocadas em todos os ramais de ligação, de modo a poderem
ser seccionados de forma individual. Colocadas ainda ao longo da rede de distribuição para
que fiquem isoladas áreas com um máximo de 500 habitantes (no nosso caso não foi difícil,
uma vez que a população total a abastecer era apenas de 1712 habitantes no ano horizonte de
projeto). Colocadas ainda nos entroncamentos, em número de duas, de forma a poder isolar
15
troços para facilitar a operação do sistema e minimizar os inconvenientes de eventuais
interrupções no abastecimento.
Estas válvulas devem ser devidamente protegidas e facilmente manobráveis.
6.3 | VÁLVULAS DE PURGA OU DE DESCARGA
Colocadas no ponto de cota mais baixa, entre válvulas de seccionamento, e em troços
(seccionados) cuja velocidade mínima não for garantida no dimensionamento, de forma a
permitir que os vários troços possam ser periodicamente esvaziados numa linha de água
natural, num coletor pluvial, ou em câmaras de armazenamento transitório, sendo sempre
salvaguardado o risco de contaminação das condutas.
6.4 | HIDRANTES (MARCOS DE INCÊNDIO)
Segundo o Artigo 22.º, não é exigível, nas situações de incêndio, qualquer limitação de
velocidades nas condutas e são admitidas alturas piezométricas inferiores a 100 KPa. Segundo
o Artigo 55.º do Regulamento, a localização dos hidrantes cabe à entidade gestora e, para um
grau 3 (nosso caso) de risco de incêndio, o espaçamento máximo a considerar, entre marcos
de incêndio, é de 130 m. Assim fizemos.
6.5 | BOCAS DE REGA
Não consideramos a colocação de nenhum destes acessórios uma vez que a zona em questão
não possui espaços verdes. Para além desta utilização, poderiam servir como dispositivo de
entrada de ar na rede (para a realização das descargas periódicas). Mas uma vez que já temos,
por imposição regulamentar, de considerar marcos de incêndio em distâncias relativamente
curtas, não vimos necessidade de colocar bocas de rega com este propósito.
6.6 | VENTOSAS
Não consideramos igualmente a colocação deste tipo de dispositivos.
6.7 | MEDIDOR DE CAUDAL
O Artigo 50.º diz-nos que têm por finalidade determinar o volume de água escoado, e podem,
consoante o modelo, fazer a leitura do caudal instantâneo e volume escoado e registar (ou
não) esses valores. Referenciamos apenas o medidor de caudal à saída do reservatório
(obrigatório), que contem uma válvula de seccionamento a montante e outra a jusante
16
(igualmente obrigatório), devendo ser tidos em conta possíveis fatores que condicionem o
volume de água e ser seguidas todas as recomendações de instalação do fabricante de modo a
que seja garantido o bom funcionamento.
6.8 | CONTADORES DOMICILIÁRIOS
São medidores de caudal, colocados nos ramais de introdução predial de todos os
consumidores.
O mapa de acessórios pode ser consultado em anexo.
17
BIBLIOGRAFIA
> Decreto Regulamentar n.º23/95 de 23 de Agosto de 1995,
“Regulamento Geral dos Sistemas Públicos de Distribuição e de Drenagem de Águas
Residuais”
> Apontamentos da Unidade Curricular de Saneamento Básico
18
ANEXOS
A | Declaração de Originalidade
B | Cálculos
B1 | Dimensionamento da Rede (Ano 40)
B2 | Verificação da Velocidade Mínima (Ano 0)
B3 | Verificação do Caudal de Incêndio (Ano 40)
C | Mapa de Acessórios da Rede de Distribuição de Água
D | Peças Desenhadas
D1 | Traçado da Rede de Distribuição de Água
D2 | Traçado de Representação dos Acessórios
D3 | Esquema de Nós
D4 | Pormenores de Acessórios
E | Tabelas de Materiais
19
SANEAMENTO BÁSICO – Ano letivo 2014/2015
Departamento de Engenharia Civil
Escola Superior de Tecnologia e Gestão – Instituto Politécnico de Leiria
Projeto de conceção/dimensionamento de redes de distribuição de água
Grupo_________ Regime: _________
Data de entrega do trabalho: _____/_____/_____
Nome completo dos elementos do grupo:
1-___________________________________________________________________________________
2-___________________________________________________________________________________
NOTA: Esta declaração deve fazer parte da memória descritiva e justificativa.
A | DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE
O(s) autor(es) deste relatório/trabalho/ projeto declara(m) que o conteúdo do mesmo é da sua autoria e
não constituí cópia parcial ou integral de trabalhos de outro(s) autor(es).
(Assinatura do 1º autor)
(Assinatura do 2º autor, se existir)
O não cumprimento está sujeito a sanção disciplinar conforme previsto no artigo 134º do Estatutos do IPL.
SANEAMENTO BÁSICO – Ano letivo 2014/2015
Projeto de conceção/dimensionamento de redes de distribuição de água
Grupo ______________ Regime: ____________
Data de entrega do trabalho:
________/________/________
Docente (recebeu):
Aluno (entregou):