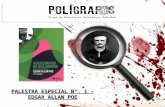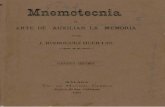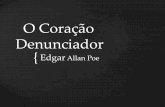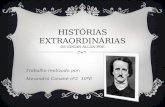Mel Barros Baptista...que sabe que "mesmo que o meu livro estivesse mal escrito, a sua extra...
Transcript of Mel Barros Baptista...que sabe que "mesmo que o meu livro estivesse mal escrito, a sua extra...

.)
••
.~
i":::::"
i~
~
\o~
! .l,
,.
f'":t'
{
~~
eUNtCAlAP
UNlVER5IOAOE EsTADUAL DE CAMPINA<
Reitor
CAALOS HENIlIQUE DE BIlITO CRUZ
Coordenador Geral da Universidade
Jost TADEU JORGE
Pr6 ..Reitor de E.xtemãoe MuntoS Comunic:.irlos
RuaEN' MAClfU. f,U1o
~e o 'I r o R ~,.:.....:..Q:lluelho EdilOri21
ALcl R I'tCOI\A - ANTONIO CARl.OS BANNWART - FABIO MACALHAES
GERAUlO DI GIOVANNI - Jo.t A. R. GONTlIO - LUlz DAVLDOVICH
LUlz MARQUES - PAULO FIlANCHEm - RJCARDO ANIOO
Dirc[or Executivo
PAULO FIlANCHE:TT1
..;
(,~'.;
',I.
I.:
l'·,
i!G
I)..(iiI'i
I),
ni:.\
I·'
i1
li
11p.j
Ij~)
Mel Barros Baptista
A FORMAÇÃO DO NOME
DUAS INTERROGAÇÕES SOBRE'
MACHADO DE AsSIS
SBD-FFLCH-USP
1II111IIII~mII~ 1~1I~fll ~fj1111
240511
@:Pl l o R A "I:+.+·i:->
/

l\~
Capítuio 7
AUTOR DEFUNTO
1
o que é um autor suposto?
Comecemos por um exemplo curioso do procedimento de in-
. trodução do autor suposto e das conseqüências que arrastapara a figurado autor efetivo; .The narra tive of Arthur Gordon Pym ofNantucket, deEdgar Allan P<;Je.O romance abre com um pref*cio assinado pelo próprio Arthur Gordon Pym, que nele conta a história do livro nos seguin
tes termos: regressado aos Estados Unidos depois de uma série de aventuras, Gordon Pym foi instigado por diversas pessoas a escrever o relatodas suas viagens, que não estava disposto a fazer por diversos motivos, o
principal dos quais consistia no receio de a maior parte dos leitorestomar como descarada mentira a narrativa de acontecimentos tão fan
tásticos; surge então o sr. Edgar Poe, que se dispõe a contar em seunome, como se de ficção se tratasse, as aventuras de Arthur Pym, baseando-se naturalmente no relato que este lhe fizera. Mas o inesperado sobrevém: os leitores recusam-se a aceitar como ficção o relato assinado
por Poe. "Disto concluí", escreve Gordon Pyrn no prefácio, "que os
fatos da minha narrativa mostraram-se capazes de conter em si as provasda própria autenticidade, não tendo eu, portanto, nmito a recearda possível
incredulidade do público" (Poe, 1838, pp. 4-5).O sr. Poe é despedido do
135
•
•.

trabalho de escriba, e o herói das aventuras retoma o relato onde ele o
deixara, tendo o cuidado de esclarecer que o leitor notará devidamenteonde acaba o texto de um e começa o outro, uma vez que, diz, "a diferença
em matéria de estilo percebe-seperfeitamente" (poe, op. cit., p. 5). Donde
resulta que o estilo de Poe não afetou o efeito decisivo: a narrativaescrita por Poe não anulava as marcas de autenticidade já presentes nanarrativa que ouvira de Pym. Assim, o processo convencional aparececlaramente invertido: não é a figurado autor suposto que, apoiado na
experiência do que viveu, afirma a autenticidade do que se conta, mas amesma narrativa que se revela capaz de impor a própria autenticidade,
sem garantias prévias e até com indicação manifesta de que se tratava deficção. Pode entender-se tudo isto corno um processo de conjurar ainverossimilhança. Mas está em jogo muito mais.
Está em jogo, desde logo, uma ifuagem de narrativa e de relação
entre ~arrativa e narrador que não s\ ~sgota ~o caso singular de ThenarratIve of Arthur Gordon Pym: uffif narrativa que se reporta a umaeXperiência prévia, podendo transmitir-se de narrador em narrador semperder a autenticidade. E está em jogo; em conseqüência, a imagem doestilo como suplemento ornamental incapaz de lesar a autenticidade,
porque incapaz de dissolver as marcas da presença dessa experiênciaprévia. Essa dupla imagem constitui a primeira ficção, a ficção inauguraldo romance, a qual, ao mesmo tempo que o integra numa tradição de
narrativa (a narrativa de experiências, com o seu tipo de narrador, aquele
que viajou, anterior ao gênero romanesco e diferente dele), caracterizaquer a natureza da narrativa que vai ler-se,quer o tipo de narrador a quepertence Gordon Pym (aquele que não precisa de um estilo apurado,que sabe que "mesmo que o meu livro estivesse mal escrito, a sua extravagância, se acaso a tivesse, seria a melhor forma de ser aceito comoverdade" (Poe, op. cit., p. 4)). Resta saber, todavia, se uma tal imagem não
é incompatível com a inscrição de Gordon Pym na posição de autor, istoé, se a sua constituição em autor não o afasta do tipo de narrado r a que
reclama pertencer.
De fato, podemos notar que tudo isto arrasta um efeito paradoxal sobre a condição do autor: se a narrativa gera a própria imagem de .narrador, se as caracteristicas de estilo não lhe afetam a autenticidade,
então, do ponto de vista da recepção da narrativa enquanto narrativa
136
I,;~J
:.:~~."'1.,.
: ~'~flr·.
i,..~'~,:"
';~!..~~
_·(~t
autêntica, será indiferente saber quem assina o texto que a transmite. Eé basicamente isto que Goroon Pym aprende com o começo da publicação
em nome de Poe. Por que, então, retómá-Ia em seu nome? Porque ainscrição do nome enquanto nome de autor não é indiferente do pontode vista da fônna de apresentapo da narrativa. O nome de Poe está ligadoa uma forma de apresentação da narrativa como ficção - "para que fossem[os primeiros capítulos) certamente encarados como ficção, o nome do sr.
Poe foi inscrito junto deles no sumário da revista" (ibidem) -, ao passoque o nome de Gordon Pym ficaria ligado a um modo de apresentação danarrativa eTemesmo autêntico, isto é, em que não se atribuiria ao relato
uma natureza diversa da "genuína". Ao retomar a narração em seu nome~
o herói fornece um complemento de autenticidade, anulando a falha quea sagac~dadedos leitores detectou: a narrativa autêntica é apresentada como
narrativa autêntica - por outra narrativa. E compreende-se que o complemento de autenticidade a exigiria sempre, porque o gesto essencial deGordon Pym consiste em singularizar a origem da narrativa, anunciando
que as aventuras foram vividas por alguém chamado Gordon Pym, depois contadas por alguém chamado Gordon Pym, uma coisa e outraanunciada e garantida por alguém chamado Gordon Pyrn: se a narrativagera, por si própria, uma imagem de narrador, que não é uma imagem
individual, mas um conjunto de traços por ela fornecidos, Gordon Pymesforça-se por inculcar a idéia de que ele, e apenas ele, é portador dessestraços. E é esse esforço de reivindicação da paternidade, de apresentaçãode si mesmo como causa primeira, como origem e garante da narrativa,que faz de Gordon Pyrn um autor. Com a conseqüência inelutável detransformar a narrativa num acontecimento singularizado: é a narrativade alguém, alguém que, por isso, nela inscreve o seu nome próprio, ou
seja, que a assina. Nessa medida, o complemento de <).utenticidaderepresenta, de fato, um perturbador suplemento de autenticidade. GordonPym arrasta para a narrativa qualquer coisa que lá não estava, a singularidade da narração imposta em seu nome e pelo seu nome, e então perdesem remédio a possibilidade de a narrativa provar suficientemente, porsi própria, a sua autenticidade: torna-se narrativa que se diz 'narrativa
que contém em si própria as provas da sua autenticidade". Assim, o romance abre-se dizendo que vai propor-nos uma narrativa que se basta na
demonstração da sua autenticidade, mas, pela mesma operação, mostra
137

139
uma nota final, que é tanto a explicitação da inconclusão da narrativa
escrita pelo punho de Gordon Pym como a notícia da reCUsade Poe ePl
continuá-Ia. E como sabemos que Gordon Pym é um autor suposto?Apenas devido ao fato de o nome de Edgar Allan Poe não ter sido efetiva
mente removido. E o nome de Poe, di-Io Gordon Pym, garante o estatutoficcÍonal de uma narrativa. .
Assim, lendo o prefácio depois de ter encontrado o nome de
Poe na capa, sabemos que Gordon Pym é, na verdade, uma invençãode Poe, que se apresenta como se não se apresentasse, deixando Gordon
Pym apresentar-se como Setivesse despedido Poe da tarefa de escrever orelato de suas viagens. Sabemos mais, é claro. Sabemos, desde logo, porque isso é válido para Poe como para Gordon Pym, que Poe se constituiautor ao assumir a responsabilidade da forma de apresentação da narra
tiva de Pym: a qual consiste, desde logo, na enunciação do título (quediz, recorde-se, que a narrativa é de Gordon Pym) e, depois, na passagemda palavra a Pym, para que apresente a narrativa de maneira tal que oque dela diz seja desmentido pela maneira como o diz e pelas condiçõesem que o diz. Sabemos também que é isso que transforma uma narra
tiva em romance: a possibilidade de lhe designar uma origem SingUlar_}
delimitando uma proveniência, definindo Uma paternidade e \lma propriedade -, de, a partir dessa origem, pressupor uma finalidade, numapalavra, a possibilidade de singularizar a destinação da narrativa recor
rendo a um nome próprio. E sabemos.> por isso, que um romance f)se!!!E!emais que uma narrativa. Exc~de-a desde o início, porgue o inau(guE a ficção que a apresenta destinando-a ao leitor c narrativ
singular de um autor singular. Decide-se nessa destinação o lugar oautor: e o autor suposto é, então, uma ficção com o inegável e apreciávelmérito de conduzir o leitor a interrogar o estatuto do autor, impedindo
que funcione com valor assumido. Por outras palavras, a figura do au-3
tor suposto constitui um procedimento que transporta a figura do autor .;fipara o interior da ficção sem o retirar totalmente do exterior da ficção:
torna-o visível nUma linha de fronteira que delimita o romance e exigedo leitor uma decisão interpretativa.
Retenhamos, depois disto e por agora, ao menos uma distinçãoelementar: tal como o romance não é simplesmente uma narrativa, o
autor supost~o é simplesmente ';m narra~emos começar ~a.------~-...-- -----'"
~
~cI"I..iT'.~!,:.;':-.;;
':~~..',.~~,~.-
~.
I:Pt.~~
:;~.:
:1..,~\,~.:}~
,i/'. .::~::ti~::~ .
138
Depois deste exposé, ver-se-álogo quanto do que segue reclama comoresultado da minha escrita; e perceber-se-átambém que nenhum fatofoi alterado nas poucas primeiras páginas escritaspelo sr.Poe. Mesmopara os leitoresque não as leramno Messcnger, é desnecessárioindicaronde acabaa parte dele e começaa minha: a diferença em matéria de
estilo percebe-seperfeitamente. (Poe, op. cit., p. 5.)
O Exposição exemplar do autor suposto: Gordon Pym acaba por .
dizer que, de certo ponto em diante, quem escreve não é Poe, mas ele,
Gordon Pym. O autor suposto despede o autor efetivo. Não espanta,
\ por isso, que a ficção se encerre incompleta, e que seja preciso um terceiro,,ª"gora anônimo, para, na seqüência da morte de Gordon Pym, escrever
que a autenticidade de uma narrativa ou se aceita ou se inculca, por ser. uma dimensão suplementar e não uma presença inerente e irremoYÍvel.
Compreende-se, então, que o que essencialmente se decide nesteprefácio é menos a autenticidade da narrativa do que a inscrição do'nome de autor, Ou, se se quiser, a estratégia de neutralização da inverossimilhança desenvolve-se através da diferença entre os nomes - o nome
de Poe e o nome do seu herói e autor suposto -, colocada como objetoda ficção que inaugura o romance. Gordon Pym não se constitui autor
.[suposto por ter vivido as aventuras que viveu, nem sequer por aparecer
como narrador dessas aventuras, mas apenas por assumir a paternidadeda narrativa e a responsabilidade da sua forma de apresentação: em seunome. Adquire assim um novo traço de identidade que nem a experiênciadas aventuras nem a narrativa lhe garantiam: torna-se aquele que escr~ve
para o público leitor o relato das aventpras que viveu, que quer que o
p~blico leitor saiba que ~oi_ele que, es~eveu o re1at~ da~ aventuras ~ueY1veu,reclamando a condlçao de ongér; ou causa prImeIra da narrativa,afirmando-se o garante da sua autenticidade. Origem e garante: é b quefaz de alguém um autor, mesmo que através da ficção, isto é, mesmo quesaibamos que a figura em causa não é origem e garante senão ficcionaImente. Mas, ainda que na ficção, a operação continua a mesma: ainscrição do nome próprio como assinatura do texto. É isso, de resto, quefaz do motivo do autor suposto um processo de escIareçimento romanescoda condição do autor. Só a partir desta operação - a assinatura - elepoderá dizer:

140 141
Sim, era o último dos sete cadernos, com a particularidade de ser omais grosso, mas não fazia parte do MemoriaJ, diário de lembranças
O "editor" anuncia deste módo urna falta decisiva, já que respeita ao próprio título do caderno, e ainda mais significativa quando sesabe da diferença que separava·o último caderno dos restantes seis:
Quando o conselheiro Aires faleceu, acharam-se-Ihe na secretáriasete cadernos manuscritos, rijamente encapados em papelão. Cadaum dos primeiros seis tinha o seu número de ordem, por algarismosromanos, 1, II, I1I, Iv, V, VI, escritos a tirita encarnada. O sétimotrazia este título: Último.
A razão desta designação especial não se compreendeu então nemdepois. (Oe; vaI. 1,p. 946.)
Uma "advertência" inicial, assumidamente da responsabilidadede um "editor", indica-nos que a narrativa que vamos ler foi de fatoescrita por um certo conselheiro Aires:
2
nome e na personagem, autor suposto e narrador serão sempre duasentidades estruturalmente inconfundíveis, já que este se coilStttul na
~ cantir uma expenêncÍa md1Vldual, enquanto aquele surge para,pela ficção, proclamar a narrativa dessa experiência romanescamenteinteressante. Assim, compreende-se que, no processo interminável do
fingimento, o autor suposto tem disponível a possibilidade perversa deapresentar a sua narrativa como se fosse a narrativa de outro: numa
palavra, a possibilidade de fazer com outro o que o autor efetivo fez
com ele. Resta saber, todavia, se esse processo não implica uma desfiguração irremediável do próprio autor suposto.
Vamos encontrar esses problemas num caso complexo de recurso
ao motivo do autor suposto - Esaú eJacó, de Machado de Assis -::..-Q.....
~t~_rá retomar QJ.~.!ren0Sl-ue-nosiuteressa,m:m~w~:a.p'~r-_ceber até que ponto o autor suposto arrasta, já por si, uma desfiguração
irremediá~l do auto~~----_· ------
lOquedistingue o romance de todas as outras formas de prosas contos de fada,lendas e mesmo novelas - é que nem procede da tradiçãooral nem a alimenta. Nissose distingue especialmenteda narrativa.
O narrador retira da experiênciap que ele conta: a sua própria expe-riênciaou a que lhe foi transmitid~.E o que eleconta toma-seexperiência para quem o ouve. O roma .Cistamantém-se distante. A ori em
do,.!.omanceé o indivíduo isola ~, que já ~lar exe~rmente sobre as suas preocu a ões mais importa ar ue não recebe conselhos nem sabe dá·los. creve! um romance significa fi rem ~ma vida-:tüdo o Quenão tem medida
~~enjamin, 1936, p. 201.)
o que daqui se pode retirar, para o que por agora nos interessa,é que a narrativa tradicional se transmitia numa modalidade de apresenta
ção que se mantinha intacta, de tal forma que proveniência e finalid~garantiam um sentido ao ato da narração: dar conselhos e ouvir conselhos,
90S termos de Benjamin. O romance-;em multiplicar as formas de apresentação com a ambição de definir, por seus próprios meios e como se
fosse a primeira vez, o sentido com que oferece a sua narrativa: singulariza a sua destinação e nesse processo, que dispensa um espaço própriono corpo do romance, podendo permanecer implícito, instala os seusnarradores. A diversidade romanesca dos narradores é, nesse sentido,
solidária ao projeto que retira o interesse do romance da vocação paracontar o que não tem medida comum (sem que isso signifique, como
teremos oportunidade de discutir a propósito de Brás Cubas, que essasingularização da experiência arraste necessariamente a perda da dimensãoexemplar da narrativa). Em conseqüência, ainda que coincidindo no
t
entender a diferença notando que a figura do autor suposto é especificamente romanesca, enquanto o mesmo obviamente não acontece com
*tonarrador. Encontramos em Walter Benjamin uma oposição do roman
ce à narrativa que situa o problema em te~s que ajudam a esclarecero que está aqui em causa. No famoso ensaio sobre o narrador - que é,- - --.:-----:.para ele, como se sabe, fundamentalmente o narrado r tradicional, ou
o::;QtadQ[ de histórias C!l2.azesde se transmitirem ~ tradiªo -, Be~jamin afirma que o aparecimento do romance é um dos fenômenos queconduz à morte da narrativa:

142 143
a uma enunciação em primeira pessoa e, simultaneamente, outro, onis
ciente, em 3a pessoa. As digressões e observações sobre o texto vão porconta do primeiro e a narração por conta do segundo" (Brayner, 1979,p. 80). Não se vê, no entanto, como sustentar semelhante partilha depapéis: o~e está o narrado r em "3a pe~soa"? E como conceber umnarrador que, afinal, não narra, apenas divaga e profere observações
sobre o texto? Eis um exemplo enf que não se pode deixar de seguir~&oth.-@ando assegura gue dizer de uma história que ela é-------_.,~...... - .....-.;.- ...•._,.,~
coplª,4~a..PJimeira ou na terceira. pess.o.a_nã~_~osconcede ~~_nhumí~ação inw,ortanre (cf. Booth, 1961b, p. 272), negligenclâii-diga-se de passagem, o fato de que, em rigor, não exist~arrativa senão
rlaPrimeira pessoa. Mas aqui, em Esaú eJaeó, que semelhança se pod-estabelecer entre o narrado r que diz "eu" e o narrador que diz "eu" em
QuinC3s Borba ou em Dom Casmurra Se aquele que diz "eu" em Do~m
Casmurro é o próprio Dom Casmurro, há tanta razão para pensar quaquele que diz "eu" em Esaú eJacó é o conselheiro Aires, como para Sepensar que o "eu" de Qpincas Borba é o próprio Machado de Assi .apenas a razão persistente mas insustentável, da forma mais grosseira,
ou mais ingênua, de identificação, a que leva o leitor a supor que é oautor quem fala sempre güe o romance não instala um narrador definido
por traços individualizadores. Assim, deveremos entender a presença do
conselheiro Aires de outra forma: em Esaú e lacó, o romance reprod~,
pela ficção cf!?.. autor suposto, o processo de constituição dQ narrad~~
útiÍizado em Qpincas Borba. Não há como poupar a leitura ao con-
fronto com uma dupla ficção: a que conta a história d;s dois gêmeos ~ ~~
de Flora, naturalmente, mas ainda, antes dessa e ao mesmo tempo que \essa, acomp'@hando-a, a ficção que apresenta o conselheuo Alres co~/romancist~.
- Ora, é justamente porque fures começa por aparecer na qualidadede romancista que o problema da relaçã'o entre o Memoriaf e a narrativa
se levanta e subsiste sem resolução: a escolha de um narrador que não se
identifica com Aire.s é o primeiro e mais importante indicador de que anarrativa se distingue dos primeiros seis cadernos - trata-se de uma .escolha do próprio fures, que se justifica por uma opção mais vasta,opção pelo romance, que, por sua vez, apenas o próprio Aires poderáapresentar. Ora, a opção pelo romance não é, nos termos da "adver-I
o,"
.~,
que o conselheiro escrevia desde muitos anos e erá a matéria dosseis. Não trazia a mesma .ordem de datas, com indicação da hora edo minuto, como usava neles. Era uma narrativa; e, posto figureaqui o próprio Aires, com o seu nome e título de conselho, e, poralusão, algumas aventuras, nem assim deixava de ser a-narrativaestranha à matéria dos seis cadernos. Úldmo por quê? (Ibidem.)
.,..:.~f
Assim, o Memoria/ e a narrativa são dois produtos distintos doengenho do conselheiro, mas, se nó primeiro o seu estatuto fica claro,no segundo as coisas complicam-se: não se sabe o que Aires pretendiacom ele, e fures está morto, nada pode esclarecer. Acresce uma dificuldade
suplementar: no corpo da narrativa, em momento algum fures aparecepara falar dela no seu todo, dizendo o sentido da composição ou o
destino que lhe projetava, coisa que, para um autor suposto, nada teria
de anormal, como já vimos com Gorfon Pym. Aires aparece, é certo,
mas bem diferentemente, figura co:ne! personagem: que mantém, paracúmulo, um "memorÍal", onde faztcliversas anotações, sem que oMemorial que compunha os seis primeiros cadernos abrigasse, por suavez e a fazer fé no "editor" (que o Memorial não está ainda publicado),
qualquer referência à narrativa. Em suma, o conselheiro Aires não é onarrador.
O narrador, este resulta de uma escolha que, em si mesma, sereconhece e aceita sem dificuldade de maior: fures simplesmente escolheuuma modalidade de narração que o afasta do lugar e da função de
narrador. Os problemas e os equívocos começi1m, porém, quando severifica que essa modalidade retórica consiste, afinal, no chamado "nar
"radar na primeira pessoa": um narrador que diz "eu", que trata o conselheiro Aires como um "ele", que divaga, comenta, interpela o leitor, em
suma, como diria Augusto M~er, um narrador em que parece estar~vo o espírito e o estilo de Brás Cubas. Ora, justamente porque nos
aparece ,um narrador que diz "eu" depois da "adVertência" que instituifures como autor suposto, se não se tiver presente a necessária distinçãoentre autor suposto e narrador, esta situação torna-se incompreensível,
\ ou gera equívocos, que podem macular o discurso crítico mais arguto. Éo que acontece, por exemplo, com .s-.ô.,~~ªBtawr, que sustenta a respeitode Esaú éJaeÓ". "QIanto a Bsaú .eJaeó, há mesmo um desdobramento
na flgura do narrador, um conselheiro Aires pseudo-autor, identificado

tência", questão ociosa, porque vários elementos concorrem para relacionar a narrativa com os seis ..cadernos anteriores: desde logo, a pre
sença de Aires como personagem, depois, o fato de essa personagemtambém manter um "memorial", mas principalmente o título Oltimo:
afinal. a própria questão da razão de ser do título, que ocupa o grossoda «advertência", resume-se ao problema da opção romanesca de Aires.
"Último" aparece remetendo para os seis cadernos anteriores, ou essaidéia é apenas sugerida pela circunstância ocasional de o caderno se
encontrar junto dos outros, caso em que o sentido de "último" se deveria. procurar exclusivamente na narrativa? Este conjunto de interrogações
incide sobre a unidade global da escrita do conselheiro e emerge exigindo·
as marcas da decisão de fures. Aires, porém, está morto,. nada podeacrescentar ao texto que deixou escrito: e o texto que deixou escrito,
para o. "editor", não. transmite qu~lqu"r decisãr' ~orque subsiste comonarratIva - e narrativa em que Aires e /Suposto nao ser autor.
,,~ " A primeira conseqüência dest~ situação está na impossibilidade&J\V de, em nome do conselheiro Aires, equacionar a relação entre os setecadernos, ou seja, a impossibilidade de estabelecer a relação entre osdois tipos de cadernos fundada no nome próprio do seu autor. Mas anarrativa tem, mesmo nas circunstâncias descritas, a possibilidade de
construir, por seus próprios meios, a figura do seu destinador, de selibertar da relação com os outrOs textos assinados por Aires, adquirindo,em suma, uma existência autônoma, que é, como se compreende, o que
justifica a sua plJblicação separada do Memorial Daí que apenas a narrativa se publique, e daí que o título seja alterado. Assim, poder-se-á
defender que o sentido da opção romanesca do pseudo-romancista se dáa ler ao longo da narrativa, e provavelmente não temos outro caminho,
se qu.isermos compreender o alcance estratégico da sua instalação comoautor suposto: só que, e nisso reside o aspecto crucial para o que agora
nos interessa, qualquer decisão nesse campo pertence à esfera de riscodo leitor, que em momento algum encontra quem quer que lha legitime.Falta precisamente uma instância legitimadora, que apareça perante oleitor com autoridade para dizer o sentido da forma com que se apresenta a narrativa: mas falta calculadamente, ou melhor, essa instância
legitimadora está delimitada - é o conselheiro Aires enquantoromancista -. mas delimitada pela "advertência" como instância em falta.
144
Ignora-se, porém, até onde vai essa falta. porque a escolha de um títulodiferente, em conjunção com a natureza do escrito, sugere que a narrativa está disponível para uma situação de autonomia relativamente aosrestantes cadernos. Tudo se passa como se fures tivesse abandonado anarrativa à sua sorte, qu como se a morte de A1resviesse deixar a narra-
tiva abandonada à sua sorte. Empiricamente morto, na qualidade de,J/h~es está estruturalmente morto na qualidade de romancist~,;9Ç!
e esta última condição permaneceria mesmo gue se descobrisse qu~,Jafinal, não tinha morrido, mas apenas mudara de identidafk..adotand<0o pseudônimo Machado de Assis. Fosse por decisão, fosse por acaso, a
-- """? --
m~ fures deixou a narrativa entregue a si mesma, isto é, disponívelpara se tornar diferente de si mesma.I
- Mas, nos termos da "advertência", não é possível ultrapassar
essa figura de Aires morto: é o seu legado que persiste por interpretar.Percebe-se a dificuldade na posição do "editor"; não tem outro caminho
senão publicar a narrativa legitimada por uma opção que não podefundar em fures. Com a "advertência", reapresenta a narrativa. A "advertência", porém, funciona como suplemento que recusa graduar-se emcomplemento: longe de se organizar para suprir plenamente a faltaoriginal, não renuncia ao risco de a sublinhar, delimitando com clareza
o espaço da falha. Altera o título, mas dá notícia do enigmático título.original; liberta a narrativa da origem chamada Aires, mas, pela mesmíssima operação, preserva-a, designando Airescomo origem material
do escrito, origem irremovíve1 e, aO mesmo tempo, inacessível, incapaz, .
portanto, de funcionar como garante do texto. Numa palavra, o "edi-1tor" sublinha que Aires assinou de fato a sua 'narrativa no preciso mo-)mento em que inscreveu o título Último. Daí que a procura do sentidoda opção romanesca de fures se apresente como forma de delimitar osentido com que o nome de Aires aparece a assinar a narrativa: serásempre a opção romanesca de Aires, nunca a do "editor"> mas será sempre
também uma opção construída pelo leitor e atribuída a Aires pelo próprio processo da construção - sem garantia ou sequer probabilidade
de coincidência harmoniosa com a presumível opção de Aires. Não há
lugar para a figura do "autor implicado", nos termos em que a defineBooth, porque está vedado, desde a origem, o caminho para o que Booth
chama "a leitura ideal" (cE Booth, 19613, p. 153). Verifica-seuma inversão
145

do processo de autorização, porque agora é a necessidade de singularizar a destinação da narrativa que obriga a reconfigurar o nome deAires: e então, Aires, ao abandonar a narrativa à sua sorte ou ao ser
obrigado pela morte a abandonar a narrativa à sua sorte, abandonou defato o seu nome, entregando-o aos acidentes de uma destinação inde
terminada. Abandono, de resto, tão irremediável como anômalo, porqueó nome de Aires, sem deixar de designar a sua presença no texto, fica
disponível para receber as figurações construídas pelo leitor, constituindo-se conjunto aberto de possibilidades que a origem não permite controlar. E é esse ° preço que Aires paga voluntária ou involuntariamente
pela inscrição do seu nome próprio enquanto nome de autor. o sentidodo seu nome dependerá sempre da leitura do texto que assina. Se se quiser,
adotando uma formulação que poderá ter alguma utilidade nas próximas
páginas, o seu nome designa~á, :~quant~ no~e de autor, um morto e oseu legado, sem assegurar a viabIlIdade de acesso entre um e outro: bem
diferentemente, opera a disjunção que o) separa do mesmo passo que osmantém unidos. .
3
Alinhemos agora três tipos de considerações que nos permitirãodelimitar os traços decisivos do procedimento do autor suposto, con·firmando e completando o que já concluíramos através do exemplo
de Gordon Pym.
a) A indicação do nome próprio do autor realiza a função deci
siva na delimitação do respectivo estatuto: a assinatura. Ora a assinatura
tem eficácia paradoxal: por um lado, o nome de autor designa umaorigem, anterior ao texto e idêntica a si própria - e nessa medida institui
a responsabilidade de destinação da narrativa como responsabilidadeirremovíve1 e intransmissível; por outro lado e na mesma operação, onome de autor, ao inscrever-se como garante da unidade e da singulari
dade ~o texto, é afetado por uma potencialidade de sentido, assumesignificações que a origem não pode calcular e tampouco controlar - enessa medida define a responsabilidade de destinação da narrativa como
146
;,:fu"'
,~~,
'):" ..
~'~>,~~:~..,;: .
.;.
.t. ,;~~;~;:\1.:",I},~(;.
.'~~~l'::".,,:?~)~l~é:
..,''@',
;;1;·.t~l\/,:.;~.
"'Nt~11;~
responsabilidade que se reconfigura para responder ao apelo do leitorcomo se respondesse desde sempre. Assim, não há autor sem assinaturáque imponha a presença do autor, mas o texto assinado separa o nomepróprio do portador, perturba-lhe a referência, de modo que a marca depresença do autor é, ao mesmo tempo, a força que o torna ausente.
Então, se o autor não aparece para, expressamente, reinscrevendoo seu nome, assumir e declarar que assume a responsabilidade de destinar
a narrativa - como era o caso de Gordon Pym -, a simples presença daassinatura cumpre essa função. A responsabilidade de autor é, por isso,rigorosamente intransmissivel, e dai que a única forma viável de transmissão seja a que justamente nega a transferência: a apropriação, figuragêmea da atribuição, já que uma e outra se fundam na possibilidade de
o nome de autor funcionar como nome de autor na ausência do portadordo nome e na ignorância ou na ocultação das intenções, dos projetos oudas determinações com que o inscreveu no limiar do texto. E daí, sobretudo, que a indicação pelo outro do nome de autor seja ainda umaforma de assinatura, porque realiza a mesma função que a indicaçãovoluntária: no fundo, a operação de atribuição funda-se na idéia de queo texto atribuído tem em si as marcas da assinatura do autor, repondolhe o nome no lugar convencional como se de lá tivesse sido removidopor acidente. Mas, qualquer que seja a natureza do acidente - nestecaso, a morte de Aires -, o processo está invertido, parte-se do texto parao nome, porque este inscreveu-se disponível para s,e,configurar em resposta a uma leitura do texto.
Neste ponto, não se seguir Genette quando sustenta que o
fato de "o destiDª®I= _~e...ge autor não ser necessariamente o próprio autoó~m . ~. tm a indicação de nome de autor
da assinatur.~_ cf. Genette, 1987, p. 46). D fato, O nome de autor podeser inscritp pel '- --.,----.' . co e ISSO bom exemplo, posto Genette
não o cite: mas exemplo que nos ensina que, ainda que ins-crito pelo editor, o nome próprio enquanto nome de ,autor responsabi·
liza sempre o autor, e, neste caso, o autor está disponível para ser res
ponsabilizado désde o momento em que inscreveu um título. A assinatura realiza um ato performativo ao fornecer ao leitor um nome próprio capaz de designar a singularidade de uma destinação, e só cumpre
essa função se, como insiste Derrida (cE Derrida, 1971b, pp. 390-92),
147

149
paço que está no liIIl;iar'dos textos, parando o interior do exterioI:,.. _fazendo fronteira, criando uma moldu tecto-urrrÔbJcto
abordável, porque delimitado. A assinatura inscreve-se aí, e por isso nãoé nem simplesmente interior ao texto assinado, nem simplesmente exterior: em qualquer dos casos, valeria apenas como simples indicação denome próprio, incapaz de realizar os efeitos específicos do ato de assinar, porque a assinatura, inscrevendo um nome próprio, é sempre maisque um nome próprio.
Aires, como vimos, aparece com um estatuto duplo em Esaú e IJacó. enquanto personagem, o seu nome pertence ao interior da na'itãfiVã;,/}
~antoal,!!gr sUP~~J:!!:t"?~9J::xt<;~~~~da na . a "advertência" do "editor'~. O nome da personagem não
1:;. --
chega para o i en Icar como autor, tendo presente que nem sequercoincide com o narrador; mas a inscrição do nome enquanto nome de
autor não fica simplesmente de fora, porque, desde a "advertência", onome de Aires adquire uma duplicidade que não teria sem o processo
da atribuição._~glmJjçida~ gue permit~Jlor ~)Ç~IDQL<?-,_a!~i~r? citadade Sônia Brayner, que aponta UI!!~_5:!i.YÊ~Q,.Q.,a.fjg!lr.a.90. narrador,
-impensável sem a.~1!.~!9E()AQ_P:C?!l:l~,_deautor na "adv~rtêQQ,ª"._e..~~r:n. queessã-íilcIlcãÇãc;se estend~$.~.?:9_纺j!ll.1t~ cl:anan:~~v~.}\l1as,.ao.mesmo
te~po, como ler o texto sem assumir que Aires-Rersona~em não.éAires--'ãutõf; mas umãconstrUaõ-dê-Aí'res-ai:tt~r( É impossível confundi-l os,
poFcausa d~linha que' d~marca o '~;lor de um e o valor de outro: a"advertência" cria um espaço próprio para a assinatura, instituindo umafronteira para além da qual o nome "Aires" se repete permitindo o reconhecimento do conselheiro mas tomando-o diferente. Assim, o sentido do
nome de Aires-personagem depende do aparecimento do nome "Aires"como nome de autor, e este, por sua vez, fica determinado pelo aparecimento do nome uAires" como personagem ..Des~~,m-ºçlo, a ficção, ao
jogar com a iterabilidadedo nome próprio, expõe a nature;~legisladoradessaíronteirnlue-ôel1mít;'·à,- unidiâe- e' a~horfi.ogehêÍdadé·ôa-riâirÚíva-. ".
----j'i·'ti~~~;s-ri;o ci;~omepróp-iio' sêrécóiífígurã-p;r;;~p~n-der ao apelo do leitor. Agora, podemos verificar como a fronteira delimitada pela "advertência" radicaliza esse efeito: quer como autor, quercomo personagem, o nome "Aires" desligou-se de vez do indivíduo
chamado Aires, que usava o título de conselheiro e deixou sete cadernos
148
( b) O nome próprio do autor marca a responsabilidade indivi'-~ dual de destinação da narrativa na condição de se inscrever num espaço
~1"ÓPriO. Éesse espaço próprio e a sua natureza especial que Derrida teminterrogado nos trabalhos sobre o parergon (cf., em especial, Derrida,
978a), e que Genette, com outra orientação, chama paratexta. um es-
puder desligar-se de uma intenção presente e singular, porque é dessa0i forma paradoxal que a ligação à origem se efetua e se preserva. A verdade
é que Genette trata as modalidades de indicação do nome de autor no
t L \ que chama "peritexto editorial" sem interrogar o estatuto dos nomes)t ") próprios e, em particular, sem levar em conta o efeito que a indicaçãodo nome produz sobré o próprio autor: justamente porque apenas considera o processo num único sentido, isto é, como fonte de autoridade
e designa~m consciente e voluntária. Num ensaio bemanterior, iÔ1elFouca já notara que o nome próprio de um autor"não é propriamente um nome próprio entre outros" (ef. Foucault,
<~') 1969~, p. ~e os trabalhos de Derrida sobre a assinatu.ra (cf., em:r ) espeC1al,(í5é~ 1971b, 1984b) mostraram que esse funcIOnamentoanômalo~e próprio é afinal a sua condição de possibilidade. Em
particular, no que respeita à literatura e à formação da noção de literatura
mo noção moderna, a assinatura tem~éfeito de performativo jurídico,não apenas no sentido em que o ordenarpento institucional da literaturadela depende, mas ainda porque o texto assinado legisla, estabeleée uma
~mpõe a si próprio e a quem o lê (sobre isto, veja-se,em particular,
/ Derrida~ -SSlmse compreende que a narrativa de Aires se possa publicar
libertada da presença de Aires. E assim se compreende, em especial, que,
\ tal como aconteceria se Aires publicasse a narrativa por sua iniciativa,., , \ e tal como acontece com Machado de Assis ao interpor Aires como
,.·:r~ ) autor suposto, a assinatura possa valer por si própria, sobrepor-se a'. < qualquer intenção e a qualquer projeto, sem deixar de singularizar uma
UdeStinaçãO.Por isso a assinatura se impõe, e o leitor a exige: e por isso a
. literatura resiste à imposição e trapaceia a exigência. O motivo do autor
suposto é uma das armas da resistência e um dos artifícios da trapaça:expõe a condição do autor como origem e garante de um texto para lhe
paralisar o fu,nclonamento. " ,

na secretária quando morreu, e, ao desligar-se, dividiu-se. Já não é onome que, por si só, assegura a estabilidade de uma designação, são osespaços espeáficos em que o nome ocorre que lhe perturbam a referência,
dividindo-a numa dupla referência problemática: será ix:opossívelencarar
Aires-Eersonagem esquecendo Aires-autor, mas se~ente impo;__ -....:::L
síve1confundi-Ias. .-- .
i Claro que se pg.deci...supo-t-que-.Â:if€s--prmonagemRão passa.4.e..-.~!DP-º-rta-y-º~çllL.d.e....UlD....,y!.~L(ó'@..4LA-ir.es:autor: mas, então, por que
razão fures compõe a narrativa de que é autor figurando nela como senão fosse autor? O problema da distância de Aires a Aires permaneceráinsuperável. Para apreender a narrativa como totalidade unificada queuma dada instância nos destina; é preciso que O nome de fures se dividae depois se reunifique, designando a singularidade dessa destinação: é
preciso reconhecer que ocorre já afetaqo pela divisão, prometendo a
. / possibilidad~ de reun~ficação e, mais .c\d,q~e isso, exigindo-a.'b . O leitor estara sempre, do pfln~lpIo ao fim, a procurar respon
\ der à questão: de que(m) falamos quando falamos do conselheiro fures?\ Mas não encontrará, no interior da ficção, uma voz autorizada que
~ defina ~ distà:ncia e~tre Aires-autor e Aire~-personagem: daí ~~e tenda. a( procura-Ia no exterIOr da ficção, em maIS um nome, que Ja apareCIa\ __antes: Machado de AssÍs.
/ cl.)1 de fato,..Q. romllpq:. arrasta..uma. 9.A!;ra obrigago E,araguemi lê: não esquecer ~e o seu._~).ltoré,_atiº-ªl~Machado de Assis. Obrigação de
~ta1''ffiodo7o;te-que:à-~ua custa, se tende a~quecer uma outra, não menos
( coerciva: a de pressupor que Machado de Assis não fala senão para instalar! Aires como autor suposto, ficando, nessa medida, colocado no exterior
/ da narrativa. São duas obrigações que já encontramos no jogo com o
: nome próprio e a assinatura de Aires e que sabemos inseparáveis, porque~~. resultam uma e outra da capacidade legisladora da assinatura.
Desta forma, a assinatura de Machado, presente ainda antes da
"advertência", que, aliás, se lhe atribui demasiado depressa, indica-nosque todo o jogo com o nome próprio e a assinatura de Aires constitui oacontecimento inaugural do romance - trata-se de ficção -, mas indica
nos sobretudo que apenas o nome de Machado nos permite designarEsaú eJaeó como romance que se destina enquanto totalidade unificada.
150
,j,'
Aqui chegados e antes de prosseguir, podemos estabelecer umaconclusão decisiva sobre o traço distintivo do autor suposto: o motivo
do autor suposto consiste na exposição ficcional do própn~'&a-;.nnatuliiãe7nífõi. Re roduz a fronteira ~
.---~J:~o, e nessa medida legisla inapelavelmente s·~bre ~ t~"a
atribuído; mas reprodu-Ia no Ínterior da ficção, e nessa medida sofre,
por sua vez, a ação legisladora de uma outra assinatura que necessa
riamente se apresentou antes da assinatura ficcionaI. Assim, não haveráautor suposto sem essa peculiar ficção em que alguém se apresenta assinando um texto e dizendo que o assina depois de uma outra assinatura
se ter proposto à leitura ..E será preciso ter em conta este traço, se se
....9uiser distinguir o autor supo~_toda figuras uito mais freqüentes, aenarradores dramatizados, ou das formas diversas de ocultação o nome
. próprio de autor, comO-a-ps0~deflí~~~as...lõrmas...roiiii?1ex:as-cte
dispersão do autrl.r...f.omo a hetero~a. O motivo do autor sup~t~enfim, nem oculta o autor efetivo, nem anula a ficção de autor: eleassenta na diferença entre dois autores, ou seja, na diferença entre duasassinaturas inscritas num texto úníco.
Assim, se não há autor suposto sem uma fronteira ficcional que o
instale, criando a diferença que o apresenta enquanto construção da responsabilidade de outro e, em conseqüência, gerando as condições para /
que o leitor nele reconheça uma figura ficcional, percebe-se que as exPlica-(ções convencionais do motivo que o relacionam com o problema da
verossimilhança do discurso romanesco se quedam à margem do mais 7importante (o que, aliás, se verificaria facilmente, tendo em conta a \
fecundidade que ainda apresenta e a sua utilização de forma tão inve~ossímil)como a que vamos encontrar em Memórias póstumas de Brás Cubas). O
decisivo está no jogo com a própria noção de autor. Çriando ~çõespara o reconhecimento do autor suposto como figura ficcional, o rn..Qtlvol:emuriu;I~!Eõ.':.Qereversã<T,-ftfetand'O-a-êonaiçao-cropropr;:õ;;t~r efetivo:
c~o do au~tem ãpo;si61iid~dedé,-pela ficÇi;~~~i;~-~processo de constituição de um autor, o estatuto da sua presença no texto
que assina e a natureza da relação que mantém com o seu nome próprio,porque coloca em cena a posição do próprio autor efetivo. Coloca emcena, quer dizer: toma-o objeto de interrogação. Mas uma interrogação
incessante, que não encontrará, em rigor, obstáculo que a sustenha: o que
151

,,'.:t,"
a respeito da psicologia da invençâo ou da descoberta, portanto nenhumajasserção sobre a presumível intenção do autor, mas a singularidade da
resolução de um problema» (cf. Ricceur, 1985, p. 235), e é essa resoluçãode um problema que configura o "autor implicado": a singularidade de
um problema recebe um nome próprio, o· do autor. Mas, a partir domomento em que faz entrar em cena o nome próprio, a aproximação de
Ricceur representa um verdadeiro afastamento, que, aliás, revela um pon-to frágil da noção de Booth: o nome próprio já não designa um homemreal construindo uma "versão superior de si mesmo", como o entendia
Booth, mas apenas essa "versão." construída pejo leitor, perdendo-se o
termo de comparação com o homem real. Numa palavra, a leitura apropria-se do nome próprio, sem saber que se apropria: assume o texto
como fruto da escolha de alguém, não como existência autônoma, mas,se o texto não estivesse dotado de autonomia que lhe confere a assinatura,não seria possível configurar um "autor implicado". A menção do nomepróprio do autor para designar o "autor implicado" tem justamente o
efeito paradoxal que já conhecemos: marca não a presença, mas a ausên-
cia do homem real, do autor efetivo, ou o que se lhe queira chamar. A
ausência, isto é, a sua perda definitiva: a impossibilidade de, a partir dasua identidade ou da sua escolha enquanto romancista, estabelecer osentido da destinação do romanCe.
O afastamento operado por Ricceur, além da mais, apresentaainda um outro momento, não merios importante: é que o "autor implicado" designado pelo nome próprio do autor real estende-se aa conjuntoda obra de autar, operação de modo algum autorizada pela noção deBooth, que entende cada obra como uma versão diferente do autar, ou
seja, cada obra constrói o seu "autor implicado" (cf. Booth, 1961 b, p. 89).
Enquanto o "autor implicado" constitui uma categoria retórica dependente da autonamia de cada texto de ficção, o nome próprio é tambémprincípio de unificação e de homogeneização de um conjunto de textos.
Verifica-se, então,. que o caráter incontornável da assinatura se traduz,numa circularidade: cada obra é dotada de autonomia para gerar imagens
de "autor implicado", mas toda a obra derronta, ao mesr'Ío tempo, ima
gens já constituídas de "autor implicado", que inape1avelmentese importamde outras obras do mesmo autor. O que perturba a autonomia de um
teXto singular não é a categoria do "autor implicado", mas a autonomia
153
li.~'..~~~
:i'~\'.~ ~,
!.~:I
152
implica que colocar em cena é um modQ de colocar em causa, de tomar
irrecuperável a estabilidade do autor c:fetivo.Adotando, para o que aquinos interessa, uma caracterização de Eduardo Prado Coelho a respeito dePessoa, diremos que a instalação do autor suposto e.p.gendra"um processo
generalizado de Iicdonalização que não tem regresso viável, e, por issomesmo, a identidade supostamente real só é recuperável em termos deuma identidade também ela fictícia" Coelho, 1987, .47. Está aí
~~~-ºJ:~diQl~vo...dº-autor suposto: nfuLapen~strói a ficção_~~J1tol:,_cº.m9"transforma o autor real - -
O que está aqui em causa é muito simplesmente a necessidade de
reconhecer que a fronteira ficcional que instala o autor suposto nem porisso se deve entender como fronteira fictícia, porque a nossa leitura nãodispõe de liberdade para proceder como se lá não estivesse. Considerandoainda a "advertência" de Esaú eJacó, cclmpreende-se que essa fronteira
realmente atua: de outro modo, nunca\.saberlamos quem é, ao certo, Oautor efetivo do romance, no estrito sen~do em que nunca saberíamos seBsaú eJacó deveria ou não integrar-se na obra completa de Machado. E é
por essa mesma razão que o nome de Machado pode aparecer como oúnico capaz de designar a destinação do romance enquanto totalidade
unificada. Não há, então, uma única leitura do romance que não assuma,implícita ou explicitamente, o valor efetivo dessa divisão. Importa, no
entanto, assumi-Io para além do ponto suportado pela necessidade deencIausurar o nome de Machado numa significação cristalizada, porque ainformação do nome do destinador não diz, de imediato, o sentido dadestinação. Niss'o reside, aliás, um dos traços da escrita literária: o nome
abandonado a um não-saber; apelando a um. leitor que lhe respeite a
singularidade, designadamente a singularidade com que se abandona aosacasos de uma destinação incerta. Aí, o que se lança ao leitor é c sentido
da destinação enquanto problema c~cial da leitura: sentido que, entretanto, o leitor nã.o pode designar senão pelo nome próprio de autor. E é
por eSSarazão que o nome, de uma forma essencial e constitutiva, ficaabal1donado à !õuasorte.
~ Encontramos uma versão deste problema na abordagem da
noção do "autor implicado" por Paul Ricceur. Aproximando a noçãode Booth da noção de estilo de G. Granger, Ricceur defende que "no
mear uma obra pelo nome do seu autor não implica nenhuma conjeetura

de outros textos portadores da mesma assinatura, ou, se se quiser, todoo texto vive a sua, autonomia em tensão, obrigado, por um lado, a
impor a sua singularidade no interior de um conjunto e forçado, poroutro, a cumprir as características que fazem a singularidade do conjun
to. Assim, o texto singular é ao mesmo tempo menor e maior que o
conjunto que integra. O motivo do autor suposto joga, também aqui,
um papel muito especial: a fronteira ficcional que o constitui não selimita a demarcar um interior da ficção, demarca também esse interior
de um exterior já delimitado, isto é, o exterior formado pelo conjuntodas obras do mesmo autor efetivo. Assim, funcionando como fronteira
ficcional, mas não como fronteira fictícia, o motivo do autor suposto
vem pôr em cena e em causa a unidade e ahomogeneidade do conjuntoda obra do romancista que a ele recorra com maior ou menor freqüência,
porque será sempre preciso mostrar q~e a obra singular atribuída aoautor suposto é um dos elementos do cotljunto e não um outro conjunto
dotado de autonomia própria. Nisso s~ joga, assim, todo o peso e todoo valor de uma assinatura: na inscrição de outra que a excede.
4
Não é outra coisa o que se passa com Esaú eJacó.
Se retomarmos o que atrás verificamos, compreendemos que aassinatura de Machado de Assis se constitui dupla garantia: de que
a questão "de que(m) falamos quando falamos do conselheiro fures?",
encontrará uma resposta viável; de que essa resposta se converterá em
resposta a uma outra questão, já nossa conhecida: "de que(m) falamos
quando falamos de Machado de Assi.s?"Mas tais garantias são concedidas
ao leitor pelo mesmo processo que as subverte; porque a criação de umafronteira ficcional no interior da ficção obriga a urna reciprocidade
irremovível: o autor suposto exige a autorização do autor efetivo, ou não
haverá lugar para a reunificação do seu nome dividido, mas o autor efetivo,
ar sua vez, apenas se configura através do autor suposto. O romance
com autor suposto destina-se enquanto totalidade unificada ao lançar ao
leitor o problema da sua apreensão enquanto totalidade unifícada, ou, se
se quiser, a assinatura de Machado apresenta-se para colocar ao leitor o
l'i4
>"
{:
problema da presença de Machado enquanto autor efetivo do romance,
ou ainda, o problema .da diferença que o separa de Aires, autor suposto.
!:!m problema eseedfico da escritaJ,ºrnan~ca g~~~. impõe E_um duploco~strangimento: "não es~cer~3ue escrevi tudo isto, não e~q~ec~r~~
,-~~bém que nada disto foi escritop~~·z)i;~';" Não 'exisf~qualCtüer'-m:elO··
de ~~'péfàrêsta-'aupiã lnte~dição: 'senão recusando, à partida, conduzir aolimite as conseqüê'ncias do recurso ao autor suposto. Assim, ao cabo e ao
resto, Machado aparece perante o leitor tão morto quanto o conselheiro
fures: um e outro nos destinam ficções dotadas de capacidade para sesepararem da origem, um e outro abandonam os respectivos nOmes à sua
sorte. Isto não significa que o romance se tome ilegível, que seja impossí
vel estabelecer uma leitura capaz de equacionar a diferença que separaAires de Machado: significa, sim, e é o fundamental, que o romance seorganiza recusando constituir-se instrumento de decidibilidade da leitura,
e que resistirá sempre a todas as respostas às perguntas "de que(m) falamos
quando falamos do conselheiro fures?" e "de que(m) falamos quandofalamos de Machado de Assis?"
Acresce o outro valor efetivo da fronteira ficcional: separa anarrativa de Aires do exterior formado peI~s outras obras de Machado
de Assis, e, dessa forma, coloca em causa a relação de Esaú eJaeó com oconjunto romanesco rnachadiano. Desde logo, e em um nível de elementarevidência, não é possível assumir simplesmente que o conselheiro Aires é
mais uma versão de Brás Cubas, ou de Dom Casmurro: o que implica quenão é possível assumir simplesmente Aires como mais urna versão de
Machado. Mas é preciso aceitar q1J~ ~ ~ni~ade da obra de Machado sedefine pela pluralidade desses:autores supo~t6s:.~,éa rede de diferenças
que separam entre si fures, BrãS--Cuoás e DóíüCasmurro que permiteaceder a urna unidade que se possa designar com o nome de Machado
de Assis. Por outras palavras, a instalação de um autor SUP()sto,na modalidade que encontramos em Esaú eJaeó, constitui um traço distintivo da
assinatura de Machado depois de Memórias póstumas de Brás Cubas.
E assÍm se compreende como surge o problema de Augusto Meyer, quepudemos comentar no capítulo anterior. Cada autor suposto ameaça
exceder o autor efetivo, justamente porque todo o autor suposto configura
o autor efetivo, precisando dele, ao mesmo tempo, para se configurar.
Não se trata de repor o velho lugar-çomum do criador dominado pelas
1'\"

·i
\
\\
-.."
...•. ~.
cri~turas, mas de subli~ar que"nesta forma específica de· ass·inatura, aum~ade e a homogen~ldade da obra assinada por Machado estão, desdea ongem, ~arcadas pelo problema da sua unidade e da sua homogenei~ade. Ou.amda, a obra romanesca mach~diana destina-se enquanto tota
hda~e ulllfi~da ao legar ao leitor o problema da sua destinação enquanto
total~d~deumficada. A concepção do pessimismo é apenas uma das formaspoSSIveISde resolução do problema, nem sequer a única capaz de estabilizaro nome de Machado numa referência que funcione como centro de gravi
dade do discurso crítico: trata-se de uma solução'que se autoriza na tradiçãoe se fortalece com a peculiar sedução daquele pnnápio de desmascaramento
"digno de confiança" de que falamos no caPítulo anterior (no próximocapítulo, entretanto, veremos outra razão para o privilégio da concepção
do pessimismo). No entanto, será impossível ignorar a sólida resistên
cia que os autores supostos de MachJcio vão oferecendo: por muito
grande que se apresente a convicçãot\iunfante, o autor suposto insiste - e nessa insistência pode encontrar-~e sempre um pequeno ponto em
que a resistência se contornou ilusoriamente.í Encontramos um bom exemplo destas dificuldades num estudode E;tgê~io ..Ç2mes, "O.....testamento estético de M~chado de Assi~, um/ dos momentos fundamentais da tradição critica machadiana. O objetivo
\ de Eugênio Gomes consiste na demonstração da unidade de uma "tetralogia\ romanesca" de Machado, que se iniciaria em Memórias póstumas de Brás
\ Cubas e teria em Esaú eJacó o momento terminal. O estudo ineide, por
isso, neste último romance e, como não podia deixar de ser, debate-se
com a figura do conselheiro fures. A este respeito, a tese de EugênioGomes parece enquadrar-se pacificamente na tradição: o conselheiroseria um alter ego de Machado. Mas um alter ego particular, justamen
te aquele que lhe. permite defender que toda a obra romanesca de Machado, do Brás Cubas em diante, se entende como tetraLogia que obedece
a um "principio metafisico", o qual se encontra, segundo Eugênio Gomes,na filosofia de Schopenhauer: «Embora houvesse procurado retrair-se asubordinar as suas criações a determinada tese. a verdade é que Machado
de Assis, em seus quatro principais romances, mantém-se fiel àquele
pensamento [de Schopenhauer], e outro não haveria de ser o 'pensa-mento interior e único' que presidiu à elaboração de baú eJacô' (Go-
mes, 1958c, p. 1.116).
156
~:
o que é e donde vem esse "pensamento interior e único"? Trata
se de uma expressão que encontramos na "advertência" de baú eJacó:
a cJ.adopasso, o "editor" afirma que o conselheiro Aires escreveu a narrativa com "um pensamento interior e único". Ora, essa expressão vaiser o centro da gravidade do e es, que procurarásaber em que consiste esse ensamento interior e únic " convencido
de que, uma vez encontrado, o.po erá atribuir 'sem mais a Machado.
Todo o ensaio ficaria preju9icado se o ensaísta não assumisse, sem qual
quer demonstração em apoio, que o "pensamento interior e único" é o
pensamento do próprio Machado e o pensamentQ que subordina ;;organiza toda a ficção de Machado. E di-Io logo de entrada: "o 'pensamento interior e único\ que presidiu à elaboração de Esaú e Jacó'
(idem, op. cit., p. 1.099); ou mais claramente, atribuindo-o a Machado:"por trás desse conflito psicológico (a oposição entre os caracteres dos
dois gêmeosl ~tá o pensameIito do aU!QL_.º.~~m~nto interior e
único', que ele atribuiu ao Conselheiro Air~" (idem, op. cit., p. 1.101).Nestes termos, mesmo que aceitemos, deixando sem discussão, que afigura do conselheiro Aires é claramente um a/ter ego de Machado, queo confronto entre lS gemeos a O mais angustiante teste
munho daquela or de viver' que Scho enhauer diagnosticou tão bem
através da sua doutrina filosófica" (idem, op, cit., p. 1.112) e que tudoisso contribui para delimitar o conteúdo do tal "pensamento interior e, . ') _ '" . " . ~ . J'.,,.
UntCO,~.~.?se ve como assumIr gue esse pensamento mtenor e UfilCOdeva ser atribuído a Machado nos termos em que Eugênio Gomes o
.atribui, isto é, como sentido global da destinação dos quatro roman"CeS
que formam-;'"~t~~rõg}a" cfUiye-fáfà o ensáí:5.!A:DeIãtõ:-flcãrá semprepor demonstrar a natUreza da relação de Machado enquanto autor efetivo
com o "pensamento interior e único" que o "editor" anuncia na narrativade Aires e, a partjr do momento em que essa questão se coloca, a generalização ao conjunto dos quatro romances ficará seriamente afetada. °ensaio de Eugênio Gomes acaba por mostrar, afinal, que a dificuldade
maior não está em estabelecer qual seja o dito «pensamento interior e
único", mas em assegurar uma relação estável que o ligue a uma origemchamada Machado de ASSIS. É o ponto em que se colocam algumasperguntas CÍnicas ou ingênuas, consoante o gosto: se esse "pensamento
interior e único" se apresenta como "pensamento interior e único" do
157

lr
159
nos termos estabelecidos por Eugênio Gomes, a resposta à segundaresulta numa nova.questão: não pura e simplesmente a transferênciâ
do "pensamento interior e único" para Machado, mas a questão doefeito romanesco da invenção de um autor suposto que escreve umanarrativa dotada de um "pensamento interior e único".
Não custa verificar que o alcance dessa questão, apesar de tudo, .foi entendido por Eugênio Gomes. Em primeiro lugar, está em causauma concepção de romance que 'recusa subordiná-lo "a uma determi
nada tese". Atendendo ao processo de instalação do· autor suposto em
Bsaú eJacó, não há viabilidade de definir um sentido para a destinaçãomachadiana do romance que não passe por uma concepção de romance;em termos rápidos, a concepção que recusa ao discurso romanesco a
capacidade e a vocação para transmitir ou ilustrar concepções do mundo. De outro modo, e visto que aí o ensaio de Eugênio Gomes coloca osproblemas, no nível de "um ponto de vista intelectual sobre a vida e o
destino", não se compreenderia todo o processo' de fingimento queneutraliza o mecanismo da atribuição e deixa o leitor num não-saber
irremovível: ninguém lhe diz em que consiste a concepção do mundode Aires, que idéia dela fazia o "editor", ninguém lhe diz sequer seMachado procurou, com o romance, transmiti-Ia, criticá-Ia, relativizá
Ia ou parodiá-Ia. Machado obriga o leitor a pensar a natureza do dis
curso romanesco ao recu!;ar-Ihe, desde o início, trânsito fácil no caminho que liga o divertimento romanesco a uma concepção do mundo
ou a uma plural idade de concepções do mundo. Mas, pór outro lado,
dificultando o trânsito, não nega a existência do caminho: bem pelo
contrário~ insinua-o. E é esse o tema maior do ensaio de EugênioGomes: a alegoria. Não precisamos seguir os termos do ensaísta brasi
leiro, mas podemos sublinhar o problema de que esses termos procuramdar conta: o romance machadiano sugere a relação com uma visão da
vida e do mundo, mas a sugere pelo processo da alegoria, isto é, pondoem cena uma experiência singular e dispersando sinais disponíveispara serem lidos como indicação de que a destina enquanto experiência
exemplar. A dificuldade surge precisamente na passagem do sentidoliteral ao sentido próprio da alegoria: porque o romance machadiano
fortalece insistentemente a singularida,de da experiência que apresenta, levando-a ao ponto de a propor como experiência singular da escrita.
,'Ie:~;...~!
I'I:*tJ'ttl,:~
I/~"'-~'].,~',
158
próprio Machado, para que i.nte~por Aires na qualidade de autor suposto?E se Machado, de modo contrário, não partilha com Aires o "pensa
mento interior e único", por que razão procura centrar nele a atençãodo leitor sem do mesmo passo se demarcar? No fundo, a pergunta é
apenas uma: por que motivo o "editor" ammCia uma narr;1tiva escritacom um "pensamento interior e único" sem dizer qual seja?
tl Como é evidente, estas perguntas não encontrarão resposta numdiscurso crítico ocupado com o conteúdo do "pensamento interior eúnico": são pergUntas que já o entendem subordinado a outro tipo derazões, de específica natureza romanesca, que fazem com queEsaú eJacó
não se reduza à transmissão de um "pensamento interior e único", ainda
que romanescamente atribuído ao autor suposto. Trata-se da ficção em
que alguém apresenta outro que terá escrito uma narrativa dotada de Um
"pensamento interior e único". Trata-t de uma idéia de romance. emconcreto, um dos momentos do proc~Jo de instalação do autor suposto,
justamente o momento que Eugênio pomes contornou demasiado de:pressa, mas que persiste, neutralizando o proCesso das atribuições.
No entanto, convém não andar com a mesma pressa supondojá que Eugênio Gomes leu mal. Deixando de lado o fato, importante
.mas agora negligenciável, de o seu esforço crítico se integrar numa estratégia de leitura da obra machadiana empenhada em secundarizar a ficção
de autores - e não tomando em conta as diferenças de perspectiva crítica,cujo concurso, como é evidente, será sempre decisivo na diferença de
leituras -, a verdade é que, escolhendo o "pensamento interior e único"
para centro de gravidade do ensaio, Eugênio Gomes esteve longe detomar uma decisão infundada, porque justamente aquela expressão ga
rante, junto do leitor, a homogeneidade, a unidade e a,coesão do textoque·vai ler e que supostamente Aires escreveu. Por outras palavras, nessaexpressão se reafirma o que mais atrás entendemos como garantia for
necida ao leitor pela assinatura de Machado: a garantia de que a questão"de que(m) falamos quando falamos do conselheiro Aires?" encontrará
resposta viável. Daí o salto imediato para·a outra garantia que tambémvimos estar ligada à primeira: de-que a resposta, uma vez encontrada,
se converterá em resposta à questão "de que(m) falamos quando falamosde Machado de Assis?" Mas esse salto torna-se ponto frágil do ensaio,
porque, mesmo admitindo que a resposta à primeira questão se aceita

;,
Capítulo 8
1
161
DEFUNTO AUTOR
Os leitores familiarizados com a bibliografia crítica machadiana
conhecem um dos lugares"Comuns mais persistentes na apreciação dos
autores supostos de Machado: a idéia de que não têm preocupaçõesliterárias e qe que exibem uma cultura literária inferior., Num estudo
;!cente, pode ler-se uma apreciação como esta' "Brá.LC!!..bas goza o~.E.!ivílégios de escrever <obra ds: finado' , Não-se.pode.-c~s..s..~ naJ!ador,
--pensar em preocupações lite.cáriaS'.' (Muricy, 1988. p. 114). E logo aseguir, generalizando o conjunto dos romances da "segunda fase":"Sem ambições literárias, livres da opinião pública, os narradores desses romances' escrevem para <matar o tempo', para preencher o ócio dé
uma escrita íntima, de diário" (idem. op. cit., pp. 114-15). Este tipo deapreciação depende, em estreita solidariedade, da redução de Brás Cubas,Aires ou Dom Casmurro à condição de "narradores", e. no caso con
creto acima citado, seria válido para a ficção de Memorial de AÍres,não fosse Aires o autor suposto de Esaú eJaeó, mas não o é de forma
~guma para qualquer dos outros, porque todos apresentam autoressupostos preocupados com a literatura, fundamentando-e~crltérios
d~-natureza literária as decisões que tomam nOR~ocess9 deõrganlzação
do discurso. De um modo ou de outro, comportam-se' tod~~~or:n:os-e
-fossem a última instância destinadora do texto, como se ninguém
,li.,:)
':~
:;:Iii;' ~.'~:JJ~' •..
}1i~,/~f,~~:,.
II:~};.
\1;
160
Como escreveuJorge de Sena, "a ação dos romances é o .ato de eles serem
escritos" (Sena. 1969. p. 333). Donde resulta qu'e é, o próprio autor supostoque aparece afetado de uma'vocação alegórica manifesta: ou 'seja,o próprioprocesso de destinação de uma narrativa exemplar é ele mesmo singula
rizado. proposto à leitura com uma singularidade que resiste sempre aqualquer esforço para a transportar para o nível de exemplaridade. Assim
se compreende a importância dos nomes próprios nos romances machadianos: note-se apenas que. nos cinco romances decisivos. não há
um único que não tenha um nome próprio no título. O caso de Dom
Casmurro. aliás, é verdadeiramente exemplar a esse respeito: o título 'coincide com a assinatura'do autor suposto, e todo o drama consiste na
divisão sem reunific~ção possível do seu-nome; daí que o romance abracom a "explicação do título", que é múito mais a história de uma mu
dança de nome. Os nomes próprios s;ao os corpos estranhos da linguaque asseguram o máximo de singu.Ilrização possível: e também, em
"
conseqüência, a resistência máxima à'(passagem para um plano de exem-plaridade. A força do motivo do autor sUpOsto não ~em outra razão de
ser: um nome próprIO resiste sempre, reconfigu;;:;e, acolhe novas sigID:_',iiciçoés,~ma;~~ --:--..-...._--~----
, Neste quadro se reforça a idéia que mais atrás aEresentamos: oromance com autor suposto destina-se enquanto totalidade unificadaao lançar ao leitor. o problema da sua apreensão enquanto totalidadeunificada. A alegoria é a figura dessa destinação: apresenta uma e;Kperiên
cia singular e sugere uma dimensão em que se constituiexperiênáaexemplar. Mas, a uni-Ias, está uma disjunção que o romance cuida denão anular: esse cuidado constitui a marca indelével da responsabilidade
de Machado. Nela se decide a concepção machadiana do romance, a
forma específica da assinatura de Machado ou ainda, se se quiser. a sua
relação com o carhp'o das concepções do mundo que todo'o romance
tI]defronta se,fi nele se dissolver: nela se decide, enfim, o lugar decisivo de
1ft Machado na literatura brasileira, que, como justamente sublinhou José
, Guilherme Merquior.consiste J??-Jntrodu -o de uma orienta ~o roble, matizadora até ele desconhecida cf. Merquior. 1977, pp. 153-54).
Ora, vamos vê-Io agora, tudo isso se inaugura num episódio
famoso: o aparecimento de Brás Cubas, autor suposto.