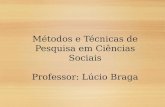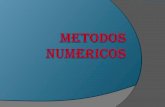METODOS e tecnicas de enfermagem - JCCS
-
Upload
candeiasdasilva -
Category
Documents
-
view
283 -
download
0
description
Transcript of METODOS e tecnicas de enfermagem - JCCS
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
TERMOS CHAVE
Apirtico no tem febre Apneia Arritmia Bradicrdia Bradipneia Defervescncia Dfice do pulso Difuso Dispeia Esfigmomanmetro Estertor Estridor Hipercrnia Hiperpirexia Hiperpneia Hipertenso Hipertermia uma temperatura corporal extremamente elevada, geralmente
superior a 40,0 C Hiperventilao Hipotenso Hipotenso ortosttica Hipoventilao Integrador central Intervalo auscultatrio Ortopneia Oxmetro Presso diastlica Presso sistlica Pulso Pulso paradoxal Resistncia vascular perifrica Respirao Respirao apnustica Respirao de Biot Respirao de Cheyne - Stokes Respirao de Kussmaul Sibilos Sinais Vitais
Joo C. C. Silva 1575 1
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Sons de Korotkoff Suspiro Taquicardia Taquipneia Temperatura central Volume sistlico
Joo C. C. Silva 1575 2
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM
1. Debater o significado de sinais vitais de rotina.2. Explicar a importncia da monitorizao da temperatura corporal.3. Identificar os factores que afectam a temperatura corporal.4. Identificar os tipos de termmetros e os locais onde avaliada a
temperatura.5. Enumerar medidas de enfermagem para controlar a febre.6. Descrever a fisiologia do pulso.7. Explicar a tcnica de avaliao do pulso.8. Descrever os mecanismos que controlam a respirao.9. Descrever a avaliao da respirao.10. Definir o termo de tenso arterial.11. Fundamentar a medio da tenso arterial.12. Identificar as responsabilidades do enfermeiro relacionadas com a avaliao
dos sinais vitais.13. Descrever o papel das novas tecnologias na avaliao dos sinais vitais.
Joo C. C. Silva 1575 3
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
AVALIAO DOS SINAIS VITAIS
A temperatura, o pulso, a respirao, tenso arterial e a dor so sinais vitais;
So vitais porque so indicadores indispensveis do estado de sade da pessoa.
Os sinais vitais so sempre avaliados nos seguintes momentos: Durante um exame fsico geral. Quando se admitido no hospital ou servio de cuidados de sade. Como rotina diria durante o internamento para detectar qualquer alterao
no estado fsico ou psicolgico. Antes e depois de um cirurgia ou procedimentos de diagnsticos invasivos.
ORIENTAES BSICAS
A prtica dos sinais vitais dever ser da responsabilidade do membro da equipa que cuida do utente durante o turno.
Conhea os valores normais de cada um dos sinais vitais.Informe-se dos valores dos sinais vitais registados no turno anterior.Informe-se do diagnstico clnico, tratamento e medicao prescrita.Avalie os sinais vitais de uma forma sistemtica. Sempre que necessrio compare os dados bilateralmente (do lado oposto do
corpo).Uma vez colhidos os dados procede-se:Anlise Diagnsticos de enfermagem.Planeamento das intervenes.
Joo C. C. Silva 1575 4
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
AVALIAO DA TEMPERATURA
Temperatura corporal: capacidade do organismo para equilibrar a produo e a perda de calor.
Quando este mecanismo falha: Resulta uma elevao anormal da temperatura denominada febre Temperatura abaixo da normal designada por hipotermia.
Joo C. C. Silva 1575 5
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Factores que afectam a temperatura corporal Idade Ritmo circadiano (ritmo diurno) Hormonas StressTemperatura superficial # temperatura central
Atendendo a estas diferenas, quando se est a medir a temperatura corporal importante: Colocar-se o termmetro junto de uma artria de grande calibre. De outro modo, pode-se estar a avaliar a temperatura superficial e no a
central.
MEDIO TEMPERATURA CORPORAL
A temperatura corporal um dos mais antigos e mais utilizados, indicadores de sade ou doena.
Avalie criteriosamente as temperaturas e registe-as de imediato e correctamente. Se tiver dvidas em relao aos resultados obtidos, avalie de novo com o mesmo, ou outro termmetro.
Tipos de termmetros Termmetros de vidro Termmetros electrnicos Termmetros descartveis Termmetros timpnicos
Tcnicas para monitorizao da temperaturaA monitorizao da temperatura um processo seriado.Por isso, h que obter uma linha de base da temperatura para estabelecer um valor
com o qual se possam comparar as leituras seguintes.
Norma -1
Mediao da temperatura corporal: A temperatura corporal usada em conjunto com outros sinais vitais (pulso,
respirao e tenso arterial) para avaliar o estado de sade da pessoa.
Joo C. C. Silva 1575 6
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Temperatura oral: No utilizar termmetros de vidro e mercrio para avaliar a temperatura em
crianas com menos de 4, 5 anos e pessoas confusas ou agitadas porque h perigo de partir o termmetro na boca.
Evitar a via oral em pessoas com traumatismo ou situaes que as impeam de fechar completamente a boca.
No use a via oral em indivduos em coma com antecedentes de doena convulsiva que respirem pela boca ou tenham uma infeco oral (p. ex., abcesso dental).
Espere, pelo menos, quinze minutos aps a pessoa ter fumado, bebido ou comido.
Temperatura rectal: No medir a temperatura rectal em pessoas com leses do recto ou perneo, ou
submetidas a cirurgias nestas zonas. Lubrificar bem o termmetro e introduzi-lo suavemente para evitar leses na
mucosa ou perfuraes no recto.
ALTERAES NA TEMPERATURA CORPORAL
Hipotermia: uma temperatura corporal anormalmente baixa. Hipertermia uma temperatura corporal extremamente elevada, geralmente
superior a 40,0 C Febril: uma pessoa que tem febre Apirtica: no tem febre
- Febre -A febre pode ser descrita de vrios modos: Uma febre baixa uma elevao da temperatura acima de 37,1 C mas abaixo
de 38,2 C. Uma febre alta uma temperatura acima de 38,2 C. Uma febre recorrente ou intermitente aquela em que h alternncia de
episdios de febre com perodos de temperatura normal. Uma febre remitente ocorre quando a temperatura corporal est
permanentemente elevada mas com variaes ao longo de 24 horas. Febre de causa indeterminada (FCI) uma febre cuja etiologia desconhecida.
Ocorre quando uma pessoa est febril durante um longo perodo de tempo
Joo C. C. Silva 1575 7
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Joo C. C. Silva 1575 8
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Estdios da febre 1-COMEO DA FEBRE: ocorre gradual ou subitamente. Esta etapa marcada
por arrepios, aumento do metabolismo. 2-FASE FEBRIL: a temperatura corporal sobe e permanece elevada. Se a etapa
prolongada e se a febre muito alta podem ocorrer desidratao, delrio e convulses.
3- Defervescncia: a febre baixa e a temperatura corporal volta ao normal. A defervescncia pode ser acelerada mediante certas medidas, tais como:
administrao de teraputica antipirtica e arrefecimento. Durante a defervescncia, a pessoa sente calor e tem diaforese (transpirao). Uma descida rpida da febre designa-se crise enquanto que um retorno
gradual temperatura normal designado lise.
INTERVENES DE ENFERMAGEM
1-Comeo da febre Logo que h suspeita de febre deve avaliar imediatamente a temperatura. registe comunique subidas de temperatura, logo que estas se verifiquem Avalie a pele que pode estar plida (em indivduos com pele pouco
pigmentada) e a temperatura da mesma, bem como o grau de humidade e secura.
Pergunte pessoa como se sente. Com sede? Com frio? Nauseada? Sem apetite? Exausta?
Registe o incio e a durao de calafrios (geralmente duram de 10 a 30 minutos).
Avalie a temperatura do comeo e durante a fase dos calafrios para determinar a temperatura mais baixa e mais elevada.
2-Estadio febril Anote o pulso e a respirao. A frequncia cardaca e a respiratria, aumentam. Procure saber se a pessoa tem diarreia ou vmitos o que lhe pode provocar
desequilbrio hidroelectroltico. Inicie um registo do balano hdrico e anote os desequilbrios.
Procure sinais de agitao ou confuso. O doente est agitado? Est orientado no tempo e no espao? Est com alucinaes? Se assim acontecer, avalie de imediato a temperatura e comunique aquilo que observou.
O delrio pode ocorrer quando a febre elevada (39 a 40 C). As crianas e os idosos podem desenvolver delrios com temperaturas mais baixas.
A febre alta (41,1 C) provoca convulses especialmente nas crianas de menos idade.
Registe os resultados das intervenes de enfermagem.
Joo C. C. Silva 1575 9
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
3-Defervescncia Avalie sinais de desidratao quando a temperatura comea a voltar ao normal. Observe e registe a diaforese. Monitorize a tenso arterial. Est abaixo dos valores habituais do utente? Registe a densidade da urina. Pese o utente.
Registe qualquer elevao da temperatura.
CUIDADOS DE ENFERMAGEM DURANTE A FEBRE
Diminua a febre.(os antipirticos ex. a aspirina e paracetamol) .
Mantenha uma ptima nutrio. Mantenha o equilbrio hidroelectrolitico. A diaforese, a
anorexia e os vmitos aumentam o risco de desequilbrio hidroelectroltico.
Promova o conforto e o repouso pessoa.
Joo C. C. Silva 1575 10
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
AVALIAO DO PULSO
O ventrculo esquerdo bombeia uma quantidade de sangue para dentro da artria aorta o que vai aumentar a presso artica. Este aumento d origem a uma onda lquida que sentida numa artria como pulso.
Normalmente, o corao bate cerca de 70 vezes por minuto para enviar aproximadamente 5 L de sangue a todo o corpo.
Esta relao expressa da seguinte forma:DC = VE x F
Quer dizer, o dbito cardaco (DC) igual quantidade de sangue ejectado pelo corao em cada sstole ventricular esquerda (volume de ejeco ou VE) vezes o nmero de batimento (F) por minuto.
Quando factores de stress, internos ou externos, alteram qualquer dos elementos do lado direito da equao o outro elemento compensa para manter o dbito cardaco constante.
Por exemplo, quando o volume de ejeco diminui (como no choque), o corao compensa aumentado a sua frequncia.
Joo C. C. Silva 1575 11
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
LOCAIS DE MEDIO DO PULSO
Deve palpar-se o pulso nos locais onde as artrias ficam superfcie da pele e assentes numa base dura como os ossos ou outra estrutura firme.
Os locais mais comuns para avaliao de rotina so o pulso radial nos adultos e crianas.
Joo C. C. Silva 1575 12
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
O pulso radial o local da artria radial sendo habitualmente o mais acessvel na rotina dos sinais vitais. A artria radial palpvel ao longo do rdio na parte proximal do polegar na face anterior do punho (o lado flexor).
O pulso apical o local do pulso auscultado na pice do corao, no quarto ou quinto espao intercostal, na linha mdia da clavcula esquerda (no ponto mdio entre o esterno e o bordo lateral do trax).
O pulso temporal o local do pulso palpado na artria temporal situada entre o olho e a linha do cabelo precisamente acima do osso zigomtico (malar). indicado
como rotina nos lactentes e crianas pequenas.
O pulso carotdeo o local do pulso da artria cartida situado sobre o pescoo ao lado da laringe, entre a traqueia e o msculo esternocleidomastoideo.
A artria cartida deve ser palpada nas situaes de emergncia (tais como, na paragem cardaca) porque imediatamente acessvel no havendo necessidade de despir a pessoa.
O pulso braquial situado na face anterior do cotovelo entre os msculos bicpede e tricpede.
Palpa-se este local para determinar a colocao do estetoscpio quando se vai avaliar a tenso arterial.
Joo C. C. Silva 1575 13
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
O pulso femoral o local do pulso da artria femoral, situado na virilha, no tringulo femoral. Faz-se a palpao deste pulso quando se quer avaliar a circulao para os membros inferiores .
O pulso popliteo fica situado na fossa popliteia (atrs do joelho).
A pessoa dever flectir ligeiramente o joelho ou deitar-se em decbito ventral flectindo o joelho a 45 graus.
Este pulso deve ser palpado fazendo uma leve presso.
O pulso dorsalpedioso ou pulso pedlico, o pulso da artria pediosa dorsal, localizada ao longo do dorso do p ao lado do tendo extensor do primeiro dedo.
Palpar este pulso muito suavemente; uma presso muito forte oblitera-o.
A FREQUNCIA DO PULSO o nmero de batimentos por minuto.
Valores normais na frequncia do pulso:A frequncia normal do pulso no adulto em repouso de 60 a 100 pulsaes por
minuto
as mulheres tm uma frequncia cardaca ligeiramente superior dos homens. mais alta nos lactentes e crianas pequenas diminui na idade adulta aumenta ligeiramente nas pessoas idosas. Quando se avalia uma frequncia regular num pulso perifrico, conta-se
durante 30 segundos e multiplica-se por 2.
Joo C. C. Silva 1575 14
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Taquicardia
Taquicardia uma frequncia cardaca anormalmente rpida (superior a 100 batimentos por minuto).
Ocorre nas seguintes situaes: Exerccio febre Dor Raiva, medo, ansiedade etc.
Joo C. C. Silva 1575 15
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
BradicardiaA estimulao do sistema nervoso parassimptico provoca bradicardia, uma
frequncia cardaca anormalmente lenta, inferior a 60 batimentos por minuto. Pode estar presente nas seguintes situaes: Situaes que estimulam o nervo vago, incluindo vmitos e aspirao traqueal. Certos problemas cardacos.
Ritmo do pulso Ritmo do pulso: o padro dos batimentos cardacos, dever ser regular.Vrios tipos de irregularidade podem ocorrer: Arritmia sinusal: comum nas crianas e nos adultos jovens e no requer
interveno de enfermagem. Extra-sstoles: h uma diminuio do volume de ejeco, sente-se uma pausa
no ritmo. O ritmo pode ser totalmente irregular o que indica uma anomalia
potencialmente grave no sistema de conduo cardaco.
Joo C. C. Silva 1575 16
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Joo C. C. Silva 1575 17
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Joo C. C. Silva 1575 18
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Fora do Pulso (Qualidade do pulso)
A fora, ou qualidade, do pulso reflecte a resistncia do volume de ejeco. Avalie e registe a qualidade do pulso usando estes termos:
Forte - to forte que parece bater contra os nossos dedos. Normal fcil de palpar, no facilmente oblitervel. Fraco difcil de palpar e facilmente oblitervel. Ausente pulso no palpvel.
Joo C. C. Silva 1575 19
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
AVALIAO DA RESPIRAO
Respirao. A respirao engloba dois processos: a respirao externa e a respirao interna. A respirao externa o acto de respirar.
Hipercpnia: o estmulo normal para respirar um aumento de CO2 no sangue. O centro respiratrio sente este aumento de CO2 e reage aumentando a frequncia e a amplitude dos ciclos respiratrios.
Hipoxmia: (diminuio de O2 no sangue) tambm faz aumentar os ciclos respiratrios embora em menor grau que a hipercpnia.
Muitos outros factores afectam a frequncia respiratria: Situaes sbitas de stress O exerccio fsico As condies do meio ambiente Uma mudana de altitude
TCNICAS PARA AVALIAO DA RESPIRAOObserve a qualidade, amplitude e padro.
Joo C. C. Silva 1575 20
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Qualidade da respirao
Respirao normal: descontrada, no exige esforo, automtica, regular e ampla.
Dispneia: significa respirao difcil, esforada ou dolorosa. O utente demonstra ansiedade e fadiga pelo esforo que faz ao falar. Pode apresentar uma cor escura e frequncia cardaca elevada.
Estertor: respirao ruidosa (roncos) provocada por secrees na traqueia e brnquicos principais.
Estridor: sons respiratrios speros, espcie de rangido, que ocorrem quando h obstruo das vias areas superiores especialmente da laringe, devido a corpo estranho. Ex: Queimados
Sibilo: som agudo, musical, de timbre elevado devido a obstruo parcial dos bronquolos. ouvido nas pessoas asmticas ou com enfisema grave.
Suspiro: inspirao profunda seguida de expirao prolongada. Os suspiros ocasionais so normais e teis na expanso dos alvolos. Suspiros frequentes podem significar tenso emocional.
Joo C. C. Silva 1575 21
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Frequncia e amplitude da respirao
As frequncias:Nos adultos, a frequncia normal anda entre 10 a 20 ciclos por minuto.
A amplitude: corresponde ao volume de ar inspirado e expirado em cada ciclo respiratrio. O volume corrente normalmente de 500 a 800 ml no adulto e deve ser constante em cada ciclo respiratrio.
Taquipneia. uma frequncia respiratria aumentada (>24 ciclos/min), sendo a respirao geralmente rpida e superficial.
( hipoxmia , febre,medo). Bradipneia. uma frequncia respiratria diminuda mas regular (
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Hiperneia. um aumento da amplitude respiratria. Ocorre normalmente aps exerccio fsico.
Hiperventilao. um aumento, tanto da frequncia como da amplitude, respiratrias(um esforo extremo, medo e ansiedade, febre). A hiperventilao leva a uma diminuio de CO2 no sangue de que resulta alcalose.
Padres respiratrios
O padro respiratrio normalmente regular e constitudo por: inspirao, pausa, expirao e outra pausa.
Respirao de Cheyne-Stokes
Respirao de Cheyne-Stokes: um padro respiratrio caracterizado por um aumento gradual da amplitude e frequncia seguido de uma diminuio, tambm gradual e de um perodo de diminuio.
Os ciclos respiratrios tm a durao de 30 a 45 segundos alternando com os perodos de apneia de cerca de 20 segundos.
A causa mais comum deste padro respiratrio a insuficincia cardaca congestiva grave.
Respirao de Biot
um padro respiratrio irregular no qual os ciclos tm todos a mesma amplitude, ao contrrio das variaes de amplitude observadas no padro de Cheyne-Stokes. A durao do ciclo ou da frequncia varivel podendo ir de 10 segundos a 1 minuto.
Respirao de Kussmaul (avidez de ar):
A respirao caracterizada por um aumento da amplitude e frequncia dos ciclos (acima de 20 por minuto). O padro respiratrio de kussmaul ocorre na acidose metablica (coma diabtico) e na insuficincia renal.
Respirao apnustica:
caracterizada por uma inspirao prolongada e ofegante seguida de uma expirao muito curta e ineficaz. , muitas vezes, causada por leses do mesencfalo.
Joo C. C. Silva 1575 23
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
CARACTERSTICAS SIGNIFICATIVAS NA AVALIAO DA RESPIRAO
Alterao do aspecto fsico. As pessoas com enfisema, por exemplo, tm como caracterstica o trax em barril, que desenvolvem devido hiperventilao crnica.
Utilizao dos msculos acessrios. Normalmente o diafragma o mais importante.
Alterao na posio. Os indivduos que sofrem de doena pulmonar crnica obstrutiva (DPCO), por exemplo, sentam-se inclinados para a frente com os braos apoiados nos joelhos, cadeira ou cama.
A ortopneia a incapacidade de respirar a no ser na posio erecta. Alterao na cor da pele: Observe se a pele est plida ou cianosada.
A palidez indica uma diminuio da quantidade de glbulos vermelhos ou anemia.A cianose significa uma diminuio do oxignio no sangue dos tecidos
Joo C. C. Silva 1575 24
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
AVALIAO DA TENSO ARTERIAL
Fisiologia da tenso arterialA tenso arterial a fora exercida pelo sangue contra uma rea do vaso sendo
medida em milmetros de mercrio (mm Hg). Isto significa que qualquer presso da artria far subir uma coluna de
mercrio igual sua resistncia. Por exemplo, 120 mm Hg significa que a presso na artria exerce a
fora suficiente para elevar a coluna de mercrio a 120 mm.
AVALIAO DA TENSO ARTERIALO objectivo da medio obter: tenso sistlica- presso mxima exercida nas artrias durante a contraco do
ventrculo esquerdo tenso diastlica- presso exercida nas paredes das artrias com os ventrculos em
repouso) tenso do pulso- diferena entre a sistlica e a diastlica).
A tenso arterial (TA) igual ao dbito cardaco (volume de ejeco x frequncia cardaca) vezes a resistncia dos vasos ao fluxo sanguneo ou a resistncia vascular. Esta relao representado por:
TA = DC x R
Factores que afectam a tenso arterial
Dbito cardaco se o corao tem que bombear contra uma maior resistncia a TA aumenta.
Resistncia vascular perifrica. Quanto menor for o calibre do vaso onde o sangue circula maior ser a presso necessria para fazer fluir o sangue.
Elasticidade-ou distensibilidade das paredes das artrias. Volmia-ou volume de sangue circulante (p.ex: a TA diminui quando o volume
de sangue baixa, como na hemorragia e aumenta com a administrao rpida de lquidos por via intravenosa).
Viscosidade do sangue. A viscosidade do sangue refere-se sua espessura. A tenso arterial mais elevada quando o sangue mais viscoso.
Joo C. C. Silva 1575 25
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Factores que afectam os valores normais
A TA mdia nos adultos jovens de 120/80. No entanto, uma leitura normal varia de indivduo para indivduo dependendo de vrios factores.
Idade- A tenso arterial aumenta geralmente at velhice. Sexo. Ate menopausa as mulheres tm habitualmente uma TA mais baixa que
os homens, altura em que os valores aumentam e ultrapassam os dos homens. Peso: peso excessivo aumenta a TA Raa- hereditariedade. Clima- Os valores da tenso arterial so mais baixos nos climas tropicais do que
nas zonas temperadas e so mais elevados nos climas polares. Dieta- Uma dieta rica em sdio e pobre em clcio pode predispor o indivduo a
uma TA elevada. Ritmo circadiano., TA baixa de manh cedo, sobe ao longo do dia at noite
desce para atingir o valor mais baixo durante o sono. Exerccio. A TA aumenta com o exerccio(no avaliar a TA nos 20 minutos que
se seguem ao exerccio). Stress. As emoes fortes (p. ex., uma zanga ou o medo) aumentam a TA.
Joo C. C. Silva 1575 26
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
EQUIPAMENTO PARA AVALIAR A TENSO ARTERIAL
Esfigmomanmetro.
Constituio:1. manmetro de presso,2. braadeira- que contm no seu interior um balo
insuflvel3. pra- insufladora com uma vlvula de controlo
para insuflar ar na braadeira.
Medio da tenso arterial no pulso braquial
Joo C. C. Silva 1575 27
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
TCNICAS PARA MEDIO DA TENSO ARTERIAL
A avaliao da TA rene as competncias da inspeco, a palpao e auscultao.
Antes de medir a TA tente evitar factores que possam influenciar o resultado: refeies, fumar, exerccio, dor, ansiedade.
At mesmo a necessidade de urinar pode alterar a TA.
Norma -3
Medio da tenso arterial no pulso braquial
Definio: Medir a tenso arterial sistlica e diastlica. Objectivos: A medio da tenso arterial reflecte o volume de sangue circulante, a
resistncia vascular perifrica, a eficcia do corao como bomba, a viscosidade do sangue e a elasticidade da parede da artria.
Contra-indicaes:No avalie a TA no brao quando: (a) est ferido ou lesado (b) corresponde ao lado do corpo que sofreu uma mastectomia radical (c) tem um shunt ou fstula para hemodilise (d) o local para perfuso intravenosa.
Orientaes no ensino/Aprendizagem:Providencie a seguinte informao:
a) descrio sobre o procedimento, independentemente do nvel de conscincia do indivduo,
b) esclarecimento sobre o desconforto que a braadeira provoca enquanto est insuflada e
c) informao ao utente e outros sobre a necessidade de manterem silncio enquanto se mede a tenso arterial, caso contrrio no ser possvel ouvir os sons atravs do estetoscpio.
Joo C. C. Silva 1575 28
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Joo C. C. Silva 1575 29
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Joo C. C. Silva 1575 30
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Erros de medio da tenso arterial
Erros que originam uma leitura falsamente elevada
No utilizar a braadeira de tamanho apropriado; uma braadeira muito estreita d uma leitura mais elevada.
Aplicar a braadeira muito solta ou com uma presso irregular (a presso da braadeira deve ser a necessria para comprimir a artria braquial).
Medir a TA logo a seguir refeio, quando a pessoa est a fumar ou quando tem a bexiga distendida.
No colocar a coluna de mercrio na vertical. Desinsuflar a braadeira muito lentamente; provoca congesto venosa de
membro o que eleva falsamente a tenso diastlica.
Joo C. C. Silva 1575 31
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Erros que originam a leitura falsamente baixa
Ter o brao acima do nvel do corao (o efeito da presso hidrosttica pode dar um erro acima de 10 mm Hg na tenso sistlica e na diastlica).
Falta de percepo de um intervalo auscultatrio. Diminuio da acuidade auditiva do profissional de sade. Um estetoscpio muito pequeno ou muito grande ou cujos tubos sejam muito
longos. Incapacidade para ouvir os sons Korotkoff fracos.
Erros que provocam leituras falsamente elevadas ou falsamente baixas
Manmetro incorrectamente calibrado. Equipamento deficiente (vlvula, coneces). O menisco do mercrio no ficar ao nvel dos olhos. Execuo rpida da tcnica dando muito pouca ateno aos detalhes.
INTERPRETAO DAS ALTERAES DA TENSO ARTERIAL
Hipotenso- Nos adultos, uma leitura abaixo de 95/60 representa uma TA abaixo do normal. Na hipotenso o doente pode sentir vertigens, apresentar diaforese, confuso e viso turva.
Hipertenso- pode ser classificada como primria e secundria. primria (i. e. de causa desconhecida)afecta a maior parte dos adultos (cerca
de 90 por cento) que tem TA persistentemente elevada secundria pode resultar de situaes patolgicas tais como, doena renal
coronria,etc.
Joo C. C. Silva 1575 32
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Joo C. C. Silva 1575 33
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
TEMPERATURA CORPORAL
SUMRIO
DEFINIO DE CONCEITOS TEMPERATURA CENTRAL TEMPERATURA PERIFRICA
MANUTENO DA TEMPERATURA CORPORAL PRODUO DE CALOR/PERDA DE CALOR
FAIXAS DE NORMALIDADE REGULAO DA TEMPERATURA CORPORAL FACTORES QUE AFECTAM A TEMPERATURA CORPORAL CUIDADOS DE ENFERMAGEM RELACIONADOS COM A MANUTENO DA
TEMPERATURA AVALIAO DA TEMPERATURA CORPORAL
VIAS DE AVALIAO TIPO DE TERMMETROS TCNICAS DE AVALIAO
ALTERAES DA TEMPERATURA CORPORAL (PROBLEMAS) FEBRE/HIPERTERMIA
ETIOLOGIA DA FEBRE FASES DA FEBRE
EXAUSTO PELO CALOR INSOLAO (GOLLPE DE CALOR) HIPOTERMIA
INTERVENES DE ENFERMAGEM APLICAO DO FRIO E DO CALOR COMO CUIDADO DE SADE
Joo C. C. Silva 1575 34
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
TEMPERATURA CENTRAL PERMANECE QUASE CONSTANTE (COM VARIAO DE CERCA DE 0,6C),
MESMO COM GRANDES DIFERENAS DE TEMPERATURA AMBIENTE TEMPERATURA PERIFRICA
AUMENTA E DIMINUI COM A TEMPERATURA DO MEIO AMBIENTE
FACTORES QUE AFECTAM A TEMPERATURA CORPORAL
HIPOTLAMO - REGULAO HORMONAL - TEMPERATURA EXTERNA IDADE - RITMO CIRCADIANO EXERCCIO FSICO - STESS
CONTROLADA PELO EQUILBRIO ENTRE A PRODUO E A PERDA DE CALOR
PRODUO A QUANTIDADE DE CALOR PRODUZIDA DIRECTAMENTE PROPORCIONAL TAXA DE METABOLISMO CORPORAL
PERDA RADIAO, CONDUO, CONVECO, EVAPORAO
Joo C. C. Silva 1575 35
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
A VASODILATAO/VASOCONSTRIO, O PRINCIPAL MTODO QUE REGULA A PERDA DE CALOR PARA A ATMOSFERA
RADIAO EMISSO DE CALOR SOB A FORMA DE ONDAS ELECTROMAGNTICAS (INFRAVERMELHAS)
CONDUO MECANISMO DE TRANSFERNCIA DIRECTA DE CALOR (PARA OBJECTOS E AR)
CONVECO - TRANSFERNCIA DE CALOR ATRAVS DE CORRENTES DE AR EVAPORAO TRANSFERNCIA DE CALOR PELA CONVERSO DE GUA EM
VAPOR
TIPO DE TERMMETROS* VIDRO E MERCRIO* ELECTRNICOS* DESCARTVEIS* TIMPNICOS* CENTRAIS
Joo C. C. Silva 1575 36
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
VIAS DE AVALIAO* VIA ORAL* VIA RECTAL* VIA CUTNEA (AXILAR, INGUINAL...)* VIA AURICULAR* VIA CENTRAL
ALTERAES DA TEMPERATURA CORPORAL
FEBRE/HIPERTERMIA EXAUSTO INSOLAO (GOLPE DE CALOR) HIPOTERMIA
FEBRE ELEVAO DA TEMPERATURA CORPORAL COMO RESULTADO DE UMA
ALTERAO AO NVEL DO CENTRO TERMOREGULADOR LOCALIZADO NO HIPOTLAMO ELEVAO DO PONTO DE REGULAO TRMICA
Joo C. C. Silva 1575 37
PIROGNEOS SO AS SUBSTNCIAS
CAPAZES DE INDUZIR FEBRE
PIROGNEOS ENDGENOS*CITOQUININAS
PIROGNEOS EXGENOS*MICRORGANISMOS
*TXINAS*FRMACOS
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
HIPERTERMIA ELEVAO DA TEMPERATURA CORPORAL ACIMA DO PONTO DE REGULAO
TRMICA, MAIS FREQUENTEMENTE SECUNDRIA INEFICINCIA DOS MECANISMOS DE DISSIPAO DE CALOR, OU, MENOS FREQUENTEMENTE, POR PRODUO EXCESSIVA DE CALOR COM DISSIPAO COMPENSATRIA INSUFICIENTE.
Complicaes da febre e da hipotermia
DESCONFORTO DESIDRATAO CONVULSES SOBRECARGA CARDIOPULMONAR AUMENTO DO METABOLISMO BASAL
Joo C. C. Silva 1575 38
2 SITUAES DISTINTAS DE HIPERTERMIA
EXAUSTO INSOLAO(GOLPE DE CALOR)
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Planeamento da interveno da enfermagem
Joo C. C. Silva 1575 39
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
HIPOTERMIA DIMINUIO DA TEMPERATURA CORPORAL PARA VALORES INFERIORES A 35C
Para hipotermia ligeira Reaquecimento Ambiente seco e aquecido Cobertores
Para hipotermia profunda Reaquecimento Monitorizao de parmetros vitais Reposio de lquidos e electrlitos Administrao de antibiticos (a incidncia de pneumonia alta) Controle de tremores (aumentam a presso intracraneana e as
necessidades de O2)
Terapias com Calor
MECANISMOS DE ACO DO CALOR:- PROMOVE VASODILATAO- AUMENTA O FLUXO SANGUNEO E NUTRIENTES PARA A REA
EFEITOS DO CALOR:
* ALIVIA A DR* ALIVIA O ESPASMO MUSCULAR* ACELERA O RESTABELECIMENTO TECIDUAL*ALIVIA A RIGIDEZ ARTICULAR, INCREMENTANDO A ELASTICIDADE DO TECIDO CONJUNTIVO
* AUMENTA A MOBILIDADE* ACELERA O PROCESSO DE SUPURAO
Joo C. C. Silva 1575 40
PRIMRIA
(ACIDENTAL)
SECUNDRIA(DISFUNO DO CENTRO
TERMOREGULADO
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
TEMPO:- Em caso de leso traumtica, geralmente s 72h aps a leso se verificam
condies para a aplicao de calor- Durao de 20 a 30min (cada tratamento)
ATENO:* A terapia com calor no deve aplicar-se em reas edemaciadas ou
inflamadas
Terapias com Calor
EFEITOS:- REDUZ OS SINAIS INFLAMATRIOS
* DR* CALOR* RUBOR* TUMOR
- REDUZ A HEMORRAGIA - REDUZ A FORMAO DE HEMATOMA- NO REDUZ A INFLAMAO E EDEMA J INSTALADOS
TEMPO:- Em caso de leso
* aplicar na fase aguda da leso (primeiras 24 a 72h) - Cada aplicao pode durar de 5 a 30 min
ATENO:* Queimaduras pelo frio
Joo C. C. Silva 1575 41
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
DOR COMO 5 SINAL VITAL
A Dor
A dor um fenmeno subjectivo que tem sido posto em relevo pelas organizaes de sade devido ao seu controle inadequado. A dor crnica ou aguda tratada de forma incorrecta tem um efeito prejudicial sobre os doentes e frequentemente a principal causa de insatisfao.Por um lado, doente com dor v comprometida a sua qualidade de vida e,por outro lado, esta dor no tratada, provoca aumento dos custos relacionados com os cuidados de sade. No mnimo, um tero dos doentes com diagnstico recente de cancro e cerca de dois teros daqueles em estgios avanados, relatam dor.A dor oncolgica pode ser aliviada por mtodos relativamente simples em mais de 90% dos pacientes, mas ela frequentemente negligenciada. No entanto j existem instituies que possuem equipes, grupos ou departamentos (consulta da dor) dedicados a estudar de maneira multidisciplinar, e at mesmo multiprofissional, o fenmeno doloroso nos doentes oncolgicos.A incluso da avaliao da dor como o quinto sinal vital, com apropriado registo e consequente interveno, assegura que todos os pacientes, incluindo os terminais, tenham acesso a intervenes para controlo da dor.A valorizao da queixa garante assim, que cuidado e conforto aos pacientes que esto experimentando dor seja to bsico na prtica de enfermagem como as intervenes para estabilizar presso arterial, circulao e a respirao.A dor sistematicamente avaliada, de 8 em 8h, tornando-se o quinto sinal vital e registado na folha de evoluo num espao que inclui o registo do limite mnimo e mximo de dor, a dose de opiceo a ministrar.A adopo da dor como quinto sinal vital antes de mais nada uma questo de educao.
Circular normativa da dor
Joo C. C. Silva 1575 42
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
SATISFAO DAS NECESSIDADES DE ELIMINAO VESICAL
Termos Chave
Anria Bacteriria Clculos Cistite Derivao urinria Disria Efeito diurtico Enurese Esvaziamento Glicosria Hematria Hesitnsia Hipercalciria Incontinncia urinria Irrigao vesical Litase renal Litotrcia Mico Nefrectomia Noctria Oligria Piria Polaquiria Poliria Proteinria Reteno Reteno urinria com regurgitao Ureteres Uretra Uretrite Urgncia Urina Residual Urinar Urolitiase
Joo C. C. Silva 1575 43
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Anatomia e fisiologia do sistema urinrio
O tracto urinrio constitudo por quatro grandes estruturas: Os rins que, de forma selectiva, reabsorvem,
segregam e excretam gua, electrlitos e outras substncias a fim de manter a homeostase.
Os ureteres, dois tubos que transportam a urina dos rins at bexiga.
A bexiga que armazena a urina at ser eliminada. A uretra, que estabelece a ligao entre a bexiga e o
exterior do corpo.
Rins
A principal funo do rim manter o lquido extracelular dentro de limites normais: (a) remove os produtos de degradao (b) regula os equilbrios hdrico, electroltico e cido-base (c) segrega duas importantes hormonas: a renina que, de, aumenta a volmia e entroportina, indispensvel produo de glbulos vermelhos.
O neufrnio a unidade funcional do rim. Cada rim contm aproximadamente um milho de nefrnios. no nefrnio que o sangue filtrado e os electrlitos, a gua e a outras
substncias, so segregadas, excretadas ou reabsorvidas.Ureteres
Nos adultos, os ureteres tm um comprimento de 25
a 30 centmetros.
Bexiga A bexiga um reservatrio
para a urina, cujas paredes so constitudas por trs
camadas musculares. O aumento da presso no
interior da bexiga insignificante at esta
conter 150 a 300 ml de urina.
A mico o acto de urinar
Joo C. C. Silva 1575 44
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Uretra
A uretra constitui o trajecto normal para eliminar a urina da bexiga.
A uretra feminina tem aproximadamente 3 a 5 cm de comprimento, localizando-se, geralmente, o meato entre o clitris e a vagina.
A uretra masculina, em forma de S, tem aproximadamente 20 cm de comprimento desde o colo vesical at ao meato, situado na extremidade do pnis.
Joo C. C. Silva 1575 45
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Eliminao vesical durante a doena
Relaxamento e privacidade
O relaxamento crucial para a mico A privacidade um elemento indispensvel para o obter. Por outro lado, pressionar uma pessoa para que urine pode inibir o
reflexo da mico. Aliviar o desconforto fsico pode promover a eliminao, uma vez que a
dor pode aumentar a tenso muscular e reduzir a concentrao que, por vezes, necessria para urinar.
Uma arrastadeira aquecida reduz a tenso muscular causada pelo seu contacto, se fria.
Posicionamento
Os posicionamentos usuais para urinar so, nas mulheres, a posio de sentada, e nos homens, de p.
O decbito dorsal dificulta a mico por duas razes: 1-porque a gravidade no pode favorecer o fluxo da urina 2- porque no to fcil aumentar a presso intra-abdominal nesta posio.
Poder da sugesto
As medidas aparentemente mais eficazes para estimular a mico so: o som da gua a correr. Entornar gua morna sobre o perneo Massajar suavemente ou aplicar gelo sobre a face interna das coxas
Factores fisiolgicos
Os factores fisiolgicos que afectam a eliminao vesical: envelhecimento distrbios motores e sensoriais alteraes hormonais gravidez tonicidade muscular.
Joo C. C. Silva 1575 46
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Factores Individuais
Padro de eliminao
Hbitos: A maioria das pessoas tambm estabelece hbitos relativamente a
quando urinar. Geralmente, este padro subconsciente e organizado em funo da
rotina diria. Estado de hidratao Algumas bebidas tm efeito diurtico (aumentam a produo de urina)
em determinadas pessoas, tais como o caf, o ch e as bebidas alcolicas
Factores Psicossociais
Sugesto e a Ansiedade: Por exemplo, quando certas pessoas ouvem gua a correr, sentem vontade de
urinar. A ansiedade tanto pode desencadear como inibir a mico.
Factores culturais
Em muitas culturas, a falta de privacidade (como acontece nas casa de banho pblicas ou quando se utiliza uma arrastadeira) interfere com a capacidade para urinar.
Medicamentos
Muitos medicamentos tm efeito directo sobre a mico, podendo contribuir para o desenvolvimento de incontinncia.
Traumatismos
Traumatismos cirrgicos O stress da cirurgia numa primeira fase diminuem a produo de urina mas,
mais tarde, aumentam a diurese. A reteno urinria pode surgir depois de uma cirurgia.
Traumatismos no cirrgicos O traumatismo renal corresponde a 50% de todos os traumatismos genito-
urinrios.
Joo C. C. Silva 1575 47
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Dificuldades da eliminao vesical
Disria: mico difcil e dolorosa, situao geralmente descrita como ardor mico.
Polaquiria: significa urinar a intervalos curtos, quantidades grandes ou pequenas, com maior frequncia que o normal.
Hesitncia: consiste na dificuldade em iniciar a mico. Incontinncia urinria: perda involuntria de urina. Pode ser classificada em aguda
ou crnicaNictria: consiste em urinar vrias vezes durante a noite e pode ser indicativa de
perda da capacidade do rim para concentrar a urina. Reteno urinria: acumulao excessiva de urina na bexiga de uma pessoa, cuja
produo de urina normal. devida incapacidade para esvaziar a bexiga. Urgncia: define-se como a necessidade imperiosa de urinar. Geralmente, surge
associada a infeces urinrias e acompanhada por polaquiria.
Problemas da eliminao vesical
Infeco urinria As infeces urinrias (IU) podem afectar qualquer poro do sistema urinrio. Muitas infeces ascendentes so provocadas por bactrias provenientes do
intestino da prpria pessoa. Diversos factores podem contribuir para a infeco urinria: uretra feminina
mais curta que masculina
Sintomatologia das infeces urinrias: Ardor mico, Urgncia Polaquiria. A avaliao do utente poder ainda revelar: Hematria Dor abdominal Mal-estar, arrepios, nuseas e vmitos, febre e dor no flanco
Joo C. C. Silva 1575 48
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Litase urinria
A presena de clculos no rim denomina-se nefrolitase ou litase renal. Clculos so formaes patolgicas, geralmente compostas por sais minerais,
que se desenvolvem nos rins, ureteres, bexiga ou uretra.
A sintomatologia associada litase inclui: Intensa dor no flanco, Nuseas e vmitos, Diaforese Palidez Febre Hematria
Reteno Urinria
Na Reteno urinria, a produo de urina normal mas a urina retida na bexiga por razes mecnicas ou funcionais.
A Reteno urinria com regurgitao uma consequncia da reteno urinria, pois embora o indivduo urine com frequncia, f-lo em quantidades que apenas reduzem ligeiramente a presso intravesical.
Joo C. C. Silva 1575 49
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Caractersticas da urina
Constituintes Os trs principais constituintes da urina so: gua, ureia e electrlitos
Os achados laboratoriais de glicose (glicosria), de bactrias (bacteriria), de pus (piria), de sangue (hematria) e de protenas (proteinria) na urina so, todos eles, indicativos de doena provvel.
Volume A quantidade de cada mico depende geralmente da capacidade vesical de
cada pessoa: uma mico normal oscila entre 250 e 500 ml. As quantidades mdias para um adulto variam entre 50 e 70 ml/hora,
atingindo cerca de 1200 ml nas 24 horas. Dbitos urinrios inferiores a 25 a 30 ml/hora (500 ml nas 24 horas) podem ser
indicativos de desidratao, mau funcionamento renal ou obstruo urinria Oligria indica uma diminuio da produo de urina (dbitos inferiores a 400
ml nas 24 horas). Anria o termo utilizado para indicar a total supresso de formao de urina
ou insuficincia renal (dbitos inferiores a 100 ml nas 24 horas). Poliria significa produo excessiva de urina (dbitos superiores a 1500 ml
nas 24 horas).
Cor
A cor normal da urina varia entre amarelo plido e mbar, dependendo da sua concentrao.
Ao fim de 30 minutos em contacto com o ar, a urina escurece devido oxidao.
Alguns alimentos e os corantes alimentares vemelhos podem tornar a cor da urina avermelhada.
H muitos medicamentos que alteram a cor da urina, alguns dos quais esto enumerados no Quadro a seguir.
Joo C. C. Silva 1575 50
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Medicamentos que provocam alterao na cor da urina
Medicamentos Cor produzida na urina
Amitriplina (antidepressivo)Laxantes derivados da antraquinoma (cscara, dantron, sene)Cloroquina (antimalrico)Clorozaxazone (relaxante da musculatura esqueltica)Azul de metileno (meio de contraste para diagnsticoFenazopiridina (antissptico urinrio)
Fenolfaleina (ingrediente de muitos laxantes)Fenitina (anticonvulsiavnte)
Rifampicina (antibitico)Sulfonamidas (anti-infeccioso)Triamtereno (diurtico)
Azul esverdeadaVermelho acastanhada na urina cida, vermelha na urina alcalinaAmarelo ferrugemAlaranjada ou vermelho prpura
Verde
Laranja acastanhada, laranja avermelhada ou vermelhaRosa avermelhado na urina alcalinaRosada a vermelho acastanhada em urina fresca, ferrosa escura o castanha em urina no frescaLaranja avermelhada vivaAmarelo ferrugem a acastanhadaAzul plida
Aspecto
Geralmente a urina transparente aquando da mico, tornando-se turva em contacto com o ar.
Cheiro
Normalmente, a urina fresca tem um cheiro, caracterstico, mais forte na urina concentrada que diluda.
Quando deixada ao ar, pode desenvolver um cheiro amoniacal devido aco bacteriana.
A urina fortemente infectada tem um cheiro particularmente desagradvel. Um cheiro adocicado pode sugerir a presena de corpos cetnicos ou acetona.
(diabetes)
Joo C. C. Silva 1575 51
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Exame da bexiga Inspeco
Palpao
Percusso Palpao dos rins
Joo C. C. Silva 1575 52
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Colheita de urina
A colheita de urina para anlise da responsabilidade das enfermeiras, que por isso tm de conhecer os mtodos de colheita adequados.
Uma colheita incorrecta pode dar origem a falsos resultados e a erros de diagnstico.
1. Colheita aleatria ou2. Colheita em horrio determinado
Anlise sumria da urina (tipo II). Urocultura Colheita por catter Colheita em horrio determinado
Colheita aleatria Significa que no h horrio pr-estabelecido. No entanto prefervel utilizar a primeira urina da manh, altura em
que a contagem de bactrias mais mais elevada.
Anlise sumria da urina (tipo II). As mulheres devem fazer higiene perineal para remoo das secrees
vaginais e no devem juntar papel higinico urina. Depois da amostra colhida, o recipiente (bem rolhado) onde se
encontra deve ser rotulado com o nome do utente, a data e a hora da colheita e introduzido num saco de plstico.
Junta-se-lhe a requisio e envia-se rapidamente ao laboratrio.
Urocultura
Use tcnica assptica ao colher urina para urocultura Torna-se necessrio proceder a uma colheita do jacto mdio para que
uma urocultura diagnostique a presena de infeco
Joo C. C. Silva 1575 53
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
ENSINOS AO UTENTE:
1. Ensinar a retirar a tampa do recipiente esterilizado sem tocar no seu interior e a coloc-la, com a parte interna para cima, sobre uma superfcie.
2. Ensinar as mulheres a manterem os grandes lbios afastados durante todo o procedimento usando o polegar e o indicador.
3. Se estiverem menstruadas devem inserir um tampo antes de colher a amostra e o laboratrio deve ser informado para que os resultados no sejam mal interpretados.
4. Os homens devem retrair o prepcio antes de lavar o pnis e coloc-lo na posio original depois da colheita da urina.
5. Ensinar o utente a lavar correctamente a rea perineal ou a glande peniana com toalhetes antisspticos, enquanto mantm os grandes lbios afastados ou contnua a segurar o pnis.
6. As mulheres devem lavar-se da frente para trs pra evitar a contaminao do meato com fezes.
7. Os homens devero lavar a glande com movimentos circulares a partir do meato urinrio.
8. Aconselhar o utente a manter os grandes lbios afastados ou prepcio retrado e comear a urinar para a sanita, cadeira sanitria, ou arrastadeira, para lavar a uretra distal, que normalmente contm algumas bactrias.
9. Durante a mico, e sem suspender o fluxo da urina, a pessoa dever passar o recipiente esterilizado pelo fluxo da urina e colher uma amostra at cerca de metade do recipiente.
10. Seguidamente dever remover o recipiente sem diminuir o fluxo e ento terminar a mico.
11. Neste momento, os grandes lbios ou o prepcio podem retomar a posio normal.
12. Colocar a tampa firmemente no recipiente, etiquet-lo com o nome do utente, data e hora da colheita e coloc-lo dentro de um saco de plstico.
13. Juntar-lhe a requisio e enviar a colheita para o laboratrio o mais breve possvel.
Joo C. C. Silva 1575 54
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Colheita por cateter
Uma amostra bacteriolgica deve ser colhida do tubo da alglia.
Colher a urina atravs do prprio cateter, usando a seguinte tcnica:
1. Clampar o cateter distalmente ao ponto decolheita durante 15 a 20 minutos, para permitir aacumulao de nova urina no contaminada no tubo.
2. Fazer a desinfeco do ponto de colheita comum antissptico e deixar secar.
3. Puncionar com umaagulha de calibre 23 ou 25 e aspirar a urina para umaseringa esterilizada.
4. Se no existir ponto de colheita,puncionar a alglia logo acima do ponto de junocom o saco colector.
5. Inserir a agulha com um ngulo de 45 para permitir o colapso do orifcio feito na alglia quando a agulha for retirada.
6. Desclampar o tubo.7. Transferir a amostra para um recipiente esterilizado, identifica-la com o nome
do utente, data, hora e mtodo de colheita. 8. Tapar o recipiente e coloca-lo num saco de plstico. Juntar-lhe a requisio e
enviar imediatamente ao laboratrio.
Joo C. C. Silva 1575 55
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Obteno de uma amostra de urina
Joo C. C. Silva 1575 56
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Outro mtodo: Esvaziamento da bolsa de drenagem
1. Desadaptar a alglia do tubo de drenagem permitindo que a urina flua da extremidade distal da alglia para um recipiente esterilizado adequado.
2. Desinfectar a juno da alglia com o tubo de drenagem, friccionando a rea com uma soluo antissptica antes de a separar, e tendo cuidado para que nem a extremidade distal da alglia nem a proximal do tubo de drenagem toquem em qualquer coisa enquanto esto desadaptados.
3. Limpar novamente ambas as extremidades com uma soluo antissptica antes de as readaptar.
Colheita em horrio determinado
Colheitas de 2 horas, de 12 horas, de 24 horas.
A recolha dessas amostras feita usando a mesma tcnica bsica e sempre para o mesmo recipiente (normalmente um jarro de elstico de 2 ou 3 litros), fornecido pelo laboratrio, que deve ser identificado com o nome do utente, data, hora e mtodo de colheita.
1. Explicar o procedimento e pedir ao utente para urinar.2. Desperdiar a primeira mico, momento que d incio ao teste. Colher todas as amostras de urina subsequentes, incluindo a que corresponde ao final do perodo
Joo C. C. Silva 1575 57
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
determinado. Obter a ltima amostra to perto quanto possvel da hora determinada para o final do teste.3. Armazenar as amostras no refrigeradas no quarto de banho do utente ou na zona suja. Se as amostras necessitarem de refrigerao, coloc-las imediatamente no frigorfico ou num recipiente em gelo no quarto de banho do utente.4. Quando a colheita estiver concluda, juntar a requisio e enviar o recipiente identificado para o laboratrio.
Joo C. C. Silva 1575 58
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
SATISFAO DAS NECESSIDADES DA ELIMINAO INTESTINAL
SUMRIO
Estrutura e funo do tubo digestivo Avaliao inicial:
Factores que afectam a eliminao intestinal Avaliao fsica Exames auxiliares de diagnstico
Intervenes de Enfermagem Controlo do intestino Estimulao da defecao Obstipao Diarreia Flatulncia Incontinncia intestinal Treino intestinal
Joo C. C. Silva 1575 59
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
TERMOS CHAVE
Acolia Colostomia Diarreia Emoliente Enema (clister) Enema de limpeza Enema de refluxo Enema de reteno Esteatorreia Estoma Fecaloma Fezes Flatulncia (disteno gasosa) Ileostomia Incontinncia intestinal Laxante Laxante de contacto (estimulante) Laxante expansor do volume fecal Laxante salino (agente osmtico) Mecnio Melenas Obstipao Ostomia Peristaltismo Purgante Sangue oculto Supositrio Teste de guaiac
Joo C. C. Silva 1575 60
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Estrutura e funo do tubo digestivo
O tubo digestivo um tubo muscular oco que se estende desde a boca at ao nus.
As principais funes deste tubo so receber lquidos e nutrientes, digeri-los, absorv-los e eliminar os produtos residuais.
Joo C. C. Silva 1575 61
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Os alimentos digeridos e no absorvidos atravessam o clon ascendente, transverso e descendente at chegarem a sigmoideia e saem pelo anus (defecar)
fezes (excrementos ou desperdcio intestinal) deslocam-se atravs do intestino grosso, por meio do peristaltismo
O peristaltismo um movimento propulsor em que o msculo liso se contrai num movimento ondulante ao longo de um tubo anatmico, forando o seu contedo a progredir.
Outra substncia existente no tubo digestivo o (flatus). A flatulncia deriva de processos de fermentao que ocorrem no intestino e do ar deglutido.
Factores que afectam a defecao normal
Factores psicolgicos:
Estado mental Experincia ligada ao treino intestinal Hbitos culturais Privacidade
Factores fisiolgicos
Hbitos pessoais Ingesto de alimentos Tnus muscular Medicamentos Procedimentos cirrgicos Exames de diagnstico Idade Distrbios motores e sensoriais Patologia intestinal
Joo C. C. Silva 1575 62
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Avaliao fsica
Inspeco auscultao percusso palpao
Inspeco:
Com o utente em decbito dorsal dever fazer-se a observao do peristaltismo, do contorno, da simetria e da existncia de massas.
Auscultao :
Devem auscultar-se os rudos intestinais anotando a sua frequncia e caractersticas.A percusso pode evidenciar timpanismo ou maciez, dependendo da presena de
gs de lquidos normais e de fezes.
Palpao
pode detectar a existncia de hipersensibilidade ou massas no abdmen. A inspeco e a palpao do nus permitem a observao de ndulos, lceras,
inflamao, eritemas ou escoriaes. A observao das caractersticas das fezes e a sua anlise laboratorial d outra
dimenso avaliao GI.
Joo C. C. Silva 1575 63
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
1-Decbito dorsal 2-Privacidade
3-Percusso 4-Palpao
4-Palpao
Joo C. C. Silva 1575 64
Apenas destapar a rea com que se vai trabalhar
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Colheitas de espcimes
Amostra de fezes
As amostras de fezes so colhidas numa arrastadeira esterilizada ou limpa . Uma poro das fezes transferida para o recipiente adequado com uma
esptula. Se a pessoa no conseguir defecar, pode introduzir-se suavemente uma
zaragatoa rectal. Colocar num recipiente adequado para ser transportada para o laboratrio.
De uma forma geral, as amostras para cultura devem ser colhidas para um recipiente esterilizado e enviadas imediatamente para o laboratrio, ou colocadas num meio prprio para evitar desenvolvimento bacteriano
Por exemplo, uma amostra de fezes para ser analisada quanto a ovos e parasitas dever ser examinada imediatamente, porque os organismos morrem se arrefecem abaixo da temperatura do corpo.
Amostras da regio anal
Pesquisa de oxiros:Para esta amostra especfica, uma fita adesiva transparente temperatura ambiente pressionada para aderir sobre e/ou em redor do nus.
removida imediatamente, colocada sobre uma lmina de vidro e enviada para o laboratrio para exame microscpico.
Esta amostra colhida de manh cedo, antes da pessoa ter tomado banho ou de o intestino ter funcionado, porque estes vermes depositam os ovos na rea perianal durante a noite.
Caractersticas das fezes
As caractersticas a avaliar para identificao de problemas GI so: Frequncia Quantidade Cor Consistncia Forma Cheiro
Joo C. C. Silva 1575 65
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
As fezes so compostas de resduos alimentares, bactrias, alguns glbulos brancos, secrees intestinais e gua.
Frequncia da dejecesA frequncia normal para um adulto varia de duas a trs vezes por dia a uma a trs
vezes por semana.
Quantidade das fezesGeralmente cerca de 150 g por dia.
Cor das fezes: A cor normal das fezes o castanho, produzida pelos pigmentos biliares.
Acolia: fezes brancas ou cinzentas
Melenas: fezes escuras, tipo borra de caf (muito mal cheirosos)
mcnio: as primeiras fezes nos recm-nascidos, so normalmente escuras e viscosas devido ingesto do lquido amnitico.
Consistncia das fezesMoldvel
Forma das fezesNormalmente a forma das vezes semelhante do recto.
Cheiro das fezesO cheiro das fezes caracterstico a acre e produzido pela flora bacteriana e pelos
alimentos e ingeridos. Sangue ou infeces no tubo digestivo provocam alteraes detectveis e ftidas ao cheiro normal.
Exemplo de uma anlise laboratorial:
Pesquisa de sangue oculto nas fezes
Joo C. C. Silva 1575 66
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Exames auxiliares de diagnstico para identificao de problemas da eliminao intestinal
Exames radiolgicos
Visualizao directa atravs de endoscopias
Anlises laboratoriais.
O mdico tambm pode recorrer a cirurgia para examinar o clon.
Intervenes de enfermagem
As intervenes de enfermagem so:
(1)Aces independentes prescritas pelas enfermeiras em resposta aos diagnsticos de enfermagem, como por exemplo ensinar os utentes a melhorar a eliminao intestinal;
1)Aces dependentes prescritas pelos mdicos em funo do diagnstico mdico, tais como a administrao de clisteres, laxantes e supositrios;
2)Funes essenciais de vida diria que no esto relacionadas nem com o diagnstico mdico nem com os de enfermagem, tais
como supervisionar as auxiliares de aco mdica (segurana dos doentes limpeza das arrastadeiras, etc)
Joo C. C. Silva 1575 67
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
AS INTERVENES DE ENFERMAGEM RELEVANTES PARA A ELIMINAO INTESTINAL INCLUEM:
1. controlo do intestino,2. estimulao da evacuao,3. tratamento da obstipao,4. tratamento dos fecalomas, 5. tratamento da diarreia,6. reduo da flatulncia,7. incontinncia intestinal,8. treino intestinal.
1. Controlo do intestino
DefinioEstabelecimento e manuteno de um padro de eliminao intestinal regular.
Actividades
Anotar a data da ltima dejeco Vigiar as dejeces, incluindo a frequncia, consistncia, forma, volume e cor,
se apropriado Vigiar rudos intestinais Comunicar qualquer aumento na frequncia ou intensidade dos rudos
intestinais Comunicar qualquer diminuio dos rudos intestinais Vigiar o aparecimento de sinais e sintomas de diarreia, obstipao e fecaloma Avaliar a existncia de incontinncia fecal, se necessrio Anotar problemas intestinais preexistentes, rotina intestinal e uso de laxantes Ensinar o utente acerca dos alimentos especfico que ajudam a promover a
regulao intestinal Instruir o utente sobre os alimentos ricos em fibra Ensinar o utente/famlia a registar a cor, volume, frequncia e consistncia das
fezes Introduzir supositrios rectais, se necessrio Iniciar um programa de treino intestinal, se apropriado Encorajar a diminuio da ingesto de alimentos produtores de gases, se
apropriado Administrar lquidos quentes aps as refeies, se necessrio Avaliar se os medicamentos ingeridos tm efeitos secundrios sobre o tubo
digestivo Fazer pesquisa de sangue oculto, se apropriado Abster-se de fazer exame rectal/vaginal se a condio mdica assim o exigir.
Joo C. C. Silva 1575 68
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
ADMINISTRAO DE LAXANTES, SUPOSITRIOS OU ENEMAS.
Estimulao da defeco
Quando as tentativas para induzir a defecao falharem preciso desenvolver aces adicionais para a estimular.
Essas aces requerem prescrio mdica, constituindo actividades de enfermagem dependentes.
Tais actividades incluem a administrao de laxantes, supositrios ou enemas.
Laxantes e purgantesLaxante um medicamento usado para induzir o esvaziamento do intestino.Purgante um medicamento mais eficaz que o laxante (aco mais forte). As quatro categorias de laxantes so: (1) expansores de volume (2) emolientes, (3) salinos (4) de contacto.
Expansores de volume fecalOs laxantes expansores de volume so os mais naturais e menos irritantes, razo
porque so muito usados para desmamar pessoas dependentes de uso de laxantes.
EmolientesUm emoliente um medicamento que reveste a camada superficial da massa fecal,
lubrificando-a e inibindo a absoro de lquidos de fezes.
Laxantes salinos (agentes osmticos)Um laxante salino um medicamento que contm sais e acares pouco absorvveis
e que, por actividade osmtica, chamam gua para o intestino a fim de aumentar o volume e lubrificar as fezes.
Laxantes de contacto (estimulantes)Um laxante de contacto um medicamento que aumenta o peristaltismo por
estimulao das extremidades nervosas sensoriais do epitlio do clon ou por irritao directa da mucosa GI.
Joo C. C. Silva 1575 69
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
SupositriosUm supositrio um medicamento semi-slido com forma cnica ou oval, que
derrete temperatura do corpo.
EnemasA administrao de um enema, ou clister, envolve a introduo de lquido no recto,
normalmente com a finalidade de estimular a defecao.Os enemas podem ser de limpeza, reteno e refluxo.
O enema de limpeza um tipo de enema usado para tratamento da obstipao ou de fecalomas, para esvaziar o intestino antes de exames auxiliares de diagnstico ou de cirurgia, ou para ajudar a estabelecer uma funo intestinal regular durante um programa de treino intestinal.
Um enema de reteno um tipo de enema que deve ser retido no intestino durante um perodo prolongado.
Normalmente administrado para lubrificar ou amolecer fezes duras com leo, facilitando a sua eliminao pelo nus.
O enema de refluxo, serve para aliviar a distenso gasosa, so geralmente utilizados para tratamento da flatulncia.
Os enemas de limpeza utilizam solues hipotnicos, isotnicas ou hipertnicas para distender o intestino e induzir a defecao.
Joo C. C. Silva 1575 70
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
INTERVENES DE ENFERMAGEM
Exame do abdmen Inspeco do abdmen
Diviso do abdmen
Percusso do abdmen
Joo C. C. Silva 1575 71
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Palpao do abdmen
Mensurao da circunferncia abdominal Exame / Inspeco do recto
Palpao do recto
Joo C. C. Silva 1575 72
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Execuo de cuidados na eliminao intestinal e na distenso abdominal
Administrao de enema de limpeza
Joo C. C. Silva 1575 73
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Administrao de enema de reteno
Joo C. C. Silva 1575 74
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Intervenes de enfermagem
Administrao de enemasDefinioIntroduo de uma substncia no clon.
Actividades Determinar a razo para a limpeza do intestino Evitar o enema se o utente tiver histria de colite ulcerosa ou
doena de Crohn Verificar a prescrio mdica para a limpeza do intestino Escolher o tipo de enema apropriado
Explicar o procedimento ao utente Proporcionar privacidade Informar o utente que poder ter clicas abdominais e urgncia em defecar Preparar o equipamento Posicionar adequadamente o utente Proteger a roupa da cama Providenciar uma arrastadeira, ou cadeira sanitria, se apropriado Verificar se a temperatura da substncia de irrigao a correcta
Cuidados iniciais:
Lubrificar a sonda antes de a inserir Introduzir o liquido no recto Verificar a quantidade de liquido de retorno Verificar eventuais efeitos secundrios da soluo de irrigao ou da medicao
oral Vigiar eventuais sinais e sintomas de diarreia, obstipao ou fecaloma Anotar se o liquido de retorno no limpo Limpar a regio anal
Administrao de um enema hipertnico Para administrar um enema preparado comercialmente, retirar a
tampa, lubrificar a ponta a ser inserida no recto. O reservatrio colapsvel dever ser comprimido firmemente at a
soluo comear a sair. O enema dever ser retido at o desejo de defecar ser muito intenso.
Joo C. C. Silva 1575 75
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Administrao de um enema de reteno
A administrao de um enema de reteno semelhante dum enema salino normal, mas a soluo deve ser retida por um perodo prolongado, normalmente durante, pelo menos, 1 hora.
Complicaes associadas administrao de enemas
Desequilbrios hdricos e electrolticos, Traumatismos dos tecidos, Estimulao vagal Dependncia.
Obstipao
A obstipao uma situao caracterizada por uma consistncia das fezes descrita como excessivamente seca, dura e de quantidade insuficiente.
Uma pessoa obstipada tambm pode ter outros sintomas, tais como: cefaleias, letargia, anorexia, halitose, lngua saburrosa e sensao de enfartamento.
fecalomas so uma coleco de fezes endurecidas no recto, que normalmente impedem a eliminao de fezes normais.
Se a massa fecal for exactamente grande ou os enemas forem ineficazes para a expelir, o fecaloma ter que ser removido digitalmente.
Para o fazer, inserir um dedo enluvado e lubrificado no recto para retirar manualmente as fezes.
Joo C. C. Silva 1575 76
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Diarreia
A diarreia a emisso de fezes lquidas ou pastosas. O tratamento habitual para a diarreia a inibio do peristaltismo, com
antibiticos e possivelmente com antidiarreicos. O desequilbrio hidroelectroltico uma complicao comum na
diarreia. A perda de lquidos e electrolticos deve ser compensada por
teraputica oral ou parentrica (intravenosa).
A frequncia e a urgncia das dejeces tambm causam fadiga e constrangimento.
Portanto, certifique-se que a pessoa tem acesso fcil e rpido casa de banho, cadeira sanitria ou arrastadeira.
Coloque perto da pessoa uma companhia de chamada, confira-lhe privacidade e controlo do cheiro.
Flatulncia A flatulncia (distenso gasosa) a presena de quantidades anormalmente
grandes de gs no tubo digestivo. Os sintomas incluem sensao de plenitude, distenso abdominal, dores tipo
clica e excessiva eliminao de gs pela boca (eructao) ou pelo nus (flatus). A percusso abdominal produz um som timpnico.
Interveno na flatulncia
Exerccio caminhar o melhor mtodo, mas se tal no for possvel til andar em redor da cama.
Insero de uma sonda rectal para introduzir uma sonda rectal de borracha ou de plstico num adulto, lubrificar uma sonda de calibre 22 a 32 e inserir cerca de 10 cm do recto.
A extremidade distal deve ser adaptada a um saco colector para recolher fezes que possam ser expelidas.
A sonda deve ser fixada com adesivo no local, onde permanecer no mximo, 20 minutos.
Reinserir a sonda cada 2 a 3 horas se necessrio.
Joo C. C. Silva 1575 77
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Incontinncia intestinal
A incontinncia intestinal a incapacidade para controlar voluntariamente a emisso de fezes e gazes.
As causas da incontinncia intestinal podem ser fsicas ou psicolgicas. As causas fsicas: as hemorridas, os tumores, as laceraes, os prolapsos
rectais, as fstulas ou a perda da inervao sensorial. Psicologicamente, pode ser o resultado de um estado emocional.
Interveno de Enfermagem na incontinncia intestinal Aplicao de uma bolsa rectal. Cuidados pele: pode ser uma tarefa demorada, cujo principal
objectivo evitar o contacto prolongado com as fezes, que provocam escoriaes e solues de continuidade.
Proteco do vesturio: Usar fraldas impermeveis para proteger o vesturio.
Treino intestinal
Todos os programas de treino incluem o uso de medidas de enfermagem independentes para favorecer a defeco normal: dieta, lquidos, exerccio e manuteno dos padres de defecao.
OstomiasUma ostomia uma abertura criada cirurgicamente.
Ileostomia uma abertura criada cirurgicamente no ileum.
Colostomia uma abertura cirrgica no intestino grosso.
Estas intervenes cirrgicas criam um estoma (abertura criada cirurgicamente) na parede abdominal, atravs da qual passa o contedo intestinal.
Joo C. C. Silva 1575 78
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
EQUILBRIO HIDROELECTROLITICO
OBJECTIVO GERAL
Que no final da abordagem do tema os alunos possam:* Compreender o processo de equilbrio hidroelectroltico
OBJECTIVOS ESPECFICOS
-Identificar os diferentes compartimentos de lquidos corporais-Reconhecer as manifestaes de equilbrio hidroelectroltico-Identificar os doentes de risco no desenvolvimento de desequilbrios hidroelectrolticos-Realizar o balano hdrico numa situao concreta
SUMRIO
Introduo A gua e electrlitos no organismo Lquidos e compartimentos orgnicos Equilbrio hidroelectroltico Desequilbrio hidroelectroltico
Tipos de desequilbrio Causas de desequilbrio Situaes de risco para o desequilbrio hidroelectroltico
Interveno de enfermagem Colheita de dados
Histria Observao Dados analticos
Identificao de problemas mais comuns Desidratao e sobrehidratao
Balano hdrico
Joo C. C. Silva 1575 79
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
A GUA CORPORAL O MAIOR CONSTITUINTE SIMPLES DO ORGANISMO, REPRESENTANDO 50% A 75% DO PESO DO CORPO
VARIAES
IDADE* RN 75%* Adulto jovem 60%* Idoso 50%
SEXO* Masculino 60%* Feminino 50%
MASSA CORPORAL* Indivduo magro .... x* Indivduo obeso -25% a 30% que o ind. magro
Joo C. C. Silva 1575 80
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
DISTRIBUIO DOS LQUIDOS E ELECTRLITOS NOS DIFERENTES COMPARTIMENTOS CORPORAIS
INTRACELULAR
Na 20mEq/lK 116mEq/lCl 10mEq/lH2O 70% do total
* No estado saudvel, tanto a gua como os electrlitos se perdem e ganham constantemente.*Para manter o volume de lquidos e quantidade de electrlitos corporais, os ganhos e as perdas devem equilibrar-se entre si.
Joo C. C. Silva 1575 81
INTERSTICIALNa 140mEq/l
K 4mEq/lCl 110mEq/l
H2O 25% do total
INTRAVASCULARNa 140mEq/l
K 4mEq/lCl 105mEq/l
H2O 5% do total
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
DESEQUILBRIO HIDROELECTROLITICO
CAUSAS
ENTRADAS EXCESSIVASELIMINAES INSUFICIENTES
OUENTRADAS INSUFICIENTESELIMINAES EXCESSIVAS
Joo C. C. Silva 1575 82
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
FACTORES DE RISCO
FASE DA VIDA Recm-nascido Crianas Gravidez Idosos
VOLUME CORPORAL TEMPERATURA AMBIENTE E HUMIDADE RELATIVA ESTILOS DE VIDA
Actividade profissional Hbitos alimentares Exerccio fsico
ALTERAES NA SADE Vmitos Febre Hemorragia Patologias de orgos escretores (...)
INTERVENES TERAPUTICAS Cirurgia Aspirao gstrica Solues intravenosas Medicamentos
Joo C. C. Silva 1575 83
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
INTERVENO DE ENFERMAGEM
COLHEITA DE DADOS
A HISTRIA
B OBSERVAO
C DADOS ANALTICOS
OBSERVAO
Veias jugulares Veias das mos Pele e mucosas
Turgor da pele Textura da pele Mucosas Edema
DADOS ANALTICOS
Temperatura Cutnea Permetros Presso Arterial Presso Venosa Central Frequncia Cardaca Respirao Peso Comportamento/Estado de Conscincia Diurese Balano Hdrico
Joo C. C. Silva 1575 84
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
VEIAS JUGULARES 9
Teste de enchimento e esvaziamento venoso
1 Passo Pessoa em decbito dorsal* em situao normal a distenso jugular visvel * em caso de hipovolmia no se verifica distenso
jugular
2 Passo Pessoa com cabeceira elevada a 45 * em situao normal, ausncia de distenso venosa* em caso de hipervolmia verifica-se distenso jugular
VEIAS DAS MOS 9
Teste de enchimento e esvaziamento venoso
1 Passo Mo pendente * em 5 seg. ocorre distenso venosa (normal)* em caso de hipovolmia o enchimento venoso mais demorado
2 Passo Elevao da mo * distenso venosa desaparece em 5 seg (normal)* em caso de hipervolmia aumenta o tempo de esvaziamento
Joo C. C. Silva 1575 85
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
TURGOR DA PELE 9
Teste de prega cutnea
Procedimento:
* Pinar a pele do antebrao entre os dedos fazendo uma prega cutnea, libertando logo de seguida
* A pele com elasticidade normal e hidratao adequada, regressa forma inicial quase imediatamente
* Caso a elasticidade ou o grau de hidratao se encontre em dfice, a prega cutnea mantm-se durante alguns segundos
EDEMA 9
Sinal de godet
1 Passo Pressionar a pele do utente sobre uma proeminncia ssea (tornozelo, pr-tibial, sagrada...), com a extremidade dos nossos dedos, durante 2 a 3 segundos
2 Passo Libertar a presso efectuada* Os dedos no deixam o molde na pele (normal)* Em caso de aumento de lquidos no espao intersticial (edema), o
molde dos dedos permanece SINAL DE GODET
Joo C. C. Silva 1575 86
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Presses capilares
Ao nvel capilar, os lquidos movem-se em consequncia de diferenas nas presses hidrosttica e onctica (coloidosmtica)
Presso hidrosttica Deve-se ao volume de gua no interior dos vasosPresso onctica a exercida pelas protenas plasmticas
A filtrao ocorre nas extremidades arteriais dos capilares, pois a presso hidrosttica maior que a onctica. Ento o lquido empurrado para fora dos vasos, para o espao intersticial.
Nas extremidades venosas dos capilares, a presso onctica maior que a hidrosttica e o lquido puxado de volta para o interior dos capilares
CAUSAS
Sobrecarga hdrica Diminuio das protenas plasmticas Bloqueio linftico Aumento da permeabilidade capilar
Joo C. C. Silva 1575 87
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
EDEMA E DERRAME 9
* Quando ocorre edema nos tecidos adjacentes a um espao virtual, o lquido do edema acumula-se tambm neste espao, sendo o processo denominado derrame
ESPAOS VIRTUAIS: * cavidade pleural * cavidade pericrdica * cavidade peritoneal * cavidades sinoviais
PESO 9
um dos parmetros que individualmente se reveste de maior importncia na apreciao do estado hdrico da pessoa.
PESAR:* mesma hora* Com a mesma roupa* Na mesma balana
1 kg ~ 1 litro
TEXTURA DA PELE
* Pele lisa, macia, suave ao toque normal* Pele spera, seca dfice de lquidos
MUCOSAS
Lisas e hmidas
Joo C. C. Silva 1575 88
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
COMPORTAMENTO/ ESTADO DE CONSCINCIA 9
* A perda grave de volume de lquidos, afecta a conscincia, por diminuir a perfuso cerebral. As clulas cerebrais diminuem de tamanho.
* O ganho de lquidos provoca edema cerebral, com aumento da PIC
Joo C. C. Silva 1575 89
-
Mtodos e Tcnicas de Enfermagem XVI CLEDocente: Margarida
Joo C. C. Silva 1575 90
-
Mtodos











![1191547575 Metodos e Tecnicas Pedagogicos[2]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5571fae649795991699370b9/1191547575-metodos-e-tecnicas-pedagogicos2.jpg)