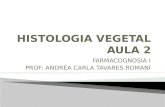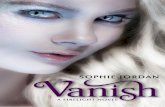MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO … · Aos colegas do laboratório de...
Transcript of MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO … · Aos colegas do laboratório de...
-
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
MANOEL ANDRÉ DE SOUZA NETO
Ziziphus joazeiro MARTIUS: ESTUDO FITOQUÍMICO DO EXTRATO
HIDROETANÓLICO DAS FOLHAS, FRACIONAMENTO BIOGUIADO ANTI-
Candida E AVALIAÇÃO DO EFEITO PROTETOR EM MODELO DE
DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL
NATAL-RN
2016
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=4847
-
MANOEL ANDRÉ DE SOUZA NETO
Ziziphus joazeiro MARTIUS: ESTUDO FITOQUÍMICO DO EXTRATO
HIDROETANÓLICO DAS FOLHAS, FRACIONAMENTO BIOGUIADO ANTI-
Candida E AVALIAÇÃO DO EFEITO PROTETOR EM MODELO DE
DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a obtenção do grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas
Orientador: Silvana Maria Zucolotto Langassner
Co-orientadores: Guilherme Maranhão Chaves
Gerlane Coelho Bernardo Guerra
NATAL-RN
2016
-
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS
Souza Neto, Manoel André de.
Ziziphus joazeiro Martius: estudo fitoquímico do extrato
hidroetanólico das folhas, fracionamento bioguiado anti-Candida
e avaliação do efeito protetor em modelo de doença inflamatória
intestinal / Manoel André de Souza Neto. - Natal, 2016.
262f.: il.
Orientador: Silvana Maria Zucolotto Langassner.
Coorientadores: Guilherme Maranhão Chaves, Gerlane Coelho Bernardo Guerra.
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas. Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
1. Ziziphus joazeiro - Dissertação. 2. Fitoquímica -
Dissertação. 3. Flavonoides - Dissertação. 4. Candida -
Dissertação. I. Langassner, Silvana Maria Zucolotto. II. Chaves,
Guilherme Maranhão. III. Guerra, Gerlane Coelho Bernardo. IV.
Título.
RN/UF/BS-CCS CDU 634.662
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS
Souza Neto, Manoel André de.
Ziziphus joazeiro Martius: estudo fitoquímico do extrato
hidroetanólico das folhas, fracionamento bioguiado anti-Candida
e avaliação do efeito protetor em modelo de doença inflamatória
intestinal / Manoel André de Souza Neto. - Natal, 2016. 262f.: il.
Orientador: Silvana Maria Zucolotto Langassner.
Coorientadores: Guilherme Maranhão Chaves, Gerlane Coelho Bernardo Guerra.
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas. Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
1. Ziziphus joazeiro - Dissertação. 2. Fitoquímica -
Dissertação. 3. Flavonoides - Dissertação. 4. Candida -
Dissertação. I. Langassner, Silvana Maria Zucolotto. II. Chaves,
Guilherme Maranhão. III. Guerra, Gerlane Coelho Bernardo. IV.
Título.
RN/UF/BS-CCS CDU 634.662
-
AGRADECIMENTOS
Primeiramente, à minha família, especialmente aos meus pais, Margarida e Francisco,
e ao meu irmão, Francisco Júnior, por todo carinho, suporte e incentivo durante essa jornada
inicial na área acadêmica.
À Profa. Silvana Maria Zucolotto Langassner, pela orientação, paciência, confiança e
principalmente por apoiar as minhas ideias, por vezes mirabolantes, que surgiram durante a
realização deste trabalho. Muito obrigado pela oportunidade.
Ao meu co-orientador micologista, Prof. Guilherme Maranhão Chaves, por todo
auxílio, orientação e ensinamentos, fundamentais para a realização da etapa de atividade
antifúngica deste trabalho.
A todos do laboratório de Microbiologia Clínica e Micologia Médica e Molecular
(LMMM), principalmente ao doutorando Plínio Rocha, pelo auxílio na realização dos
experimentos de atividade antifúngica.
A minha co-orientadora, Profa. Gerlane Coelho Bernardo Guerra, pela orientação,
apoio e, por assim dizer, otimismo na realização dos experimentos in vivo de doença
inflamatório intestinal.
A todos do laboratório de Farmacologia do CB pela enorme ajuda prestada na
realização dos experimentos de doença inflamatório intestinal, incluindo os técnicos Flávio,
Carla, César e Dona Neida, além dos alunos de IC Valéria, Iuri e Cássio. Agradeço
especialmente a doutoranda Daline por todo o auxílio e aprendizado proporcionados.
Ao Prof. Freddy Alejandro Ramos e ao Geison Modesti Costa pela orientação,
essencial suporte e ensinamentos fornecidos durante a realização dos experimentos na
Universidade Nacional de Colombia (UNAL), Laboratório de Productos Naturales Marinos y
Frutas de Colombia.
A operadora do equipamento de RMN da UNAL, Katherine Jaramillo, por todo
cuidado e atenção na obtenção dos espectros. A todas as pessoas da UNAL e Bogotá que me
ajudaram e contribuíram, de alguma forma, para a realização deste trabalho.
Aos colegas do laboratório de Farmacognosia da UFRN/PNBio pela ajuda e amizade.
Em especial, ao meu “ex” IC Jordan, pelo auxílio na realização dos experimentos, e a Samara,
por ter me ensinado boa parte do que sei sobre fitoquímica, pelas dicas, trocas de ideias e
ajuda nos experimentos de isolamento.
Aos professores Josean Fechine Tavares e Norberto Peporine Lopes, assim como aos
técnicos Evandro Ferreira e José Carlos Tomaz, pela colaboração nas análises de RMN e
espectrometria de massas, respectivamente.
À UFRN, Faculdade de Farmácia e Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas pela oportunidade de formação.
À CAPES e ao CNPq pelo auxílio financeiro a essa pesquisa.
-
RESUMO
A espécie Ziziphus joazeiro é uma planta da Caatinga do Nordeste brasileiro, utilizada como antiséptico, dentifrício, anticaspa, anti-inflamatório e antimicrobiano. A maioria dos estudos químicos relatou a presença de triterpenos nas cascas da espécie. Quanto às folhas, os estudos fitoquímicos são escassos, envolvendo apenas a triagem fitoquímica. Até o momento não foram caracterizadas as substâncias responsáveis pela atividade antifúngica das folhas e não foi encontrado nenhum estudo que tenha avaliado o seu efeito anti-inflamatório em modelo de doença inflamatória intestinal. Portanto, o trabalho tem como objetivo isolar e caracterizar os marcadores químicos do extrato hidroetanólico das folhas (EHF) e desenvolver um método analítico por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) para quantifica-los. Em paralelo a isso, objetiva-se avaliar a atividade anti-Candida do extrato, frações e substâncias isoladas de Z. joazeiro, por meio de um fracionamento bioguiado, além de avaliar o efeito protetor do EHF em modelo de doença inflamatória intestinal (colite) induzida por DNBS. O EHF foi preparado por meio de maceração, o qual foi posteriormente particionado com solventes de polaridade crescente. O extrato e as frações foram analisados por reações químicas clássicas, Cromatografia em Camada Delgada, CLAE e CLAE acoplada a espectrômetro de massas (CLAE-EM), sendo observada a presença de saponinas, ácidos fenólicos, cumarinas, e flavonoides glicosilados derivados de quercetina, canferol e isormanetina ou o seu isômero, tamarixetina. Por meio das análises por CLAE-EM foi possível identificar glicosídeos de quercetina (quercetina-3-O-rutinosídeo, quercetina-3-O-galatosídeo, quercetina-3-O-glicosídeo), canferol (canferol-3-O-rutinosídeo) e isoramnetina ou tamarixetina (isoramnetina ou tamarixetina-3-O-rutinosídeo, isoramnetina ou tamarixetina-3-O-galactosídeo, isoramnetina ou tamarixetina-3-O-glicosídeo). Para o isolamento dos flavonoides majoritários, a fração acetato de etila foi submetida à técnica de Cromatografia em Contra-Corrente de Alta Velocidade aliada ao refinamento por zona de pH, seguido de cromatografia em coluna de fase reversa e CLAE semipreparativa. Desse processo, foram isolados 3 flavonóis (ZJF1, ZJF2 e ZJF3), os quais foram identificados, pela análise conjunta de dados cromatográficos e RMN de 1H, como quercetina-3-O-rutinosídeo, canferol-3-O-rutinosídeo e isoramnetina ou tamarixetina-3-O-rutinosídeo, respectivamente. A partir da determinação da concentração inibitória mínima (CIM) por microdiluição em caldo, aliada a bioautografia, observou-se que a fração butanólica apresentou maior atividade antifúngica frente à Candida glabrata ATCC2001 (CIM = 0,625 mg/mL), e que o processo de concentração das substâncias hipoteticamente bioativas permitiu obter frações com maior atividade anti-Candida in vitro frente a cepas de referência e clínicas. Foi observado que as principais substâncias responsáveis são as saponinas, e a partir de uma dessas frações isolou-se a saponina bacopasídeo X, presuntivamente identificada por análises mono e bidimensionais de RMN. A atividade anti-inflamatória do EHF foi avaliada em modelo de doença inflamatória intestinal nas doses de 50, 100 e 200 mg/kg, não sendo observado efeito protetor do EHF em relação ao grupo controle positivo. Os resultados obtidos são inéditos para a espécie e o estudo abre perspectivas para a realização de novas investigações envolvendo o uso de flavonoides e saponinas no controle de qualidade e avaliação da sazonalidade, além do estudo do mecanismo de ação das saponinas das folhas sobre as leveduras do gênero Candida. Palavras-chave: Ziziphus joazeiro, flavonoides, saponinas Candida, colite
-
ABSTRACT
The species Ziziphus joazeiro is a Caatinga plant from Northeast Brazil, used as an antiseptic, dentifrice, anti-dandruff, anti-inflammatory, and antimicrobial. Most chemical studies reported the presence of triterpenes in the bark of the species. Regarding the leaves, the phytochemical studies are scarce, only involving phytochemical screening. The substances responsible for the antifungal activity of leaves have not yet been characterized and no study has evaluated its anti-inflammatory effect in inflammatory bowel disease model. Therefore, this study aims to isolate and characterize the chemical markers of hydroethanolic extract of the leaves (HEL), and develop an analytical method by high-performance liquid chromatography (HPLC) to quantify them. Parallel to this, the study aims to evaluate the anti-Candida activity of the extract, fractions and isolated substances from Z. joazeiro through a bioguided fractionation, and to evaluate the HEL protective effect in a DNBS induced model of inflammatory bowel disease (colitis). The HEL was prepared by maceration, which was further partitioned with increasingly polar solvents. The extract and the fractions were analyzed by classical chemical reactions, Thin Layer Chromatography, HPLC and HPLC coupled to mass spectrometry (HPLC-MS), being observed the presence of saponins, phenolic acids, coumarins and flavonoid glycosides derived from quercetin, kaempferol and isorhamnetin or its isomer, tamarixetin. Through HPLC-MS analysis it was identified quercetin glycosides (quercetin-3-O-rutinoside, quercetin-3-O-galatosídeo, quercetin-3-O-glycoside), kaempferol (kaempferol-3-O-rutinoside) and isorhamnetin or tamarixetin (tamarixetina-3-O-rutinoside, isorhamnetin or tamarixetin-3-O-galactoside, isorhamnetin or tamarixetin-3-O-glucoside). For the isolation of the major flavonoids, the ethyl acetate fraction was subjected to a pH-zone-refining high speed countercurrent chromatography, followed by reversed phase column chromatography and semi-preparative HPLC. In this process, 3 flavonols were isolated (ZJF1, and ZJF2 ZJF3), which were identified by the joint analysis of chromatographic data and 1H NMR as quercetin-3-O-rutinoside, kaempferol-3-O-rutinoside and isorhamnetin or tamarixetin-3-O-rutinoside, respectively. From the determination of the minimum inhibitory concentration (MIC) by broth microdilution, coupled with bioautography, it was observed that the butanol fraction had higher antifungal activity against Candida glabrata ATCC2001 (MIC = 0.625 mg / mL), and the process of concentration of the hypothetically bioactive substances afforded fractions which had more anti-Candida activity in vitro against clinical and reference strains. It was observed that the main substances involved are saponins, and through a saponin rich fraction it was isolated bacopaside X, presumptively identified by one and two-dimensional NMR analyzes. The anti-inflammatory activity of EHF was evaluated in a model of inflammatory bowel disease in doses of 50, 100 and 200 mg / kg and it was not observed protective effect of the HEL compared to the positive control group. The results are novel for the species and the study opens perspectives for new investigations involving the use of flavonoids and saponins in quality control and evaluation of seasonality, besides the study of the mechanism of action of leaves saponins on the Candida genus. Key-words: Ziziphus joazeiro, flavonoids, saponins Candida, colitis
-
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Indivíduo de Ziziphus joazeiro Martius. ........................................... 31
Figura 2 - Folhas e flores de Ziziphus joazeiro Martius. ................................... 32
Figura 3 - Representação do teste de microdiluição em caldo. ....................... 72
Figura 4 - Análise por CCD do EHF de Z. joazeiro Mart. com o eluente para
glicosídeos ...................................................................................... 83
Figura 5 - Análise por CCD do EHF de Z. joazeiro Mart. com o eluente para
agliconas. ........................................................................................ 85
Figura 6 - Análise por co-CCD do EHF de Z. joazeiro Mart. com os padrões
de quercetina e canferol .................................................................. 86
Figura 7 - Análise por co-CCD do EHF de Z. joazeiro Mart. com os padrões
de rutina e isoquercetina. ................................................................ 88
Figura 8 - Análise por CCD do EHF de Z. joazeiro Mart. e das frações
obtidas da partição líquido-líquido. .................................................. 90
Figura 9 - Análise por CCD do EHF de Z. joazeiro Mart. e das frações
obtidas da partição líquido-líquido ................................................... 90
Figura 10 - Espectros de UV (210-450 nm) dos 25 picos observados na
análise por CLAE-UV-DAD do EHF de Z. joazeiro Mart. ................. 94
Figura 11 - Cromatograma obtido por CLAE-UV-DAD para o EHF de Ziziphus
joazeiro Mart. e frações. .................................................................. 97
Figura 12 - Comparação entre os cromatogramas obtidos para a fração
AcOEt-PLL01 nos equipamentos de CLAE-UV-DAD e CLAE-EM-
TOF, sob o comprimento de onda de 340 nm. ................................ 105
Figura 13 - Análise por CCD das fases dos testes em tubos para os sistemas
contendo acetato de etila-butanol-água........................................... 108
Figura 14 - Análise por CCD das frações da separação CCCAV1..................... 110
Figura 15 - Análise por CCD das frações da separação CCCAV4..................... 110
Figura 16 - Análise por CCD das frações da separação CCCAV5..................... 110
Figura 17 - Análise por CCD das frações da separação CCCAV6..................... 111
Figura 18 - Análise por CCD das frações da separação CCCAV11. .................. 111
Figura 19 - Análise por CCD dos flavonoides ZJF1, ZJF2, ZJF3 e das
misturas ZJFM1 e ZJFM2................................................................ 112
Figura 20 – Cromatograma e espectro no UV do flavonoide ZJF1. .................... 114
-
Figura 21 - Representação estrutural do flavonol quercetina. ............................ 115
Figura 22 - Espectro ampliado de RMN 1H do flavonoide ZJF1 (400 MHz,
metanol-d4). .................................................................................... 118
Figura 23 - Cromatograma e espectro no UV do flavonoide ZJF2. .................... 120
Figura 24 - Espectro ampliado de RMN 1H do flavonoide ZJF2 (400 MHz,
metanol-d4). .................................................................................... 123
Figura 25 - Possibilidades estruturais para o flavonoide ZJF3. .......................... 126
Figura 26 - Cromatograma e espectro no UV do flavonoide ZJF3. .................... 128
Figura 27 - Espectro ampliado de RMN 1H do flavonoide ZJF3 (400 MHz,
metanol-d4) ..................................................................................... 129
Figura 28 - Ensaio de microdiluição em caldo para as frações da fração
BuOH-PLL01. .................................................................................. 135
Figura 29 - Bioautografia e análise por CCD do EHF de Z. joazeiro Mart. e da
fração BuOH-PLL01. ....................................................................... 137
Figura 30 - Bioautografia e análise por CCD das subfrações da fração BuOH-
PLL01. ............................................................................................ 138
Figura 31 - Ensaio de microdiluição em caldo para a fração 07-CCFR07. ......... 141
Figura 32 - Ensaio de concentração fungicida mínima realizado para a fração
07-CCFR07. .................................................................................... 142
Figura 33 - Microscopia de amostras dos poços contendo Candida albicans
ATCC90028. ................................................................................... 144
Figura 34 - Valores de CIM observados para a fração 07-CCFR07 frente a
cepas de referência e cepas clínicas. .............................................. 147
Figura 35 - Análise por CCD das frações da CFG03. ........................................ 151
Figura 36 - Análise por CCD das frações da CGF04. ........................................ 152
Figura 37 - Análise por CCD das frações da cromatografia em coluna de fase
reversa 12. ...................................................................................... 153
Figura 38 - Representação estrutural do núcleo damarano (A) e da saponina
bacopasídeo X (B). ......................................................................... 155
Figura 39 - Espectro ampliado de RMN 1H da saponina ZJS1(DMSO-d6; 500
MHz). .............................................................................................. 156
Figura 40 - Espectro ampliado de RMN 1H da saponina ZJS1(DMSO-d6; 500
MHz). .............................................................................................. 157
-
Figura 41 - Espectro ampliado de RMN 1H da saponina ZJS1(DMSO-d6; 500
MHz). .............................................................................................. 157
Figura 42 - Espectro ampliado de RMN 13C da saponina ZJS1(DMSO-d6;
125 MHz). ....................................................................................... 159
Figura 43 - Representação estrutural da aglicona jujubogenina. ....................... 160
Figura 44 - Espectro ampliado de HMBC da saponina ZJS1 (DMSO-d6; 500
MHz). .............................................................................................. 161
Figura 45 - Espectro ampliado de HMBC da saponina ZJS1 (DMSO-d6; 500
MHz). .............................................................................................. 162
Figura 46 - Espectro ampliado de HMQC da saponina ZJS1 (DMSO-d6; 500
MHz). .............................................................................................. 163
Figura 47 - Espectro ampliado de COSY da saponina ZJS1 (DMSO-d6; 500
MHz). .............................................................................................. 164
Figura 48 - Principais correlações de HMBC e COSY observadas para ZJS1... 168
Figura 49 - Monitorização do peso corporal das ratas durante o período
experimental.................................................................................... 171
Figura 50 - Índice de atividade da doença (IAD) relativo aos grupos tratatos e
controle durante o período de pós-indução da doença. ................... 172
Figura 51 - Efeito do EHF de Ziziphus joazeiro Mart., em comparação com os
grupos controle, sobre o escore de dano macroscópico do cólon. .. 173
Figura 52 - Cólons representativos dos tratamentos e grupos controle. ........... 173
Figura 53 - Efeito do EHF de Ziziphus joazeiro Mart., em comparação com os
grupos controle, sobre a relação peso/longitude (mg/cm) do cólon. 174
-
LISTA DE FLUXOGRAMAS
Fluxograma 1 - Fracionamento do EHF por partição líquido:líquido com
solventes de polaridade crescente. ........................................... 56
Fluxograma 2 - Isolamento dos flavonoides ZJF1, ZJF2 e ZJF3. ....................... 63
Fluxograma 3 - Esquema do fracionamento para a obtenção da fração 09-
CCFR05, utilizada no teste de atividade antifúngica. ................ 64
Fluxograma 4 - Esquema do fracionamento para a obtenção da fração 07-
CCFR07, utilizada no teste de atividade antifúngica. ................ 65
Fluxograma 5 - Esquema do processo de fracionamento por partição líquido-
líquido das frações BuOH-PLL01 e 02-PLL02. .......................... 67
Fluxograma 6 - Esquema de isolamento da saponina ZJS1, a partir da fração
02-PLL03. ................................................................................. 69
-
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Redimento das frações obtidas após a partição líquido-líquido do
EHF de Ziziphus joazeiro Martius. ................................................... 55
Tabela 2 - Sistemas de solventes testados e proporção (v/v) dos seus
respectivos componentes. ............................................................... 58
Tabela 3 - Condições cromatográficas das separações realizadas por
Cromatografia em Contra-Corrente de Alta Velocidade. .................. 60
Tabela 4 - Gradiente utilizado na separação da fração 12-CCCAV11 por
coluna de C18 (CCFR02). ............................................................... 62
Tabela 5 - Rendimento das principais frações obtidas após o fracionamento
por partição líquido-líquido da fração BuOH-PLL01. ....................... 66
Tabela 6 - Gradiente utilizado na separação da fração por cromatografia em
coluna de fase reversa (CCFR12). .................................................. 68
Tabela 7 - Amostras testadas pelo método de microdiluição em caldo e suas
respectivas concentrações iniciais e faixa de concentração após a
diluição seriada. .............................................................................. 71
Tabela 8 - Valores de Rf e cor das manchas observadas após a revelação
das cromatoplacas que foram submetidas ao eluente para
glicosídeos. ..................................................................................... 82
Tabela 9 - Valores de Rf e cor das manchas observadas após a revelação
das cromatoplacas que foram submetidas ao eluente para
agliconas. ........................................................................................ 84
Tabela 10 - Valores de Rf e cor das manchas observadas após a análise por
co-CCD do EHF de Z. joazeiro Mart.utilizando os padrões de
quercetina e canferol. ...................................................................... 86
Tabela 11 - Valores de Rf e cor das manchas observadas após a análise por
co-CCD do EHF de Z. joazeiro Mart. utilizando os padrões de
rutina e isoquercetina. ..................................................................... 87
Tabela 12 - Tempo de retenção (tR) e máximos de absorção (λmax) dos
espectros no UV observados para os picos obtidos após a análise
do EHF de Ziziphus joazeiro Mart.por CLAE-UV-DAD. ................... 93
-
Tabela 13 - Tempo de retenção (tR) e máximos de absorção (λmax) dos
espectros no UV observados para os picos obtidos após a análise
da fração CH2Cl2-PLL01 por CLAE-UV-DAD. .................................. 98
Tabela 14 - Tempo de retenção (tR) e máximos de absorção (λmax) dos
espectros no UV observados para os picos obtidos após a análise
da fração AcOEt-PLL01 por CLAE-UV-DAD. .................................. 100
Tabela 15 - Tempo de retenção (tR) e máximos de absorção (λmax) dos
espectros no UV observados para os picos obtidos após a análise
da fração BuOH-PLL01 por CLAE-UV-DAD. ................................... 101
Tabela 16 - Dados cromatográficos, espectroscópicos (UV) e de
espectrometria de massas dos principais flavonoides encontrados
na fração AcOEt-PLL01. ................................................................. 104
Tabela 17 - Dados espectrais de RMN 1H (400 MHz, metanol-d4) do flavonoide
ZJF1. ............................................................................................... 117
Tabela 18 - Dados espectrais de RMN 1H (400 MHz, metanol-d4) do
flavonoide ZJF2. .............................................................................. 122
Tabela 19 - Dados espectrais de RMN 1H (400 MHz, metanol-d4) do
flavonoide ZJF3 e literatura. ............................................................ 127
Tabela 20 - Concentração inibitória mínima (CIM) do extrato das folhas de Z.
joazeiro Mart. frente a cepas de referência de leveduras de
importância clínica. ......................................................................... 130
Tabela 21 - CIM das frações EP-PLL01, CH2Cl2-PLL01, AcOEt-PLL01, BuOH-
PLL01 e RA-PLL01 frente a cepas de Candida. .............................. 132
Tabela 22 - CIM de frações da fração BuOH-PLL01 frente à levedura Candida
glabrata ATCC 2001........................................................................ 135
Tabela 23 - Estatística descritiva das áreas relativas aos halos de inibição
observados após o teste de bioautografia. ...................................... 138
Tabela 24 - CIM e CFM da fração 07-CCFR07 testada frente a cepas de
Candida. .......................................................................................... 140
Tabela 25 - Concentração inibitória mínima (CIM) da fração 07-CCFR07
testada frente a cepas clínicas. ....................................................... 146
Tabela 26 - Dados espectrais de RMN 1H (500 MHz) e RMN 13C (125 MHz) da
saponina ZJS1 (DMSO-d6) observados para a aglicona, em
comparação com a literatura. .......................................................... 165
-
Tabela 27 - Dados espectrais de RMN 1H (500 MHz) e RMN 13C (125 MHz) da
saponina ZJS1 (DMSO-d6) observados para a glicona, em
comparação com a literatura. .......................................................... 166
-
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Estudos etnobotânicos de Ziziphus joazeiro Mart. ........................... 34
Quadro 2 - Metabólitos isolados de diferentes espécies já estudadas no
gênero Ziziphus. .............................................................................. 36
Quadro 3 - Códigos dos processos de separação utilizados ............................. 55
Quadro 4 - Cepas clínicas utilizadas no teste de suscetibilidade....................... 73
Quadro 5 - Distribuição dos grupos de colite aguda para a avaliação da
atividade do EHF de Z. joazeiro Mart. ............................................. 77
Quadro 6 - Critérios utilizados para a monitorização clínica da doença
inflamatória intestinal. ...................................................................... 78
Quadro 7 - Critério para a avaliação da gravidade do dano macroscópico da
colite experimental de acordo com Bell, Gall e Wallace (1995). ...... 79
-
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AcOEt acetato de etila
ASD Ágar Sabourand Dextrose
ATCC American Type Culture Collection
BuOH n-butanol
CC Cromatografia em coluna de vidro
CCCAV Cromatografia em contra-corrente de alta velocidade
CCD Cromatografia em Camada delgada analítica
CCFR Cromatografia em coluna de fase reversa
CFM Concentração Fungicida Mínima
CGF Cromatografia em coluna de gel de filtração
CIM Concentração Inibitória Mínima
CLAE Cromatografia líquida de alta eficiência
CLAESP Cromatografia líquida de alta eficiência semipreparativa
CNCA Candida não-Candida albicans
COSY Correlation Spectroscopy
CVC Cateter venoso central
DAD Detector de arranjo de diodos
DMSO dimetilsulfóxido
DNBS ácido 2,4-dinitrobenzóico
EHF Extrato hidroetanólico das folhas
HMBC Heteronuclear Multiple-Bond Correlation
HMQC Heteronuclear Multiple-Quantum Correlation
IAD Índice de Atividade da Doença
IDM Indice de Dano Macroscópico
MeOH metanol
MHC Caldo Mueller-Hinton
MMA Ministério do Meio Ambiente
RMN 13C Ressonância magnética nuclear de carbono 13
RMN 1H Ressonância magnética nuclear de hidrogênio
SIDA Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
SISBIO Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade
UFC Unidades Formadoras de Colônia
-
UTI Unidade de Terapia Intensiva
UV Ultravioleta
YPD Yeast peptone dextrose
-
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ...................................................................................... 22
2 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................... 24
2.1 O gênero Candida e as espécies vegetais como fonte de agentes
antifúngicos ......................................................................................... 24
2.2 As plantas medicinais como alternativa no tratamento de
doenças inflamatórias intestinais ...................................................... 28
2.3 Ziziphus joazeiro Martius: informações gerais ................................... 30
2.4 Estudos etnobotânicos de Ziziphus joazeiro Martius ....................... 32
2.5 Constituintes químicos de Ziziphus joazeiro Martius ....................... 35
2.6 Atividades biológicas descritas para a espécie Ziziphus joazeiro
Martius ................................................................................................. 39
2.6.1 Atividade antifúngica ............................................................................. 39
2.6.2. Atividade antibacteriana ........................................................................ 39
2.6.3 Atividade larvicida ................................................................................. 41
2.6.4 Atividade antioxidante ........................................................................... 41
2.6.5 Avaliação toxicológica ........................................................................... 41
2.6.6 Avaliação do potencial genotóxico ......................................................... 42
2.6.7 Atividade anti-inflamatória do gênero Ziziphus e da espécie Ziziphus
joazeiro Mart. ......................................................................................... 42
2.7 Marcadores químicos e controle de qualidade de plantas
medicinais ............................................................................................ 43
3 OBJETIVOS .......................................................................................... 45
3.1 Objetivo geral ....................................................................................... 45
3.2 Objetivos específicos .......................................................................... 45
4 JUSTIFICATIVA .................................................................................... 46
5 MATERIAL E MÉTODOS...................................................................... 48
5.1 Solventes e reagentes ......................................................................... 48
5.2 Equipamentos e sistemas cromatográficos utilizados no estudo
fitoquímico ........................................................................................... 48
5.3 Material vegetal: coleta, secagem e moagem .................................... 50
5.4 Preparação dos extratos ..................................................................... 50
5.5 Estudo fitoquímico .............................................................................. 51
-
5.5.1 Análise fitoquímica preliminar ................................................................ 51
5.5.1.1 Identificação das classes de metabólitos secundários por reações
químicas clássicas................................................................................. 51
5.5.1.1.1 Compostos fenólicos ............................................................................. 51
5.5.1.1.2 Taninos ................................................................................................. 51
5.5.1.1.3 Flavonoides ........................................................................................... 51
5.5.1.1.4 Alcaloides .............................................................................................. 52
5.5.1.1.5 Saponinas ............................................................................................. 52
5.5.1.2 Análise do EHF de Z. joazeiro Mart. por Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) ...................................................................................... 52
5.5.2 Análise do EHF de Z. joazeiro Mart. e frações da partição líquido-
líquido por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) ................. 53
5.5.3 Análise da fração AcOEt-PLL01 por espectrometria de massas ............ 54
5.5.3.1 Partição líquido-líquido .......................................................................... 55
5.5.3.2 Análise por cromatografia em contracorrente de alta velocidade ........... 56
5.5.3.2.1 Fracionamento das frações BuOH-PLL01 e AcOEt-PLL01 por
cromatografia em contra-corrente de alta velocidade ............................ 57
5.5.3.3 Isolamento dos flavonoides por cromatografia em coluna e CLAE
semipreparativa ..................................................................................... 62
5.5.3.4 Obtenção das frações para o teste de atividade antifúngica .................. 64
5.7 Avaliação da atividade antifúngica do EHF e frações ...................... 70
5.7.1 Determinação da CIM do EHF de Z. joazeiro Mart. e frações ................ 70
5.7.1.1 Reativação das leveduras e triagem fenotípica ..................................... 70
5.7.1.2 Preparo do inóculo ............................................................................... 70
5.7.1.3 Triagem com micro-organismos de referência ....................................... 71
5.7.1.4 Determinação da CIM conforme o método do CLSI (CLSI, 2008).......... 73
5.7.1.5 Determinação da concentração fungicida mínima (CFM) ...................... 74
5.7.1.6 Ensaio de bioautografia ......................................................................... 74
5.8 Avaliação do efeito protetor do EHF de Z. joazeiro Mart. em
modelo de doença inflamatória intestinal ......................................... 76
5.8.1 Animais ................................................................................................. 76
5.8.2 Modelo de colite aguda ......................................................................... 76
5.8.3 Avaliação macroscópica do processo inflamatório intestinal .................. 78
5.8.3.1 Monitorização clínica da doença inflamatória intestinal ......................... 78
-
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................ 80
6.1 Análise fitoquímica preliminar............................................................ 80
6.1.1 Análise por CCD do EHF de Z. joazeiro Mart. utilizando a fase móvel
para glicosídeos .................................................................................... 80
6.1.2 Análise por CCD do EHF de Z. joazeiro Mart. utilizando a fase móvel
para agliconas ....................................................................................... 84
6.1.3 Análise por co-cromatografia ................................................................. 85
6.2 Análise por CCD das frações da partição líquido-líquido do EHF
de Z. joazeiro Mart. ............................................................................... 89
6.3 Análise do EHF de Z. joazeiro Mart. e frações da partição líquido-
líquido por CLAE-UV-DAD .................................................................. 91
6.3.1 Análise do EHF de Z. joazeiro Mart. e frações da partição líquido-
líquido.................................................................................................... 91
6.4 Análise da fração AcOEt-PLL01 por CLAE-IES-EM (TOF) ................ 102
6.5 Fracionamento das frações BuOH-PLL01 e AcOEt-PLL01 por
cromatografia em contra-corrente de alta velocidade e
isolamento de flavonoides .................................................................. 108
6.5.1 Análise estrutural do flavonoide ZJF1 .................................................... 113
6.5.2 Análise estrutural do flavonoide ZJF2 .................................................... 119
6.5.3 Análise estrutural do flavonoide ZJF3 .................................................... 124
6.6 Avaliação da atividade anti-Candida do EHF de Ziziphus joazeiro
Mart. e frações ..................................................................................... 130
6.6.2 Atividade das frações EP-PLL01, CH2Cl2-PLL01, AcOEt-PLL01,
BuOH-PLL01 e RA-PLL01 frente a cepas de referência ........................ 132
6.6.3 Prosseguimento do fracionamento bioguiado para a fração BuOH-
PLL01 .................................................................................................... 133
6.6.4 Ensaio de bioautografia para o EHF, fração BuOH-PLL01 e
respectivas subfrações ativas .......................................................... 136
6.6.5 Avaliação da atividade antifúngica das frações 07-CCFR07 e 10-
CCFR12 frente a cepas de referência segundo o método do CLSI ....... 139
6.6.6 Avaliação da atividade antifúngica da fração 07-CCFR07 frente a
isolados clínicos segundo o método do CLSI ........................................ 145
6.7 Isolamento da saponina ZJS1 ............................................................ 151
6.8 Análise estrutural por RMN da saponina ZJS1 ................................. 154
-
6.9 Avaliação do efeito protetor do extrato hidroetanólico das folhas
de Z. joazeiro Mart. em modelo de doença inflamatória intestinal ... 170
7 CONCLUSÕES ..................................................................................... 176
REFERÊNCIAS ..................................................................................... 177
APÊNCIDE A – MANUSCRITO PARA PUBLICAÇÃO ......................... 192
APÊNDICE B - ESTRUTURA QUÍMICA DAS SUBSTÂNCIAS
MENCIONADAS NA DISSERTAÇÃO................................................... 216
ANEXO A .............................................................................................. 262
-
22
1 INTRODUÇÃO
O uso de plantas medicinais acompanha a humanidade desde a pré-história,
as quais, ao longo dos anos, formaram a base de sistemas terapêuticos de várias
civilizações antigas, como os astecas, incas, chineses, egípcios e gregos.
Substâncias obtidas de plantas, como nicotina, muscarina e reserpina, além de
terem contribuído significativamente para o avanço da farmacologia e patofisiologia,
compõem parte do arsenal terapêutico atualmente utilizado na clínica (PASQUALE,
1984; GILANI; RAHMAN, 2005; FABRICANT; FARNSWORTH, 2001).
Apesar da atual predominância, na indústria farmacêutica, de técnicas de
química combinatória como estratégia para a descoberta de fármacos, o número de
fármacos produzidos e aprovados para uso clínico não aumentou proporcionalmente
ao número de compostos sintéticos gerados com base nessas técnicas. Assim,
observa-se ainda que as plantas e outros produtos naturais continuam a participar,
direta ou indiretamente, desse processo (NEWMAN, 2008; NEWMAN; CRAGG,
2012).
Um exemplo da atual utilidade dos vegetais e de outros produtos naturais na
obtenção de fármacos é que, em 2010, de todas as moléculas pequenas e
inovadoras reportadas (que contem grupos farmacofóricos inéditos), cerca da
metade consistia em produtos naturais ou compostos derivados desses (NEWMAN;
CRAGG, 2012). De acordo com trabalhos envolvendo compilação de dados, entre
2000 e 2013 foram aprovados 38 medicamentos cujos fármacos derivam de
substâncias de espécies vegetais (BUTLER; ROBERTSON; COOPER, 2014;
SAKLANI; KUTTY, 2008). Além disso, até dezembro de 2013, vinte e um fármacos
antineoplásicos derivados de plantas estavam sendo submetidos a ensaios clínicos
(BUTLER; ROBERTSON; COOPER, 2014).
O país que possui a maior variedade dessas fontes de compostos bioativos é
o Brasil, as quais estão distribuídas em 6 biomas continentais e um marinho,
encerrando cerca de 20% da biodiversidade mundial. Igualmente extensa é a flora
brasileira, estimada em cerca de 55.000 espécies vegetais (IBGE, 2004; DIAS,
1995). Diante disso, percebe-se o importante potencial do Brasil como terreno para a
bioprospecção sustentável e a consequente geração de emprego, renda e produtos
para a saúde, como os medicamentos fitoterápicos (VILLAS BÔAS; GADELHA,
2007).
-
23
Apesar da imensa biodiversidade do Brasil, esta foi pouco explorada, pois
estima-se que a busca por compostos bioatlivos foi realizada em apenas cerca de
8% da flora do país (GUERRA; NODARI, 2001). Portanto, considerando a relevância
das plantas na descobertcoa de fármacos e a grande diversidade vegetal no país, é
de suma importância que as suas espécies vegetais sejam caracterizadas quanto ao
seu perfil fitoquímico e atividade biológica.
Ziziphus joazeiro Mart. destaca-se como uma das plantas da região
semiárida, nativa e endêmica do Brasil e de grande importância para a população do
Nordeste (LIMA, 2013a; LORENZI; MATOS, 2008). A árvore, cuja folhagem mantem-
se verde durante a seca, é usada tanto como forragem quanto como planta
medicinal, sendo a casca e as folhas tradicionalmente empregadas na higiene bucal
e capilar, no alívio de problemas estomacais (LORENZI; MATOS, 2008), no
tratamento de infecções fúngicas (CRUZ et al., 2007) e como anti-inflamatório
(OLIVEIRA, 2005).
De acordo com a literatura, um extrato concentrado em saponinas extraídas
da casca de Z. joazeiro Mart. inibiu o crescimento fúngico de Candida albicans
(RIBEIRO et al., 2013), um importante patógeno oportunista de infecções fúngicas
invasivas (SARDI et al., 2013). Logo, o uso popular da casca e da folha em
infecções fúngicas possivelmente tem relação com a presença de saponinas nesses
farmacógenos.
A partir de análises iniciais realizadas no presente trabalho, observou-se que
as folhas possuem, além de saponinas, uma grande variedade de flavonoides
glicosilados. Os flavonoides tem apresentado atividade anti-inflamatória em
diferentes modelos de inflamação (CHIBLI et al., 2015) e os glicosídeos destacam-
se por sua atividade anti-inflamatória em modelos de doença inflamatória intestinal
(COMALADA et al., 2005; MASCARAQUE et al., 2014).
Portanto, baseando-se no contexto explicitado e considerando a sua
importância etnofamacológica, neste trabalho foi realizado um estudo fitoquímico de
Z. joazeiro Mart. com o objetivo de isolar e caracterizar marcadores químicos, bem
como a avaliação da atividade antifúngica in vitro e protetora em modelo in vivo de
colite experimental do extrato hidroetanólico das folhas e suas respectivas frações
-
24
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O gênero Candida e as espécies vegetais como fonte de agentes
antifúngicos
As infecções fúngicas, apesar de serem frequentemente subestimadas e
negligenciadas por pesquisadores e entidades governamentais, têm acometido e
causado a morte de milhares de pessoas ao redor do mundo (BROWN et al., 2012).
Recentemente, foram realizados estudos epidemiológicos no Brasil, México,
Espanha, Bélgica e Rússia, acerca da prevalência de infecções fúngicas graves, e a
soma de todos os casos estimados nesses países totalizou 18 047 381 milhões
(CORZO-LEÓN; ARMSTRONG-JAMES; DENNING, 2015; GIACOMAZZI et al.,
2015; KLIMKO et al., 2015; LAGROU et al.; RODRIGUEZ-TUDELA et al., 2015). É
importante mencionar que 52% de todos esses casos foram originados por espécies
do gênero Candida e, no Brasil, para o ano de 2011, de todos os casos de infecções
fúngicas graves estimados, 74% foram igualmente ocasionados por espécies do
gênero Candida (GIACOMAZZI et al., 2015)
O gênero Candida é constituído por leveduras que habitam diferentes sítios
anatômicos da espécie humana, assim como de outros animais e o meio ambiente
(água, solo, plantas). Candida albicans é a única espécie que sobrevive unicamente
no organismo humano e de outros animais de sangue quente, sendo portanto
comensal, fazendo parte da microbiota humana normal da cavidade oral, trato
gastrintestinal e vagina de indivíduos saudáveis. Em decorrência deste fator, pode-
se explicar a sua alta prevalência em infecções dos mais variados sítios anatômicos
(REISS; SHADOMY; LYON, 2011).
As espécies do gênero são patógenos oportunistas e atingem principalmente
indivíduos debilitados por outras doenças ou imunocomprometidos. São
responsáveis por causar um amplo espectro de efermidades, como candidíase oral,
vulvovaginal, infecções de pele, mucosa, onicomicose, assim como infecções
invasivas, incluindo a candidemia, que está associada a uma elevada taxa de
mortalidade (REISS; SHADOMY; LYON, 2011).
A patogenicidade das espécies do gênero Candida é resultante dos seus
fatores de virulência, os quais estão relacionados à adesão a células epiteliais e
endoteliais do hospedeiro, formação de uma comunidade microbiana envolvida em
-
25
matriz exopolimérica, denominada de biofilme, produção de enzimas hidrolíticas,
fosfolipases e aspartil-proteases secretadas, além da filamentação, ou seja, a
transição de blastoconídio para hifa verdadeira, fenômeno este comum em Candida
albicans (O’DONNELL; ROBERTSON; RAMAGE, 2015) A espécie Candida glabrata
não é capaz de produzir hifas, porém é a segunda ou terceira mais reportada em
estudos da América do Norte e Norte da Europa, que envolvem o isolamento de
leveduras nos mais variados sítios. Este achado pode ser justificado devido aos
mecanismos de resistência aos antifúngicos que essa espécie apresenta
(LOCKHART, 2014; YAPAR, 2014).
Candida spp. têm emergido principalmente no ambiente hospitalar na forma
de candidíase invasiva, resultando sobretudo do aumento no número de pacientes
debilitados ou imunocomprometidos, como indivíduos com a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (SIDA), aqueles submetidos a quimioterapia em
decorrência de neoplasias malígnas ou transplantes, indivíduos submetidos a
procedimentos invasivos ou que permanecem longos períodos de tempo em
unidades de terapia intensiva (UTI) (YAPAR, 2014). A candidíase invasiva
comumente está associada a um aumento da mortalidade e custos hospitalares e,
possivelmente, esse fator explica a maior atenção fornecida a essa doença no que
se refere a estudos epidemiológicos, aspecto que pode ser observado
principalmente nos Estados Unidos e países da Europa (MORGAN et al., 2005;
YAPAR, 2014).
Existem mais de 150 espécies de Candida conhecidas, porém cerca de 95%
da infecções invasivas são causadas por apenas 5 espécies: C. albicans, C.
glabrata, C. parapsilosis e C. krusei. A espécie C. albicans é frequentemente
reportada como a espécie mais prevalente nos estudos epidemiológicos acerca de
candidíase invasiva, sendo variável a sua proporção em relação às outras espécies
de acordo com a região (LOCKHART, 2014; YAPAR, 2014).
No entanto, ao longo dos últimos anos, tem-se observado uma tendência
caracterizada por uma redução gradativa na prevalência de C. albicans isoladas de
pacientes com candidíase invasiva. Apesar de C. albicans ainda ser a espécie mais
prevalente nos mais variados estudos, o número de casos de candidíase invasiva
por essa espécie tem diminuído, enquanto que a candidíase invasiva ocasionada por
espécies de Candida não-Candida albicans (CNCA) tem aumentado, a um ponto em
que, quando consideradas em conjunto, superam a prevalência de C. albicans em
-
26
muitos estudos mundiais. Atualmente não se sabe as causas dessa mudança,
porém supõem-se que os principais fatores que a impulsionaram foram o uso
excessivo do fluconazol como terapia empírica e a implementação de cateteres
venosos centrais (CVCs) em pacientes graves (LOCKHART, 2014; YAPAR, 2014).
Na América do Norte e em muitos países da Europa, o declínio de C. albicans
foi acompanhado por um aumento na prevalência de C. glabrata. Enquanto isso, na
América Latina, a segunda espécie mais prevalente pertence ao complexo C.
parapsilosis, que afetava principalmente neonatos e indivíduos portadores de CVCs
internados em UTIs, porém atualmente tem sido isolada de todas as faixas etárias.
A Espanha, assim como os países da América Latina, também possui como
segunda espécie mais prevalente C. parapsilosis em estudos de infecções fúngicas
invasivas (YAPAR, 2014).
No Brasil, C. glabrata tem emergido como a segunda espécie mais prevalente
em alguns hospitais públicos e principalmente em hospitais privados (COLOMBO et
al., 2013; MORETTI et al., 2013). Segundo Colombo et al. (2013), alguns hospitais
privados apresentam um perfil semelhante ao de países desenvolvidos devido ao
uso do fluconazol como agente profilático.
Outro importante gênero envolvido em infecções fúngicas é Trichosporon,
constituído por espécies causadoras principalmente de infecções superficiais de pele
e fâneros em pacientes imunocompetentes, destacando-se casos de piedra branca
e, em menor frequência, episódios de onicomicose (CHAGAS-NETO et al., 2009;
COLOMBO et al., 2011). O gênero Trichosporon é considerado o segundo ou
terceiro agente mais comumente isolado de infecções fúngicas invasivas por
leveduras não-Candida spp., em pacientes com câncer. Em um estudo realizado
durante 8 anos pala rede ARTEMIS, envolvendo 134 grupos de pesquisas de 40
países, incluindo o Brasil, Trichosporon spp. responderam por 10,7% das 8.821
cepas de leveduras não pertencentes ao gênero Candida (PFALLER E DIEKEMA,
2007)
No Brasil, em cerca de 68% dos casos de infecções sistêmicas, foram isoladas
cepas de T. asahii, seguida de T. asteroides (CHAGAS-NETO et al., 2009). O
prognóstico para os pacientes é relativamente pobre. As infecções invasivas tendem
a ser graves e apresentam elevada taxa de mortalidade, da ordem de 53%, podendo
chegar até 83% em pacientes com câncer (FLEMING et al., 2002; CHAGAS-NETO
et al., 2008).
-
27
O atual arsenal terapêutico para o tratamento de infecções fúngicas é
limitado, se restringido a poucas classes. Dentre elas, destacam-se os azólicos,
poliênicos, equinocandinas e análogos de nucleosídeos. Os azólicos, incluindo
miconazol, fluconazol, voriconozol e posaconasol, atuam causando danos à
membrana celular fúngica ao inibir uma enzima envolvida na biossíntese do
ergosterol (14-α-demetilase). Os poliênicos, como a nistatina e a anfotericina B,
também atuam no ergosterol, porém ligam-se diretamente a esse componente e
causam a formação de poros na membrana. As equinocandinas, incluindo a
caspofungina e a micafungina, impedem a formação da parede celular fúngica por
meio da inibição de uma enzima envolvida na síntese de glucana (β-1-3-D-glucano-
sintase). Por último, os análogos de nucleosídeos, como flucistosina e pirimidina,
impedem a síntese do DNA ao inibir uma enzima envolvida na sua biossíntese, a
timidilato sintase (SPAMPINATO; LEONARD, 2013).
O surgimento de cepas resistentes aos antifúngicos sintéticos disponíveis
comercialmente torna ainda mais limitado o arsenal terapêutico disponível. Embora a
prevalência de resistência em C. albicans seja baixa e permaneça relativamente
constante, em espécies de CNCA ela tem emergido, sendo C. glabrata uma espécie
em destaque por apresentar menor susceptibilidade intrínseca aos azólicos, além ter
sido reportado um aumento no número de cepas resistentes às equinocandinas
(ALEXANDER et al., 2013; LOCKHART, 2014). Portanto, considerando a já
mencionada substituição gradativa de C. albicans por espécies de CNCA, a situação
passa a ser ainda mais preocupante.
A resistência aos antifúngicos envolve basicamente os mecanismos de
bomba de efluxo, perda de afinidade ao receptor e compensação do efeito do
fármaco (SPAMPINATO; LEONARD, 2013).
O mecanismo de bomba de efluxo consiste na expulsão do agente antifúngico
do meio intracelular para o extracelular. Em Candida, existem bombas de efluxo do
tipo ABC (ATP-binding cassette), responsáveis por expulsar todos os antifúngicos
azólicos do meio intracelular, assim como bombas específicas para o fluconazol, que
utilizam um gradiente de prótons como energia propulsora. No primeiro tipo de
bomba, os genes codificantes são o CDR1 e o CDR2, e no último o gene MDR1 é o
responsável (SPAMPINATO; LEONARD, 2013).
A diminuição da afinidade do antifúngico ao alvo resulta de mutações pontuais
no gene ou genes que o codificam. Para os azólicos, podem ocorrer mutações no
-
28
gene ERG11 que codifica a enzima 14-α-demetilase. Por outro lado, para as
equinocandinas, o mecanismo de resistência envolve mutações nos genes FKS1 e/
ou FKS2, os quais codificam o complexo enzimático β-1-3-D-glucano-sintase
(SPAMPINATO; LEONARD, 2013).
O mecanismo compensatório envolve o aumento na quantidade do alvo, por
consequência do aumento na sua expressão gênica ou ausência do alvo devido a
mutações. Para os antifúngicos azólicos, pode ocorrer uma superexpressão do gene
ERG11, levando a um aumento na proteína alvo. No caso dos antifúngicos
poliênicos, ocorre uma diminuição no conteúdo de ergosterol da membrana em
virtude de mutações nos genes ERG3 ou ERG6 que codificam enzimas envolvidas
na biossíntese do ergosterol (SPAMPINATO; LEONARD, 2013).
Portanto, conforme o contexto anteriormente apresentado, são necessárias
novas alternativas que venham a complementar os agentes antifúngicos disponíveis,
e as plantas medicinais, por apresentarem a capacidade de produzir metabólitos
diversos, constituem uma dessas alternativas.
2.2 As plantas medicinais como alternativa no tratamento de doenças
inflamatórias intestinais
A inflamação consiste numa cascata de eventos, envolvendo uma variedade
de mediadores e tipos celulares, quel é eliciada em resposta a um estímulo nocivo.
Essa resposta é pré-programada e inespecífica quanto ao tipo tecidual e seu
objetivo final é a remoção do agente agressor e reparo do local afetado. No entanto,
o alcance desse objetivo requer uma drástica alteração da homeostase tecidual, que
envolve a dilatação dos vasos e consequente aumento do fluxo sanguíneo, aumento
da permeabilidade capilar, formação de exsudato, infiltração leucocitária e lesão
tecidual (SCHMID-SCHÖNBEIN, 2006; OKIN e MEDZHITOV, 2012).
Em consequência disso, pode-se inferir que a resposta inflamatória é
essencial para a sobrevivência da espécie humana, por ser capaz de tratar
condições severas, causadas por diferentes estímulos, porém, ao mesmo tempo é
potencialmente danosa. O custo sobrepõe o benefício quando a resposta
inflamatória não atinge o seu objetivo final e torna-se exacerbada e persistente. Em
consequência disso, a inflamação atua como elemento-chave na patofisiologia de
diversas doenças, como artrite reumatóide, diabetes, hipertensão e distúrbios
-
29
intestinais (SCHMID-SCHÖNBEIN, 2006; OKIN e MEDZHITOV, 2012). De particular
interesse para esta pesquisa são as doenças inflamatórias intestinais, que possuem
etiologia pouco conhecida e cuja patogênese envolve uma complexa interação entre
fatores relacionados ao ambiente, componentes genéticos, microbiota intestinal e
sistema imune.
Neste contexto, as duas principais doenças inflamatórias intestinais são a
colite ulcerativa e a doença de Crohn (ZHANG e LI, 2014). Especificamente, a colite
ulcerativa é uma doença inflamatória recidivante e restrita à mucosa do colon. As
pessoas acometidas por essa doença apresentam dores abdominais, evacuação de
pus, muco e diarreias sanguinolentas. Essas podem ocorrer em torno de quatro
vezes ao dia, nos casos clinicamente classificados como leves, até mais de 10
vezes ao dia, nos casos considerados fulminantes (BAUMGART; SANDBORN,
2007).
O tratamento medicamentoso das doenças inflamatórias intestinais objetiva
amenizar o processo inflamatório e promover a remissão da doença. A terapia
envolve o uso de aminosalicilatos, corticosteróides, agentes imunossupressivos e
antimicrobianos. No entanto, o uso crônico desses medicamentos é frequentemente
limitado devido a eventos adversos a medicamentos, incluindo náusea, vômito,
cefaleia, dislipidemia, osteoporose, hiperglicemia, hipertensão e nefrotoxicidade
(HEMSTREET, 2014).
Diante desse contexto, é de fundamental importância buscar alternativas
eficazes, seguras e que possam ser usadas cronicamente. Uma dessas alternativas
são as plantas medicinais.
Na literatura há muitos trabalhos que têm como objetivo avaliar o potencial de
extratos vegetais como agente anti-inflamatório e protetor em modelos de colite
experimental, os quais geralmente apresentam compostos fenólicos, principalmente
os flavonoides, como os metabólitos secundários majoritários. Por exemplo, foi
reportado que os extratos de Bryophyllum pinnatum e Jasminum sambac, os quais
possuem polifenóis como componentes majoritários, apresentaram atividade anti-
inflamatória em modelos de edema de pata e de orelha, enquanto que o extrato de
Prunus dulcis apresentou atividade em um modelo de colite induzida por ácido
trinitrobenzenosulfônico (CHIBLI et al., 2014; SENGAR et al., 2015; ZORILLA et al.,
2014). Os flavonoides, na forma isolada, também tem apresentado considerável
potencial na modulação da inflamação, apresentando atividade em modelos in vivo
-
30
de edema de pata e de orelha (CHIBLI et al., 2015) e in vitro frente à produção de
óxido nítrico por macrógagos (CUONG et al., 2015). Com relação à atividade de
flavonoides em modelos de colite, foi reportado que a miricitrina apresentou
atividade anti-inflamatoria sobre a colite experimental induzida em ratos por sulfato
sódico de dextrana (SCHWANKE et al., 2013), enquanto que o flavonoide rutina
apresentou atividade em modelos de colite induzida por sulfato sódico de dextrana e
de indução por transferência de células T (COMALADA et al., 2005; MASCARAQUE
et al., 2014).
Uma constatação relevante que alguns estudos têm enfatizado é a de que os
glicosídeos de quercetina, como rutina e quercitrina, apresentam atividade anti-
inflamatória em modelos de inflamação intestinal, enquanto que a aglicona
apresenta-se inativa. Essa informação é aparentemente contraditória, pois a forma
livre possui o maior efeito anti-inflamatório in vitro. A hipótese mais reforçada é a de
que a aglicona é absorvida no intestino delgado e, em contrapartida, a forma
glicosilada funciona como um pró-fármaco, carreando a aglicona até intestino
grosso, onde é liberada na forma livre por glicosidases bacterinanas (COMALADA et
al., 2005; KIM et al., 2005; KWON et al., 2005, MASCARAQUE et al., 2014). Essa
informação é de extrema relevância para o presente trabalho, pois, de acordo com
os resultados observados neste estudo, as folhas de Ziziphus joazeiro possuem uma
grande variedade de flavonoides glicosilados.
2.3 Ziziphus joazeiro Martius: informações gerais
O gênero Ziziphus pertence à família Rhamnacea, encontrada nas regiões
temperadas, tropicais e subtropicais de todo o mundo e possui aproximadamente
900 espécies distribuídas em 58 gêneros (BARROSO, 2002).
Os representantes desta família, no Brasil, podem ser encontrados em todas
as cinco regiões do país e, consequentemente, em todos os domínios
fitogeográficos (Amazônico, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal).
No país, a família compreende 14 gêneros, sendo três endêmicos. Os gêneros
possuem 47 espécies representativas, das quais 16 são endêmicas. Na região
Nordeste, 20 das 47 espécies podem ser encontradas (LIMA, 2013b).
No Nordeste, as espécies da família são utilizadas na ornamentação, na
medicina popular, na fabricação de cosméticos, cremes dentais antissépticos e
-
31
doces, na alimentação de animais e no trabalho artesanal. As espécies do gênero
Ziziphus estão entre as mais conhecidas pelos habitantes da região, destacando-se,
como comentado anteriormente, Z. joazeiro, cuja as raspas da casca são
comercializadas para o uso na higiene capilar (QUEIROZ, 2006).
Entre as nove espécies do gênero que ocorrem no país, seis são encontradas
na região Nordeste:
Ziziphus cinnamomum Triana & Planch; Ziziphus cotinifolia Reissek; Ziziphus
guaranítica Malme; Ziziphus platyphylla Reissek; Ziziphus undulata Reissek;
Ziziphus joazeiro Mart (LIMA, 2013c).
A espécie Z. joazeiro possui vários nomes populares, sendo os mais comuns
juá e juazeiro. A planta (Figura 1) é típica da Caatinga e ocorre em oito dos nove
estados do Nordeste e também em Minas Gerais, sendo encontrada no ambiente de
forma isolada, longe das matas secas (CARVALHO, 2007).
Figura 1 - Indivíduo de Ziziphus joazeiro Martius.
É uma espécie que, ao contrário de outras plantas da Caatinga, consegue
manter-se perenifolia durante o ano todo. Isto porque a planta possui raízes amplas
e profundas, capazes de captar a pouca umidade presente na terra semi-árida,
Fonte: autor
-
32
podendo perder por completo a sua folhagem apenas quando a água do solo torna-
se quase inexistente (OLIVEIRA, 1976).
As árvores do juazeiro podem atingir até 16 metros de altura quando adultas e
formam uma copa ampla e densa. O tronco pode ser reto ou tortuoso, sendo bem
ramificado a partir da base e com galhos dotados de espinhos. A casca externa é
rígida e de cor cinza escuro a levemente castanha; a casca interna é amarelada, a
qual libera um exsudato transparente e amargo após uma incisão (CARVALHO,
2007).
As folhas medem de 2 a 6 cm de largura por 5 a 10 cm de comprimento.
São lustrosas, de consistência membranácea a coriácea, com disposição alternada
nos ramos. Possuem formato oval ou elíptico, ápice acuminado e 3 a 5 nervuras que
emergem da base e se reúnem no ápice. As flores são pequenas, de coloração
amarelo-esverdeada. Os frutos são uma drupa amarela de formato esférico,
medindo de 1,5 a 2 cm de diâmetro (CARVALHO, 2007).
Figura 2 - Folhas e flores de Ziziphus joazeiro Martius.
2.4 Estudos etnobotânicos de Ziziphus joazeiro Martius
Ao longo dos anos, as civilizações e tribos humanas construíram um extenso
conhecimento acerca de plantas medicinais, as quais foram selecionadas de forma
Fonte: autor
-
33
empírica com base nos seus efeitos. Como exemplo do acúmulo dessa sabedoria,
tem-se a medicina tradicional Chinesa e a Ayurveda. É este tipo de conhecimento
que constitui o alvo da pesquisa etnofarmacológica, que visa validá-lo
cientificamente através de estudos fitoquímicos e farmacológicos não-clínicos e
clínicos (FABRICANT; FARNSWORTH, 2001; ELISABETSKY, 2001).
Pode-se dizer que a pesquisa etnodirigida apresenta vantagens em relação à
pesquisa randômica de plantas e às técnicas de química combinatória. Isto porque
as espécies que foram utilizadas pelo homem por um longo período provavelmente
passaram por uma triagem inicial e, consequentemente, possuem maior
probabilidade de conter compostos eficazes tanto farmacologicamente quanto
biofarmaceuticamente (ELISABETSKY, 2001).
Baseando-se nessa ideia, foi realizado, na década de 1980, um levantamento
de todos os fármacos derivados de plantas utilizados na clínica e observou-se que a
maioria foi descoberta com base em dados etnobotânicos (FARNSWORTH et al.
1985). Além disso, outros estudos forneceram evidências da maior eficácia da
abordagem etnofarmacológica em relação à abordagem aleatória na seleção de
plantas promissoras (SLISH et al., 1999; KHAFAGI; DEWEDAR, 2000). Portanto, a
tradição popular mostra-se muito útil para nortear pesquisas que envolvam a
descoberta de fármacos, o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos ou
apenas a validação do uso popular.
Diante deste contexto, é de grande importância que os estudos científicos da
espécie Z. joazeiro Mart. também sejam direcionados pelo conhecimento popular,
sobretudo porque, de acordo com a literatura, esta é uma das plantas do Nordeste
brasileiro mais utilizadas na região da Caatinga (ALBUQUERQUE et al., 2007) e
uma das 100 plantas com maior diversidade de usos medicinais do Brasil
(MEDEIROS; LADIO; ALBUQUERQUE, 2013). Desta forma, foi realizado um
levantamento bibliográfico da etnobotânica da espécie Z. joazeiro Mart. (Quadro 1).
-
34
Quadro 1 - Estudos etnobotânicos de Ziziphus joazeiro Mart.
Partes Usadas Modo de preparo Uso popular/indicação Referências
Entrecasca do fruto In natura Sabão e dentifrício BRAGA, 1960 apud
OLIVEIRA, 1978 Entrecasca do fruto Infusão ou maceração Tônico capilar
Casca
ND
Xampu, anticaspa e tônico capilar
LIMA, 1985 apud CARVALHO, 2007
Casca e folha Detergente
Folha e casca Extrato aquoso
Alívio de problemas gástricos, clareamento da pele do rosto, tônico capilar, dentifrício, doenças de pele.
BRAGA, 1960; SOUSA et al., 1991; MATOS, 2002 apud LORENZI; MATOS,
2008 Entrecasca(pó) Pó Dentifrício
Casca
Raspas da casca deixadas em água
Cicatrizante ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002
Xarope Tosse
Casca/folhas ND Anti-inflamatório, antitussígeno, higiene bucal
OLIVEIRA, 2005
ND ND Gripe PINTO et al., 2006
Casca Banho Reações alérgicas TEIXEIRA; MELO, 2006
Casca do caule
Adição de raspas da casca na água Cicatrização ALBUQUERQUE, 2006
Xarope
ND ND Tosse ALBUQUERQUE, OLIVEIRA, 2007
Casca (pó) ND Dentifrício, anticaspa AGRA et al., 2007
Folhas Decocção Micoses superficiais
CRUZ et al., 2007
Casca Infusão Candidíase
Madeira In natura Fitocombustível RAMOS, 2007
Fruto In natura Alimento
ROQUE, 2009 Folha In natura Forrageira (dieta de bovinos, caprinos e ovinos).
Casca (raspa) Maceração, banho e xarope
Queimaduras, verminose, higiene bucal, gripe, caspa, cicatrizante em geral.
ND ND Dentifrício SANTOS et al., 2009
ND ND Mau hálito, doenças bucais CAVALCANTE, 2010
-
35
Folhas, frutos, casca Decocção, infusão, maceração, suco
Gripe, febre, azia, problemas estomacais, indigestão, reumatismo, antiséptico, caspa, dentifrício, tônico capilar
CARTAXO; SOUZA; ALBUQUERQUE, 2010
Casca Uso tópico Caspa
OLIVEIRA; BARROS; MOITA NETO, 2010
Casca Emplastro Queimadura
Folha Infusão Problemas gástricos
Casca Maceração Gripe, caspa, dor dentária SILVA; FREIRE, 2010
Folha Infusão
Tosse, gripe, indigestão, bronquite
MARINHO; SILVA; ANDRADE, 2011
Casca do caule Maceração
Entrecasca da raíz Decocção
Folhas Decocção Problemas da dentição, diarréia
SILVA et al., 2012
ND ND
Antisséptico, antisséptico oral, azia, caspa, constipação, dor de estômago, diarreia, expectorante, febre, ferida, fortificante capilar, gripe, inflamação, insônia, dentifrício, indigestão, problemas estomacais, reumatismo, tosse, tuberculose, helmintíase
MEDEIROS; LADIO; ALBUQUERQUE, 2013
ND: Não descrito.
2.5 Constituintes químicos de Ziziphus joazeiro Martius
O conhecimento dos metabólitos secundários, presentes no gênero
Ziziphus, é de fundamental importância, pois permite prever os metabolitos
secundários que podem ser encontrados na espécie Z. joazeiro Mart. Dentre as
várias espécies pertencentes a este gênero, destacam-se Ziziphus mucronata Willd.,
Ziziphus mauritiana Lam. e Ziziphus jujuba Mill., por serem as mais estudadas
quanto a sua fitoquímica (Quadro 2).
-
36
Quadro 2 - Metabólitos isolados de diferentes espécies já estudadas no gênero
Ziziphus.
Espécie Parte usada
Extração Isolado(s) Referência
Z. mucronata
Raíz (casca)
Percolação em diclorometano
Mucronina A, D e J (alcalóides ciclopeptídicos).
AUVIN et al., 1996
Z mauritiana
Raiz
Extração em metanol
Àcido ceanotico, ácido ceanotano, ácido zizimauritico, ácido betulínico.
JI et. al., 2012
Z. oxyphylla
Raiz
Extração em metanol
Alcalóides ciclopeptídicos: Oxifilina-B 1, Oxifilina C 2, Oxifilina -D 3, Nummularina-C 4, Nummularina-R 5
KALEEM et al., 2013
Z. jujuba e Z. jujuba var. Spinosa
Folhas Extração em metanol 80%
Três flavonóides: Quercetina-3-O-rutinosídeo; quercetina-3-O-α-L-arabinosil-(1 → 2)-α-L-rhamnosídeo; 3, quercetina-3-O-β-d-xilosil-(1 → 2)-α-L-ramnosídeo; Duas saponinas: Ziziphus saponina I; Ziziphus saponina
II Nove ácidos triterpênicos: ácido ceanótico; ácido alfitólico; ácido maslínico; ácido 2-α-hidroxiursolico; ácido ziziberanálico; ácido epiceanótico; ácido ceanotênico; ácido betulínico; ácido oleanólico.
GUO et al., 2011
Z. jujuba
Fruto sem semente
1 - extração em n-hexano clorofórmio; etanol 80%+ agua + acetato de etila. 2 - extração em n-hexano com posterior maceração com metanol.
Isômeros do ácido palmitoléico e ácidos triterpénicos, tais como: ácido betulínico, ácido ursólico, ácido alfitólico, ácido oleanóico
PLASTINA et. al., 2012
Os trabalhos acerca dos constituintes químicos da espécie Z. joazeiro Mart.
são esporádicos e tem como foco a investigação dos metabólitos secundários da
casca, principalmente substâncias triterpenóides.
Um dos primeiros estudos acerca dos fitoconstituintes da espécie foi
publicado em 1984 por Higuchi et al.. Nesse trabalho, a partir da casca, foram
isoladas e caracterizadas três saponinas triterpênicas inéditas que diferem quanto à
porção glicídica e, portanto, possuem a mesma aglicona, a jujubogenina,
previamente isolada das sementes de Ziziphus jujuba. A primeira saponina
(bacocasídeo X) é uma jujubogenina ligada a uma molécula de glicose (β-D-
glicopiranose) e duas moléculas de arabinose (α-L-arabinofuranose e α-L-
-
37
arabinopiranose). A segunda e terceira saponinas correspondem a jujubogenina
ligada à mesma porção glicídica, porém a glicona encontra-se monosulfatada (4’’’-O-
sulfato) para a segunda saponina, e disulfatada (3’’, 4’’’-di-O-sulfato) para a terceira
saponina.
Posteriormente, foi realizado um estudo no qual a casca do caule foi extraída
com clorofórmio, seguido de extração com metanol, sendo a fração clorofórmica
submetida à cromatografia líquida em coluna e a fração metanólica submetida a uma
cromatografia de gel de filtração. Ao final do estudo, foram isolados da casca do
caule ácido betulínico, ácido oleanóico e uma saponina que forneceu lactona ebilin
quando submetida à hidrólise ácida (BARBOSA-FILHO; TRIGUEIRO;
BHATTACHARYYA, 1985). A lactona ebilin, segundo os autores, provavelmente é
um artefato derivado da hidrólise de um glicosídeo de jujubogenina, sendo o mesmo
evento detectado anteriormente por Higuchi et al. (1984).
Kato et al. (1997) isolaram e identificaram da casca do caule de Z. joazeiro
Mart. lupeol, ácido betúlinico, cafeína e estearato de glicerila. Dois anos após, em
um estudo feito na Suiça, foram isolados do extrato diclorometano da casca os
ácidos triterpênicos betulínico, ursólico e alfitólico, também presentes em Z. jujuba
(GUO ET al., 2011; PLASTINA et. al., 2012) assim como três novos ácidos
triterpênicos derivados do ácido betulínico: [ácido betulínico 7-β-O-(4-
hidroxibenzoiloxi); ácido betulínico 7-β-O-(4-hidroxi-3'-metoxibenzoiloxi) e ácido
betulínico 27-O-(4-hidroxi-3'-metoxibenzoiloxi) (SCHÜHLY et al., 1999). Em seguida,
os mesmos autores isolaram da casca 4 saponinas triterpênicas, sendo três nunca
antes reportadas na literatura (SCHÜHLY et al., 2000).
A primeira saponina, um jujubosídeo, já havia sido isolada por Higuchi et al.
(1984) e, dentre as isoladas, foi considerada a majoritária. Outra saponina isolada foi
denominada lotosideo A, a qual compartilha a mesma aglicona presente nas
saponinas lotosídeo I e II, isoladas da casca da raíz de Z. lotus (RENAULT et al.,
1997). As últimas saponinas possuem uma aglicona inédita e estruturalmente similar
a lotogenina, a qual foi intitulada joazeirogenina. Assim, essas novas saponinas
foram nomeadas joazeirosídeo A e joazeirosídeo B, diferindo apenas quanto ao
número e natureza dos açúcares ligados ao carbono 3.
Em 2010, Leal et al. realizaram um fracionamento do extrato etanólico da
casca do Z. joazeiro Mart. baseado na atividade antibacteriana,. Após a extração
com etanol, foram realizadas partições com solventes de polaridade crescente
-
38
(diclorometano, acetato de etila e butanol) gerando, respectivamente, 3 frações.
Dentre essas, apenas a fração diclorometano foi escolhida para análises posteriores
por apresentar a maior atividade antibacteriana. Após ser submetida a sucessivos
fracionamentos, foram isolados e identificados 5 compostos triterpênicos
provenientes da casca: metilbetulinato, ácido betulínico, ácido alfitólico, ácido
epigouanico A e metilceanotato, este último sendo o composto majoritário da fração
mais ativa (LEAL et al., 2010).
Os estudos anteriormente citados tinham como foco o isolamento,
identificação e/ou caracterização dos metabólitos da casca, no entanto, foram
publicados estudos fitoquímicos, neste caso de caráter preliminar, acerca de outras
partes da planta, como folhas e frutos. Foram realizadas análises em extratos
metanólicos obtidos a partir de amostras de caule e folha de plantas jovens e
adultas. Os extratos foram analisados por Cromatografia em Camada Delgada com
o emprego de diversas fases móveis e reveladores específicos. Como resultado, foi
observada a presença de saponinas, mono, sesquiterpenos e esteróides em todas
as partes vegetais. Apenas nas folhas foram detectados flavonoides, enquanto que
apenas no caule de plantas adultas foram detectados derivados do ácido cinâmico e
cumarinas (SILVA, 2008). Outra análise fitoquímica preliminar avaliou a composição
de extratos etanólicos da casca do caule, folhas e frutos. A casca do caule
apresentou saponinas, triterpenos, esteróides; as folhas apresentaram alcalóides,
saponinas, triterpenos, esteróides e taninos (MELO et al., 2012).
Em 2015, foi publicado um trabalho que envolveu a análise fitoquímica
preliminar do extrato hidroetanólico, assim como a avaliação da presença de
compostos fenólicos por CLAE. Na prospecção fitoquímica, foi detectada a presença
de ácidos fenólicos, flavonoides, taninos e saponinas. Através da análise por CLAE,
foram identificados 11 compostos fenólicos no extrato hidroalcoólico das folhas,
constituindo um relato inédito para as folhas da espécie. Desses 11 compostos, 4
são ácidos fenólicos (ácido gálico, ácido clorogênico, ácido cafeico, ácido elágico) e
7 são flavonoides (catequina, epicatequina, quercetina, isoquercitrina, quercitrina,
rutina e canferol). Os polifenóis presentes no extrato foram identificados ao se
comparar o seu tempo de retenção e espectro no UV com os de padrões comerciais.
No entanto, não foi realizada uma co-eluição dos padrões com o extrato nem uma
análise posterior por técnicas espectroscópicas. Logo, a presença desses
-
39
compostos fenólicos nas folhas é de caráter sugestivo, não confirmatório (BRITO et
al., 2015).
Com base no que foi exposto acerca dos constituintes químicos, pode-se
concluir, no geral, que a casca possui triterpenoides e heterosídeos triterpênicos, as
saponinas. As folhas possuem triterpenos, saponinas, alcaloides, taninos e
compostos fenólicos, principalmente os flavonoides.
2.6 Atividades biológicas descritas para a espécie Ziziphus joazeiro Martius
2.6.1 Atividade antifúngica
Cruz et al. (2007) observaram que o infuso (1mg/mL) da entrecasca de Z.
joazeiro apresentou atividade antifúngica contra Candida albicans, C. guilliermondii,
Cryptococcus neoformans, Trichophyton rubrume Fonsecaea pedrosoi. Foram
observados valores de CIM entre 6,25 µg/mL e 400 µg/mL. Em outro estudo, as
saponinas extraídas da casca apresentaram atividade contra C. albicans (156
µg/mL) e Aspergillus niger (312.5 µg/mL) pelo método de microdiluição em caldo
(RIBEIRO et al., 2013). O extrato etanólico (SILVA et al, 2011) e o extrato
hidroalcoólico da casca (MELO et al., 2012) também apresentaram atividade frente
a C. albicans pelo método de difusão em ágar.
As folhas foram avaliadas num estudo recente acerca da sua atividade
antifúngica. A CIM do extrato hidroetanólico das folhas foi determinada pelo método
de microdiluição em caldo, frente a cepas clínicas de Candida krusei, Candida
tropicalis e Candida albicans, além de cepas multirrestitentes de C. krusei, C.
tropicalis e C. albicans. Nesse estudo, a CIM foi ≥ 1024 µg/mL, indicando, segundo
os autores, ausência de atividade antifúngica para as folhas (BRITO et al., 2015).
2.6.2. Atividade antibacteriana
Em estudos que realizaram uma triagem da atividade antibacteriana, extratos
etanólicos, hidroalcoólicos e hexânicos de diferentes partes do joazeiro (folhas,
casca, frutos) apresentaram variada atividade frente a isolados clínicos e cepas de
referência de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Em geral, os extratos
-
40
etanólicos foram os mais ativos, assim como os da casca. (LIMA, 2008; SILVA et al.,
2011; MELO et al., 2012).
Contrariamente aos estudos mencionados, um extrato da casca da planta,
rico em saponinas, não apresentou efeito inibitório, em concentração igual ou inferior
a 12,5 mg/mL, frente às seguintes cepas: Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027,
Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 e Bacillus
subtilis ATCC 6633 (RIBEIRO et al., 2013).
Por outro lado, em estudos fitoquímicos biomonitorados, compostos
triterpênicos isolados de extratos metanólicos da casca apresentaram atividade
frente a bactérias Gram-positivas, com CIM entre 8 e 128 µg/mL (SCHÜHLY et al.,
1999, LEAL et al., 2009).
Foi realizado um estudo sobre a atividade antibacteriana de dentifrícios pelo
método de difusão em ágar. O dentifrício da empresa Unilever (Gessy Cristal®),
contendo extrato da casca do joazeiro em sua composição, apresentou atividade
frente a bactérias causadores de cárie (BARRETO et al., 2005).
Em um estudo etnobotânico sobre plantas utilizadas em doenças bucais, a
atividade antibacteriana do extrato etanólico (maceração) e do extrato aquoso
(decocção) da casca do juá foi avalidada frente a bactérias associadas a doenças
bucais. O extrato etanólico foi ativo contra todas as cepas enquanto que o decocto
não apresentou efeito inibitório contra a maioria (CAVALCANTE, 2010). Um extrato
aquoso (infuso) da casca interna de Z. joazeiro Mart. também apresentou atividade
antimicrobiana contra bactérias relacionadas à doenças bucais, com valores de CIM
variando de 1mg/mL a 16 mg/mL (ALVIANO et al., 2007).
Recentemente, o EHF das folhas foi avaliado pelo método de microdiluição
em caldo para a determinação da CIM. O extrato foi testado frente às cepas de
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922 e Enterobacter
aerogenes, assim como frente a cepas multirresistentes de S. aureus, E. coli e E.
aerogenes. Além da CIM, foi avaliado o sinergismo do extrato quando associado a
diferentes antimicrobianos, como amoxicilina, penicilina G, gentamicina, amicacina e
vancomicina. Nesse estudo, a CIM foi ≥ 1024 µg/mL, indicando, segundo os autores,
ausência de atividade antibacteriana para as folhas. Porém, foi observada uma
redução da CIM dos antimicrobianos amicacina e gentamicina, quando associados
ao extrato hidroetanólico das folhas (BRITO et al., 2015).
-
41
2.6.3 Atividade larvicida
Ao analisar as atividades dos extratos aquoso (15%, p/v) hidroalcoólico (50%,
p/v) e etanólico das folhas de Z. joazeiro Mart. contra a larva do Culex
quinquefasciatus, verificou-se que os extratos hidroalcoólico e etanólico
apresentaram resultados significativos contra o estágio larval L3 (26% e 28% de
mortalidade, respectivamente), ao contrário do extrato aquoso que não apresentou
resultados satisfatórios (LIMA, 2008).
2.6.4 Atividade antioxidante
Em um estudo, avaliou-se a atividade antioxidante da fração butanol, obtida
do extrato metanólico da casca, e de uma fração enriquecida em saponinas, obtida a
partir da lavagem da fração butanol com NaOH 1%. A atividade antioxidante foi
avaliada pela capacidade dos extratos em capturar o radical livre DPPH (2,2-difenil-
2-picrilhidrazila). A fração enriquecida em saponinas apresentou CE50 (quantidade
de amostra necessária para diminuir em 50% a absorbância do DPPH) maior que
10.000 µg/mL. A fração butanol, composta de saponinas e compostos fenólicos,
apresentou CE50 de 668 µg/mL (RIBEIR


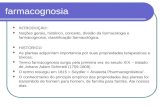



![Apostila de Práticas de Farmacognosia[1]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/5571fd124979599169986848/apostila-de-praticas-de-farmacognosia1.jpg)