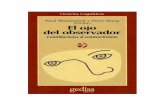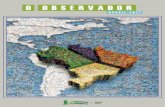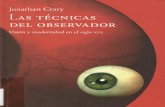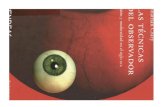Modernidade e o Problema Do Observador, Crary, j., 1990 - Resumo
-
Upload
dilarcascas -
Category
Documents
-
view
88 -
download
0
Transcript of Modernidade e o Problema Do Observador, Crary, j., 1990 - Resumo

MODERNIDADE E O PROBLEMA DO OBSERVADOR
(Jonathan Crary, 1990, pp. 1 – 24)
O desenvolvimento rápido em pouco mais de uma década, do vasto conjunto de técnicas gráficas informáticas são, em parte, responsáveis pela reconfiguração das relações entre o sujeito/observador e os modos de representação, a ponto de anular os significados culturalmente consagrados dos termos observador e representação.
Design gráfico computorizado, simuladores de vôo, animação computorizada, imagens por ressonância magnética…, são algumas das técnicas que deslocaram a visão para um plano separado do observador humano. Estas novas tecnologias de produção de imagens, em constante expansão, estão a tornar-se os modelos de visualização dominantes, de acordo com os quais os processos sociais primários e as instituições funcionam.
A maioria das funções do olho humano (historicamente relevantes), estão a ser ultrapassadas por práticas de visualização que já não reportam a um observador colocado num mundo “real”, percebido ‘opticamente’.
Cada vez mais, a visualidade estará situada em território cibernético e electromagnético, onde a abstracção visual e os elementos linguísticos coincidem, são consumidos, circulam e permutam-se globalmente.
Questões importantes se colocam:
Se de facto está a suceder uma mutação na natureza da visualidade, que formas e modos estão a ser deixados para trás?
Quais os elementos de continuidade que ligam as imagens contemporâneas às antigas disposições da visualidade?
Até que ponto a digitalização e informatização das exibições de vídeo exacerbam a “sociedade do espectáculo”?
Qual a relação entre a desmaterialização digital das imagens e a tão presente e falada era da reprodutibilidade técnica?
A mais importante: como é que os corpos, incluindo o corpo/observador, se tornam uma componente das novas máquinas, economias, dispositivos, quer sociais, libidinais ou tecnológicos?
Uma das mais importantes reorganizações da visualidade ocorreu na primeira metade do século XIX, em particular nas décadas de 1820 e 1830, que produziu uma nova espécie de observador, e que constituiu uma pré-condição para a contínua e actual abstracção da visualidade. Assim serão examinadas as relações entre os corpos, por um lado, bem como as formas institucionais e discursivas de poder, por outro, em ordem a definirem o status do sujeito observador.
A ruptura com os modelos clássicos da visão que ocorreu nos princípios do século XIX foi muito mais do que uma simples mudança de aparência das imagens e obras de arte, ou nas convenções dos sistemas de representação. A abordagem de Crairy vai diferir da abordagem dos historiadores de arte.
Com Manet (impressionismo e pós-impressionismo), surge um novo modelo de percepção e representação visual, que rompe com séculos de tradição de um outro modelo da visão, definido como perspectiva na arte, Renascimento, ou normativo. Esta narrativa do fim da perspectiva, dos códigos

miméticos e do referencial, coexistem, de forma acrítica, com outro momento muito importante da história da cultura visual europeia (que também tem o seu término): Fala-se aqui da invenção e disseminação da fotografia (outra forma de realismo no século XIX).
No entanto, o advento do modernismo (Art Nouveau), é mais restrito no seu impacto social e cultural. Concomitantemente, ocorrem modos de ver mais dominantes e ubíquos. No entanto, o modernismo apresenta-se como novo a um observador que permanece o mesmo. Ou cujo status histórico não é posto em causa.
Qual então a mudança abrangente e importante que ocorre antes, cerca de 1820? Nesta obra, o que é tomado em linha de conta, não são as datas dos trabalhos, nem as datas de produção das obras de arte, nem tão pouco a noção de percepção, mas sim a problemática do fenómeno do observador. Porque a visão e os seus efeitos são inseparáveis do observador, que é produto e sujeito de certas práticas, técnicas, instituições e procedimentos de subjectivização. Crairy usa o termo ‘observador’ enquanto sujeito que está num regime de sujeição, obedece a regras, códigos, regulamentações e práticas. Incorporado num sistema de convenções e limitações. Sendo convenções, não só práticas representacionais, mas relações discursivas, sociais, tecnológicas e institucionais. As mudanças da percepção e da visão são irrelevantes nesta abordagem, pois não têm autonomia histórica. O que muda verdadeiramente são as forças plurais e as regras que compõem o campo em que ocorrem estas mudanças de percepção. O que determina a visão, num dado momento histórico, é o funcionamento de uma montagem colectiva de partes distintas, constituídas numa única superfície social.
Salvaguarde-se o seguinte: Crairy sugere um modelo de observador dominante e não “o observador do século XIX”; não existem continuidades e descontinuidades na história, apenas na explicação da história.
No início do século XIX, ocorreu uma mudança na forma como o observador foi constituído pelas práticas sociais e correntes epistemológicas. Parte desta análise assenta no exame dos dispositivos ópticos que surgiram. Crairy discute-os, não pela forma de representação que impõem, mas pelo poder e conhecimento que operam directamente no corpo do sujeito.
Assim, Crairy identifica a camara obscura como paradigma dominante do status do observador nos séculos XVII e XVIII. Enquanto para o século XIX vai discutir diversos dispositivos ópticos tais como o estereoscópio, para ilustrar a transformação de status do observador.
Crairy avança o seguinte pressuposto (contrário ao determinismo tecnológico, em que determinado dispositivo técnico se impõe completamente a um campo social, transformando-o de fora para dentro): pelo contrário, a tecnologia é concomitante e parte subordinada de uma conjunção de forças. Deleuze afirmava: “Uma sociedade é definida pelas suas agregações e incorporações, não pelas suas ferramentas… as suas ferramentas existem apenas em relação aos entrelaçamentos que as tornam possíveis, ou que estas possibilitam.”.
A noção de “visão subjectiva” surgiu subordinada ao contexto do Romantismo (séc. XIX), na arte, e ligada a uma mudança de paradigma da visão que centralizava o papel da mente na percepção. O que interessava a Crary era perceber como este conceito de subjectividade da visão, situado do lado da recepção/produção do observador, estava presente, não apenas nas áreas de produção artística, mas nos discursos filosóficos, científicos e tecnológicos. Mais do que separar arte e ciência, interessa-lhe ver os territórios em que estas se intersectam e definem conhecimentos e práticas.
Weber, Lukács e Simmel, entre outros, cunharam a modernidade com termos como “racionalização” e “reificação”, que possibilitam uma lógica de modernização separada da ideia de progresso e desenvolvimento. Para Gianni Vattimo a modernidade tem precisamente este efeito: a contínua produção da novidade, que permite que as coisas permaneçam iguais. Modernização é um

processo através do qual o capitalismo mobiliza o que está enraizado, abre caminho e elimina barreiras à circulação, e confere valor de mercado (ou de troca) ao que é singular. Isto aplica-se a corpos, signos, imagens, linguagens, relações, práticas religiosas e nacionalidades, tal como se faz em relação aos bens económicos, riqueza e força de trabalho. Modernização perpetua a criação de novas necessidades, novas práticas de consumo, novas produções. O observador está completamente imerso neste processo. Concomitantemente, a identidade discursiva do observador enquanto objecto de reflexão filosófica e sujeito de estudos empíricos, sofreu drásticas alterações.
A “felicidade” torna-se mensurável em termos de “objectos e signos” (sob critérios de visibilidade). W. Benjamin também escreveu sobre o papel dos “bens” na génese de uma “fantasmagoria de igualdade”. A mobilidade de classes sociais é inexistente. Uma interdição protege os signos e assegura que estes tenham total transparência, no sentido em que a cada signo, o seu status. Logo, os signos não são arbitrários. (Jean Baudrillard). A mimesis torna-se um problema da ordem do poder (na produção de equivalentes), não da ordem da estética. O simulacro legitima o poder do capitalismo.
A fotografia segue uma lógica de mercado (no séc. XIX). Tem valor de troca e é componente fundamental da nova cultura de mercado. Tal como Marx falou sobre o dinheiro, Crary diz que a fotografia é um mero símbolo, um ‘democratizador’, sancionada pelo consenso universal.
Se, por um lado, a camara obscura, enquanto conceito, subsiste enquanto terreno da objectivação, por outro lado, os discursos e práticas (na filosofia, ciência e nos processos de normalização social) do séc. XIX tendem à abolição da mesma. A experiência de visualização sofre uma operação de abstracção sem precedentes e destaca-se do seu referente. Estamos perante uma visualidade niilista (a visão autonomia a percepção e sapara-a dos referentes externos). Presente na pintura moderna de finais de séc. XIX, e noutras formas de cultura de massas, ainda mais cedo.
Está em jogo uma nova construção de sujeito ou indivíduo. Para Foucault, a modernidade do séc. XIX é inseparável da forma como novos dispositivos de poder coincidem com novos modos de subjectividade. A modernidade consiste na produção de sujeitos manipuláveis e dóceis, segundo uma certa política de disposição dos corpos. Sobreposição entre objectivação e subjectivação (sujeição). Novos procedimentos de individualização. Coexiste com o desenvolvimento de técnicas disciplinares assentes em normas estatísticas e quantificáveis de comportamento. Este procedimento histórico invade muitos outros domínios, tais como a agricultura, a indústria, a economia, a medicina, a psicologia. Reforça-se o poder institucional e molda-se o sujeito às conformidades do mesmo.
Com o paradigma da visão subjectiva, passa-se da óptica geométrica (séculos XVII e XVIII), para a óptica fisiológica (séc. XIX). Uma das consequências foi o desenvolvimento de estudos sobre o ‘normal’ funcionamento do olho. Com a consequente evolução de tecnologias que acabaram por impor um funcionamento normativo ao observador. Por exemplo, o estereoscópio e a operação de visão binocular. A estandardização das imagens (no séc. XIX) deve ser vista não só como parte das novas formas da reprodução técnica de imagens, mas em relação a um processo mais abrangente de normalização e sujeição do observador. Foucault faz crítica severa às imagens mediatizadas do Maio de 68, em França. Critica dois regimes de poder: vigilância e o espectáculo. Os sujeitos tornam-se objectos de observação (para efeitos de estudos científicos, behavioristas, bem como nas formas de controlo institucional). O que ele negligenciou foram as novas formas pelas quais a visão, por si mesma, se torna uma disciplina. Começa a surgir a noção de “sociedade do espectáculo”, cimentada já mais tarde, no séc. XX.
A autonomização da visão (separação entre visão e tacto, separação dos sentidos, perda do toque enquanto componente conceptual da visão, libertou o olho da referencialidade e da subjectividade do espaço), em vários domínios, foi uma condição histórica para a constituição de um observador preparado para a tarefa do consumo do espectáculo. A dissociação O estereoscópio é um dos dispositivos que mais evidencia o fosso entre a realidade e a visualidade. W. Benjamin mapeou as texturas heterogéneas de acontecimentos e objectos que constituíram o observador neste século (XIX).

Para Benjamin, a percepção era essencialmente subordinada ao tempo e cinética. Ele clarificou a forma como a modernidade subverteu a possibilidade de contemplação. Nem os museus escapam à dinâmica de um mundo em que tudo circula. Mesmo a pintura do séc. XIX, que Benjamin não analisou, seguiu a lógica do caos de imagens, como bens transaccionáveis, proliferação de estímulos. Um dos modos de observador que se constituiu foi o flâneur, consumidor deambulante de imagens enquanto bens de consumo.
A história da arte negligenciou a modernidade do séc. XIX até ao início do século XX. Continuaram a privilegiar as formas de arte da Renascença e a arte figurativa da antiguidade. Porque não conseguiam submeter esta arte ‘subversiva’ aos métodos de análise tradicionais. Ignoraram o observador. Emergência do urbanismo e das práticas culturais metropolitanas que progressivamente se instalaram.