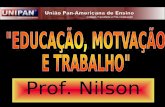Nilson Lage - Ideologia e Técnica da Notícia
-
Upload
marcelo-de-franceschi -
Category
Documents
-
view
3.713 -
download
6
description
Transcript of Nilson Lage - Ideologia e Técnica da Notícia
IDEOLOGIA E TCNICA DA NOTCIA ____________Nilson Lage
1a. edio - Vozes, Petrpolis, 1979
2a. edio - Vozes, Petrpolis, 1981
Prefcio da 3a. edio
Ler textos nossos, antigos, como tirar da gaveta um retratos nossos, antigos: temos a ntida impresso de que estamos ali, mas a certeza de que j no estamos mais ali. Ainda assim, a ocasio me permite lembrar o passado deste texto, que agora apresento, quase 20 anos depois, terceira edio. Ele foi lanado discretamente, em 1979, e, por um ano ou dois, tive a impresso de que ningum o lera. S mais tarde, sada e quase esgotada a segunda edio, notei que, afinal, tivera leitores, fazia algum sucesso. Por que? Porque gerou crticas, algumas veementes, e no se critica o irrelevante. Depois, veio a fase da copiagem eletrosttica. No estando mais o livro venda, nem sendo novidade que valia a pena retaliar, continuou aparecendo na bibliografia de concursos pblicos e cursos variados, com o que cada exemplar multiplicou-se em muitos mais nas mquinas xerox. Lembro-me de um colega que, na Universidade de Braslia, mostrou-me um armrio cheio de cpias da Ideologia e Tcnica da Notcia. Por que voc no o reedita?, perguntou-me. Basicamente, porque estava ocupado com outras coisas. Mais com semntica do que com sintaxe. Mais com o acompanhamento dos avanos tecnolgicos da imprensa do que com questes gerais de semiologia. Mais em difundir conhecimento do que em aprofund-lo. Em 1987, surgiu um livro importante, O segredo da pirmide, de Adelmo Genro 1. Filho , que, para formular sua anlise a partir de modelos da dialtica de Hegel, cita constantemente a Ideologia e contesta algumas de suas colocaes, propondo, particularmente, a autonomia do discurso jornalstico como aquele que, a partir da singularidade, pretende alcanar a universalidade, sem a intermediao do conhecimento particular, especializado, to relevante em nossa cultura. Adelmo morreu cedo - era jovem e no tive oportunidade nem de trocar idias com ele. Agora, meu colega Eduardo Meditsch prope-me a reedio. Fiz uma reviso cuidadosa do texto: 1. No primeiro captulo, procurei atualizar as informaes sobre a indstria grfica, sem suprimir o que constava como atual (a impresso a quente, a composio tica ou em linotipos) e que hoje arqueolgico. Acrescentei breves comentrios sobre os fatos que transcorreram aps a dcada de 70: ainda a, a sensao de que tudo mudou, mas tudo continua a mesma coisa. Em termos crticos, nota-se nesse captulo, e mais adiante, no livro, influncia grande - e boa - de Roland Barthes, que me parece o autor mais consistente do estruturalismo francs -, se que Barthes pode ser reduzido condio de estruturalista. Percebe-se a presuno de iniciante: querer dizer tudo de uma vez s. E um vcio de jornalista: nomes, dados, fatos, documentao para tudo.1.
GENRO FILHO, Adelmo. O segredo da pirmide, para uma teoria marxista do jornalismo. Porto Alegre, Tch, 1987. 2
2. O segundo captulo colocou-me questo metodolgica sria. Os modelos utilizados para a descrio da sentena-lead foram os da Gramtica Gerativa da poca. Estes se modificaram aceleradamente nessas duas dcadas, particularmente aps a proposio, por Chomsky, da Teoria dos Princpios e Parmetros, na dcada de 80, e da Hiptese Minimalista, na dcada de 90. No entanto, o que vale numa teoria, quando aplicada a fim especfico (no caso, descrever a sentena-lead com o fim de destac-la como modelo), no , tanto quanto se pensa, a sua atualidade. Hughes, em seu estudo sobre a explanao terica 2. , demonstra que, embora a teoria ondulo-corpuscular da luz - e a Teoria dos Quanta, que a subministra - seja o que h de mais adequado para explicar o fenmeno dos arco-ris, a nenhum autor de livro didtico ocorre faz-lo seno recorrendo a modelo anterior, o de Newton, cujo fundamento a propagao da luz em linha reta e, portanto, sua refrao nas superfcies da gota de orvalho. Trata-se a de uma questo de poder explicativo, o que , tambm, o nosso caso. No preciso mais do que a estrutura linear da sentena (no preciso, por exemplo, recorrer teoria do papel temtico, teoria do caso ou teoria X barra) para estabelecer as relaes simples que interessam no caso da estruturao proposta do lead. As mudanas, ento, foram mnimas, atingindo principalmente a atualizao dos exemplos (que foram preservados) e alteraes que objetivaram tornar mais claras certas formulaes para o leitor de agora. 3. O terceiro captulo foi praticamente mantido. No o defendo: se fosse escrev-lo, hoje, utilizaria outras fontes, chegando, talvez, a concluses distintas. O estilo, particularmente, parece-me hoje barroco, de modo que a frase viaja, s vezes, fascinada pela prpria metfora - o que terrvel, num estudo que cuida de filosofia. O texto do livro , basicamente, o da dissertao de mestrado apresentada Comisso de Ps-graduao da Escola de Comunicao da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1976. Foram feitos, na poca, alguns acrscimos, o principal dos quais refere-se s revistas-magazines: trata-se de comunicao ao Congresso de Semitica que se realizou em 1978 na Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro. Do prefcio da primeira edio, transcrevo o ltimo pargrafo, ainda e sempre pertinente:O agradecimento estaria incompleto se no dedicasse a palavra final a quem de justia: categoria dos jornalistas, a que nos orgulhamos de pertencer, e aos alunos, que ouviram e procuraram compreender, com infinita indulgncia, as idias que aqui reunimos. Se o que escrevemos no lhe parecer inteiramente confuso, saiba o leitor que isso se deve a nossos companheiros de redao e salas de aula.
2.
HUGHES, R. I. G. Theoretical Explanation. Midwest studies em Philosophy, XVIII, 1993.
3
Sumrio
PREFCIO DA 3A. EDIO O OBJETO JORNAL1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A tecnologia da imprensa Dos moinhos de papel aos peridicos A quebra de um monoplio A mstica da liberdade A censura sob o liberalismo A revoluo do jornal-empresa As tcnicas como produto da Histria A estrutura da redao O jornalismo no Brasil
A NOTCIA: PROPOSTA, LINGUAGEM E IDEOLOGIA 1. O produto industrial 1.1. O conceito de notcia 1.2. Limites e mtodos do estudo 2. A natureza da proposio nas notcias 2.1. Axioma, poder, estilstica 3. A linguagem das notcias 3.1. Sistema de verbos 3.2. Escolhas lxicas e gramaticais 3.3. Arbtrio e represso nas escolhas 4. Ordem narrativa e ordem expositiva 4.1. Texto de forma narrativa 4.2. Texto de forma expositiva 5. O texto de alta comunicabilidade 5.1. A organizao do Gnesis 5.2. A organizao dos primeiros pargrafos do Manifesto 6. Seleo e ordenao de informaes 6.1. Proximidade 6.2. Atualidade 6.3. Identificao social 6.4. Intensidade4
Ineditismo Identificao humana 7. A forma da notcia clssica 7.1 Formalizao das estruturas 7.2 Observao sobre as estruturas propostas 7.3 A realizao dos leads 7.4 Leads com verbos dicendi 7.5 A forma de ordenao6.5. 6.6.
8. O gnero reportagem 8.1 O estilo magazine INVESTIGAO SOBRE A VERDADE NAS NOTCIAS 1. 2. 3. 4. A verdade histrica prevalecente Verdade, poder, conhecimento Tenso entre novas verdades e formas antigas A verdade da prxis e seus compromissos 4.1. Notcia e aparncias 4.2. A mscaras dos esteretipos 4.3. A luta na prtica 5. Ainda assim, muitas verdades consistentes BIBLIOGRAFIA
5
O objeto jornal
Na banca da esquina, compramos o jornal dirio: um mao de folhas de papel, dispostas em um ou mais - atualmente, muitos mais - cadernos. Em cada pgina, envolvida por moldura branca de um e meio a trs centmetros, a mancha grfica, onde se arrumam ttulos em letras maiores, fotografias, desenhos e, caracteristicamente, longas tiras verticais de composio, em cinco, seis, oito, nove ou dez colunas. Podemos reconhecer essa imagem visual ainda quando no entendemos o idioma em que o jornal est escrito e presumir que ali se contm notcias, comentrios e informaes julgadas de algum interesse para o provvel leitor. A forma do jornal a primeira pista para o entendimento de seu lugar na cultura contempornea, a compreenso de sua linguagem e a investigao de sua histria. A disposio das manchetes, o desenho das letras, sua uniformidade ou variedade, a existncia ou no de claros e o equilbrio esttico entre eles, o tamanho e a natureza das ilustraes podero nos informar se o jornal se destina a pblico mais ou menos amplo, de menor ou maior escolaridade. Cada detalhe nos remete a uma categorizao: o modo como se distribuem os elementos grficos (a paginao ou projeto grfico ) relaciona-se com escolas e correntes de arte, de modo que alguns jornais se enquadram no design industrial despojado e outros lembram a organicidade flamejante do art noveau. Certos elementos constantes tm valor particular, porque significam o compromisso com o passado comum indstria dos jornais: a forma retangular e o tamanho incmodo dos veculos standard, que nos obriga a abrir os braos para virar as pginas, asseguram s novidades do dia-a-dia a confiabilidade da tradio. Essa confirmao do estvel e conhecido a tal ponto predominante que as mquinas de composio mecnica (linotipos) e tica (fotocomponedores) adquiriram notvel complexidade apenas para serem capazes de justificar as linhas, isto , distribuir o espacejamento entre as palavras de modo a assegurar o alinhamento tanto pela esquerda quanto pela direita. A raiz dessa exigncia, que superava as convenincias econmicas de produo (teria sido mais simples e mais barato construir dispositivos que espacejassem de modo regular, como as mquinas de escrever convencionais), se origina de um hbito que a primitiva arte tipogrfica herdou dos copistas medievais. Hbito que no se alterou quando se passou a adotar a atual composio eletrnica, em programas de edio de texto e editorao equipados com dispositivos para hifenizar e justificar as linhas. 1. A tecnologia da Imprensa Os processos de produo industrial de peridicos, quaisquer que sejam, compreendem, pelo menos, etapas de composio, paginao e impresso. Para que o produto chegue ao leitor, necessrio contar ainda com a distribuio. Esta, no caso dos jornais e das revistas de atualidades (que compem a primeira linha dos produtos impressos chamados hoje de veculos de comunicao de massa, junto com os meios eletrnicos, tais como o rdio e a televiso), enfrenta alguns problemas especficos. Os jornais, principalmente, so mercadoria altamente perecvel. Uma distribuio capilar, como a que se exige quando necessrio servir a grande nmero de6
localidades pequenas, aumenta o risco do transporte e dificulta a fixao em nveis razoveis do encalhe, ou porcentagem de devoluo de exemplares no vendidos. A distribuio e o controle da circulao representam nus importantes, em pases extensos como o Brasil, quando se pensa em cobertura de vendas nacional ou regional. Coexistiam na imprensa brasileira, quando da primeira edio deste livro, as formas mais avanadas e as mais primitivas, ou artesanais, de fabricar peridicos. A composio podia ser feita manualmente, com tipos mveis dispostos em gavetas compartimentadas por tabiques de madeira - as chamadas caixas; mecanicamente, nas mquinas linotipo, que fundiam linhas em alto relevo de chumbo-antimnio, permitindo a recuperao da liga metlica aps a utilizao; opticamente, em aparelhos ( fotocomponedores ou composers ) que reproduziam o texto em papel ou filme, usando, para justificar as linhas, processos manuais ou eletrnicos. A paginao era feita com os prprios paqus de metal ou chumbo-antimnio sobre mesas planas, em reas delimitadas por quadros metlicos ajustveis chamados de ramas; ou atravs de montagem das reprodues em papel (coladas sobre uma base de carto) ou filme. Neste ltimo caso, usavam-se mesas luminosas. Nos 18 anos que se passaram desde ento, a indstria grfica sofreu uma revoluo, devida principalmente generalizao do uso do computador. Hoje, quase em toda parte, composio e paginao fazem-se com softwares especializados: desapareceram as mquinas de escrever, os fotocomponedores, as mesas de paginao para tipos em liga metlica e as pranchetas para montagem em papel dos pest-ups ou artes-finais. Matrizes de jornais e revistas so produzidas em computador e registradas em arquivos eletrnicos; assim se efetuam a separao de cores nos cromos e tudo o mais necessrio reproduo grfica. Esta - a impresso - tambm mudou, talvez menos radicalmente. Feita por mquinas grandes, com tinta, sobre estoques pesados de papel, manteve o carter hard, que composio e paginao perderam; apesar dos comandos eletrnicos e ao contrrio das demais etapas da produo dos veculos grficos, unidades impressoras so ainda espaos de (hoje poucos) trabalhadores blue collars. So raras, se que ainda existem, as mquinas planas, mais ou menos automatizadas, que sucessivamente entintavam a matriz e sobre ela prensavam o papel (no uso mais comum, para pequenas tiragens, foram substitudas pelas copiadoras eletrostticas); restam algumas rotativas convencionais (para telhas de chumbo), existe a rotogravura, , mas o domnio absoluto de mquinas de offset de pequena ou de alta capacidade (que antes no existiam). Na impresso em rotativa, era necessria a intermediao de outra etapa industrial, a esteriotipia. A rotativa exigia a transposio da pgina plana montada em chumbo-antimnio para a matriz de forma semicilndrica, chamada de telha; para isso, a pgina era inicialmente prensada contra um carto especial, o fl, por uma prensa cilndrica, ou calandra. Sobre essa fl encurvado se derramava a liga de chumbo fundida, na seo denominada fundio. Mquinas de offset ou rotogravura geralmente exigem a intermediao de um processo de transporte do filme montado (fotolito, rotofilme , ou, genericamente, positivo) para uma chapa metlica (no offset) ou cilindro-matriz (na rotogravura). Mas j existem sistemas que dispensam o filme, efetuando a gravao a partir do registro eletrnico. Para a impresso em mquinas planas ou em rotativas, a fotografia era previamente transposta para clichs, em chapas metlicas no tamanho em que a foto deveria ser impressa. Para offset ou rotogravura, a foto pode ser reproduzida no fotolito ou rotofilme. Efeito peculiar de meio-tom (semelhante ao cinzento, se formos imprimir em preto) obtido atravs de retculas, cuja densidade expressa em porcentagem de cor total.7
A impresso em offset deriva da litografia, ou gravao com matriz em pedra; chapas de zinco ou alumnio pr-sensibilizadas com compostos diazicos ou polmeros fotossensveis substituem a pedra que se empregava outrora no processo artesanal. O fotolito no deixa passar luz nos pontos que constituem a imagem a ser impressa; nos demais, o efeito da luz actnica sobre a emulso fotossensvel (efeito que especfico de certos comprimentos de onda, de acordo com a emulso) provoca a decomposio da superfcie da chapa. Permanecem em relevo as zonas no afetadas. A chapa ento instalada num dos cilindros da mquina impressora mas, ao invs de imprimir diretamente sobre o papel, como acontecia na litografia, transfere a imagem para outro cilindro revestido de borracha, ou blanqueta. Quanto impresso propriamente dita, seu princpio bsico o da incompatibilidade entre a gua e o leo da tinta: a rea de no-impresso aceita a umidade, deixando entintadas apenas as partes que devem ser reproduzidas em papel. J a rotogravura utiliza como matriz um cilindro metlico em cuja superfcie de cobre so gravadas em retculas as imagens destinadas impresso. O princpio o contrrio dos carimbos ou matrizes tipogrficas: a chapa reticulada composta de pequenos pontos entalhados de dimetro regular, mas com profundidade que varia de acordo com a densidade do original. O cilindro entintado com tinta muito fluida e enxugado por faca metlica, semelhana de um rodo de cozinha se o passssemos sobre superfcie spera: o que sai impresso corresponde aos pontos em baixo-relevo da chapa, onde a tinta se deposita. A retcula no visvel na superfcie impressa e o processo viabiliza-se economicamente para grandes tiragens, de vez que permite reproduo de excelente qualidade em milhes de exemplares com uma nica matriz. De qualquer forma, o efeito colorido obtido atravs da passagem sucessiva do papel por dois, trs (tricromia), quatro ou mais (policromia) cilindros ou prensas, que contm matrizes correspondentes participao de cada uma das cores no conjunto a ser reproduzido. Para a seleo de cores, o original era submetido a filtros com as cores complementares de trs cores bsicas (o vermelho magenta, o azul cian e o amarelo), de modo que os filmes registrassem apenas o componente de cada uma dessas cores bsicas em cada micro-rea do material a ser reproduzido; o computador, atualmente afere a quantidade de pigmento e atribui-lhe valor digital, isto , numrico-binrio. Em teoria, e tambm nos filmes coloridos de fotografia ou cinema, a combinao das trs cores reproduz o efeito policrmico que o olho registra na observao da natureza; na impresso pelos processos industriais correntes, necessrio em geral acrescentar um quarto componente, o preto, que fixa o contraste e a definio do colorido. O offset e a rotogravura oferecem grande exatido do registro, isto , asseguram que o papel passar exatamente na mesma posio pelos diferentes cilindros. Se isso no acontecer, surgiro fantasmas ou muars, perdendo-se a nitidez da reproduo. A parte industrial de um jornal convencional, impresso em rotativa - portanto, antes da introduo das novas tecnologias (que comearam a ingressar na indstria na dcada de 70) - correspondia a: 1) composio, com linotipos, ludlows ( mquinas que fundiam linhas de chumbo-antimnio sobre matrizes metlicas em baixo-relevo apanhadas, uma a uma, nas caixas, e que se utilizavam, em geral, para a composio de ttulos) e, eventualmente, tipos manuais, em relevo; 2) clicheria; 3) reviso; 4) paginao, em que se fazia a montagem dos paqus e clichs, todos numerados por um cdigo chamado de retranca; 5) calandra; 6) fundio; 7) impresso. As rotativas - em que o papel fornecido em bobinas rodava pelos cilindros, recurvava-se e dobrava em alta velocidade, numa imagemsmbolo da hegemonia mecnica - costumavam encartar diferentes cadernos do jornal8
entregando o produto j contado e at enfardado, na esteira que desembocava no depsito ou diretamente nos carros de distribuio. A srie correspondente para o offset compreende : 1) composio; 2) reviso; 3) montagem; 4) fotolito; 5) transporte; 6) impresso. A composio hoje feita na redao, a partir do texto digitado pelo reprter ou pelo redator e que deve sofrer alguma reviso, principalmente voltada para a coerncia da informao em si e para a sintaxe (a ortografia corrigida automaticamente pelos programas de edio de texto); a montagem tambm se faz em computador, com programas de editorao eletrnica geralmente associados a programas de arte grfica (que montam ilustraes e vinhetas) e de separao de cores. Existindo ou no fotolito, a etapa seguinte a impresso. Salvo para a clicheria, que usava medies em centmetros e milmetros, as demais etapas empregam tradicionalmente sistema de unidades prprio. As bases desse Sistema de Unidades Grficas so o ccero ou pica1, cujo valores pouco diferem, numa ordem de grandeza de 0,4 cm. questo de o pas de procedncia do equipamento industrial usar uma ou outra (ambas so subunidades do p-do-rei; presumivelmente, o tamanho do p do rei ingls era diferente do tamanho do p do rei francs...). O ccero (ou pica) divide-se em 12 pontos. A largura das colunas, por exemplo, expressa em ccero ou picas (em um jornal grande, de oito colunas, perto de dez) e a altura dos tipos (ou corpo) expressa em pontos. Os tipos mais comumente disposio da indstria grfica so os de corpo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 30, 36, 48, 60, 72 e 90. Quanto ao design das letras, h vrias classificaes, baseadas na existncia ou no de cerifas2 (acabamento em trao, tringulo ou quadriltero na extremidade das hastes das letras) , na forma das cerifas ou na natureza mesma do desenho. As formas disponveis mais comumente (h centenas delas) tm os nomes comerciais de Bodoni, Times, Garamond, Grotesca, Helvtica e Futura. Alm da forma e do tamanho, as letras se distinguem como de caixa baixa ( minscula), caixa alta ou versal ( maisculas) e versaletes ( letra com formato de maiscula e altura das minsculas do mesmo corpo); claras ou redondas, em grifo ou itlico e em negrito. O desenho dos alfabetos latinos impressos deriva de um projeto original de Nicolas Jansen que, no incio da Era Moderna, tomou como referncia, para as maisculas, as inscries romanas e, para as minsculas, as letras usadas pelos escribas carolngios (do tempo de Carlos Magno). 2. Dos moinhos de papel aos peridicos. A maneira convencional de iniciar o relato da histria da imprensa consiste em relacionar as grandes invenes que marcaram o seu surgimento. , porm, embaraoso constatar que essas notveis criaes do Renascimento europeu foram, no todo ou em grande parte, apropriaes e desenvolvimentos de recursos tcnicos criados por outras culturas. A imprensa j existia como possibilidade material muito antes da exigncia social que a fez brotar.
O ccero a unidade do sistema desenvolvido por Didot a partir da proposta inicial de Fournier, em 1737. No sistema Didot, tem 4,512 mm (0,4512 cm) e se divide em 12 pontos, com 0,356 mm. O sistema angloamericano utiliza, em lugar do ccero, o pica (s vezes grafado paica, por uma curiosa mistura de rigor fontico e pudor lingustico), que corresponde a 4,218 mm (0,418 cm) e se divide tambm em 12 pontos, com 0,351 mm. Com o domnio industrial dos Estados Unidos no Ocidente, o pica hoje o mais difundido. Outra unidade, tornada usual na tradio da tipografia do Brasil, o furo, que corresponde a quatro cceros. 2 Grafa-se tambm serifa. Preferimos a forma com c por supormos relao com o grego , , no sentido de ponta, ou chifre, corno. 9
9
Quando os primeiros moinhos de farrapos se instalaram junto aos rios de curso rpido e guas claras ( alguns na Espanha do Sc.ulo XII, muitos na Itlia, a partir do Sculo XIV), o papel era conhecido e consumido regularmente nos pases orientais. O know-how de sua fabricao chegou ao Mediterrneo atravs das rotas islmicas. Da mesma forma, entre 1040 e 1050, Pi Cheng inventou os caracteres tipogrficos mveis de cermica e essa tcnica espalhou-se at o Turquesto ainda na dinastia Song (de 960 a 1280). Caracteres de metal surgem na Coria em 1390, meio sculo antes de sua utilizao, pela primeira vez na Europa, por vrios artesos, entre os quais Gutenberg de Mainz (Mogncia) ganharia celebridade. A originalidade dos inventos atribudos a Gutenberg discutvel; uma das razes para que esse debate tenha sido posto de lado a grande difuso do trabalho excelente de sua oficina na famosa edio da Bblia, de 1450. Se no foi o primeiro, ter sido o melhor dentre os primeiros. Razes mais profundas relacionam-se com a ideologia da narrativa histrica. Para o historiador do perodo de ascenso burguesa, tratava-se realmente de privilegiar o progresso material e de situ-lo em perspectiva individualista, da qual faz parte o prprio realce dado ao recordes e s primazias; ao mesmo tempo, de nutrir com o perfil de heris o orgulho nacional ou o orgulho de algo mais amplo, que se chamou a princpio de Cristandade, depois de cultura europia e, finalmente, de cultura ocidental. Que tal orgulho tenha assumido o aspecto de discriminao racista um exemplo do sistema de manipulao que transforma em natural e, portanto, impossvel de mudar, aquilo que histrico e, portanto, passvel de mudanas. Gutenberg ofereceu a muitas geraes de europeus e colonizados o modelo do heri criativo e empreendedor, cuja criatura o prprio futuro do Homem; o ponto de articulao entre o arteso-mestre do ofcio, ancestral assumido pelo empresrio, e as artes e cincias, que este cuidaria de incentivar, moldando-as nos rumos da experimentao e do consumo, e das quais tiraria o melhor proveito. De qualquer forma, a inveno e difuso da Imprensa est na pr-histria dos peridicos. Um enfoque contemporneo dessa poca, apoiado em modelos lingisticos e matemticos, encara esses estgios como degraus de uma srie cumulativa que a cultura ocidental iniciou e vem sustentando h vrios sculos, graas a solues que engendrou em face de contratos com outras culturas (como as do Isl, da China ou da Amrica prcolombiana), s quais terminou por destruir ou afetar profundamente, com sua vocao hegemnica. Em sries assim, tal como num jogo de probabilidades, a ampliao das trocas culturais aumenta as chances de xito nas etapas de avano. 3. A quebra de um monoplio Por detrs da evoluo da Imprensa, do surgimento dos peridicos, de suas formas, contedos e tcnicas de produo, encontra-se o processo de surgimento e afirmao da burguesia. O mais antigo predecessor do jornalista moderno surgiu na Itlia do sculo de Petrarca, quando os burgos da Costa Ocidental, enriquecidos pelo comrcio com os navegadores rabes, desenvolveram uma forma nova de vida, baseada na concentrao urbana, na troca intensa de mercadorias e em lutas que anteciparam de alguns sculos conflitos de classes que toda a Europa iria provar. Os Avisi eram folhas manuscritas, copiadas vrias vezes e freqentemente redigidas em proveito de ricos comerciantes ou banqueiros por pessoas que disso faziam profisso. Algo semelhante acontecia, por esse tempo, com as Zeitungem da Alemanha. Tratava-se de trabalho de natureza intelectual, assalariado ou contratado, no qual se exigia dado grau de alienao do autor em relao ao contedo e finalidade do escrito - algo10
subjetivamente bem diverso da idia que se faz da arte dos poetas e narradores literrios, ou da tarefa de quem escreve uma carta pessoal. Outra caracterstica que antecipa os meios de comunicao social o fato de os Avisi e as Zeitungem dos sculos XIII e XIV dirigirem-se a pblico relativamente aberto e no a algum ou a alguns; e de conterem, ao contrrio dos Acta Diurna romanos do sculo I aC. - ancestrais dos jornais murais contemporneos -, materiais no governamentais (do Senado ou do Csar), mas informaes de interesse privado de um financiador. Quebrava-se o monoplio do Estado e da Igreja sobre os meios de comunicao. O mercantilismo tornou necessrio o conhecimento da escrita e da leitura, para o registro e comunicao de dados comerciais; o recurso ao saber antigo e a construo de novo saber, mobilizado para a expanso do comrcio das primeiras indstrias; concentrou populaes nas cidades; comps o quadro em que se formariam os poderes nacionais e o prprio sentimento da nacionalidade, que adquiriu forma na fixao dos idiomas e na identificao de comunidades maiores do que as de uma vila ou um condado. Criou, assim, condies para que a imprensa se desenvolvesse e descobriu, afinal, a imensa potencialidade do texto escrito como instrumento de propaganda e informao. O passo seguinte foi o aperfeioamento das comunicaes. A era do cavalo favoreceu a multiplicao das estafetas (eram 200 mil no Imprio Mongol, segundo Marco Polo), que, na Europa do sculo XVI, deixaram de ser apenas mensageiros privados ou oficiais para formarem os primeiros servios postais pblicos. Levaram mensagens e novidades; logo transportariam, de um centro a outro, notcias, idias, jornais. Os exemplares mais antigos de jornal que se conhecem foram publicados na Alemanha em 1609 e, embora no contenham indicaes sobre a cidade ou o impressor, provavelmente saram de uma oficina de Bremen. Outra publicao primitiva era editada em Estrasburgo (tambm em 1609) e uma terceira em Colnia (1610). Em 1620, havia jornais em Frankfurt, Berlim, Basilia, Hamburgo, Amsterd e Anturpia. Da Holanda saram exemplares em ingls e francs nesse mesmo ano. Em 1621, circulava o primeiro jornal londrino, a Current of General News . Dez anos depois, a 30 de maio de 1631, era lanada em Paris La Gazette, de Theophraste Renaudot3 . Basta reparar o breve intervalo entre essas datas para concluir que a imprensa peridica vinha atender a necessidade social difusa. Os jornais primitivos continham notcias do estrangeiro (aponta-se como exceo o destaque das notcias locais, dado por um jornal vienense em 1629), tratando de assuntos comerciais e de problemas polticos que afetavam o comrcio. Mas j o incomum e o sensacional apareciam no texto. 4. A mstica da liberdade A burguesia ascendente utilizou seu novo produto para a difuso dos ideais de livre comrcio e de livre produo que lhe convinham. Logo tambm viriam as respostas do poder poltico autocrtico a essa pregao subversiva, sob a forma de regulamentos de censura ou da edio de jornais oficiais e oficiosos, vinculados aos interesses da aristocracia. A liberdade de expresso do pensamento somou-se, na luta contra a censura, s outras liberdades pretendidas no iderio burgus, e o jornal tornou-se instrumento de luta ideolgica, como jamais deixaria de ser. Na introduo de sua Histria da Imprensa nos Estados Unidos, Edwin Emery, da Universidade de Minessota, considera significativo que o jornal tenha florescido em reas
3
TERROU, Fernand. A Informao. So Paulo, Difel, 1963, p. 19. 11
onde era fraca a autoridade, como na Alemanha4. Onde quer que o Estado aristocrtico estivesse fortemente implantado, a censura foi exercida, de maneira preventiva e arbitrria. Na Frana dos Luses, era necessrio ao editor obter um privilgio mais ou menos acompanhado de monoplios para a edio; mas isso no o livrava da prvia aprovao do contedo pelas autoridades. Regime similar existiu em outros pases. 5. A censura sob o liberalismo Deixemos que a verdade e a falsidade se batam. Quem jamais viu a verdade levar a pior num combate franco e livre? A pergunta sintetiza os argumentos do poeta ingls John Milton, em seu famoso discurso ao Parlamento Aeropagitica, publicado em 24 de novembro de 1644, em pleno curso da revoluo burguesa na Inglaterra. Sete anos mais tarde, o mesmo Milton ocuparia o cargo de censor. A liberdade de expresso, ao lado das outras liberdades, estava incorporada ao programa mnimo de classe em ascenso. No entanto, os novos estados burgueses, quer exercessem o poder atravs de estruturas preservadas da poca anterior, mediante compromissos pragmticos (como aconteceu na Inglaterra), quer resultantes de revoluo onde o conflito real se tornaria mais evidente (como na Frana, um sculo depois), enfrentaram de imediato problemas tais que os levaram a restaurar a censura. As leis repressivas iriam ser adotadas e abandonadas ao sabor dos acontecimentos. Uma cronologia incompleta revela isso, por exemplo, no caso ingls: 1641, abolio do tribunal Star Chamber, executor de poltica de monoplio e censura; 1649, restabelecimento da censura, com a execuo de Carlos I e o aparecimento da Commonwealth, sob o governo de Cromwell; 1660, estabelecimento de um sistema de patente exclusiva, ou monoplio, com a restaurao de Carlos II; 1622, decreto de censura; 1679, prescrio do decreto de censura que, ressuscitado de vez em quando, expiraria em 1694; 1712, criao do imposto do selo, estabelecido pelos tories e que vigoraria at 1855, numa fase em que se alternaram perodos de restries mais ou menos amplas. A evoluo das idias sobre a liberdade de Imprensa na Frana tambm elucidativa. Antes da tomada do poder pela Revoluo, escreveu Jaucourt: Os inconvenientes dessa liberdade de imprensa so to pouco considerveis quando comparados s suas vantagens que esse deveria ser o direito comum do universo. Diderot enfrentava, com as armas da utopia, os problemas que sua sagacidade antevia para o futuro: No suficiente que um jornalista tenha conhecimentos, preciso tambm que seja eqitativo, que tenha julgamento slido e profundo de gosto, de sagacidade; que nada altere. No entanto, em 1793, derrocada a Bastilha e derrubado o Imprio, construiria Saint-Just a frase clebre: No pode haver liberdade para os inimigos da liberdade.5 No terreno da crtica das idias, esses pensamentos no figuram entre as criaes humanas de maior consistncia. Tomemos o de Milton, que parte da linguagem maniquesta de uma verdade e uma falsidade em luta; a experincia tem mostrado que a falsidade pode vencer quando se apoia em boa retrica, adequada estratgia emocional e media (volume de oferta, socialmente distribudo, da mensagem) esmagadores. Por outro lado, muitas proposies, como as promessas polticas, no podem de antemo ser ditas verdadeiras ou falsas. O mesmo ocorre com afirmaes sobre as quais no h outro conhecimento (como os povos de Alfa Centauro so pacficos). Finalmente, a convico
4 5
EMERY, Edwin. Histria da Imprensa nos Estados Unidos. Rio de Janeiro, Lidador, 1965, p. 18. TERROU, Fernand. Op. cit, p. 28. 12
de verdade e falsidade no existe fora de um contexto do qual participam interesses e motivaes. A tirada de Saint-Just, freqentemente repetida, flutua com o conceito que se tenha de liberdade. Se entendermos liberdade como o direito que todos os homens tm de expressar o pensamento , por exemplo, veremos que no podem ter o direito que todos os homens tm de expressar o pensamento os homens que so contra o direito que todos os homens tm de expressar o pensamento. Logo, nem todos os homens tm o direito de expressar o pensamento, o que contradiz a definio. No preciso ser mestre de ironia para concluir que a frase ser historicamente consagrada de outra forma: No pode haver liberdade para quem contra o que eu entendo por liberdade, ou no pode haver liberdade para quem contra mim. Nos Estados Unidos, circunstncias peculiares favorecem a persistncia do princpio da livre imprensa, inscrito na primeira emenda Constituio, de 1791, quinze anos aps a independncia nacional; tais fatores foram, basicamente, a inexistncia de qualquer movimento srio de restaurao de um sistema anterior, de vez que a autonomia atendeu ao consenso do grupo dominante na colnia; a ausncia, nos primeiros tempos, de qualquer coisa parecida com o proletariado em formao na Europa; e a circunstncia de, at a dcada de 1830, os jornais atuarem discretamente: subvencionados por partidos polticos, homens de negcio ou plantadores, eram dirigidos por elementos ricos e tinham fraca tiragem, escreveu Fernand Terrou.6 Ainda assim, e em que pese a pouca repercusso eleitoral dos jornais, as idias de Thomas Jefferson ( cujo compromisso com a liberdade de Imprensa passaria condio de mito da Histria dos Estados Unidos) evoluram sintomaticamente ao longo dos anos. Em 1787, escrevia ele a um amigo:O meio de evitar essas intervenes irregulares (erros de julgamento) do povo dar-lhe plena informao dos negcios atravs dos jornais pblicos e tudo fazer para esses jornais terem a maior penetrao possvel na massa do povo. Sendo o nosso governo fundado na opinio pblica, o primeiro e real objetivo seria mant-la certa.
Jefferson assumiu o governo em 1800. Em 1802, enfrentando jornais federalistas hostis, seus pontos de vista eram um tanto diferentes:Estamos passando, sem dvida, pela experincia de saber se a liberdade de expresso ou no suficiente, sem o auxlio de coero, para a propagao e proteo da verdade, assim como para manuteno de um governo puro e ntegro em suas aes e opinies.
E, em 1813:Os jornais de nosso pas, pelo seu desenfreado esprito de falsidade, tm destrudo mais efetivamente a utilidade da Imprensa do que todas as medidas restritivas inventadas por Bonaparte.7
6. A revoluo do jornal-empresa
6 7
Ibidem, p. 37. EMERY, Edwin. Op. Cit., p.183. 13
Na segunda metade do sculo XIX, a concepo liberal conseguiu impor-se na Inglaterra, com a abolio dos impostos especiais (sobre a publicidade, em 1853; do imposto do selo, em 1855; e sobre o papel, em 1863); na Frana, em 1881, com a legislao que tornou livres as publicaes; na Alemanha, em 1874, aps a unificao, com a lei que, abolindo a censura, estabeleceu a competncia do jri para os delitos da imprensa. Dois acontecimentos tornaram possvel essa liberao, aps mais de um sculo de restries e constrangimento: (a) a Revoluo Industrial e (b) o papel particular que a publicidade assumiria na vida dos jornais. A Revoluo Industrial representou etapa mais avanada do processo do capitalismo. Coincidiu com o esvaziamento dos campos da Europa e a liquidao do setor feudal remanescente; promoveu rpido crescimento e mudou o aspecto humano das cidades, fazendo surgir, por sobre a multido proletria miservel, camadas intermedirias de administradores e trabalhadores qualificados ou tcnicos necessariamente voltados para a leitura, interessados em notcias e capazes de se identificarem com a classe no poder. Mesmo para empregos sem maior qualificao, a alfabetizao tornou-se conveniente, necessria e, por fim, obrigatria. Conseqncia particular da Revoluo Industrial foi a mecanizao dos processos de produo dos jornais. Isto lhes permitiu multiplicar as tiragens, estabelecendo patamares de circulao bem acima dos da fase anterior. Por outro lado, passou a exigir do empresrio jornalstico investimento inicial aprecivel, que precisava ser remunerado. Na linguagem dos estudos de Economia, que datam desse tempo, tal situao corresponde ao aumento da capacidade produtiva e exigncia de maior responsabilidade na produo. A impressora mecnica, inventada pelo alemo Koenig, foi utilizada pela primeira vez em 28 de novembro de 1814, na impresso do Times , de Londres; onze anos antes, entrava em operao a primeira mquina contnua para a fabricao de papel. Em 1867, Hippolyte Marinoni construa a prensa de quatro cilindros, a rotativa, cujo primeiro modelo era 25 vezes mais rpido do que qualquer outra mquina ento existente. Mergenthaler inventou em Baltimore a linotipo que, a partir de 1880, aceleraria vitalmente a composio. A fotografia, inventada por Daguerre em 1839, abriu caminho para a fotogravura e a imprensa ilustrada. Data de 4 de maro de 1880 a primeira reproduo de uma fotografia em jornal, no Daily Graphic, de Nova York. A publicidade teve tambm dupla ao. Por um lado, permitiu a rebaixa do preo do exemplar, colocando os jornais mais facilmente ao alcance da populao recmalfabetizada. Por outro lado, integrou profundamente a empresa jornalstica com o setor econmico que lhe passou a garantir a sobrevivncia. A disputa por maior nmero de leitores tornou-se no apenas luta pela influncia, mas tambm duro combate por maior volume de anncios a preo mais gratificante. Em 1846, havia em Paris 26 dirios com 180.000 assinantes. O inovador La Presse, fundado em 1836 por Emile de Gerardin, contava com 63.000 assinantes em 1848. Nada disso se compara ao gigantismo de Le Petit Parisien, que, em 1913, ultrapassaria o milho e meio de exemplares dirios; ou de Le Matin, fundado em 1884 e que, em 1913, vendia um milho de exemplares; ou do Petit Journal, que ultrapassou o milho de compradores em 1892. Na Inglaterra, em 1829, os 17 dirios de Londres tinham tiragem de 44.000 exemplares. Em 1856, s o Times vendia 60.000. A baixa dos preos favorecida pelo mercado publicitrio elevou o Daily Telegraph da tiragem de 30.000 exemplares em 1858 para 142.000 em 1861, e 300.000 em 1880. O Daily Mail, j em 1900, vendia 800.000 exemplares.14
Nos Estados Unidos, havia oito dirios, em 1790; um sculo depois, 1.662 dirios, com a tiragem de 8.387.188 exemplares; em 1910, 2.433 dirios, com tiragem de 24.211.997 exemplares. Por detrs dos nmeros, estabeleceu-se relao triangular em que o produtor de informao busca atrair o interesse de um pblico, que retribui consumindo produtos (industriais, de servios ou ideolgicos) do sistema econmico-ideolgico. Este gratifica o produtor de informao com verbas publicitrias, financiamentos e apoio social.8 Essa triangulao funciona regularmente, desde que o produtor de mensagens seja capaz de obter nmero considervel de leitores-consumidores de produtos e no se oponha aos princpios fundamentais para a sobrevivncia do sistema. A primeira condio resultou em disputa acirrada, com a acentuada tendncia, to logo suprimido o mercado potencial, reduo dos ttulos e aumento das tiragens - em outras palavras, concentrao empresarial. Segundo uma publicao da Universidade de Chicago, o nmero de jornais no cessou de diminuir desde 1910, embora a populao aumentasse: de perto de 2.600, baixou para 1.750, em todo os Estados Unidos. Quarenta por cento dos dirios no enfrentavam, em 1945, qualquer concorrncia; esta se registrava em apenas uma de cada 12 cidades que tinham jornais. Os jornais de opinio (eventualmente contestatria) continuaram a existir, porm com horizontes limitados pela incapacidade de concorrer em volume e qualidade de informaes, servios e entretenimento; e pela necessidade de sustentar preo alto de venda ao pblico, salvo quando algum grupo de presso, partido, igreja ou sindicato os sustenta, arcando com despesas crescentes. Ainda assim, esses jornais sero responsveis por alguns episdios em que o sistema deixou de operar a contento, exigindo a interveno do Estado ou de presso social manipulada. Momentos de disfuno decorrem ainda de contradies graves no mbito do prprio sistema ou nas relaes deste com o poder formal do Estado; tais so situaes de crise, em que, como observou Lenine, o meio social adquire grande condutibilidade para as idias revolucionrias. Mas at mesmo a contestao declarada mostrou-se comumente til ao sistema, evidenciando ngulos crticos que de outra forma passariam despercebidos, antecipando reformas ou solues de compromisso e gerando modelos culturais que, desvinculados de sua significao primitiva, puderam ser transformados em artigos de consumo de grande apelo. 7. As tcnicas como produto da Histria A tcnica de fazer jornal - que no deve ser confundida com a tecnologia da fabricao dos jornais - respondeu muito nitidamente s necessidades criadas pelas mudanas sociais. Trata-se de uma realizao de cultura altamente sensvel s concretizaes da Histria. Nos primeiros sculos de existncia dos peridicos, houve o privilgio dos textos opinativos e interpretativos, em que cada episdio ou acontecimento era expressamente relacionado a uma linha de pensamento determinada e sempre reiterada. Ao redator de um jornal burgus, na Frana do sculo XVIII, parecia perfeitamente cabvel noticiar a falta de gneros numa regio, um motim campons em outra, a priso de um manifestante, a derrota em uma batalha ou qualquer outro fato remetendo inevitavelmente aos impostos do governo aristocrtico, falta de liberdade de circulao de mercadorias e idias, perda de liderana da aristocracia dominante.8
Essa relao melhor explicitada no segundo captulo, item 3.2. 15
Consolidada a posse do poder, iria tornar-se difcil aplicar o mesmo raciocnio, com idntica amplitude, se faltam gneros, ocorrem motins e prises ou derrotas militares: opinio emitida de cima para baixo perde rapidamente o grau de novidade (ou improbabilidade) mnimo necessrio para que desperte algum interesse. A prpria atitude do pblico mudaria: insatisfaes novas que no era conveniente deixar prosperar, o desejo de acumular conhecimento e, atravs dele, dominar uma realidade que se modificava sem coerncia visvel. A reiterao ideolgica teria que ser feita por outros meios, e estes foram supridos por novas formas de produo de informao. O sensacionalismo uma dessas formas. Ele permite manter elevado ndice de interesse popular (o que conveniente para o veculo, na poca de competio por leitores e de maximizao publicitria), refletindo, na divulgao de crimes e grandes passionalismos, realidade violenta muito prxima de imprecisos sentimentos do leitor; oferecendo-lhe, em lugar da conscincia, uma representao de conscincia. As campanhas e os apelos unidade nacional prestigiam a liderana. Quanto aos problemas, eles se esvaziam no sentimentalismo ou se disfaram na manipulao da simplificao e do inimigo nico9: a culpa ser invariavelmente atribuda a polticos corruptos, a potncia estrangeira, a elementos de uma cultura (raa) diferente. No entanto, essa imprensa tem o mrito de se comprometer com o lado emocional do homem e de evidenciar de alguma forma suas agruras reais. A outra forma, que se identificaria com a imprensa prestigiada, gerou o entendimento fundado na imparcialidade, na objetividade e na veracidade da informao. Tal imparcialidade, objetividade e veracidade cumprem freqentemente a funo reiteradora que a opinio manifesta j no consegue suprir, apresentando como equilibradas e, portanto, naturais, as perspectivas dadas como boas, eliminando como subjetivas ou mentalistas as disposies inconvenientes de anlise crtica e estabelecendo, necessariamente a priori, critrios de aferio da verdade. Um jornalismo que fosse a um s tempo objetivo, imparcial e verdadeiro excluiria toda outra forma de conhecimento, criando o objeto mitolgico da sabedoria absoluta. No por acaso que o jornalista do sculo XX mantm, s vezes, a iluso de dominar o fluxo dos acontecimentos apenas porque os contempla, sob a forma de notcias, na batida mecnica e constante dos teletipos (ou, mais recentemente, o cidado que os vigia na tela do brownser ligado Internet). O conceito de objetividade posto em voga consiste basicamente em descrever os fatos tal como aparecem; , na realidade, abandono consciente das interpretaes, ou do dilogo com a realidade, para extrair desta apenas o que se evidencia. A competncia profissional passa a medir-se pelo primor da observao exata e minuciosa dos acontecimentos do dia-a-dia. No entanto, ao privilegiar aparncia e reorden-las num texto, incluindo algumas e suprimindo outras, colocando estas primeiro, aquelas depois, o jornalista deixa inevitavelmente interferir fatores subjetivos. A interferncia da subjetividade nas escolhas e nas ordenaes ser tanto maior quanto mais objetivo, ou preso s aparncias, o texto pretenda ser. Assim, pode-se narrar uma procisso do ngulo da contrio dos fiis, ou com destaque aos problemas de trnsito que causa, ou ainda contradio entre suas propostas e a realidade contempornea. No primeiro caso, estaremos, possivelmente, redigindo um texto de fundo religioso; no segundo, de intenes agnstico-mecanicistas; no terceiro, de intenes crticas e materialistas.9
DOMENACH, Jean- Marie. A Propaganda Poltica, So Paulo, Difel, 1963, p. 54. O autor prope, como leis da propaganda poltica, alm da Lei da Simplificao e do Inimigo nico, as leis da Ampliao e Desfigurao, da Orquestrao, da Transfuso e da Unidade e do Contgio. 16
Essas reflexes no excluem, porm, as vantagens prticas da tcnica que correspondem proposio de um improvvel ponto de equilbrio diante do qual um fato ocorrido pudesse ser contado de uma s maneira justa. O procedimento resultante dessa forma de entender o texto informativo ofereceu certas vantagens; entre estas, o compromisso com a realidade material, a acelerao do processo de produo e troca de informaes e a denncia das frmulas arcaicas de manipulao. A proposta de uma linguagem absolutamente transparente, por trs da qual se apresentasse o fato integro, para que o leitor produzisse seu julgamento, conduziu os jornalistas a atitude de indagao e lhes deu, em certas circunstncias, o poder de buscar o seu prprio ponto de equilbrio, desenvolvendo um conceito de verdade extrado dos fatos com o extraordinrio poder de convencimento dos prprios fatos. Foi com esses mtodos que o reprter John Reed contou, com eloqncia militante, a revoluo mexicana e a revoluo russa10; assim se construram, para alm das aparncias montadas, a imagem real do nazismo e o sentido verdadeiro da guerra do Vietn; chegou-se ao fundo de muitos escndalos e iniqidades.
8. A estrutura da redao A atividade da redao de um peridico se compe de apurao e redao dos dados (a cargo da reportagem, com o apoio da fotografia, do arquivo ou setor de pesquisa e do arquivo fotogrfico) e de sua edio, a cargo do editor (ou do secretrio), dos redatores ( que, quando revisores e compiladores de originais, podem formar o que, no Brasil, chamado de copydesk) e dos diagramadores. Estes calculam tamanho dos textos e ttulos e projetam as pginas, em diagramas ou layouts. Pelo menos, era exatamente assim, at h alguns anos. A diviso em funes na redao decorreu de uma imposio da transformao do jornal em empresa; tratava-se da adaptar uma estrutura industrial taylorista - ou fordista, em linha de montagem - produo de informao e matrias de entretenimento, principalmente. Uma das conseqncias que se estabelecia a impessoalidade do maior volume de textos, exceo de espaos fixos chamados de colunas (que podem ser assinadas pelos colunistas), artigos (tambm geralmente assinados) e editoriais (estes de responsabilidade da empresa ou do redator chefe). Da mesma forma que as matrias informativas assinadas so freqentemente sujeitas ao modo industrial da produo, isto , no correspondem ao que o autor escreveu ou escreveria caso no houvesse a intervenincia da empresa, tambm comum que as colunas ( no confundir com o conceito grfico do termo, como diviso da pgina ) sejam produzidas por pequenas redaes reunidas em torno do titular, ou que o nome do suposto autor seja fictcio. Nos jornais pequenos, como nos primitivos, predomina a diviso entre a reportagem (com ou sem o seu chefe) e a secretaria (o secretrio), com o redator-chefe ou chefe da redao comandando tudo isso, em nome das direo, que conta com um diretor-responsvel. Nos grandes jornais, e naqueles que buscam adotar a estrutura americana, a funo do editor fracionada (h o editor de economia, o de esportes, o de assuntos urbanos, o editor poltico, o editor nacional etc.) e cada editoria assemelha-se redao-base de um jornal pequeno, contando com seus prprios reprteres e redatores. O secretrio, nesse caso,10
REED, John. Dez Dias que Abalaram o Mundo. So Paulo, Global, 1977. REED, John. Mxico Rebelde. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978. 17
pode ter funes administrativas e de relacionamento funcional com a oficina e a publicidade (uma espcie de publisher ); ou pode supervisionar tarefas da edio. O chefe de redao normalmente passa a chamar-se de editor-geral. Da organizao industrial decorre o esvaziamento da responsabilidade pessoal de cada jornalista diante do pblico, em favor da coletivizao da responsabilidade. Na contingncia de propriedade privada, ou centralizao burocrtica, tal responsabilidade transferida, em ltima anlise, aos editores e chefes e, atravs deles, empresa. Num sistema socializado, ou naquele em que se procura coibir o controle econmico da edio, o colegiado da redao pode ter algum ou muito poder ( o caso de Portugal), que ser eventualmente manipulado pela linha estrita de um partido ou grupo. De qualquer forma, o mesmo texto elaborado vrias vezes, condensado, acrescido: a criatividade se especializa, restando a poucos a possibilidade de comunicao pessoal com o leitor - ainda assim sob determinados limites e controles. Os pargrafos acima no se aplicam inteiramente imprensa atual, do fim de sculo. A estrutura das redaes est em transio. Da mesma forma que a rgida diviso de funes correspondia ao antigo modelo industrial americano - cada qual fazendo apenas uma pequena coisa, far melhor essa coisa -, a tendncia que se observa presentemente reflete a influncia do modelo toiotista, da indstria japonesa: trata-se, em tese, de fazer com que cada trabalhador se integre no processo coletivo de produo, atento a todas as suas etapas, mantendo a individualidade e atuando inteligentemente em prol da qualidade do produto. O toiotismo , no entanto, - pelo menos neste caso, em que se trata de bens ideolgicos - mais uma atitude que encontra sentido na cultura japonesa do que mera tcnica de produo. Exaltar a figura do reprter, como se faz atualmente, atende ao bom e velho esprito da imprensa, para o qual o melhor jornalismo o investigativo e a reportagem a alma do jornal; as figuras do apurador pouco dado gramtica, relaxado com seu texto, e do redator intelectual, o legtimo idiota da objetividade11, impermevel a qualquer emoo, compem o quadro anedtico do jornalismo-indstria. No entanto, empresas tm interesses objetivos, inserem-se em articulaes, dependem de financiamento, publicidade, tecnologia e aceitao social. No fcil sustentar organizaes desse tipo sobre a individualidade de jornalistas apaixonados pela prpria misso e pelas prprias carreiras, fuando escndalos financeiros e incongruncias polticas numa sociedade real (considere-se, por exemplo, que as aes judiciais por crime de calnia, injria ou difamao so essencialmente cveis, buscando indenizao - a ser paga pelas empresas). Por outro lado, a independncia do jornalista impossvel, no sentido lato, se a relao de emprego no pressupe algum tipo de estabilidade. O reprter paladino da sociedade, defensor daqueles que no tm quem os defenda, pode ser a essncia do bom jornalismo, mas , do ponto de vista empresarial, um tremendo criador de casos. No fundo, um problema filosfico: a verdade, em jornalismo, como na Lgica clssica, ou no , excluda qualquer outra hiptese; j no terreno jurdico - na ordem social, no julgamento da Histria - a verdade arbitral, depende de provas, sujeita-se discusso, pode ser e no ser ao mesmo tempo. As inovaes tecnolgicas alteraram profundamente - e podero alterar ainda mais, em futuro prximo - as tcnicas de trabalho dos jornalistas, em particular dos reprteres, permitindo, principalmente, textos mais exatos. O acesso a dados oficiais hoje11 . O apelido foi inventado na dcada de 60 pelo colunista e teatrlogo brasileiro Nelson Rodrigues, que o aplicava aos redatores do copydesk do Jornal do Brasil (Nelson escrevia no jornal concorrente do Rio de Janeiro, O Globo) 18
facilitado pelas redes de computadores, e ser mais facilitado ainda na medida em que se desenvolverem sistemas de gerenciamento de redes e bancos de dados adaptados universalidade dos assuntos e rotina de trabalho dos veculos. As telecomunicaes (dos cabos ticos aos telefones celulares) tornaram o mundo muito menor nos ltimos anos, embora o que acontece com ele seja cada vez menos interessante. No entanto, a base da reportagem continua sendo a entrevista, de preferncia face a face, captando o que a fonte quer dizer e tambm, se possvel, o que ela gostaria de no dizer. Fontes que so cada vez mais profissionalizadas e desenvolvem estratgias de convencimento sutis, buscando envolver, antes de mais nada, os prprios reprteres. 9. O jornalismo no Brasil Os jornais de circulao nacional e venda popular alcanam, no Japo e na Inglaterra, tiragens superiores a seis milhes de exemplares. Na Frana, Le Monde, jornal interpretativo destinado a pblico de nvel universitrio ( a sua feio grfica conservadora, os textos longos e sem fotografias), conseguia, em 1979, superar meio milho de exemplares. Na Unio Sovitica e na China, os rgos partidrios centrais passavam, naquela poca, de dez milhes de exemplares dirios. O New York Times de domingo, com suas centenas de pginas, transformava hectares de florestas em papel impresso. Diante desses nmeros, a tiragem dos jornais brasileiros era e pequena (um jornal metropolitano pode atingir meio milho de exemplares, mas isso raro, embora o pas tenha seus dois milhes de estudantes universitrios e pelo menos 60 milhes de leitores em potencial). Notavelmente, o acrscimo de tiragem no tem correspondido concentrao empresarial que reduziu drasticamente o nmero de ttulo, nas dcadas de 60 e 70 ( no Rio de Janeiro, de 1960 a 1976, fecharam o Dirio Carioca, A Noite, O Jornal, Dirio da Noite, Correio da Manh, Dirio de Notcias, entre os principais, e vrios outros jornais deixaram de ter presena considervel no mercado). Apontam-se comumente, como razes para as baixas tiragens, o contingente de analfabetos e o baixo poder aquisitivo da populao. No entanto, ainda que contssemos o ndice mximo o analfabetismo (o que afinal, um analfabeto?, perguntaramos aos estatsticos), teramos seguramente mais leitores em potencial do que a Frana, por exemplo, e estes se concentrariam dominantemente nas cidades; por outro lado, a m distribuio da renda no impede que o Brasil seja um mercado apetitoso para refrigerantes ou cigarros. Outra ordem de motivos pode ser sugerida: o processo de industrializao, aqui, coincidiu com o surto dos veculos eletrnicos (o rdio e, depois, a televiso) que, como acontece em outras naes do Terceiro Mundo, ocuparam o lugar dos jornais como elemento de sociabilizao, ou adaptao dos contingentes proletarizados contingncia urbano-industrial; faltaria tradio de leitura. Podemos tambm considerar que, no ltimo meio sculo, a censura policial interferiu por perto da metade desse tempo na feitura dos jornais e, nos intervalos de liberao, os sistemas de dependncia econmica operaram intensamente sobre a indstria jornalstica. Em suma: embora s vezes graficamente primorosos, os grandes jornais brasileiros seriam bastante deficientes do ponto de vista editorial, distantes do leitor, preocupados demais em servir complexa ordem do poder. O fato que a grande imprensa brasileira uma imprensa de elite. Os jornais populares que existiam no comeo do sculo praticamente desapareceram a partir da extino dos subsdios ao papel, no comeo da dcada de 60. Ler jornais , no Brasil, diferencial de classe, ocupao prpria dos formadores de opinio. O mercado publicitrio19
ajustou-se a isso; o pblico de massa concentra-se no rdio e na televiso, que absorve a parte do leo no investimento em propaganda. Expanso de ttulos e tiragens ocorreu, no entanto, no setor das publicaes especializadas, de lazer ou trabalho (em que se destacam os jornais e boletins econmicos), e nas edies para pblicos especficos: donas de casa, amantes da informtica, crianas, adolescentes, praticantes do surfe ou do sexo seguro ... A imprensa poltica de contedo contestatrio, que sobrevivia na dcada de 70 apesar (e por causa) das restries de censura, deixou como herana nmero impressionante de jornais de empresas, sindicatos a associaes - favorecidos todos pela banalizao do computador e dos softwares de edio grfica. A anlise dos xitos editoriais recentes indica a preferncia por publicaes de interesse para uma classe, essencialmente consumidora, voltada para a problemtica familiar, questes psicolgicas relacionadas sexualidade, lazer e ecologia; os peridicos dependentes da primazia do veculo hegemnico de comunicao social, a televiso; as revistas em quadrinhos e fotonovelas. Os grandes idealismos polticos, a crtica e o humor, que estavam em alta h 20 anos, praticamente desapareceram como focos de leitura inteligente. A verdadeira poltica hoje a economia, e o pblico percebeu isso com grande rapidez. As guerras atuais, sempre descritas como tnicas (srvios, croatas e bsnios; hutus e tutsis; palestinos e israelenses), parecem sem sentido ao leitor brasileiro, em que pese a farta produo de cadvares; a poltica interna, devassada, uma interminvel novela de corrupo e frustrao de expectativas; cessada a Histria - e isto aconteceu, para fins de propaganda - o que nos dado saber sobre o futuro deve estar na cincia. A histria do jornalismo brasileiro pode ser dividida em quatro perodos distintos: o de atividade sobretudo panfletria e polmica, que corresponde ao Primeiro Reinado e s regncias; o de atividade dominantemente literria e mundana, que corresponde ao Segundo Reinado; o de formao empresarial, na Repblica Velha; e a fase mais recente, marcada por oposies aparentes do tipo nacionalismo/dependncia, populismo/autoritarismo, tanto quanto pelo uso intensivo na comunicao no controle social. Tal diviso, claro, deve ser entendida em termos muito gerais, j que o jornalismo de uma poca se apresenta com muitas faces. Basta lembrar que a campanha abolicionista e o surgimento da caricatura militante se deram justamente sob D. Pedro II; da mesma forma, a imprensa doutrinria surgiria no incio do sculo XX, com as primeiras propostas socialistas atingindo as camadas de trabalhadores. A Imprensa chega ao Brasil com a corte de D. Joo VI. Antes disso, era proibida na colnia qualquer atividade grfica, tanto quanto o ensino superior. Alguns historiadores atribuem essa limitao falta de uma cultura nativa que pudesse fazer face do colonizador (na Amrica Espanhola, onde havia as culturas maia, inca e asteca, cuidouse logo de fundar universidades e editar publicaes) ou, contraditoriamente, aos temores de que, sob inspirao jesutica, uma cultura autctone se firmasse aqui, como parecia provvel em meados do sculo XVIII. Costuma-se apontar como primeiro peridico brasileiro o Correio Brasiliense , que circulou a 1o. de junho de 1808, editado na Inglaterra por Hiplito Jos da Costa. Trs meses depois, foi lanada no Rio a Gazeta, rgo oficial do Governo, dirigido por Frei Tibrcio Jos da Rocha e censurado pelo Conde de Linhares. Na primeira fase da imprensa brasileira, que culminou com a franca atividade poltica do perodo da regncia (aps a abdicao, em 1930, de D Pedro I - D. Pedro IV de Portugal -, a fase de 12 anos de menoridade legal do prncipe herdeiro), predominou panfletarismo surpreendentemente virulento, cuja medida pode ser tirada de uma frase de20
um jornal governista O Espelho. Em 10 de janeiro de 1823, criticando o jornalista de A Malagueta , Lus Augusto May, um articulista, possivelmente o prprio imperador, comeava: esturdssimo, esturradssimo, politiqussimo, cachorrssimo senhor autor de um peridico cujo nome o de uma pimenta que se chama aqui malagueta ou, por outra, puta que o pariu ( a ele) 12. So dessa fase artesanal da imprensa os Andrada (Jos Bonifcio, o mais conhecido, considerado pai da independncia brasileira), o persistente e conservador Jos da Silva Lisboa, o combativo Cypriano Jos Barata de Almeida ( com sua srie de Sentinelas da Liberdade, editadas de vrias prises imperiais), o portugus Joo Soares Lisboa, Lbero Badar, Gonalves Ledo, Frei Caneca, Evaristo da Veiga, Antnio Borges da Fonseca, Justiniano Jos da Rocha e o padre Miguel do Sacramento Lopes Gama. A segunda fase da Imprensa brasileira, na corte do segundo Imprio, trouxe a fundao de alguns jornais durveis. Dentre os mais antigos figuram o Jornal do Comrcio (1827) - este ainda no reinado de D Pedro I; a Gazeta de Notcias (1874) do Rio de Janeiro; O Estado de So Paulo ( 1875); e o Jornal do Brasil , surgido em 1891, j no incio da Repblica. A tnica foi dada pela presena de redatores como Machado de Assis, Jos de Alencar, Raul Pompia, Jos Verssimo e, entre os correspondentes estrangeiros, Ea de Queirs e Ramalho Ortigo. Foram jornalistas da poca de Joaquim Nabuco, Quintino Bocaiva, Jos do Patrocnio, Raul Pompia, Artur Azevedo e Rui Barbosa. O jornalismo da terceira fase - da repblica velha (1899-1920) ao estado novo (a ditadura Vargas, de 1937 a 1945) - descobriu a publicidade e a perspectiva empresarial. Vieram da poca anterior alguns nomes como os de Olavo Bilac e Aluzio Azevedo. Notabilizaram-se outros: Euclides da Cunha, Lima Barreto, Joo do Rio ( Joo Paulo Alberto Coelho Barreto). A Euclides deve-se uma cobertura antolgica - da Campanha de Canudos; a Lima Barreto uma participao crtica que refletiu, com certa angulao poltica, o fechamento autocrtico da sociedade brasileira do seu tempo; a Joo do Rio, o desenvolvimento de um estilo de reportagem urbana baseada na observao da realidade, coleta de informaes e tratamento literrio do texto - rebuscado, ao gosto da poca. Poetas foram criadores publicitrios (Emlio de Menezes, Bastos Tigre). Logo o jornalista comearia a se distanciar-se dos literatos para constituir categoria prpria; foi o tempo de Alcindo Guanabara, Irineu Marinho e de Gustavo de Lacerda, reprter que idealizou a Associao Brasileira de Imprensa. A polmica marcou a vida de Monteiro Lobato (que comeou fazendeiro, escrevendo carta a O Estado de So Paulo sobre o Jeca Tatu, caipira sem esperana do interior de So Paulo); a perseguio sublinhou a grandeza de Graciliano Ramos, revisor de textos do Correio da Manh, jornal que se ligaria ao nome de Edmundo Bitencourt, como o Dirio de Notcias ao de Orlando Dantas e o conglomerado dos Dirios Associados a Assis Chateubriand. Empresas da famlia: os Mesquitas, que perderam durante cinco anos, no Estado Novo, o comando do Estado (O Estado de So Paulo) e o receberam de volta; os Pessoa de Queirs no Norte, Caldas Junior no Sul. Reprteres jovens, como Samuel Wainer, David Nasser, Joel Silveira, Rubem Braga e Carlos Lacerda. Sedes prprias monumentais no centro: no Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, na Avenida Rio Branco, fez seguidores - o Dirio de Notcias, na Rua do Riachuelo; O Globo (fundado por Irineu Marinho), perto da Rua de Santana; O Cruzeiro, na Rua do Livramento. Mas o movimento histrico a j era outro. Os oito anos da ditadura de Vargas trouxeram, alm da liquidao do jornalismo poltico e da perda de qualidade da caricatura, intensa corrupo de jornais e jornalistas, com a imprensa submetida ao controle do DIP ( Departamento da Imprensa e
12
SODR, Nelson Werneck. A Histria da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 1966, p. 72. 21
Propaganda)13 . Aps 1945, iniciou-se transformao marcada pela crescente influncia norte-americana sobre a sociedade em geral e a imprensa em particular. Com maior ou menor disfarce, capitais do exterior passaram a influir na vida dos jornais. O idealismo nacionalista marcaria os perodos mais interessantes da vida de ltima Hora, jornal que Samuel Wainer fundou no incio da dcada de 50, com financiamento bancrio oficial. J se comeara a introduzir a diagramao e certo padro era comum nos jornais quando o Dirio Carioca e a Tribuna da Imprensa, ambos no Rio, adotaram estilo de redao que buscava adaptar s contingncias da lngua portuguesa a tcnica de produo de notcias corrente nos pases industrializados e que aqui j chegava atravs das agncias estrangeiras. Lus Paulistano, Pompeu de Souza e Carlos Castelo Branco trabalhavam por este tempo no Dirio, dirigido por J. E. de Macedo Soares e Danton Jobim; Carlos Lacerda era o proprietrio da Tribuna, de onde se lanou vida poltica como expresso dos descontentamentos de uma classe mdia moralista e essencialmente conservadora. O prximo passo no processo de modernizao foi dado com a reforma do Jornal do Brasil, iniciada com o convite de Odilo Costa, filho, para dirigir a redao. J no era jornal pequeno, como o Dirio ou a Tribuna; os recursos tambm no se limitavam tanto. Recrutando pessoal dessa concorrncia mais pobre, o Jornal do Brasil adotou e aperfeioou o processo de produo de notcias; somou a ele apresentao grfica de extrema padronizao, segundo o design do escultor construtivista Amlcar de Castro. Transformaes urbanas criavam uma nova classe ascendente de leitores avanados, modernos, que se propunham liberais e da qual a nova forma do Jornal do Brasil tornou-se uma espcie de smbolo, com certos hbitos, certo cinema (o cinema novo) e certa msica (a bossa nova). Por todo o pas, as inovaes foram sendo imitadas, como signo do desejvel, do hegemnico; longe de serem postas de lado, as reformas grficas e editoriais se amiudaram a partir de 1964, quando a represso do contedo estimulou a busca de apresentao atraente, moderna; e o regime autoritrio ergueu a banderia da eficincia, da tecnocracia, do cosmopolitismo. No Brasil, projetou-se ento a distino de classes de uma sociedade industrial antes mais ou menos ocultada pela presena populista: os jornais j no eram feitos para todos, mas para camadas do pblico. A coluna social ganhou seriedade empresarial , as colunas sindicais desapareceram dos jornais de classe mdia14 , as pginas de economia abriram espao para os press releases das multinacionais, dos lobbies e do Governo. Apesar de as tiragens no serem muito significativas, a publicidade, sobretudo institucional, tornou-se farta nos jornais sobreviventes forte concentrao empresarial, os quais compraram novas mquinas, construram grandes prdios (agora suburbanos, industriais), agigantaram-se e armaram o pano de fundo sob o qual todos os conceitos - de verdade, liberdade - deveriam ser repensados. Foram, de fato, repensados, embora de maneira que no se podia imaginar, em 1979, quando foi escrita a primeira edio deste livro. O modelo de desenvolvimento brasileiro, fundado em grandes corporaes estatais para os servios pblicos e setores estratgicos da economia - telecomunicaes, indstria nuclear, petrleo e siderurgia havia-se construdo, a partir do fim da Segunda Guerra, principalmente com recursosIdem, p. 439. O noticirio sindical se voltaria a amiudar-se em 1978, mas j ai, nos jornais de classe mdia, usualmente colocados sob a rubrica Economia, o que aponta para uma nova considerao do trabalhador como insumo da sociedade industrial; sua desumanizao e desindentificao com o leitor, em sntese. Isto ainda quando o trabalhador, por sua escolaridade, figura no universo dos provveis leitores 2214 13
prprios, mas, desde 1970, com o aporte de financiamentos externos cada vez maiores. Isso vulnerabilizou o pas a tal ponto que, na dcada de 80, coincidindo com o processo de redemocratizao, viveu-se um perodo de estagnao, com ndices inflacionrios altos e crescente presso externa. A Constituio de 1988 buscou consolidar o estado de bem estar social e amplas liberdades pblicas, no quadro de um capitalismo com forte presena do Estado. Na interpretao assumida pela imprensa brasileira, a queda do imprio sovitico, no entanto, teria sido condenao expressa a esse projeto. E, nos anos 90, o Pas viu-se compelido a rever seus objetivos nacionais em face da nova ordem poltica mundial: reduzir conquistas sociais, internacionalizar a propriedade e os lucros de sua economia, submeter a gesto poltica aos interesses dos credores. Ao longo desse processo, os principais grupos de comunicao do Brasil, beneficirios do processo democrtico, logo se articularam com capitais externos para disputar os despojos da privatizao; do ponto de vista editorial, essa lgica preside sua orientao h muitos anos. Para o bem ou para o mal, nunca se denunciou tanto, e nunca foram to inteis as denncias; tambm nunca se exaltou tanto a modernidade cosmopolita contra o conservadorismo nacional e popular; ou se mostrou to unnime o discurso da mdia - submissa a uma espcie de onda que varre o mundo, define como simpticos os Estados e os polticos que se deixam levar, e silencia ou condena aqueles que tentam resistir. A liberdade, hoje sabemos, do capital. E a verdade impressa tambm lhe pertence.
23
A notcia: proposta, linguagem e ideologia
1. O produto industrial Se considerarmos que a notcia, no sentido mais amplo e desde o tempo mais antigo, tem sido o modo corrente de transmisso da experincia - isto , a articulao simblica que transporta a conscincia do fato a quem no o presenciou - parecer estranho que dela no se tenha construdo uma teoria. As notcias eram, at Revoluo Industrial e suas conseqncias para a indstria jornalstica, relatos de acontecimentos importantes - para o comrcio, os meios polticos, as manufaturas. Muito rapidamente, com a conquista do grande pblico, passaram a ser artigos de consumo, sujeitos a acabamento padronizado, embalados conforme as tcnicas de marketing. Artesanal, a notcia incorporava, de incio (e incorpora ainda, nos testemunhos), crenas e perspectivas individuais. Impessoal, tende, nos meios de comunicao social de agora, a produzir-se de modo a eliminar aparentemente crenas e perspectivas. No entanto, a melhor tcnica apenas oculta preconceitos e pontos de vista do grupo social dominante. O maior prestgio recai sobre as notcias desprovidas de emoo, o que corresponde preocupao de abarcar intelectualmente o mundo (conhec-lo, dominlo) sem envolver-se afetivamente - proposta que est, sem dvida, na raiz, tronco e ramos da neurose burguesa. Mudou, de fato, o modo de produo da notcia: crenas e perspectivas nela includas no so mais as do indivduo que a produzia, mas a da coletividade hoje produtora, cujas tenses refletem contradies de classe ou de cultura. Provavelmente uma boa razo para o descrdito contemporneo de uma teoria da notcia se encontre no carter coletivo, industrial, da produo desse bem simblico. O liberalismo coloca no indivduo (professor, artista, cientista poltico) a quintessncia do bom racionalismo e da criatividade, atribuindo s coletividades a racionalidade m, o rotineirismo. Por no poder pensar o coletivo mais do que como soma de individuais - o que ele fisicamente, mas que no o define ontologicamente - os liberais tero perante a produo de coletividades organizadas atitude de excluso, desprezo, condescendncia ou pnico. A vitria de um exrcito, o progresso de uma Nao, a inovao no mbito de uma indstria sero desconsiderados ou atribudos ora natureza das pessoas (talento inato, com a obstinao dos orientais ou o esprito guerreiro dos alemes), ora a lderes providenciais, de gnio evidente. A produo da cultura popular ser considerada banal ou folclrica (de beleza sempre inexplicvel) . No por acaso que Bertrand Russel, falando do papel do professor na antigidade, o pe livremente exercendo suas funes, exceto quando se verificam intervenes espasmdicas e inefetivas por parte de tiranos ou multides. Esto estas, assim, igualadas tirania, condenadas ineficcia e violncia
24
contra o cidado esclarecido que possui um impulso genuno de sobreviver em seus livros mais do que na prpria carne15 . Dessa perspectiva, a notcia depreciada ao mximo quando, alm de ser produto industrial, inclui-se na comunicao de massa, em que massa um pblico desconhecido e indiferenciado, do qual se pretendem condutas desejveis que abrem caminho para uma possibilidade de manipulao e controle social16 Por outro lado, a notcia aponta para o imediato concreto, e o projeto a que se procura condenar o pensamento especulativo o mais abstrato e distante da prxis, no limite a que se amesquinhou, sem realmente contestar, a questo dos fins ltimos e causas primeiras. No entanto, a notcia ocupa lugar importante no rdio, na televiso, nos jornais; nas conversas, nos relatrios de pesquisa; penetra em todos os saberes, obriga a permanente restruturao de cada campo de conhecimento. Antes de existirem, na experincia dos homens, as coisas foram descobertas: o pssaro e seu vo; o teorema e sua explicao; o cu e sua imensidade; a tirania e seu tirano; a libertao e a liberdade. Descobrir torna-se ato conseqente quando se d notcia do descobrimento. 1.1. O conceito de notcia Procuramos partir da notcia como se faz ainda presente no jornalismo impresso e como considerado de boa tcnica faz-la. Desse ncleo mais conhecido estaremos em condies de partir para incurses eventuais em outras reas. Entre os gneros de texto correntes nos jornais, a notcia distingue-se com certo grau de sutileza da reportagem, que trata de assuntos, no necessariamente de fatos novos; nesta, importam mais as relaes que reatualizam os fatos, instaurando dado conhecimento do mundo. A reportagem planejada e obedece a uma linha editorial, um enfoque; a notcia, no. H duas razes bsicas para a confuso entre a reportagem e notcia. Uma refere-se polissemia da palavra reportagem que, alm de designar certo gnero de texto, nome da seo das redaes que produz indistintamente notcias e reportagens. A segunda resulta da importncia peculiar que a estrutura da notcia assumiu na indstria da informao: freqentemente, a reportagem da imprensa diria escrita com critrios de nomeao, ordenao e seleo similares aos da notcia e apresentada com diagramao idntica. Os veculos eletrnicos so, atualmente, os principais transmissores de notcias para as grandes coletividades humanas. A redao inicial delas progressivamente aambarcada pelas fontes, que para isso organizam assessorias, servios ou agncias de imprensa. Em geral, trata-se no tanto de falsear a informao, mas de revesti-la com a verso conveniente. O jornal dirio cada vez mais instado a compilar fatos j divulgados, investigar causas e antecedentes mais ou menos remotos, interpretar e produzir verses da realidade - a fazer reportagem, em suma. As notcias impressas refugiam-se nos peridicos e sees especializadas (em economia, espetculos, cultura, etc.), sempre que o interesse especfico se sobrepe aos critrios mais gerais de avaliao. Resta ainda notcia impressa o campo aberto para a relativa liberdade dos jornais, quando o rdio e a TV esto, em quase toda a parte, sob maior controle. Pode-se15
RUSSEL, Bertrand. As funes do professor. In: Ensaios Impopulares. So Paulo, Companhia Editora Nacional, 1954, p. 140. 16 MIRANDA, Orlando. Tio Patinas e os Mitos da Comunicao. So Paulo, Summus, 1976, p.16s. 25
argir que a reportagem o instrumento mais facilmente disponvel - investigao e interpretao - quando se trata de elidir os esforos do controle da informao desenvolvidos em vrias instncias do sistema de notcias. Mas preciso que haja interesse e recursos para tanto. O texto noticioso ocupa ainda bom espao na grande imprensa - das manchetes aos ps de pgina; recua lentamente da condio de produto acabado contingncia de matria-prima do trabalho das redaes. Podem-se alinhar dezenas de definies clssicas de notcias em jornalismo - na maioria ingnuas, algumas genricas, nenhuma capaz de determinar de maneira nica seu objeto.17 Eis algumas definies tradicionais: a) Se um cachorro morde um homem, no notcia; mas se um homem morde um cachorro, a, ento, e notcia sensacional( Amus Cummings); b) algo que no se sabia ontem (Turner Catledge); c) um pedao do social que volta ao social ( Bernard Voyenne); d) uma compilao de fatos e eventos de interesse ou importncia para os leitores do jornal que a publica ( Neil MacNeil); e) tudo o que o pblico necessita saber; tudo aquilo que o pblico deseja falar; quanto mais comentrio suscite, maior seu valor; a inteligncia exata e oportuna dos acontecimentos, descobrimentos, opinies e assuntos de todas as categorias que interessam aos leitores; so os fatos essenciais de tudo o que aconteceu, acontecimento ou idia que tem interesse humano (Colliers Weekly) f) Informao atual, verdadeira, carregada de interesse humano e capaz de despertar a ateno e a curiosidade de grande nmero de pessoas" (Lus Amaral).18 Para Hohenberg, "os fatos que so ou no notcias variam de um dia para o outro, de pas para pas, de cidade a cidade e, sem dvida, de jornal para jornal".19 Os autores marxistas destacam em geral o tratamento dado notcia como objeto de consumo e relacionam sua crescente centralizao s tendncias da sociedade. "A fora motriz do processo de monopolizao da comunicao de massa no mundo imperialista deve ser buscada tanto nos fatos polticos quanto econmicos", escreve exemplarmente Iv Tomasov20 Por mais judiciosas que possam ser observaes como as de Hohenberg ou Tomasov, elas no permitem responder a uma pergunta simples: o que notcia? Ou, para usar uma expresso coloquial norte-americana, "no garantem a ningum que reconhecer uma notcia quando a encontrar". A resposta depende de uma definio que d conta da aparncia, aspecto ou forma de notcia no jornalismo contemporneo, abrindo o caminho para um enfoque mais rigoroso de seu contedo. Com tal objetivo, poderemos definir notcia como o relato de uma srie de fatos a partir do fato mais importante, e este, de seu aspecto mais importante. Assim, reduzimos a rea de discusso ao que venha ser importante, palavra na qual se resumem conceitos abstratos como o de verdade ou interesse humano. Permitimo-nos encarar a notcia como algo que se constitui de dois componentes bsicos:17
TARSKY, Alfred. La construction dune smantique scientifique. In: Lgique, smantique, mathmatique. Paris, Armand Colin 1974, vol. II, p. 133 18 AMARAL, Lus. Tcnica de Jornal e Peridico. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1969, p. 60. 19 HOHENBERG, John. Manual de Jornalismo. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, s.d., p.47. 20 TOMASOV, Ivan. K vvoju monopolizacie masovych komunikacii v imperialistickon svete. In: RUTTKAY, Franco et allii. Zurnalistika. Bratislava, Slovesnk Pedagogicke Nakladatelstvo, 1974, p. 214. 26
a) uma organizao relativamente estvel, ou componente lgico e b) elementos escolhidos segundo critrios de valor essencialmente cambiveis, que se organizam na notcia - o componente ideolgico. 1.2. Limites e mtodos do estudo O texto noticioso pode ser hoje apreciado como bem simblico de consumo universal. Sua tcnica de produo, desenvolvida nos centros mais avanados da sociedade industrial, foi exportada junto com o produto - a notcia - para todas as partes do mundo. As agncias noticiosas, que so centros de difuso ideolgica organizados segundo a estrutura de poder, a contingncia histrica e os interesses imperiais de seus pases de origem, contriburam enormemente para essa divulgao. A imprensa dos pases noindustrializados adaptou-se tcnica para relatar os eventos em seu mbito de cobertura, cuidando de assumi-la como smbolo de modernidade. Os jornalistas, de sua parte, conformaram o modelo importado aos diferentes idiomas e s grades referenciais de cada cultura ou mercado. No caso deste trabalho, interessamo-nos pela questo da organizao da notcia na sociedade industrial, sua estrutura, sua linguagem, e o meio brasileiro contemporneo o campo de observao. Ao utilizar os instrumentos da gramtica lgicoformal disponveis na dcada de 70 para evidenciar alguns aspectos dessa organizao, no estaremos negando a historicidade das tcnicas. De fato, a tcnica da notcia vincula-se s relaes contingentes das sociedades humanas; na comunicao social, o objeto a sociedade e a comunicao um aspecto de sua existncia. Relaes contingentes levam escolha de determinadas opes discursivas, com o abandono de outras; de qualquer modo, a estrutura da notcia representa algo de relativa constncia, se comparada com o universo mvel em que se funda a avaliao dos contedos noticiados. Quanto a estes, cabe uma discusso crtica, de natureza filosfica. 2. A natureza da proposio nas notcias Aristteles pressupe a imutabilidade do ser para constatar a variedade de seus estados, qualidades ou situaes. Exemplifica com Scrates: na gora ou meditando, o filsofo sempre idntico a si mesmo. A validade da conceituao aristotlica tem sido contestada com freqncia por vrias cincias. Raramente, porm, a contestao volta-se para a dimenso lingstica, segundo a qual a orao (em grego, ou em portugus) afirma atributo ou predicado de um ser. Embora a imutabilidade do ser j no seja necessria filosofia, permanece como dogma da estruturao dos discursos. "Aristteles converte, inconscientemente, as particularidades de sua lngua em condies necessrias e universais do pensamento", comente Brunschvicg.21. Perpetuada pela gramtica normativa, a diviso da sentena em sujeito e atributo ou predicado transformou-se, dos textos alexandrinos do sculo II Gramaire de Port Royal, no sculo XVII, em articulao central, evidente, das oraes nas lnguas naturais. A Lgica Simblica no inovou, neste aspecto. A proposio existencial () do tipo existe (ou no existe) um x tal que x ... - expressamente afirmativa da existncia do ser, ao qual se atribuir qualidade contingente ou necessria, imanente ou transcendente; o quantificador universal (), no entendimento contemporneo, pressupe um mundo21
Huisman, Denis et Verges, Andr. La Connaissance, Paris, Fernand, Nathan, 1962, p. 65. 27
possvel, subjuntivo, em que a coisa quantificada possa ou deva existir. Em ambos os casos, isso parece legtimo do ponto de vista das proposies metalingsticas (designao, definio), das quantitativas ( maior que, menor que, equivale a) e das em que se pode escrever a Teoria dos Conjuntos (pertence, contm, est contido). Sem dvida, um espectro muito grande. Admitamos que as sentenas se articulem em sujeito e predicado. Implicar, isto, porm, sempre, correspondncia direta com as proposies? Ser que estas se articulam inevitavelmente assim: seres que correspondem ao sujeito das sentenas, e estados, qualidades e situaes que correspondem ao predicado? Quando falamos que a morte vitimou algum , estaremos afirmando a existncia concreta ou em algum mundo possvel, dessa entidade, a morte? Haver tais implicaes idealistas na lngua (no conhecimento)? Ou ser este artifcio resultante das possibilidades lingsticas de nominalizar aes verbais, estados, qualidades, circunstncias? A morte vitimou algum. Se adotarmos a primeira opo, poderemos ser levados a deificar a morte, como fazem as lendas que a representam como dama de longa camisola, armada com uma foice, ou um anjo do Senhor. Tal caminho no tem levado a maiores concluses e se encerra em si mesmo. Ou ento deveremos reific-la, e poderemos estudar a morte como coisa. No entanto, a morte est no morrer e s temos diante de ns se algum (ou algo) morre; no h como libert-la de tal dependncia. A morte no um minrio, nem criatura, nem artefato, nem substncia, sequer radiao. Parece-nos, ento, evidente que a morte vitimou algum uma sentena correspondente proposio algum morreu. Mas ainda este modo de determinar a preposio no satisfaz por si s estrutura da notcia. Quando escrevo que um avio caiu, no estou afirmando, seno secundariamente, a existncia do avio, que seria previsvel e insignificante; importa-me a queda que, fazendo o avio em escombros, o transporta, instantaneamente e embora por pouco tempo, para a categoria dos seres notveis em certa escala de avaliao (a que predomina na Imprensa contempornea, em todo caso). Mas devemos pr s claras que no estou atribuindo queda uma substncia mstica nem imutabilizando-a como ser, categoria do conhecimento ou qualquer outra coisa. O avio caiu , embrionariamente, uma notcia. A notcia o relato de uma transformao ou transporte ou mudana. Para ela, os seres do mundo se alteram dinamicamente, e este dinamismo o nico fator que os torna digno de ateno. Em outras palavras, a notcia relaciona-se com a civilizao do homo faber, no com a do apenas homo sapiens. Obviamente, este mundo mutvel e instantneo, fragmentado e dialtico, no se expressa na lgica aristotlica nem cabe em proposies existenciais. O caso da notcia que a metalingstica, nela, no faz submergir a referencialidade, mas esta, pelo contrrio, domina e relega a meras afirmaes episdicas todas as proposies metalingsticas. Tudo nos leva a buscar outro caminho para o entendimento do gnero de proposio declarativa que fundamenta a notcia. Talvez possamos encontrar melhor representao no mbito da Teoria Geral dos Sistemas. Trata-se, aqui, de um sistema S, que desempenha uma funo f: uma entrada i produz uma sada o.
SI28
O
fSe, por exemplo, o prncipe herdeiro de um pas rabe d um pote de ouro a uma atriz inglesa por quem se apaixonou, teremos o prncipe (S) transportando de modo peculiar (a peculiaridade de toda doao e desta, em particular) um objeto de um local (I) para outro (O), de um mbito de propriedade (dele, o prncipe, ou do povo rabe) para outro (o da encantadora atriz). Trata-se de representao cujo mrito destacar a funo f, que uma ao, o verbo. Os sistemas a que se reporta a maioria das sentenas encontrveis so plurifuncionais e, se no fossem, no haveria por que nome-los (o refrigerador refrigera pura redundncia). Sua denominao S, expressa dentro de um cdigo categrico ou administrativo-legal (no primeiro caso, por exemplo, o fabricante e modelo de um avio que cai; no segundo, um prefixo e matrcula), tem sentido indicativo. A funo mesma no necessariamente entendida como algo pertencente ao elenco normal de funes do sistema (no caso do avio-atmosfera, decolar, voar, pousar etc.) mas at mesmo como disfuno do ponto de vista da utilidade previsvel (seguindo o mesmo exemplo, cair). Entradas e sadas nem sempre esto definidas: no caso da queda, a sada est de certa forma implcita (o desastre, os escombros, mortes). A operao f aponta para causas que devero ser investigadas dentre rol de possibilidades relativamente vasto. Se desejssemos construir uma semntica a partir de tal linha de raciocnio, aplicvel s proposies declarativas do gnero das que se encontram na notcia, deveramos: 1. localizar a proposio para alm do que aparentemente a sentena diz; 2. em cada caso, nomear o sistema, o gnero da funo, input e output, definidos ou no; 3. para esse trabalho, partir da sentena integral e situada em seu contexto de enunciao; 4. relacionar uma proposio qualquer com o conjunto pertinente das possibilidades referenciais. Classificaramos as proposies no a partir dos conceitos nominais mas dos gneros de ao, atividade ou movimento passveis de serem verbalmente expressos. Por ora, estabelecemos que: a) a proposio existencial no d conta daquilo que a notcia ; b) h uma relao necessria entre a proposio e a verificabilidade emprica. Objetos abstratos como vetor devem ser entendidos no quadro referencial que os institui (o caso e a instncia) mas no cabe proposio do gnero que consideramos instituir objetos pela simples nominalizao de aes, atributos ou circunstncias; c) lingstica, e, portanto, pertinente sentena, tal tipo de instituio por nominalizao; d) a notcia parte da natureza da ao da proposio (que geralmente informada pelo verbo da sentena) para articular-se como discurso; e) a metalinguagem acessria, aposta, no discurso da notcia; f) a notcia refere-se a um sistema em operao, pelo ngulo particular dessa operao. 2.1 Axioma, poder, estilstica29
Na notcia, a proposio existencial implicada, oblqua, passa subrepticiamente. Deslocada do primeiro plano, que a ao, ela se torna conseqente. Se o avio caiu, e claro que existia o avio e que o avio pertence categoria das coisas capazes de cair. Essa condio obliqua, indireta, no por isso menos impositiva. Pensemos, por exemplo, em lderes subversivos comandaram a greve: o julgamento ideolgico articula-se com a informao. E ai est uma observao importante: tanto no que se refere proposio declarativa, que informa sobre a operao do sistema, quanto nas proposies existenciais implicadas, a notcia axiomtica. Dispensa argumentaes e, usualmente, as provas; quando as apresenta, ainda em forma de outros enunciados axiomticos. No raciocina; mostra, impe como dado - e assim furta-se anlise crtica. H um contexto do fato, sua historicidade, sua geografia. H um contexto da notcia, seu lugar, seu espao, seu tempo. Mas uma terceira conceituao de contexto no pode ser ignorada, a esta altura: a situao relativa do emissor e do pblico. Emissor e comunidade receptora, na comunidade social, guardam relao de poder; de modo geral, quem dispe da palavra respalda-se de alguma credibilidade. Tal relao quantificvel, atingindo o grau mximo na f. Chamaremos de prestgio confiabilidade de um emissor aparente ( um poltico, um come