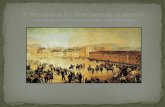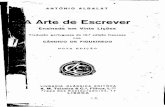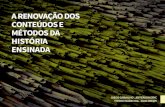O Catolicismo Brasileiro no Golpe Militar de 1964 XX Encontro/PDF/Autores e... · A carta magna...
Transcript of O Catolicismo Brasileiro no Golpe Militar de 1964 XX Encontro/PDF/Autores e... · A carta magna...
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
O Catolicismo Brasileiro no Golpe Militar de 1964
Carlos Roberto Cunha Amorim
Introdução
Recuperando aspectos decisivos da história brasileira, cenários e personagens
marcantes daquele contexto, este trabalho toma para si a tarefa de perscrutar uma
instituição fundamental que, em diferentes momentos, esteve envolvida em progressos
significativos de nosso passado, quer colocando-se a serviço da manutenção da ordem,
quer mobilizando-se em lutas sociais para a transformação da mesma. Analisar o
comportamento de setores mais conservadores da igreja católica brasileira após o golpe
de 1964 evidencia o caráter complexo, dialético e rico dessa igreja em nosso país.
O estudo da igreja católica no Brasil traz à luz seu caráter contraditório, plural e
pendular, seu esforço em acompanhar as marchas e contramarchas da história brasileira
e as diferenças que em determinados momentos podem ser observados entre esta e a
sociedade e, muitas vezes, as diferenças verificadas no próprio corpo do clero.
- Capítulo I -
Os Conflitos Igreja-Estado no Brasil
Desde Pio VII, em mil e oitocentos, estava em curso na Europa uma corrente de
pensamento intitulada “Catolicismo Ultramontano”, ou “Ultramonstanismo”, forma de
pensamento centrada na reação antimoderna católica, e que alcançaria o seu apogeu
justamente durante o pontificado de Pio IX (1846 – 1878), que entrou para a história
como um dos papas mais conservadores do período. Sua gestão ficara marcada pelo
Concílio Vaticano I (1870), que decretara a infalibilidade Papal. Por estes e outros
motivos, “(...)muito embora a Igreja se houvesse consolidado internamente e
expandido qualitativamente, o papado parecia isolado e alvo de crescente hostilidade
de todos os que não queriam renegar a civilização moderna1”. Após sua morte, assume
1 AUBERT, R. (org) A Igreja na sociedade liberal e no mundo moderno. Pedro Paulo de Sena Madureira
e Júlio Castañon Guimarães (trad.). Petrópolis: Vozes, 1975. p. 10
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
o então arcebispo de Perugia, Gioacchino Pecci, que logo escolheria para si o nome de
Leão e seria o décimo terceiro a usá-lo.
Pecci iria se caracterizar por uma atitude mais positiva face às instituições
liberais, por disposições mais conciliatórias com respeito aos governos, e pela procura
de exercer sua influência de uma forma mais moderna. Afinal de contas já gozava de
uma certa experiência diplomática e já havia servido como Núncio Apostólico na
Bélgica, uma das regiões mais exploradas durante o período (a título de exemplo, uma
das principais reivindicações da classe operária daquele país era a redução da jornada de
trabalho para doze horas diárias2). Leão XIII será então o Papa responsável por um
documento divisor de águas dentro da compreensão da Igreja católica a respeito do
mundo moderno: a Rerum Novarum3.
Buscando minimamente amenizar as injustiças sofridas pelo operariado de sua
época e sensível a algumas mudanças impostas pelo capitalismo. Leão XIII será um
Pontífice voltado para as questões sociais e que “(...)em lugar de ficar apenas na
defensiva contra o liberalismo econômico e o socialismo procurou formular um
pensamento social e econômico de tipo cristão4”.
Porém, são pilares deste pensamento a manutenção do status-quo, o direito
inalienável à propriedade privada, a idéia de manutenção da luta de classes e a
reinstauração dos costumes cristãos. Enfim, a Rerum Novarum ao invés de ter vindo em
auxílio dos pobres e dos operários, como havia se proposto, na verdade tratava da
reorganização do velho discurso da Igreja frente ao novo inimigo que ganhava cada vez
mais força entre o proletariado: o comunismo.
Alguns outros trechos do documento reforçam a tônica do saudosismo medieval
expresso nas palavras de Pio XI por ocasião do aniversário de quarenta anos da
encíclica de seu predecessor:
2 SOARES SOBRINHO, J. E. de M. A concepção e a redação da “Rerum Novarum”. São Paulo: Elvino
Pocai, 1041. p 23 3 LEÂO XIII (Papa). Rerum Novarum (1891) Petrópolis: Vozes, 1950
4 LIMA, Alceu de Amoroso. Memórias improvisadas: diálogos com Medeiros Lima. Petrópolis: Vozes,
1973. p. 25
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
(...) De fato, houve já uma ordem social que, apesar de
imperfeita e incompleta, era de algum modo, dadas as
circunstancias e exigências do tempo, conforme à reta razão.
E se essa ordem já de há muito se extinguiu, não foi decerto
por ser incapaz de evolucionar e alargar-se com as novas
condições sociais5.
Atrás desta afirmação, existe a idéia de que a humanidade seguia feliz “(...) a
sua evolução lenta, porém, pacífica e segura, inspirada nos sólidos princípios do
Cristianismo, quando foi ela bruscamente interrompida pela Revolução Francesa.6”
Caberia então à Igreja retornar ao ponto onde a humanidade havia se desvencilhado dos
trilhos que a conduziria a vida eterna, e naquele momento, a melhor forma de realizar
esta tarefa seria apoiar os regimes autoritários de direita, no intento de adquirir um
espaço junto a eles no governo e restabelecer a ordem social. Esta tarefa não caberia
nem ao “socialismo” e nem ao “individualismo7” burguês, uma vez a burguesia no
poder, os trabalhadores seriam reduzidos a uma posição penosa e desprotegida, caberia
pois a Igreja recuperar o seu lugar de influência.
O princípio básico da Igreja Católica é a salvação final, é com base neste
princípio que a Hierarquia exerce a sua influência, o meio, por sua vez, exerce grande
influencia sobre a Igreja, se esta deseja continuar influente, deve acompanhar as
mudanças do meio. Thomas Bruneau analisa este problema em seu trabalho
“Catolicismo Brasileiro em Época de Transição”, dizendo que desde o princípio até o
presente, o objetivo da influência sobre a Igreja é definido principalmente através dos
mecanismos do poder8. O poder é apenas um dispositivo, uma forma da hierarquia
exercer a sua influencia, mas foi, desde o início destas igrejas, um mecanismo central
para elas, sendo ainda hoje, portanto, crucial para a sua definição de influência.
Após encontrar-se cambaleante ao fim do império, a Igreja Católica movida pela
Santa Sé e por este ideal de intervenção concreta na sociedade teria sido a instituição
que mais cresceu no país após a proclamação da República9 e em pouco mais de três
décadas se veria pronta para ajudar a depor a mesma elite oligárquica que lhe derrubou
5 PIO XI (Papa). Quadragésimo Anno. São Paulo: Edições Paulinas, 1969. p.42
6 SOARES SOBRINHO, 1941 p.12
7 Quadragésimo Anno, p. 50
8 BRUNEAU, Thomas. Catolicismo brasileiro em época de transição. São Paulo: Loyola, 1974. p.19
9 BRUNEAU, op. Cit., p.57
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
no final do século anterior. Era a revolução de trinta, Getúlio Vargas chegara ao poder e
lá permaneceria por quinze anos, mas com ele estavam reatados os laços entre a Igreja e
o Estado.
Neste momento a Igreja nacional seguia uma linha semelhante a de diversos
outros países da Europa, alinhara se a um governo ditatorial com um discurso
nacionalista e populista;
Entretanto, exatamente porque o vetor do catolicismo ultramontano
apontava para o passado, a sua proposta colheu subsídios naquelas
vertentes políticas que não visavam aos avanços futuros, mas
justamente impedi-los, como foi o caso do fascismo. Assim, ganha
significado e importância a encíclica Quadragésimo Anno, de Pio XI,
em 1931, que acreditava ter encontrado no fascismo italiano o
paradigma da sociedade imaginada pela Igreja.10
No Brasil, este seguimento da Igreja Católica aderira às idéias integralistas, em
um primeiro momento, tanto pela postura de enfrentamento ao comunismo, quanto por
sua aproximação natural dos conceitos de combate à burguesia e fortalecimento do
estado nacional, por exemplo. Ironicamente, as duas maiores lideranças religiosas de
centro-esquerda da segunda metade do século vinte, são originais deste grupo: D.
Helder Câmara e Alceu de Amoroso Lima. Este último explica melhor suas relações
com o integralismo em seu livro Memórias Improvisadas onde nos conta que, pouco
tempo depois de sua conversão em mil novecentos e vinte e oito, o autor esteve muito
próximo de Jackson de Figueiredo, este sim, intelectual de direita. Após a sua morte,
Amoroso Lima herdara-lhe a presidência do centro “Dom Vital” e a direção da revista
“A Ordem”, o que irá influenciá-lo a seguir os rumos de seu antecessor, porém não por
muito tempo. Anos mais tarde defenderá a “cruzada das crianças de 68” com
entusiasmo juvenil. Até este momento, os pensadores da Igreja no Brasil desta época
não tinham lá muitas opções, a grande maioria estava interessada no exercício da
influência em grupos de pressão, como a Liga Eleitoral Católica e a Ação Católica,
criados por D. Leme durante os primeiros decênios do século XX. Nas eleições para
assembléia constituinte de maio de 1933, a LEC viu ser eleita a maioria dos candidatos
que apoiara e no ano seguinte verá a constituição ser promulgada com todas as suas
exigências. A carta magna será proclamada em nome de Deus e a religião será ensinada
10 Cf. MANOEL, Ivan A. O Pêndulo da história: A filosofia católica da história 1800 – 1960) p.98
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
nas escolas. O Estado mais uma vez é a força que dá sustentação a esta igreja no Brasil,
porém, já fora lançada as bases de algo que não permitiria mais esta relação por muito
tempo.
Durante toda a Era Vargas a partir de 1930, sua saída e seu retorno em 1951, a
Igreja se manteve estagnada na condição que ela mesma se impôs. Até se ver diante de
um problema lógico que talvez não tivesse previsto, ou pelo menos tinha medo de
prever; a Igreja se mantinha estável enquanto houvesse estabilidade estatal, e se alguma
coisa desse errada neste esquema? Em resposta a esta questão Bruneau afirma: “Não
acho que erraria em afirmar que a Igreja no Brasil, depois da Segunda Grande Guerra,
teve que enfrentar o século XX com um modelo de influência pelo menos cem anos
atrasado11
.” Esta fórmula funcionou muito bem até a década de 30, porém, agora se
encontrava completamente viciado, incapaz de atingir a sociedade por meio da
evangelização, a Igreja se viu limitada a jogos políticos para aprovar algumas leis de
incentivo fiscal e barrar outras como aquelas que tocam em questões como o divórcio,
por exemplo. Este período foi muito mais do que caótico para os representantes da
Santa Sé no Brasil, enquanto se mantinham nas costas do estado para a sua definição de
influência, era uma missão completamente impossível “(...)manter-se a distância
enquanto o Presidente Kubitschek empurrava o país para frente,enquanto Quadros
tergiversava e finalmente abandonara o governo, e enquanto Goulart deixava a ação
derivar para uma crescente radicalização12
.”
Definitivamente, enquanto a democracia brasileira fosse regida pela demagogia
populista, o Estado não seria mais um território seguro para a atuação da Igreja. Por
isto, esta se lançou então na busca por uma nova abordagem da influência, que seria a
promoção e efetivação da mudança social, celebrada timidamente pela Rerum Novarum
há quase um século atrás. Assim começa uma das dedicatórias do livro “As Encíclicas
Sociais de João XXIII13
, editado no Brasil em 1963: “À Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil – na vanguarda da transformação social cristã de nossa Pátria com
11 BRUNEAU, 1974, p. 106
12 Idem, p. 115
13 LIMA, Alceu de Amoroso e MESQUITA, Luis José de. (org.) As encíclicas sociais de João XXIII. Rio
de Janeiro: José Olympo Editora, 1963. p.9
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
suas extraordinárias mensagens – respeitosa homenagem de Luís José de Mesquita e
Alceu de Amoroso Lima”. Logo adiante, segue-se uma introdução do Cardeal-
Arcebispo de Milão, João Batista Montini, que posteriormente a morte de João XXIII,
assumiria como Santo Pontífice com o nome de Paulo VI:
Ninguém há de contestar que a Encíclica Mater ET Magistra seja um
documento de grande importância, não apenas sob o aspecto religioso,
moral e eclesiástico, mas também e sobretudo, sob o aspecto social,
pela referência direta a questões muito vivas e vastas do nosso tempo,
e pelo objetivo evidente de apresentá-las sob a sua verdadeira luz a
fim de dar lhes uma solução humana.14
É notável que algo havia mudado no seio da Igreja e que esta mudança partira do
Vaticano. Eugenio Pacelli, o Pio XII, o Papa que havia realizado diversas transações
com Hitler, que havia celebrado o fascismo italiano na encíclica Quadragésimo Ano15
e
parabeizado o General Franco pela vitória sobre os comunistas na Espanha16
, partira
para encontrar-se com o seu superior imediato. Em seu lugar fora eleito Ângelo
Giuseppe Roncalli, que logo escolherá para si o nome de João, e seria o vigésimo
terceiro a fazê-lo.
Apesar de cinco anos apenas de pontificado, João XXIII avançará ainda mais do
que seus predecessores na questão social, não somente através das já famosas encíclicas
Mater et Magistra e Pacem in Terris, mas também através de diversas ações concretas
como inaugurar e concluir a primeira fase do Concílio Vaticano II, que contou entre
seus sacerdotes com a presença mais do que marcante de D. Helder Câmara, que
participou das quatro sessões conciliares e se mostrou uma das principais lideranças da
América Latina. Também foi o primeiro Papa a receber um funcionário da Rússia
Comunista, o redator chefe do Pravda, Aleixei Adjubei, genro de Nikita Krushev.
Paralelamente, no Brasil está se desenvolvendo a Teologia da Libertação, teoria
que centra a sua ação na opção preferencial pelos pobres, pelos excluídos. O mais
interessante é que, talvez, um dos principais fatores que conduziram a Igreja Católica a
14 Idem, p. 16
15 Cf. MANOEL, Ivan A. O pêndulo da história: A filosofia católica da história (1800-1960) p.98
16 Idem, ibidem.
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
se preocupar cada vez mais com o social e, consequentemente a se aproximar da
esquerda, tenha sido a “radicalização do anticapitalismo romântico doséculo XIX, que
se aproximou do Marxismo e reconheceu nele o mais arguto dos críticos do capitalismo
e da sociedade burguesa”. 17
O não abandono da Santa Sé de suas teses romanizadoras
poderia acarretar no abandono dos fiéis à sua instituição. A maior dificuldade em se
contextualizar este “novo período” da Igreja, reside na quase ausência de estudos aqui
no Brasil capazes de identificar uma evolução no sentido social entre o Concílio
Vaticano I e o Concílio Vaticano II, um período em que muito do ultramontanismo
clássico residia na doutrina e na prática da Igreja, mas que outras práticas, como a
atuação do laicato e seu maior engajamento junto à população e seus problemas,
acabaram por forçar mudanças doutrinárias e até teológicas18
, como por exemplo a
atuação da Ação Católica no Brasil e a importante campanha da revista francesa
“L´Association Catolique”, que muito contribuiu para a redação da Rerum Novarum,
onde foi publicada em 1881 uma carta de Dom Rendu, Arcebispo de Annecy, onde
podia se ler19
:
Os desenvolvimentos da indústria produziram abusos de tal
maneira odiosos, que é preciso volver ao paganismo para encontrar
semelhante desprezo pela humanidade. O que há de mais
surpreendente é que a opinião pública, ou o que assim se
convencionou chamar, não reclama contra uma desordem que avança
contra a sociedade, como uma vaga impelida por uma tempestade, no
meio de um oceano. Tornou se de zelo pela abolição da escravatura...
mas ninguém ousa fazer o mesmo à escravidão mais dolorosa e mais
revoltante da humanidade. Compreendem-se claramente os gemidos
que ela arranca dos desgraçados, mas nada se ousa fazer porque se
conhece o poder dos que os exploram, para deles extrair o ouro.
Torna-se claro uma crescente disparidade entre os setores leigos da Igreja e a
versão romântica do anticapitalismo católico, que buscava a Idade Média como
paradigma, desenvolveu-se uma outra vertente, cujo vetor político seria o avanço em
direção a uma sociedade igualitária.
17 MANOEL. “Ação católica brasileira: marco na periodização da história da igreja Católica no Brasil”,
p.325 in: COUTINHO, S. R. (org). Religiosidades, misticismo e história no Brasil central. Brasília:
CEHILA, 2001. PP. 319 - 329 18
MANOEL, Ivan A. O pêndulo da história: a filosofia católica da história (1800 – 1960) PP. 8-9 19
SOARES SOBRINHO, 1941. p. 19
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
O fato é que agora os rumos da Igreja no Brasil já pareciam estar mais do que
definidos, o ultramontanismo estava caducando e agora o Clero caminhava em novas
direções em busca da transformação social, que de fato viria, mas não do jeito esperado.
O Catolicismo Ultramontano no Brasil estava ferido de morte, porém, ainda não estava
morto.
Capitulo II
O CATOLICISMO BRASILEIRO FRENTE AO GOLPE DE 1964
Parte 1 – Populorum Progressio
Como vimos, a Hierarquia da Igreja no Brasil esta envolvida desde o final da
primeira metade século XX em um processo de amadurecimento que precederia as
discussões do Concilio Vaticano II em 1963. Diversas ações do laicato, como a Ação
Católica, já referida anteriormente, se desdobram em variadas organizações como a JOC
(Juventude Operária Católica), a JAC (Juventude Agrária Católica), a JEC (Juventude
Estudantil Católica, para os estudantes secundaristas), a JUC (Juventude Universitária
Católica, para os estudantes de terceiro grau) e finalmente a JIC (Juventude
Independente Católica), esta última, justamente por reunir as mais diversas categorias
que não encaixavam nas demais, acabou não desenvolvendo uma identidade própria, o
que fez com que tivesse uma importância de estudo inferior.
A partir da década de 50, estes setores, principalmente a JUC e a JEC,
começaram o seu irresistível afastamento da doutrina conservadora da Igreja. Também
nesta década, as forças progressistas da Igreja reunidos em torno da liderança do então
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro. D. Hélder Câmara, irão conquistar mais uma
significativa vitória, a fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
É importante ressaltar que a CNBB não nasceu para enfrentar a Hierarquia e sim para
ser a sua voz, porém, o fato de ter sido presidida por doze anos (justamente até 1964)
por um Bispo preocupado com questões sociais contribuirá e muito com a evolução do
pensamento da esquerda dentro do seio da Igreja. A CNBB foi uma das primeiras
conferências de bispos a surgir no mundo, fruto das inquietações de um Clero que
ansiava por “modernizar-se”, o que ficaria bem claro após o Concílio Vaticano II. Será
centralizadora no sentido uniformizar o discurso da Igreja, porém ira descentralizar a
base da Hierarquia, concedendo aos bispos uma maior soma de recursos e autonomia.
A influência de D. Helder Câmara estava longe de restringir apenas ao
território nacional. Sua personalidade Hábil e carismática exerceu um importante papel
dentro das quatro cessões conciliares em Roma, não como orador, mas sim como
articulador, utilizando-se de uma capacidade aglutinadora em torno de uma proposta
programática em vista dos desafios do mundo moderno e elaborando documentos
documento capazes de conferir maior abertura aos debates, para que visassem a
construção de uma Igreja mais voltada para o social.
Todas estas mudanças não estavam sendo bem vistas aos olhos da parte
conservadora do Clero, no Brasil representado por D. Jaime de Barros Câmara
(Arcebispo do Rio de Janeiro, companheiro por 27 anos de D. Helder), D. Geraldo
Sigaud (Arcebispo de Diamantina), D. João Eugênio Sales da Costa (Arcebispo de Belo
Horizonte), D. Agnello Rossi (Arcebispo de Ribeirão Preto), D. Vicente Sherer
(Arcebispo de Porto Alegre), entre outros. Todos nascidos e criados no berço
ultramontano e ocupando os mais altos cargos eclesiásticos do país. Não iriam assistir
de braços cruzados a ascensão de um pensamento que consideravam pernicioso e
conseqüentemente a contínua redução de seus poderes e influências, inclusive junto ao
Sumo Pontífice. É certo que já há algum tempo ansiavam a retomada do poder, faltava-
lhes um plano.
Até a década de 60, graças a uma aberração eleitoral da constituição de 1946,
era possível eleger o Presidente da República por uma legenda e o vice por outra. Dessa
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
forma, em 1960 foi eleito, como representante máximo da nação, o demagogo populista
Jânio Quadros e, para vice, o populista demagogo João Goulart. A diferença básica
entre os dois será o apoio que cada um receberá dos diversos grupos políticos que
pensaram suas candidaturas, se propuseram a dar sustentação a suas campanhas e
posteriormente a seus governos. Deixemos um pouco de lado a história da Igreja para
vermos como se deu este processo.
Em agosto de 1954, o então presidente Getúlio Vargas sairia da vida para
entrar para a História. Com seu ato drástico. Getúlio joga por terra os planos de alguns
grupos, inclusive de militares, que visavam destituí-lo. Criou uma onda de comoção
nacional tão grande que não deixou outra opção aos possíveis golpistas se não
assistirem quietos a posse do então vice-presidente Café Filho. Tudo sairá como havia
planejado o caudilho, menos o fato de que seu vice “não teria coração” para agüentar ate
o final de seu mandato. No dia 03 de novembro de 1955, Café Filho adoece e é
internado no Hospital dos Servidores do Estado, no dia 07 escreve a Carlos Luz, então
Presidente da Câmara, transferindo-lhe o poder, dois dias depois, o Ministro da Guerra,
General Henrique Lott, pede demissão e em seguida chefia um movimento armado
contra o presidente em exercício, obrigando-o a fugir e três dias depois enviar uma carta
á Câmara dos Deputados comunicando a sua renúncia. Detalhe: o Presidente do Senado,
Nereu Ramos, já havia sido empossado como Presidente da República.
O país estava vivendo um verdadeiro caos constitucional, viu a sua Carta
Magna ser “arranhada” por duas vezes e a democracia apanhar sob a constante ameaça
de golpe. É neste clima tenso que toma posse no dia 31 de Janeiro de 1956 o Presidente
Juscelino Kubtschek (JK), com a sua plataforma desenvolvimentalista e com a missão
de consolidar a democracia. JK era uma personalidade ímpar, com certeza um dos
maiores políticos da história de nosso país. Justamente por isso começa a organizar sua
sucessão presidencial dois anos antes da campanha oficial.
Acontece que dos três grandes partidos políticos da época: o PTB, o PSD e a
UDN, dois já haviam ocupado a cadeira presidencial; o PTB com Vargas e o PSD com
Eurico Gaspar Dutra e, agora, com o próprio JK. Justamente a UDN que ultimamente
mais andará ás voltas do poder, tanto por meios lícitos quanto ilícitos, jamais sentara no
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
trono. Como constitucionalmente não era permitida a reeleição de um presidente e sem
uma liderança nacional a sua altura para a sucessão, KJ idealiza um acordo nacional
com a UDN de modo que estes pudessem ser contemplados nestas próximas eleições
em 1960, e não criassem problemas para a sua volta no pleito seguinte, em 1964. Tudo
estava dando certo até a intervenção de um outro pretenso candidato a presidente em 64,
Carlos Lacerda, também da UDN.
Lacerda sabia que não tinha projeção nacional para vencer o pleito de 1960,
por isso, projetava-se para o próximo. Em contrapartida, havia uma pessoa que tinha
essa projeção. Aliás, não era uma pessoa, era um fenômeno! Em menos de dez anos
pulara de vereador para governador de Estado de São Paulo, passando por deputado
federal (o mais votado de seu estado) e prefeito da capital paulista. Jânio Quadros, então
no inexpressivo PTN, parecia subir vertiginosamente rumo á Presidência do Brasil;
quem estivesse com ele pegaria carona. Era a chance dos partidos pequenos de
conseguirem um espaço no governo, justamente por isso, PL e PDC se antecipam ás
demais legendas e declaram o seu apoio a Jânio; está ultima, apesar de tê-lo como
candidato oficial, lança um candidato próprio para vice-presidente, fato que trará
conseqüências funestas para a história do país.
Carlos Lacerda consegue melar a candidatura própria da UDN para fazê-la
apoiar o entoa candidato do PTN, cuja vitória era quase certa. Para vice-presidente, a
UDN indicara Milton Campos.
Acuado e sem muitas alternativas, JK organiza então a sua chapa sucessória,
composta por General Henrique Lott para presidente e o “discípulo de Getúlio que
nasceu para ser vice-presidente” (nada mais!), João Goulart. Está montado o cenário
para a crise. As urnas não revelaram nenhuma surpresa, a eleição presidencial
popularizada apenas entre Jânio e Lott, dará Jânio. Porém, as bases janistas, divididas
entre dois candidatos a vice, entregarão a vitória a João Goulart. Após alguns meses de
governo, o “fenômeno” Jânio Quadros, incapaz de segurar as rédeas da nação, renuncia
ao mandato de Presidente das Republica. Justamente em um momento em que seu vice
encontrava em missão diplomática no China comunista. Era o pretexto que os grupos
radicais de direito esperavam para chegar ao poder. Barrar a posse legítima de João
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
Goulart seria o mesmo que salvar o país da influência socialista. O próprio Jango era
conhecedor desta delicada situação, ao receber a noticia da renúncia de Jânio, o senador
Barros de Carvalho, também integrante da comitiva que estava na China, quis propor
um brinde ao novo presidente. Jango observou: “Brindemos, antes, ao imprevisível”.
Após muita pressão e negociação, encontrou-se uma saída “diplomática” para a
crise, o novo presidente deveria aceitar a castração de grande parte de seus poderes
políticos pelo Parlamentarismo, através da incômoda figura de um primeiro ministro.
Acreditando assim evitar uma guerra civil, Jango, na verdade, apenas adia mais alguns
anos a inevitável ascensão dos militares ao poder. Como todo povo tem o governo que
merece, é importante ressaltar que o terreno que deu sustentação ao golpe de 64 estava
já sendo preparado desde algum tempo, inclusive pela Igreja, através daquela parte da
claro que andava insatisfeita com os rumos que estavam tomando tanto a Hierarquia
quanto o Governo no Brasil.
Somente em 1963, através de uma consulta popular, João Goulart conseguirá
se livrar do regime parlamentarista que atava as mãos. Começará então uma batalha
para aprovar suas tão esperadas reformas.
Acontece que essas reformas incomodavam muito uma elite intelectual (pelo
seu forte apelo social) e, principalmente, uma elite econômica (por se tratarem de seus
próprios bolsos). Para serem aprovadas, necessitariam de muita negociação e
experimentação na arte política, coisa que o nosso ministro do trabalho acostumado a
vice-presidente e presidente por acaso não saberia fazer. Ainda neste mesmo ano, o
quadro do “tabuleiro de xadrez” volta a se alterar. Ao retornar da segunda sessão do
Concílio do Vaticano II. D. Helder Câmara será chamado a ter uma conversa com o seu
superior na Diocese do Rio de Janeiro. D. Jaime de Barros Câmara pede para que o seu
auxiliar leia o texto dos Atos do Apóstolos, em que Paulo e Barnabé, por divergências
pastoris, resolvem se separar e seguir caminhos diversos. Após a leitura, D. Jaime
explica-lhe que havia solicitado ao Núncio Apostólico, que pedisse a Santa Sé para
transferi-lo para uma arquidiocese, em que ele pudesse fazer a sua própria experiência
como arcebispo de um circunscrição eclesiástica. Em março de 64 (fatídico), Roma
transfere D. Hélder para o que seria praticamente um exílio político, a Arquidiocese de
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
São Luis do Maranhão. Porém, antes da nomeação ser publicada, falece o então
Arcebispo de Olinda-Recife. Núncio Lombardi telefona imediatamente para Roma e
sugere que D. Hélder seja transferido para a Arquidiocese que acabara de ficar vacante.
Roma aceita a sugestão. Ironicamente, no momento em que o conservador D. Jaime
tenta livrar-se de D. Hélder, mandando-o para uma região inexpressiva. Este acaba se
tornando o Arcebispo da mesma diocese que projetara nacionalmente anos antes, um
outro bispo de importância ímpar, D. Sebastião Leme.
É claro que o pedido de afastamento de D. Hélder do Rio de Janeiro continha
elementos não previstos pelo “Atos dos Apóstolos”, a não ser que já houvesse membros
da CIA infiltrados entre os seguidores de Jesus. Enfim, depois do terreno limpo, “de
repente”, D. Jaime começa a falar de um tal padre norte-americano chamado Pe. Patrick
Peyton, que realizava diversos milagres pela fé, nas Filipinas. Por providência divina ou
astúcia diabólica, este padre será transferido para o Rio de Janeiro. Em pouco tempo,
“com grandes fanfarras da imprensa, precedida por centenas de milhares de cartazes,
saudada pelos jornalistas conservadores, difundida pela televisão e pelo cinema, entrou
no Brasil a Cruzada pelo Rosário em Família do Pe. Patrick Peyton.20
” Os católicos
progressistas se encontraram em maus lençóis diante dessa situação, apesar do cheiro
de enxofre, a campanha parecia inocente não havia como denunciá-la. Rapidamente
cresceu por todo o país e começou a fazer denúncias frenéticas do perigo comunista. A
Cruzada pelo Rosário em Família se tornara-se o mais vasto quadro de mobilização da
classe média das cidades contra João Goulart.
A campanha torna-se um ponto de aglutinação para os adversários
do Governo, e neste sentido trabalhava com outras organizações, tais
como a CAMDE (Campanha da Mulher Pela Democracia), e um
centro de difusão para a rápida transmissão de ordens de mobilização.
Preparava também o terreno, pela propaganda anti-comunista, para as
grandes mobilizações de março de 1964, o objetivo do seu esforço, as
“marchas com Deus, pela família e pela democracia”21
20 ALVES, Marcio Moreira Alves. A igreja e a política no Brasil. São Paulo: Editora Brasiliense, 1979 p.
112 21
Idem, p 113
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
Segundo consta, estas marchas foram financiadas pelas grandes empresas
norte-americanas e pela CIA. Como resposta a um grande comício da esquerda no Rio
de Janeiro a respeito de suas reformas, a direita colocou nas semanas seguintes mais de
quinhentas mil pessoas nas ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro para protestar contra
as reformas. Entre as organizações que estavam por trás destes eventos se encontravam
a Cruzada pelo Rosário em Família, os círculos de operários católicos, o Grupo de
Reabilitação do Rosário, a Associação dos antigos alunos do Sagrado Coração de Jesus
e todas as associações filiadas na Confederação Católica do Arcebispo do Rio de
Janeiro. Após a queda do governo de Jango, a Cruzada perde completamente o
referencial.
O segundo “bispo” a ser “mexido” será o arcebispo de São Paulo D. Carlos
Carmelo de Vasconcelos Mota, que no dia 22 de março de 1964 pediria o seu
afastamento da função. D. Carlos nunca foi propriamente o que podemos chamar de um
“sacerdote progressista”, muito pelo contrário, sabe-se que era amigo e conselheiro de
Adhemar de Barros, então governador de São Paulo. Porém, ao sair, deixaria o lugar
livre para alguém mais alinhado com a ordem que estava prestes a estabelecer.
Como já vimos, a JEC e a JUC também estavam “fugindo do controle” desta
parte do clero comprometida com a estagnação, portando, eles também merecerão uma
atenção especial. O documento de debate do Conselho Nacional da JUC de 1954
intitulava-se “O estudante e a questão social” e já nos indica o rumo que esta juventude
de então estava tomando. As reuniões nacionais de 1957 em Porto Alegre e em Recife
vão se aprofundar ainda mais nessa mesma questão social. Em 1960, no chamado
“Congresso dos Dez Anos” a guinada á esquerda será completa. O então estudante de
sociologia Herbet José de Souza (futuro Betinho) apresenta um documento
completamente diferente de tudo aquilo que já havia sido debatido na JUC até então,
por quase não abordar as questões religiosas, abordando-as de uma forma
completamente diferente da forma convencional:
Propunha aos jucistas participarem numa tripla construção
libertadora: a luta contra o subdesenvolvimento, na qual a reforma
agrária era um objeto tático imediato; a independência em relação ao
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
campo de atração do capitalismo, com a tática imediata da luta contra
a “política egoísta dos monopólios”; e a ruptura dos laços coloniais
com as metrópoles desenvolvidas.22
O documento caiu como uma bomba na cabeça da Hierarquia. Principalmente
após a decisão do congresso de participar das eleições para a UNE, juntamente com os
comunistas. Os debates intensificam-se e ganham espaço nos jornais, atraindo a ira
retórica de Gustavo Corção, o principal polemista da direita católica. O dialogo com o
clero, que já estava difícil, ficou ainda pior. Alunos da PUC começaram a ser
perseguidos e ter que responder a inúmeros interrogatórios, ficando a beira da expulsão.
Em 1962, a CNBB se senta para discutir melhor o que estaria acontecendo com a JUC;
a conclusão vem no sentido que suas ações não tinham se mostrado católicas e que
ninguém, nem o movimento e nem seus militares poderiam se opor ás orientações da
Hierarquia. Após este ocorrido, a JUC começa a esvaziar graças ao descontentamento
de seus membros mais radicais irão se organizar no seio da Ação Popular (AP), herdeira
direta da JUC, que também aos poucos se afasta da Igreja, até que em 1966, declara a
sua opção pelo marxismo-leninismo, mesmo ano em que a Juventude Universitária
decreta a morte de sua instituição. Após o Golpe de 64 até o seu fim em 66 os militares
da JUC serão impunemente cassados, presos e torturados. O Alto Clero simplesmente
fará de conta que não sabe o que está acontecendo.
A Ação Católica no Brasil tinha perdido então os seus contornos espirituais
para mergulhar fundo nas questões sociais e no comprometimento com a formação
política, por isso mesmo deveria ser aniquilada, e mesmo as discussões que envolviam a
direção que a Santa Sé apontava com Concílio Vaticano II deveriam ser abafadas, não
em nome de uma “nova ordem”, mas sim, em nome da mesma velha e caduca
Hierarquia, que insistia em não escoar pela latrina da História. Para Márcio Moreira
Alves, “ o que mais impressiona nos ataques contra a Ação Católica é a ausência total
de referências teológicas e o desequilíbrio entre as queixas dos bispos e os textos que
estavam em vias de votar, no mesmo momento, no Concílio.” O autor realçará que todo
o trabalho da JUC, que deu o tom definitivo das últimas realizações da Ação Católica,
era completamente coerente e centrado em aprofundadas questões teológicas, enquanto
22 Idem, p.127
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
seus contestadores apenas se contentavam em reprimir a aplicação das teses que
acabavam de votar no Vaticano.
Outro movimento da Ação Católica visado foi o MEB (Movimento da
Educação de Base). Este movimento se originou do SORPE (Serviço de Orientação
Rural de Pernambuco) e do SAR (Serviço de Assistência Rural), instituições criadas e
dirigidas pela Igreja com a intenção de formar sindicalistas e colocá-los á frente dos
sindicatos em formação, com o objetivo de dirimir harmoniosamente os conflitos entre
camponeses e proprietários. Neste momento o numero de sindicatos na região estava
aumentando significativamente e o clero temia a propagação do pensamento de
esquerda entre eles, a exemplo do que havia acontecido recentemente com a Evolução
Cubana. Toda esta movimentação chamou a atenção da CIA, que além de auxiliar na
fundação do SORPE, também se interessaria em fundar cooperativas agrícolas com a
intenção de neutralizar o potencial revolucionário do movimento sindical rural em
Pernambuco. Em última instância, reconhecia-se que era necessário fazer alguma coisa
frente ao sub-desenvolvimento da região, porém temia-se a solução marxista. O SORPE
e o SAR necessitavam então de um instrumento de comunicação de massas para poder
mobilizar o máximo possível de camponeses; o SAR já vinha desenvolvendo uma certa
experiência de educação pelo rádio desde 1949, de alcance limitado e bastante precária
devido a falta de recursos. A CNBB queria expandir o projeto, só faltava financiamento.
Em ocasião da visita a Aracaju do então candidato a presidente Jânio Quadros, D.
Távora, bispo da cidade, apresenta-lhe o projeto e o convence de sua importância. Uma
vez eleito, Jânio assina o decreto nº 50.370, pelo qual o governo financiaria as escolas
radiofônicas sob a direção da CNBB, por cinco anos.
Porém, apesar do Clero e da CIA estarem com “as maiores das boas
intenções”, algo frustrará suas idéias originais. O MEB acabou não sendo “(...) mais um
movimento carregado de tradição, para sustentar, a qualquer preço, o que existe”. Isto
devido a uma série de fatores como;
(...) a novidade do seu campo de ação, o prestígio de que a
secretária-geral, (...) as fontes de financiamento, independentes da
Igreja, o aparecimento de um método de alfabetização imaginado por
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
um pedagogo católico, Paulo Freire, capaz de alfabetizar ao mesmo
tempo que abria os alunos para as realidades do mundo, o anuncio da
convocação da Concílio e as esperanças que desertava, a publicação,
em 15 de maio de 1961, da Mater et Magistra, o clima político de
abertura no Nordeste e no Brasil.23
Além disto, o contato com a crescente miséria da região fez com que os
militares fossem perdendo continuamente o interesse em pregar a conciliação das
classes e o respeito a propriedade privada.
De acordo com a argumentação do brasilianista Thomás BRUNEU, as tensões
que estão ocorrendo no seio da Igreja através de movimentos de base, como o MEB,
muito pouco significa se comparados com o que está acontecendo na sociedade e na
política em geral, porém, ela é uma instituição pela sua força e influência, interessa a
todos. Qualquer mudança de abordagem da doutrina e na prática desta instituição é
incapaz de se restringir apenas a uma questão interna, uma vez que se encontra ligada,
de uma maneira extremamente complexa, a todos os outros grupos e estruturas. Não
demorou muito para que as forças comprometidas com o regresso, tanto membros da
sociedade civil, quanto do clero, se esforçassem para desmantelar o MEB, a exemplo do
que já estavam fazendo com a JUC. Em fevereiro de 1964, o governador da Guanabara,
Carlos Lacerda (sempre ele!), mandara confiscar 3000 cartilhas do MEB sob o pretexto
de que se tratava de material subversivo. A direção do movimento foi obrigada a prestar
depoimentos na polícia para se defender. O episódio ganhou repercussão nacional e
expôs o movimento a toda sorte de injúrias. O Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, D.
Jaime Câmara, fez de conta que não sabia nada do que estava acontecendo. Dois meses
depois do golpe, os membros do MEB também foram perseguidos e presos. Passada a
fase repressiva, como o movimento ainda dispunha de recursos do Estado para mais um
ano de atividades, os bispos conservadores resolveram assumir a sua direção.
Como que para contrabalancear a contínua ofensiva aos setores mais
progressistas da Igreja, começaram a se organizar grupos laicos de extrema direita, a
exemplo da Cruzada pelo Rosário em Família e a CAMDE (Campanha da Mulher Pela
Democracia), porém esses grupos, apesar da sua grande importância no contexto do
golpe, terão sua duração muito limitada. A instituição que analisaremos a partir de agora
23 Idem, p. 138
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
existe até hoje,e ainda atende pelo nome de Sociedade Brasileira para a Defesa da
Tradição, Família e Propriedade, a TFP.
Fundada em 1960, pelo ex-militante da Ação Católica, Plínio Correia de
Oliveira, a organização comunga da ideologia “integrista”, doutrina nascida na França
no final do século XIX e sustentada politicamente por Pio IX e Pio X. Carrega este
nome pois se acredita ser o “catolicismo integral”, que defendia a imutabilidade e a
intangibilidade da doutrina da Igreja, cada vez mais voltada para o social. No contexto
de sua fundação, a TFP gozava de grande prestígio entre uma parcela reduzida do Clero,
onde pode se contabilizar entre os mais afoitos o bispo da Diamantina-MG, D. Geraldo
Sigaud, e o bispo Campos-RJ, D. Castro Mayer. Gozava também de um apoio
significativo da classe média alta, por ser radicalmente contra a reforma agrária e contra
o comunismo. Por estas e outras razões, torna-se fácil compreender a importância que
ela adquire no contexto do golpe. Veremos na segunda parte deste capítulo como ela se
torna o modelo da Igreja idealizado pelos militares.
Pois bem, poucos dias antes do golpe, os conspiradores de Minas Gerais irão
receber do Arcebispo de Belo Horizonte, D. João Rezende Costa, uma benção para a
“causa de Minas contra o comunismo”. Na madrugada do dia 31 de março para o dia
primeiro de abril de 1964, o exército dormiria janguista para acordar revolucionário.
Logo no dia dois, D. Jaime Câmara abençoará a “Marcha da Vitória”, atribuindo a
derrubada de Jango ao “auxilio divino abtido por nossa mãe celestial, pelo Venerável
Anchieta, pelos quarenta mártires do Brasil e outros santos protetores de nossa pátria.
Parte 2 – Populorum Regressio
Vimos na primeira parte deste capítulo, como as „‟peças pretas‟ se organizaram
diante da oportunidade, talvez única, de barrar as ascensão comunista no Brasil, fazer
minguar a influência recente da Santa Sé com relação a importância que seus últimos
dirigentes vinham atribuindo á questão social e reatar definitivamente os laços entre a
Igreja e o Estado no país. Vimos como que em um período relativamente curto de
tempo, um grupo seleto da Hierarquia ajudou a organizar o golpe contra a nação e, mais
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
que isso, deu um golpe dentro de sua própria instituição, contrariando todos os avanços
da doutrina católica nos últimos cem anos. Vejamos agora as conseqüências imediatas
destes acontecimentos.
O governo militar que se instaurara no Brasil se propunha basicamente a
“limpar a área”, afastando o iminente risco de uma revolução comunista no país e, num
segundo momento. “recolocar o país nos trilhos”, o que para os militares significaria
retomar o crescimento econômico da nação. Temos assim duas palavras-chave para
entender para intervenção deste grupo na política nacional: segurança e
desenvolvimento. Em nome da segurança se buscava eliminar todos e qualquer grupo,
pessoa ou idéia que pudesse ser identificados com o consumismo ou demostrassem
enfrentamento ou mesmo deslocamento som relação ao governo. E em nome do
desenvolvimento se forjará uma espécie de “milagre econômico” que, na prática, seria
representado pelo aumento do poder aquisitivo da classe-média em contraposição ao
“esmagamento” das classes sociais menos favorecidas. Estes fatores terão uma
importância decisiva na mudança de abordagem da Igreja a partir de então.
Logo após o golpe, era necessário para aquela parte do clero que visava se
aproveitar da nova situação, continuar as “reformas” iniciadas anteriormente para que o
plano gozasse de êxito. A primeira ação seria ocupar alguns pontos-chave de influencia,
ou seja, a CNBB e algumas Arqui-dioceses importantes. Em outubro de 1964 a CNBB
se reúne no vaticano para eleger a sua nova diretoria. Tementes dos rumos que a
instituição poderia vir a tomar caso continuasse sobre a tutela de D. Hélder Câmara a
maioria opta por uma diretoria conservadora, derrubando-o da Secretaria Geral, porém
apesar de ver sua influencia diminuindo consideravelmente, sua voz estava longe de ser
calada; mesmo ocupando uma secretaria de menos expressão como a de Promoção
Social, D. Hélder inicia uma cruzada internacional que, nos anos seguintes, denunciaria
a tortura e a ditadura no Brasil em todos os cantos do mundo, ao mesmo tempo em que
aqui em seu pais teria de responder a processos de calunia e suportar uma maciça
campanha nacional contra sua pessoa. Como presidente da CNBB, é eleito do
conservador bispo de Ribeirão Preto D. Agnello Rossi, que estava tão alinhado a “nova
ordem”, que apenas um mês depois, seria indicado para ocupar o lugar do Cardeal Mota
em São Paulo. “Ao 51 anos, saído de um bispado sem expressão política, chefiava a
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
maior arquidiocese do país e presidia uma CNBB sem D. Hélder na Secretaria Geral”.
Não podemos atribuir estes fatos a nenhuma coincidência, mais sim a uma mão
habituada com as complexas estratégias “jogo de xadrez”.
Apesar dos constantes avanços da Santa Sé no tocante as questões sociais, a
maioria do Clero no Brasil possuía um grande medo do comunismo, uma vez que as
doutrinas marxistas acreditavam ser a Igreja o “ópio do povo”, e, em última instância,
visavam ao seu fim. Por isso, a maior parte da instituição excetuando-se basicamente
aos grupos e pessoas já referidas anteriormente, apenas assistiram ao Golpe, alguns
mais, outros com menos receio. Apesar dos conflitos iniciais envolvendo prisões e
interrogatórios de diversos membros relacionados a Igreja, a maioria esperou por cerca
de dois anos por mudanças positivas na política nacional. O que não aconteceu.
Diversos conflitos começaram a brotar do seio da Igreja, envolvendo
primeiramente aqueles setores relacionados com a CNBB anterior a 64, ou seja, tendo
como personagens principais as figuras de D. Hélder Câmara e D. Waldir Calheiros.
Ouve grande esforço por parte do governo e dos meios de comunicação atrelados ao
regime de denegrir a imagem desses primeiros envolvidos e de situar estes incidentes
apenas nas zonas de influências dos mesmos, ou seja, no nordeste do país. Porém, na
medida em que estes conflitos ganhavam proporções maiores, ao invés dos seus
protagonistas se verem isolados, mais o Clero se unia em torno no ideal de reafirmação
das propostas eclesiásticas pré-golpe. Estes conflitos consistiam basicamente de
resoluções de congressos eucarísticos ou tentativas em rádios locais, em que os
membros do clero, posicionavam favoravelmente aos trabalhadores e aos oprimidos,
denunciando condições inadequadas de trabalho ou abusos patronais de qualquer
natureza, e os militares enxergavam nisto uma perigosa influência comunista. A
Juventude Operária Católica foi uma das poucas instituições derivadas da Ação Católica
que não tinham tido ainda as sua influência minada por ocasião do golpe, até mesmo
por sua inocência e menor importância entre as demais. Justamente por isso, a JOC,
assim como também a ACO (Associação Operária Católica) veriam chegar o momento
em que eram urgente o amadurecimento de seu discurso e de sua linha de ação, uma vez
que eram os operários os que mais sofriam com a condição “desenvolvimentalista”
imposta pelo governo. A linha de discussão de seus congressos passou a ser de
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
enfrentamento ao capitalismo e de valorização do homem e de seu trabalho. O
“barulho” em torno dos jovens operários foi tanto que a JOC internacional se viu
obrigada a interfirir, e mandar um de seus assistentes ao Brasil para acompanhar mais
de perto estas questões. Brian Burke, o padre enviado, conseguiu, após varias
discussões, que os jocistas recuassem de suas determinações dizendo que tudo não
passara de um equivoco. Porém, a maioria dos conflitos envolvendo a Igreja e o
governo militar que se instaurou o país não irá se resolver de uma forma pacifica,
mesmo antes da promulgação do Ato Institucional nº05 que aboliu a liberdade de
expressão e o direito a “Habeas Corpus.” Serão diversos os casos envolvendo
membros de Clero em prisões, torturas e até mesmo assassinatos.
Na contra-mão do que o governo talvez tivesse imaginado, após o AI-S, estes
“problemas” não cessaram, muito pelo contrário, aumentaram em quantidade e em
gravidade, envolvendo o laicato, padre e até mesmo bispos. Porém diferentemente do
que acontecia antes do Ato, a maioria destes conflitos não eram noticiados pela
imprensa, e, conseqüentemente, não chegavam ao conhecimento do grande público,
uma vez que a política do governo a ser encobrir estes casos para não causar o repúdio
da comunidade, já que envolviam, muitas vezes, atos bárbaros de violência.
Naturalmente, as fontes sobre estes casos é muito escassa, uma vez que quase não houve
circulação de noticias sobre o assunto e as pessoas envolvidas. Na maioria das vezes,
não se pronunciavam, temendo novas represálias.
Basicamente, teremos dois tipos de publicidade após o AI-5. A primeira é a
continuação da difamação nacional realizada contra D. Hélder Câmara e demais figuras
do clero que poderiam ser relacionadas como “agentes” do comunismo em nosso país.
A segunda é uma publicidade forjada pelos jornais e revistas atrelados ao governo, tais
como o Jornal “O Estado de São Paulo” e a revista “Veja”, que distorciam toda e
qualquer notícia relativa aos encontros da CNBB e resoluções de seus congressos,
tentando mostrar que a Igreja não estava preocupada com a questão social e que os
conflitos que a envolviam eram puramente fruto da subversão de “alguns membros
apenas”, não envolvendo a instituição.
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
Em linhas gerais, os conflitos identificados durante este período no Brasil
podem ser classificados de quatro maneiras distintas; 1) Com relação a missão social da
Igreja: á luz do Concílio Vaticano II, a Igreja adotou um discurso voltado para o social.
O desentendimento se dá no sentido em que parte do Clero e do próprio governo
queriam que este discurso não saísse do papel. 2) Defesa institucional: não raras as
vezes, as ações da Igreja em tentar colocar este discurso na prática, os que o faziam
eram acusados de subversão; neste sentido, um padre comunista não é padre, é
comunista. 3) Desenvolvimento: o governo almeja o desenvolvimento econômico,
enquanto a Igreja defende o desenvolvimento humano. As duas formas de
desenvolvimento não são antagônicas, porém, se colocadas frente a frente. A Igreja
optaria pela segunda. 4) Situação Política: o objetivo da Hierarquia nunca foi apoiar
determinado tipo de governo, ela sempre apoiou aquele com que tivesse maior
possibilidade de exercer a sua influência, por isso, a anuência de alguns setores, em um
primeiro momento, ao golpe, porém, depois que tornou-se claro que a sua influência
reduziria-se a um papel figurativo, a Igreja não mais comungou com os idéias
revolucionários. Em linhas gerais, o papel imaginado pelos setores mais conservadores
do clero, juntamente com os militares e os meios de comunicação de massa
reacionários, foi um; e o papel que essa Igreja acabou exercendo foi outro
completamente diferente. Em frente das crescentes disputas pelo espaço de exercício da
influência clerical, tanto a Igreja quanto os setores já citados se encontraram com
objetivos díspares. O (endurecimento) da postura do governo diante dos movimentos
sociais só piorou e muito, a situação. As prisões e torturas envolvendo membros da
Hierarquia chegou a tal ponto que veio a sensibilizar até mesmo membros identificados
com o setores mais reacionários do clero. Aos poucos, o castelo de cartas arquitetado
para da sustentação ao regime foi caindo. Em outubro de 1970, no dia seguinte a uma
proclamação do Papa Paulo VI contra tortura, assumiria a arquidiocese de São Paulo D.
Paulo Evaristo Arns, que em pouco tempo se transformaria em símbolo de tenacidade
da luta contra a tortura. Seu predecessor, D. Agnello Rossi, fora “promovido “ para
trabalhar no Vaticano. Pouco tempo depois assumiria a presidência da CNBB D.
Aluísio Lorscheider, e a secretária geral seria ocupada por seu primo, D. Ivo
Lorscheider os dois comprometidos com a missão social da Igreja. A Hierarquia no
Brasil acabou por voltar-se para a soluções apontadas para o Concílio Vaticano II e
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
pelas encíclicas papais, principalmente as de João XXIII. Terminava a aventura
conservadora e começava uma nova fase, mais voltada para a missão profética
- Capítulo III -
“SÓ DEUS SABE”
“Só Deus sabe” os rumos a serem então tomados por esta Igreja, porém, temos
algumas pistas. Após os períodos analisados até agora, mais precisamente entre 1970 e
1978, a Igreja adotou a chamada missão profética. Essa missão vem a casar
perfeitamente com a postura de perseguição que o Estado tem com relação a ela; nas
palavras de BRUNEAU:
O profeta é alguém que recebe a palavra de Deus e explica o
seu sentido e a sua importância nas situações concretas. O profeta é,
antes de tudo, um porta-voz que se sente, além disso, impelido a falar.
Ele não tem possibilidade de escolha, pois a missão de que é
incumbido por Deus, é de transmitir a Sua mensagem e extrair-lhe as
suas aplicações no mundo. Freqüentemente a profecia assume uma
conotação política e revolucionária, pois o profeta apela para uma
ruptura na ordem pré-estabelecida24
.
Não importa o quanto são perseguidos, nem mesmo importa se os seus
objetivos serão alcançados, o que importa é a sua missão. Neste momento a Igreja
transforma-se na única instituição de oposição ao regime militar no Brasil.
Em termos práticos, esta “missão” desenvolveu-se nas chamadas Comunidades
Eclesiais de Base (CEB), que consistem em uma novíssima forma de abordagem da
influência e visam introduzir cada vez mais o laicato na organização eclesial. Diante da
24 BRUNEAU, 1974. p. 400
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
opção do Clero de se distanciar do Estado, tornou-se extremamente necessário para a
sua sobrevivência um envolvimento maior com as bases. Frei Beto enxerga neste
fenômeno não só a aproximação da Igreja com o povo, mas também o fenômeno
coincidente de afastamento do Estado e do povo. Segundo a sua óptica, não existiria
então um conflito entre a Igreja e o Estado e sim uma constante defasagem entre um
regime ditatorial excludente e o povo brasileiro. A missão profética seria junto a este
povo, e a Igreja então deveria ser a “voz daqueles que não tem voz “. As CEB‟s é
que seriam essa voz, que “grita no seio da sociedade” por pão, por emprego e por justiça
social. A declaração de 30 de abril de 1963 já clamava por reformas de Base25
. A
revolução de 1964 contou com a conveniência da Igreja, entre outros motivos, em razão
dessas reformas não implementadas. Tanto o consentimento inicial dado ao golpe
quanto a ruptura posterior, seriam então, em última análise, pelo povo. Tal como em
seu nome se legitimou a colaboração entre os dois poderes, também em sua defesa
contra as injustiças e repressão, fundou-se o desentendimento.
As CEB‟s surgiram em 1965, porém, foi apenas a partir do início da década de
70 que elas começaram a tomar corpo, uma vez que se fazia mais urgente a
descentralização política da Igreja, tanto pela necessidade de obter maior inserção
popular, quanto pela necessidade de dificultar a ação repressiva das milícias do governo.
A explosão das CEB‟s pode ser encarada como uma espécie de “reinvenção” da Igreja,
onde a chamada “tomada de consciência” parece ter sido a mola principal.
“Tomam agora consciência de que não tinham consciência nem de grupo, nem
como Igreja... O vazio de consciência do próprio valor (...) fazia com que o padre
ocupasse um lugar enorme. A sua ausência deixava os fiéis desorientados.26
” As
Comunidades de Base, inicialmente propostas como instrumentos de renovação da
estrutura interna da Igreja, seriam depois compreendidas como padrão organizatório
para toda a sociedade. As CEB‟s são essencialmente descentralizadas, dando um ênfase
maior a participação da comunidade, tanto com relação a facilitação da linguagem,
quanto a sua forma de abordagem, mais apoiada nos interesses locais como o trabalho,
25 ROMANO, Roberto. Brasil: Igreja contra Estado. São Paulo: Kairós, 1979. p. 187
26 Alves, 1979. p.159
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
escolas, transportes, etc. todos os movimentos leigos ligados ás comunidades de base
deviam estar sob a direção da pastoral de conjunto, deixando-se aos leigos as decisões
imediatas, numa situação de co-responsabilidade eclesiástica.
O objetivo presente in nuce nas comunidades de base foi assegurar
na sociedade, entre os indivíduos e grupos cada vez mais secularizados, postas
de lança que permitiriam á Igreja ultrapassar o Estado na corrida rumo ao
domínio das populações marginalizadas pelo processo econômico nacional, no
campo e na cidade. Foi para isso que ela se muniu de instrumental técnico e
humano neste período. Dado que seus recursos financeiros estavam longe de
assegurar autonomia absoluta e porque a ajuda das igrejas estrangeiras não
eram suficiente, os hierarcas, homens realistas, recomendavam que na
“medida do possível” a Igreja procurasse “celebrar convênios com entidades
públicas e cuidar, com grande perspicácia para não perder a independência27
.
Destarte, entendemos as Comunidades Eclesiais de Base como um
redirecionamento nos rumos da Igreja Católica, no tocante a sua abordagem da
influência. Porém, esta abordagem possui um limite de atuação, uma vez que começa a
se defrontar com o ressurgimento dos órgãos do povo, tais como associações de bairros,
sindicatos e partidos políticos. No final da década de 70, com os sinais de desgaste
demonstrados pelo governo militar e o subseqüente clima de abertura política, o
governo anuncia a anistia aos presos políticos, após um grande movimento popular.
Inicia-se a reforma partidária, que acaba com o bipartidarismo, vigente desde 1966,
estabelecendo-se, assim, o pluripartidarismo. Com isso, iriam aumentar ainda mais as
pressões em cima do Clero para que se criasse um partido político para continuar
guiando as bases, afinal de contas, após dez anos de missão profética, atuando através
das comunidades eclesiásticas, nada mais natural para os fiéis do que a continuação
deste trabalho. Porém, não é a isso a que se propõe esta Igreja depois de quase duas
décadas de regime militar. De acordo com sua interpretação, “somente um partido
popular poderá representar de fato os interesses do povo”, porém, esta meta estava
muito distante, pelo menos no que diz respeito a organização das CEB’s naquele
momento. De qualquer forma, não se podia esperar que esta Igreja fizesse o que o
povo devia fazer, sem que ela substituísse o papel das organizações populares e dos
partidos políticos.
27 ROMANO, 1979. p.191
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
Afinal, quem foi o primeiro teólogo ou pensador a se inclinar sobre o problema
da separação da Igreja com o Estado? Serpa possível que talvez não tenha sido
justamente o próprio fundador do Cristianismo? No momento em que o inquiriram
sobre se era lícito que se pagassem os impostos para o Estado Romano, “Ele”
aconselhou a seus discípulos a “dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”.
Será que o próprio Jesus Cristo já não haveria matado a questão do conflito entre Igreja
e Estado? A intenção de que a Igreja assuma as rédeas da transformação social,a través
da condução política da país é tão injusta quanto antiga, segundo nos conta a Bíblia, o
fundador desta Igreja e razão de sua existência morreu só e abandonado pelo próprio
povo que desejava salvar justamente por isso. Este povo esperava a libertação imediata
dos povos da Galiléia que estavam sob o julgo dos Romanos e esperavam um “messias”
que viesse tirá-los daquela condição política, e não alguém que propusesse a salvar suas
almas. Ainda com relação a isso, temos as palavras de Frei Beto: “A Igreja não pode
ser culpada daquela que ela não se propõe, nem ser acusada de não corresponder ás
expectativas que surgem dos que só vêem um aspecto de sua atuação”
O ideal transformador da Igreja continuará vivo, e, com o tempo, o Brasil verá
que mesmo que não tenha montado um partido político católico, ou ressuscitado
práticas como a Liga Eleitoral Católica, do início do século, o Clero já havia lançado as
sementes daquele que viria a ser o maior partido da esquerda da América Latina, no
momento em que fez questão de desenvolver o espírito crítico das juventudes do campo
e das cidades e, principalmente, dos operários, mesmo depois do golpe, através da JOC
e da ACO, como já vimos. Os desafios enfrentados pela Igreja durante o “interlúdio
espartano” seriam vencidos, e as palavras de D. Hélder poderiam mais uma vez ecoar
entre as multidões sem a interferência incômoda da censura:
Quis o Pai que a Igreja de seu Filho, no Brasil, tivesse a missão
providencial de tentar dizer que a pseudo-ordem implantada era, na verdade,
agravamento das estruturas de servidão.
Quis o Pai que a Igreja do seu Filho em nosso País compreendesse a
impossibilidade de continuar sendo um dos principais esteios de uma ordem social,
que mal encobre desigualdades gritantes e é muito mais uma desordem perigosa e
comprometedora.
Foi a Graça Divina que permitiu á Igreja de Cristo a coragem que o
Evangelho inspira, de denunciar a injustiça e a opressão. A miséria e a fome, com
gritantes pecados sociais.
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
Não faltou quem nos acusasse de fugir á nossa missão para fazer política,
quando a Igreja tentava apenas cumprir missão do bem comum, dever evangélico
de lutar, sem ódio, sem violência, mas com decisão e firmeza, por um mundo mais
justo e mais humano.
Não faltou quem acusasse a Igreja de subversiva e comunista... E toda a
nossa subversão era mostrar, com a fé que a Graça Divina nos concede, que, nas
calçadas das grandes cidades, nas ruas dos grandes centros, Jesus Cristo, em
pessoa, catava restos de comida, no lixo, para comer; dormia e dorme ao relento,
debaixo das pontes e viadutos; era preso, e perseguido por ser pobre.
Deus concedeu que a Igreja de Cristo, no Brasil, tivesse a coragem dos
cristãos do início da era cristã, de testemunhar o Evangelho, á custa da própria
liberdade e até da própria vida. Houve perseguições, seqüestros e torturas,
especialmente de trabalhadores e estudantes – homens e mulheres - , sobretudo
líderes sindicais e leigos comprometidos com o Evangelho. (sic)28
- Conclusão -
A Igreja Católica no Brasil é uma instituição que tem merecido atenção do
mundo inteiro. Diversos intelectuais da França, do Canadá e dos Estados Unidos,
apenas para citar alguns exemplos, tem estudado, feito viagens, realizado pesquisas de
campo, examinado jornais e centenas e centenas de horas de fitas gravadas com
entrevistas e depoimentos, para tentar entender como pensa esta parte integrante da
Santa Sé no Brasil. Em contrapartida, a nossa bibliografia sobre o assunto é muito
escassa e se restringe basicamente a um período que equivale a um “boom” da
historiografia que percorre toda a década de 70.
O que pensam estes intelectuais sobre nós, e porque o estudo sobre a Igreja aqui
em nosso país se mostra tão importante? Talvez, seja porque, desde 1500, a Igreja
possuía uma relação ímpar com o Estado (subordinação ao Imperador, não ao Papa/
28 BARROS, R e OLIVEIRA, L. de (org). Dom Helder: o artesão da paz. Brasília: Senado Federal,
Conselho Editorial, 2000 p . 340
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
Padroado Régio); durante a Proclamação da República, realizou um processo de ruptura
ímpar na história e, desde então, se viu envolvida com a mais variada sorte de situações,
que muitas vezes visavam minar a sua influência, mas que nunca lograram êxito. Pelo
menos não por muito tempo. Ouso dizer que a Igreja no Brasil se mostra, muitas vezes,
se não como paradigma do mundo, pelo menos de toda a América Latina. Um estudo
sobre este tema, portanto, sempre vem carregado de uma grande responsabilidade.
E com relação ao ultramontanismo, cujas conseqüências inicialmente propus
como objeto de estudo do presente trabalho? Acaso existiu este movimento no Brasil?
Se a resposta a esta pergunta não carecesse das quatro páginas que utilizarei para ela, e
fosse necessário responder com apenas uma palavra, com certeza ela seria: Não! Porém,
como já disse, este tema vem carregado de uma responsabilidade gigantesca e qualquer
resposta pronta poderia comprometer o estudo.
Primeiramente, Catolicismo Ultramontano é aquele que diz respeito à doutrina
conservadora e restauradora da Igreja, que se estende desde 1800 até 1963, por ocasião
do pontificado de João XXIII, que iniciará uma série de reformas na forma de
abordagem do clero. Ultramontanismo significa delegar total poder à autoridade papal,
pois seu poder vai “além da montanhas”. Justamente por isso talvez, possa nos parecer
equivocado analisar o Brasil sobre esta perspectiva, uma vez que aqui o que vigorava
era um total atrelamento da Igreja com a figura do Imperador, que era o Grão Mestre da
Ordem de Cristo, título que lhe era hereditário e fora-lhe concedido pelo próprio Papa.
Quando começamos a contextualizar o ultramontanismo no mundo, por ocasião do
pontificado de Pio VII (1800 – 1823), a situação do padroado régio permanece
inalterada no Brasil e, na prática, a autoridade papal gozava de uma influência limitada,
uma vez que a figura do Imperador se postava entre o Brasil e o Vaticano.
Quando este movimento encontra o seu auge, durante o Concílio Vaticano I, a
Igreja não está simplesmente centralizando a sua doutrina em torno do poder papal, está,
na verdade, uma vez que ela é uma instituição sensível a todas as principais mudanças
da sociedade, anunciando a centralização política dos países europeus e da América
Latina que se viram envolvidos com ditaduras de direita nas décadas seguintes. Dentro
desta óptica, não seria então o ultramontanismo uma causa, e sim uma conseqüência, de
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
diversos outros fatores que serão sentidos no mundo todo incluindo o Brasil. Importante
citar aqui, como exemplo, o movimento cultural conhecido como “Romantismo” que,
além de ser completamente místico e idealizador, prega, entre outras coisas, o
escapismo, que em um primeiro momento pode se dar através da consciência (alienação
religiosa, por exemplo) e em segundo momento através da própria morte (diante da
incapacidade de ser feliz já neste mundo). Todas estas características são
completamente congêneres com as idéias da Igreja na Época. Uma outra característica
fundamental para compreender o romantismo é o nacionalismo exacerbado, o que
poderemos observar mais adiante na Itália, na Alemanha e até mesmo no Brasil, durante
a “Era Vargas”.
Dentro deste contexto, o fim do pontificado de Pio XII mais representa o
processo de abertura política vivido no mundo de então do que o fim do
ultramontanismo, que seria apenas uma de suas conseqüências. A eleição de João XXIII
se dá exatamente neste sentido. Analisando, portanto, à luz destas questões, a história
recente de nosso país, é fácil localizar personagens que poderiam ser identificados como
ultramontanos. Diante das resoluções da ordem republicana no Brasil, encontramos na
figura de D. Antônio de Macedo Costa um ilustre exemplo disto. 29
Culto e reacionário,
era a própria encarnação dos ideais conservadores que se armaram diante da iminente
ameaça republicana de mudança, da mesma forma que, na segunda metade do século
XX, um grupo da mesma estirpe também se organizará frente às “ameaças do mundo
moderno”. Seria demasiado equivocado classificá-los como ultramontanos? A meu ver,
continuamos na mesma dicotomia do século XIX entre “catolicismo integral”,
representando a imutabilidade e a intangibilidade da Igreja e “catolicismo social”,
representando as tendências mais modernas. Eis então o Catolicismo Ultramontano! A
contraditória doutrina da Igreja Católica que, em troca de concessões, influência e
território, apoiara os mais brutais líderes de extrema direita do século XX, entre eles;
Franco, Salazar, Mussolini e Hitler, com o objetivo de conduzir o seu rebanho à
salvação final. Foram tantos os paradoxos gerados neste período que após a década de
29 Cf. MANOEL, Ivan A. D. Antônio de Macedo Costa e Rui Barbosa: a igreja católica na ordem
republicana brasileira In: PÒS-HISTÒRIA: Revista de Pós Graduação em História – UNESP. V 5 São
Paulo: Arte e Ciência, 1997. pp. 67-81
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
sessenta acontecerá uma reviravolta na forma de pensar da Igreja que agora se mostra
mais uma vez centrada no Espírito Santo e no amor para guiar o “povo peregrino de
Deus”.
No Brasil, após a falência comprovada destes métodos no mundo inteiro, este
grupo enxerga no Golpe Militar de 1964, a oportunidade de “pegar carona” no novo
regime instituído, sendo muitas vezes conivente com prisões e torturas, tanto de leigos,
quanto de membros da Hierarquia, porém, este incidente despertará a maior parte do
clero do país para uma nova forma de abordagem política para a fé cristã.
A Igreja se porta então como uma grande metáfora da própria humanidade,
oscila de um extremo ao outro da história, sem nunca encontrar a Parúsia30
. Mas isto
nada possui de novo, é a eterna contradição humana.
Bibliografia
MANOEL, Ivan A. O pêndulo da história: A filosofia católica da história (1800-1960)
BARROS, R e OLIVEIRA, L. de (org). Dom Helder: o artesão da paz. Brasília: Senado
Federal, Conselho Editorial, 2000
30 Cf. MANOEL, Ivan A. O pêndulo da história: A filosofia católica da história (1800-1960) pp.98
Texto integrante dos Anais do XX Encontro Regional de História: História e Liberdade. ANPUH/SP – UNESP-Franca.
06 a 10 de setembro de 2010. Cd-Rom
ROMANO, Roberto. Brasil: Igreja contra Estado. São Paulo: Kairós, 1979
AUBERT, R. (org) A Igreja na sociedade liberal e no mundo moderno. Pedro Paulo de
Sena Madureira e Júlio Castañon Guimarães (trad.). Petrópolis: Vozes, 1975.
SOARES SOBRINHO, J. E. de M. A concepção e a redação da “Rerum Novarum”. São
Paulo: Elvino Pocai, 1041.
LEÂO XIII (Papa). Rerum Novarum (1891) Petrópolis: Vozes, 1950
LIMA, Alceu de Amoroso. Memórias improvisadas: diálogos com Medeiros Lima.
Petrópolis: Vozes, 1973.
PIO XI (Papa). Quadragésimo Anno. São Paulo: Edições Paulinas, 1969. p.42
BRUNEAU, Thomas. Catolicismo brasileiro em época de transição. São Paulo: Loyola,
1974.
LIMA, Alceu de Amoroso e MESQUITA, Luis José de. (org.) As encíclicas sociais de
João XXIII. Rio de Janeiro: José Olympo Editora, 1963.
MANOEL, Ivan A. O pêndulo da história: A filosofia católica da história (1800-1960)
MANOEL. “Ação católica brasileira: marco na periodização da história da igreja
Católica no Brasil”, p.325 in: COUTINHO, S. R. (org). Religiosidades, misticismo e
história no Brasil central. Brasília: CEHILA, 2001. PP. 319 – 329
ALVES, Marcio Moreira Alves. A igreja e a política no Brasil. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1979