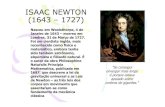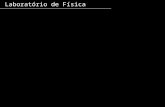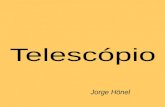O CENÁRIO ANTECEDENTE PARA A GRANDE MUDANÇA … · José Carlos Freitas Lemos* ... aqui,...
Transcript of O CENÁRIO ANTECEDENTE PARA A GRANDE MUDANÇA … · José Carlos Freitas Lemos* ... aqui,...
Sessão temática Imagens - 439
O CENÁRIO ANTECEDENTE PARA A GRANDE MUDANÇA DOS
SÉCULOS XII/XIII DAS TRADIÇÕES GRÁFICAS DO OCIDENTE
José Carlos Freitas Lemos*
Resumo:
Os atuais dicionários mostram que, em meio à reestruturação comunal das cidades
europeias do século XIII, ocorreu o aparecimento de vários termos alusivos à
representação gráfica. Nas culturas germânicas, a transformação de “drag” em “draw”,
em vários grupos linguísticos latinos o “debuxar” e, na Itália, o acontecimento maior
que alteraria definitivamente as sociedades ocidentais, o “desenhar”. A partir daí até o
século XIV, se consolidaria a tradição da “designalidade”, que, mediante
transformações que nunca cessaram, predominaria até os dias de hoje em nossos modos
de práticas, de discurso, de representação e de ordem. Este texto analisa o que aconteceu
com as tradições gráficas neste momento sob o viés de algumas condições que deram
lugar a este estado crucial de mudanças.
Palavras-chave: desenhar; designalidade; discurso; representação; ordem.
* * *
Na atualidade, mesmo que não possamos nos considerar a todos “desenhistas”,
podemos dizer que somos “designalizados”, pois somos submetidas aos acontecimentos
do “desenho” e seus “leitores” potenciais. Viveríamos a “designalidade”1 há
aproximadamente oito séculos. Mas que diferença é essa imposta por apenas uma
palavra na multimilenária tradição das modalidades de registros gráficos? Que
modificações ocasionou nos acontecimentos da representação, do discurso e da ordem
desde o seu surgimento?
* Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Doutor em Educação; Professor da Faculdade de
Arquitetura/UFRGS; [email protected]. 1 Designalidade é um neologismo proposto em minha tese de Doutorado, “Para uma história da
designalidade” (LEMOS, 2010).
Sessão temática Imagens - 440
Para chegar à constatação acerca da designalidade, foi preciso inicialmente
identificar o “desenho” como “acontecimento discursivo”2. A intenção em usar um
termo inexistente nos vários idiomas – “designalidade” – é a de pontuar este caráter de
“pensamento-desenho” presente nas práticas. Mas também se liga ao procedimento
analítico de Michel Foucault de produção de “pequenas verdades inaparentes”
(FOUCAULT, 1979, p. 15). Assim, com o auxílio de Lúcia Medeiros é possível dizer:
“(...) pensar um objeto, produto ele mesmo de uma objetivação do pensamento no e pelo
discurso, é interpretar o discurso, um sistema de regras, submetendo-o a novas regras, a
um outro jogo que lhe é, portanto, estranho” (MEDEIROS, 2005, p. 36).
Portanto, trata-se de uma investigação genealógica3 das práticas do desenhar,
que torna visível o momento de sua emergência e de sua constituição com uma
denominação que mantém até nossos dias. Também mostra aquilo que supera suas
diferenciações nas diversas línguas, disegno, diseño, dessein, design ou desenho4, sem
perder de vista suas variações, debuxo, dibuxo, dibujo, debussare (COROMINAS,
1976, p. 166-167; COROMINAS, 1990, p. 125-127)5, draw e drawing
6. Atualmente,
pode-se dizer que desenhar é sinônimo de debuxar ou de drawing, mas isto não foi
sempre assim7. Cada uma dessas nominações participou de diferentes tradições, com
sensos organizativos diversos, até que fossem incorporadas pela designalidade no século
XIII. O debuxar (que não era chamado assim), a partir da techné, foi a ligadura das
práticas antigas dos gregos e romanos. O drawing, na época ainda drag, teria sido a
2 Esta pesquisa se identifica com o pensamento e conceitos filosóficos de Michel Foucault, como os
exemplos “acontecimento”, “discurso” e “genealogia”. Baseada em fundamentos genealógicos, na
analítica dos discursos igualmente não existem começos, nem a preponderância da autoria. As análises
são dirigidas a relações entre acontecimentos, que se instalam como séries descontínuas nas relações entre
práticas e saberes. Dessa maneira, em momentos diferentes, sob condições sociais, econômicas e políticas
também diferentes, emergem conjuntos diversos de práticas, pensamentos e nomeações. 3 Genealogias cumulativo-descontínuas em rede e não gêneses evolutivas lineares.
4 TESORO DELLA LINGUA ITALIANA DELLE ORIGINI, verbetes desegnare; disegnare; disegno;
designare. Disponível em: <http://tlio.ovi.cnr.it/voci/ 013493.htm>. Acessado em: 29 dez. 2009. 5 TESORO DELLA LINGUA ITALIANA DELLE ORIGINI, verbete bosco (s.m). Disponível em:
<http://tlio.ovi.cnr.it/voci/006483.htm>. Acessado em: 1.º jan. 2010; verbete debussare. Disponível em:
<http://tlio.ovi.cnr.it/voci/012270.htm>. Acessado em: 15 jan. 2010; DICIONÁRIO ELETRÔNICO
HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA, verbete bosque. 6 ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY, verbetes draw e drawing. Disponível em: <http://www.
etymonline.com/index.php?term=draw>. Acessado em: 8 jan. 2010. Cf. ENCYCLOPEDIA.COM,
dictionary definition of draw. Disponível em: <http://www.encyclopedia.com/doc/1O27-draw.html>.
Acessado em: 8 jan. 2010. 7 Como é facilmente constatável hoje, as formas “debuxar” e drawing permanecem em uso em regiões de
todo o mundo, respectivamente, nas de língua hispânica (dibujar, dibuxar) e inglesa.
Sessão temática Imagens - 441
base das configurações de ordem dos conjuntos de práticas (talvez) de vários povos
germânicos antes dos romanos e dos ingleses depois.
Na história desses usos nominativos depois do século XIII, cada um dos
peculiares cenários se relacionou com discursividades próprias do “desenho”,
“designalidades”. Em outras palavras, as práticas de “desenho” participam de
designalidades que instituem as possibilidades do “desenhar” e da “leitura dos
desenhos”. Essas diferentes designalizações têm proporcionado indícios concretos das
maneiras com que as pessoas se organizam, falam, escrevem, se vestem, constroem suas
casas e cidades. Logo, foi na intenção de produzir um pensamento que fosse estranho às
práticas discursivas usuais que foi proposta a noção de designalidade como problema.
Nos séculos que antecedem o Renascimento, talvez se possa falar de uma
revisão generalizada de práticas que vinham se exercendo na Europa desde o final do
Império Romano. Com efeito, é somente no final da Idade Média que esse conjunto de
práticas vai adquirir mais visibilidade, na medida em que sua revisão vai sendo
possibilitada não só pelo aparecimento de processos tecnológicos e de conhecimentos –
os quais, aliás, em nenhuma época cessaram de acontecer – mas pelo modo como se
combinaram entre si, formando um conjunto de práticas com uma nova configuração. É,
portanto, nos tempos que se estendem do século IV ao fim do século X, que foram
criadas as condições que possibilitaram uma inflexão nos rumos da história ocidental e,
com ela, as mudanças nas práticas discursivas e não discursivas – as referências
terminológicas e a prática pictórica propriamente dita – da representação gráfica na
Europa.
Os atuais dicionários de diferentes línguas concentram, no século XIII, o
aparecimento em toda a Europa cristã de vários termos alusivos à representação
gráfica8. Neste momento será possível visualizar, partir dessa intensa proliferação de
nominações em línguas vernáculas, uma mudança de rumo na história da representação
gráfica da sociedade ocidental e três tradições diferentes já mencionadas: uma tradição
nova, do “desenhar”, emergente na Itália no final da Idade Média; a tradição ressurgida
8 Cf. notas 4, 5 e 6.
Sessão temática Imagens - 442
na Península Ibérica do “debuxar” de proveniência greco-romana; e a tradição
ressurgida no norte da Europa do drawing de proveniência germânica9.
Nas regiões do norte, o despertar desse século é marcado pela nova acepção e da
palavra drag, talvez já usada há milênios nas culturas germânicas. Na sua mutação para
draw, toma o sentido de “make a line or figure” pelo ato de “drawing a pencil across
paper”. Essa tradição, em seu início preponderantemente ocorrida em atuais regiões
francesas, alemãs e flamengas, parte no século XIII, de uma clara identidade com
figuras da época carolíngia, para, já no século XIV, participar das características
dominantes da designalidade10
. Para visualizar isso é necessário reconhecer o impacto
da amplitude cultural dessa modificação dos dois lados do Canal da Mancha, em outras
regiões europeias de influência germânica, e não apenas na Grã Bretanha dos anglos, no
Old English (V ao XII).
Figura 1. Exemplo de expressão na tradição drag/ drawing. Moeda de prata (479 – 491): produzida
no reinado ostrogodo (germânico) de Odoacro (433–493) em Milão, frente e verso, à direita efígie
do Imperador romano Flávio Zenão com diadema, manto drapeado e armadura; à esquerda, águia
com asas abertas, com ramo na pata direita e cruz sobre a cabeça voltada à esquerda (The British
9 Limito-me, pois, a abordar terminologias e práticas gráficas disseminadas em torno dos séculos XII e
XIII. Outras referências hoje conhecidas e posteriormente relacionadas à expressão gráfica, ainda que
importantes para outros estudos, não serão, aqui, contempladas. É o caso de palavras de uso disseminado
alguns séculos depois, como, por exemplo, “escorço”, derivada do italiano “scorcio” (anterior a 1574),
“esboço”, derivada do italiano “sbozzo” (anterior a 1673); as formas portuguesa e inglesa “esquete” e
“sketch” (1668); as portuguesa e francesa “esquisso” e “esquisse” (1567), palavras que podem ter sido
derivadas do italiano “schizzo” ou, ao contrário, terem condicionado a forma italiana; ou mesmo “croqui”,
que apesar de nascer de um verbo francês do século XIV, “croquer”, somente é ligada ao discurso gráfico
no final do século XVII. 10
É de conhecimento corrente que muitos mestres pintores franceses, alemães e flamengos fizeram escola
nas cidades italianas.
Sessão temática Imagens - 443
Museum; nº no museu 1846,0910.184. Disponível em: <http://www.britishmuseum.org/research/
collection_online/search.aspx?searchText=1846,0910.184&images=on>. Acessado em: 21/02/2015).
Da mesma maneira, é somente a partir dos séculos XII e XIII que se observa a
proliferação de nomeações variadas do “debuxar”. Ao se partir dos últimos resultados
de pesquisas filológicas e linguísticas a respeito dos afixos “bosqu” ou “bosc” e “bux”,
que compõem numerosas articulações em variadas línguas e dialetos europeus, depara-
se com uma aparente aproximação significativa: todas referem invariavelmente
vegetação, madeira, mata, bosque, árvore, etc. No entanto, nas análises esta relação não
é explicitada, nem tampouco a possibilidade ou impossibilidade dela. Decorre daí, então
uma separação entre suas etimologias.
De um lado há uma unanimidade em afirmar que “bux” adviria do latim buxum
ou buxus, buxi, por sua vez adaptado do grego púxos, puxou, e faria referência em
ambas as línguas à nomeação vulgar dada para a árvore – “buxo”11
.
11
Bem como a suas derivações: buxa, buxal, buxeiro, buxo-anão, buxo-arborescente, buxo-da-rocha,
buxo-de-holanda, buxo-grande, buxo-humilde. A partir do século XVII, o latim científico retoma o termo
em formas eruditas como buxácea, buxáceo, buxíneo (em que o “x” equivale a “cs”). DICIONÁRIO
ELETRÔNICO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA, verbete buxo.
Sessão temática Imagens - 444
Figura 2. Exemplo de expressão na tradição debuxar. Ânfora de cerâmica com tampa (c.560 a.C.).
Antigo estilo de pintura negra, cuidadosamente executado (Ática, Grécia). (The British Museum: nº
1839,1109.1. Disponível em : <http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.
aspx?searchText=1839,1109.1&images=on>. Acessado em 21/02/2015).
De outro lado, o afixo “bosq” não encontra o mesmo nível de concordância.
Recebe grande aplicação de estudos etimológicos, obtém exemplos vernáculos
históricos que incluem as formas francesas bois, burgúndia boo, picardas bou e bo; a
inglesa bush; a alemã busch; a provençal e catalã bosc; a espanhola (como portuguesa)
bosque; e a italiana bosco12
. As datações quando existem, não são em geral, anteriores
ao século X, sendo muitas delas dos séculos XII e XIII (VALLVERDÚ & BAÑERES,
2002, p. 76). Ou seja, se aceita que sua disseminação tenha ocorrido tanto em regiões
atualmente espanholas quanto francesas, num momento próximo ao século XII.
Nos estudos etimológicos, “debuxar” possui numerosas referências diretas, mas
sempre vagas e remetidas ao final da Idade Média. Essas referências parecem exprimir
12
TRIPLO V.com. Disponível em: <http://www.triplov.com/carbonaria/introducao/index.htm>. Acessado
em: 3 jan. 2010.
Sessão temática Imagens - 445
uma concordância entre os pesquisadores da relação entre o afixo “bosq”, e não do afixo
“bux”, com o seguinte conjunto de palavras: deboissier do francês do século XII
(‘desbastar a madeira, esculpir’); debussare do italiano do início do século XIV; e
debuxar do espanhol, do português e do galego, dibuxar e dibuixar do espanhol e do
galego e dibujar do espanhol dos séculos XIII e XIV (COROMINAS, 1976, p. 166-167;
COROMINAS, 1990, p. 125-127).
Ao se estudar o “debuxar”, a atenção recai obrigatoriamente sobre determinada
obra, a Naturalis Historia, de Caio Plínio Segundo (c.24 – 79)13
. Essa obra tem
importância capital para a presente pesquisa, mas não pelo motivo que comumente é
referida. O escrito de Plínio é célebre pela passagem sobre Butades de Sicião e sua filha,
“inventores dos modelos em argila e do debuxar” (o parágrafo 151 do volume 35)14
.
Esse trecho tem sido exaustivamente retomado nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII
(entre outros, por Da Vinci), no entanto, muitas vezes num tom anedótico. A
perspectiva da presente pesquisa de afastar suposições de práticas históricas orientadas
por autoria15
, faz com que esse não seja o nosso interesse na Naturalis Historia de
Plínio.
A obra de Plínio é de um tempo de grande expressão da cultura romana (advento
do Império), em que se produziram grandes coletâneas sobre domínios de saber. Alguns
exemplos anteriores a Plínio foram as obras: De lingua latina, o corpus da língua latina
em 25 volumes de Marco Terêncio Varrão (116 a.C. – 27 a.C.); De Oratore, reunião em
3 volumes da oratória romana por Marco Túlio Cícero (107 a.C. – 44 a.C); e De
Architectura, repertório descritivo e analítico em dez volumes para construções de
colônias, fortificações e cidades no Império de Marcos Vitrúvio Polião (c.80 a.C. – c.15
a.C.). A Naturalis Historia, de Plínio, foi um documento igualmente compilador, com
37 volumes sobre a medicina romana. Assim como Vitrúvio em seus dez livros sobre
arquitetura, que procurou escrever sobre todos os aspectos que contribuíam para as
práticas do mestre construtor no Império Romano, Plínio procurou fazer o mesmo com
13
Também denominado Plínio, o Velho. 14
“151. Conviria tratar também da arte da modelagem. Trabalhando com a terra, Butades de Sícion, um
oleiro, foi o primeiro a inventar, em Corinto, a arte de modelar retratos em argila, graças a sua filha. Ela,
apaixonada por um jovem que partia para o estrangeiro, traçou na parede o contorno da sombra de sua
face à luz de uma lamparina. Seu pai, aplicando-lhe argila, confeccionou um modelo e o colocou ao fogo
para endurecer junto com outros vasos de barro; dizem que teria sido conservado no Santuário das Ninfas
até Múmio destruir Corinto” (LICHENSTEIN, 2004, p. 86). 15
Ver nota 2.
Sessão temática Imagens - 446
o ofício do mestre médico. Cercou as ciências e domínios do saber que contribuíam para
o ofício da medicina em sua época: geografia, cosmologia, fisiologia animal e vegetal,
história da arte, mineralogia e outros domínios. Ao tratar a mineralogia, no volume 35
de sua obra, Plínio produz uma história da pintura e dos pintores romanos e gregos.
Refere o desenho sobre painéis de madeira, em “buxo” como a base do aprendizado nas
famílias livres da Grécia (quem não era escravo) e como um dos valores artísticos e
culturais destacados dos dois povos (Grécia e Roma). Ainda que não haja referências
diretas ao “debuxar” no seu texto em latim, são feitas insistentes alusões à antiga pintura
sobre painéis móveis de madeira (que podiam ser expostos em diferentes locais e
transmitidos entre as pessoas através de negociações de compra e venda) e ao infeliz
abandono de sua tradição, substituídos por frescos, mármores e medalhões metálicos16
(MAYHOFF, 1906, Livro XXXV, p. 318, I, § 2-3, p. 320-321, VII-X, § 22-28; e
MENDONÇA, 1995/1996, p. 317-330).
O segmento do texto de Plínio de interesse para essa pesquisa são os parágrafos
76, 77 e 118:
76. São de Pânfilo a Parentalha, a Batalha de Fliunte com a vitória dos
atenienses, bem como um Ulisses em uma jangada. Era de origem
macedônica, mas..., foi o primeiro pintor a estudar todas as disciplinas,
sobretudo aritmética e geometria, sem as quais, segundo suas palavras, não a
arte podia chegar a sua plena realização. A ninguém deu aula por menos de
um talento, à razão de 500 denários por ano, quantia que lhe pagavam Apeles
e Melântio.
77. Por influência sua se deu que, inicialmente em Sicione, posteriormente
em toda a Grécia, as crianças de famílias livres, antes de qualquer coisa,
passaram a aprender a arte gráfica, isto é, a pintura em madeira de buxo e
essa arte era aceita como o primeiro grau das artes liberais. Essa disciplina
gozou sempre de prestigio a ponto de a praticarem homens livres e, a seguir,
pessoas de destaque, tendo sido constantemente proibido ensiná-la a
escravos. É por isso que nem na pintura nem na torêutica se celebrizam obras
de algum escravo.
[...]
118. Mas nenhuma glória artística existe senão para os que pintaram quadros
em cavalete. Nesse particular a sabedoria da Antiguidade se mostra digna de
muito respeito. Realmente, eles não embelezavam paredes apenas para seus
proprietários e nem casas que iriam permanecer em um único lugar, sem
condições de serem salvas de incêncidos. Protógenes se contentava com um
quiosque no seu pequeno jardim. Não havia nenhuma pintura em estuque
na casa de Apeles. Ainda não se admitia colorir paredes inteiras; a arte
deles todos voltava sua atenção para as cidades e o pintor era patrimônio do
mundo (MENDONÇA, 1995/1996, grifos nossos).
Dessa maneira, apesar do afastamento do afixo “bux” pelas pesquisas
etimológicas, a presente pesquisa assume que a evidência de uma antiga valorização da
16
Também se refere a um maior realismo de representações fisionômicas na antiga arte.
Sessão temática Imagens - 447
arte de pintar sobre pranchetas de madeira de buxo produz um indício muito forte em
defesa da associação do “debuxo” às artes de pintura existentes na Grécia antiga e em
Roma17
. No entanto, ao mesmo tempo em que se aceita essa ligação
“debuxo/representação em buxo”, deve-se reiterar (também com base nas mesmas
pesquisas etimológicas) ser muito provável que a representação em Roma e na Grécia
não fosse referida como “debuxo” ou “debuxar”, pois fazia parte de outro senso de
ordem coletivo de práticas diferente da designalidade, a techné, que mantinha suas
próprias coerências nominativas18
.
Genealogicamente falando, o debuxar seria a emergência nas regiões europeias
de cultura latina dos séculos XII e XIII, de uma das três ramificações de acontecimentos
da designalidade. Talvez se possa dizer que a techné (com suas antigas nominações) foi
paulatinamente perdendo sua dominância ao longo de toda a Idade Média, até ingressar,
sem desaparecer19
, na nova hegemonia modificadora do desenho, emergida nos séculos
XII e XIII20
. Esse desdobramento genealógico techné-desenho relaciona (não linear,
nem contínua ou evolutivamente, mas simplesmente como acontecimentos diferentes)
as diferentes ordens generalizadas de práticas da Grécia Helenística (IV a.C. – II a.C.),
da Roma Imperial de César Augusto (63 a.C. – 14) e de Vitrúvio (c.80 a.C. – c. 15 a.C.),
e da revolução cultural, social, política e econômica que marca o fim do feudalismo e o
17
Pânfilo, a quem Plínio refere como sendo o responsável (a partir da antiga cidade de Sicione, no
Peloponeso, e depois em toda a Grécia) pela difusão do ensino da pintura sobre buxo às crianças gregas, é
apenas conhecido a partir de Apeles, seu mais ilustre aluno. Apeles, por muitos considerado o mais
importante pintor da antiguidade clássica, viveu na Jônia no século IV a.C (COMMELIN, 1960, p. 64).
Não deixa de ser irônico que a política “preservacionista”, exposta e defendida por Plínio como
generalizada entre gregos e romanos, de realizar pinturas sobre suportes móveis, de maneira, que
pudessem ser retiradas das construções em ocasiões de incêndios, tenha sido justamente o motivo do
desaparecimento de toda esta arte inicial – principalmente grega, mas também romana – produzida sobre
suportes orgânicos de madeira. 18
Ainda assim, é preciso apontar que, mesmo que tenham todas vivenciado o domínio da techné, as
épocas da Grécia arcaica das grandes epopeias, a clássica dos grandes filósofos, a helenística da grande
expansão e fusão com o Oriente e depois Roma, foram substancialmente diferentes (PARCELL, 2012, p.
21). 19
Poderia ser uma boa indicação de pesquisa identificar traços da techné em nossa contemporaneidade. 20
O canadense professor de arquitetura Stephen Parcell nos ajuda a lembrar de que para se falar de
práticas gráficas e de produção arquitetônica na Grécia Antiga somente é possível usar fontes secundárias
e discernir detalhes filológicos. "Os gregos não tinham palavra para “arquitetura” ou para “arte”. Não
distinguiam entre o que entendemos por artes plásticas e artesanato. Todos esses esforços foram,
incluindo a construção, englobados pela techné, um domínio com particulares significados e
relacionamentos. A techné foi o conjunto cumulativo de habilidades que os gregos adquiriram durante seu
desenvolvimento para uma cultura civilizada. Não foi um mero catálogo de noções técnicas para produzir
coisas, mas sim um grande domínio de conhecimento e intervenção que envolvia artesãos e patronos com
seus antepassados. Dizia respeito ao mesmo tempo à memória cultural, à experiência empírica e a
estratégias de delimitações" (PARCELL, 2012, p. 21, tradução nossa).
Sessão temática Imagens - 448
aparecimento das cidades comunais a partir do século XII, principalmente nas regiões
das Penínsulas Itálica, Ibérica e França (essa dominância ainda não acabou).
As práticas de fazer história que se baseiam na autoria, comumente atribuem a
esses três momentos uma relação direta de influência do pensamento filosófico de
Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.). Nessa pesquisa, assume-se que as relações não
dependem de nomes para serem impulsionadas. Tratam-se padrões positivos de
configurações de práticas coletivas, nesse caso não necessariamente aristotélicas. Da
perspectiva genealógica, construções coletivas são anônimas e sem piloto. Autores
nunca são os guias de amplas reformulações sociais, pelo contrário, somente podem
pensar no limite imposto pelo tempo em que vivem.
No entanto, nem a especificidade dos acontecimentos da tradição do drawing,
nem da tradição do debuxar se comparam ao que, concomitantemente, aconteceu na
Itália do século XIII, com a disseminação dos muitos usos terminológicos do
“desenhar”.
Se for possível dizer que a tradição multimilenária do “drawing” e a tradição
multissecular do “debuxar” já existiam, a tradição do “desenhar” corresponde a práticas
e a um conjunto de acontecimentos que não tiveram condições de existir antes do século
XIII. Diz respeito à emergência de um conjunto de acontecimentos que acabou
envolvendo todas as nominações gerais de “desenho”, “debuxo” e “drawing” (sob a
dominância da primeira). Gradativamente passou a compor sensos coletivos cada vez
mais ampliados até nossa sociedade contemporânea. Deste ponto de vista e apesar das
rotineiras e importantes diferenças entre épocas, o pensamento-desenho em contínua
transformação estaria incluído nos exemplos das catedrais góticas do século XII, nos
afrescos italianos do século XIII, na arquitetura das cidades italianas do século XIV, na
revolução acadêmica da perspectiva linear do século XV, no Estado Policial e Mercantil
e manifestações pictóricas/escultóricas pós-tridentinas do século XVI, nas manufaturas
e academias francesas dos séculos XVII e XVIII, no domínio das expressões
generalizadas liberais e modernas dos séculos XIX e XX e em todos os seus múltiplos
modos de nominação nas diversas línguas até o “desenho-design” do século XXI.
Muitas das pequenas e grandes transformações ocorridas nos quase dez séculos
medievais anteriores puderam se conformar e eclodir no século XIII. Neste tempo,
estreitamente associados à emergência da designalidade, ocorreram quatro
Sessão temática Imagens - 449
acontecimentos principais, eminentemente urbanos: a renovação do comércio, a difusão
do saber, a proliferação das ordens mendicantes e o próprio grande desenvolvimento das
cidades. A nova Europa imposta no século XIII seria urbana, diferentemente da Europa
feudal e ruralizada anterior. As novas instituições, as misturas de populações, os novos
centros intelectuais e econômicos, e as práticas de “desenho” aconteceriam nas cidades.
Em meados do século XIII, se multiplicam cidades pequenas e médias e algumas
grandes cidades se ampliam. Uma cidade europeia importante deste tempo tinha entre
dez e vinte mil habitantes. Algumas se sobressaiam, como é o caso de Palermo e
Barcelona com 50 mil habitantes, Londres, Gand, Gênova e Córdoba (na região
muçulmana) com 60 mil, Bolonha entre 60 e 70 mil, Milão com 75 mil, Florença e
Veneza por volta dos 100 mil e, a maior de todas, Paris que atinge, por volta de 1300,
200 mil pessoas residentes (LE GOFF, 2007, p. 143-218). É fundamental para o
estabelecimento das condições da emergência da designalidade neste século XIII, a
concentração de pessoas e práticas urbanas nas grandes cidades na península itálica.
Apesar da degeneração das antigas cidades e infraestruturas romanas durante a
Idade Média, é no período entre os séculos IV e XI que vai se constituir uma série de
condições que irá possibilitar o estado de coisas que se afirmaria nos séculos XII e XIII
– e que finalmente redundaria na emergência do “desenho”. Do século IV ao VII, a
modificação tecnológica dos antigos rolos (volumens) em livros (códices) traria a
importante novidade da página21
. Lúcia Medeiros aponta que a página – a sua ordenação
em quadro, o lugar arquitetado por ela – asseguraria por quinze séculos a centralidade
da escrita na cultura ocidental (MEDEIROS, 2005, p. 49). Em termos de possibilidade
representativa, o desenho carregaria consigo a definitiva influência da página,
principalmente pelo muito provável caráter intelectualizado de seus protagonistas22
.
A penetração do senso cristão nas sociedades europeias medievais foi
determinante para o estado anterior e para o momento da emergência do desenho. Le
Goff aponta para uma a transição entre diferentes perspectivas cristãs (transformação da
concepção de fé) no século XIII. Nesse momento se consolida um novo humanismo
21
Mas o papel somente entraria na Europa no tempo da designalidade (século XII). Até então a difusão
dos códices era freada pelo alto preço dos pergaminhos (pele de vitelo ou carneiro). 22
Mediante os registros, as relações e analogias reproduzidas nestes “desenhos”, quem “desenhava” nos
séculos XIII, XIV e XV não deveria ser o homem comum, iletrado e ignorante, mas sim o leitor de textos
clássicos, da Bíblia, e de poesias, que conhecia as divindades mitológicas da cultura greco-romana, a vida
dos santos católicos e os grandes literatos de seu tempo.
Sessão temática Imagens - 450
cristão, de caráter positivo. A partir daí, o homem não é mais visto apenas como um
pecador, sob o peso do pecado original. O que se renova (porque isso não era um
pensamento novo)23
é a ideia de um homem feito à imagem de Deus.
Figura 3. Exemplo de expressão da tradição do “desenhar”. Afresco da Basílica superior de São
Francisco, “Lenda de São Francisco – 17. São Francisco rezando diante do Papa Honório III”
(1297-1300); dimensões 2,70 x 2,30 m. Disponível em: <http://www.wga.hu/index1.html>. Acessado
em: 21/02/2015.
No período que separa os séculos IV e V do século X, estudos teológicos
cristãos produziram indagações minuciosas das imagens (a propriedade ou
23
Com a ajuda de Toby Lester pode-se constatar uma longa genealogia de momentos históricos diferentes
em que a ideia do homem como Deus, como mundo, como cosmo, do mundo como corpo humano
encontra múltiplas ressonâncias (emergências e proveniências) entre os gregos antigos, os romanos, os
medievais e os renascentistas. “A ideia do mundo romano com um corpo não era uma metáfora escolhida
ao acaso. Ela repousava em um conceito filosófico antiquíssimo: o de que o corpo humano era uma
versão em miniatura do mundo ou do Cosmo como um todo. Platão e outros filósofos gregos fizeram
repetidamente essa analogia, assim como a Bíblia (“Façamos o homem à nossa imagem e semelhança”).
O próprio Vitrúvio tinha aludido a essa ideia, (...)” (LESTER, 2014, p. 48).
Sessão temática Imagens - 451
impropriedade das imagens produzidas pelas representações gráficas). Essas reflexões
corresponderam a determinações de sentido do mundo visível, aquilo que aos medievais
era permitido visualizar. O homem medieval anterior à transição do pensamento cristão
do século XII compreendia o universo como criação e linguagem divinas, apenas
acessíveis por Ele no seu âmbito. A esperança de atingir a luz divina somente poderia se
realizar, a partir disso, no além. Como resultado, as imagens medievais produzidas
anteriormente ao “desenho”, foram deliberadamente privadas da luz e da inteligibilidade
completas que somente Deus poderia acrescentar (GROULIER, 2004, p. 13). Em vez
disso, produzidas numa simbologia de caligramas, relacionada à linguagem dos mapas e
da heráldica24
. Tal questão da determinação da visão é fundamental para a percepção do
deslizamento desta “ascese da luz”, de uma inaptidão a uma aptidão humana em
alcançá-la. Ao homem da idade do “desenho” foi permitido, por uma nova racionalidade
e uma nova política eclesiástica, captar, acessar, capturar a luz divina, mesmo que fosse
ilusoriamente. É isso que irrompe nos vitrais das catedrais góticas francesas e alemãs,
nas iluminuras dos códices por toda a Europa e nos frescos em capelas, palácios
governamentais e villas de ricos mercadores, principalmente da região italiana.
A modificação da concepção de fé abre espaço para uma renovação da relação
entre as ideias de natureza e razão, que existiam mais ou menos misturadas desde o
começo do cristianismo e no século XIII recebem um novo tratamento (LE GOFF,
2007, p. 111-112). A designalidade será justamente parte desse novo senso razão x
natureza de um homem que é como Deus, e que enxerga como se Deus fosse. Em outras
palavras, todas as condições para a designalidade encontravam-se reunidas já no século
XII. Mas as práticas e discursos cristãos não foram a única base para a configuração e
emergência da designalidade. Via Península Ibérica, a Europa também receberia grande
influência de práticas judaicas e árabes25
que ajudariam a redefinir as ideias
mencionadas de natureza e razão. Definitivamente, a natureza passa a ser compreendida
24
A semântica e a sintaxe pictóricas da Idade Média foram dominadas por uma hierarquização simbólica,
que pressupunha a necessidade de: uma primeira leitura literal, voltada para o sentido evidente e direto;
uma segunda leitura anagógica (que fazia deslizar do literal para o místico); uma terceira leitura alegórica;
e uma quarta espiritual. Para Groulier, muitas das pinturas medievais daquele período podiam ser
consideradas homologias deste modelo de interpretação dos textos sagrados. Seria a maneira que os
medievais encontraram de compensar aquilo que sua racionalidade havia produzido: uma natureza
humana incapaz de ter uma visão autônoma do mundo (GROULIER, 2204, p. 13-14). 25
Práticas que se relacionavam com o uso do papel, com estudos de ótica, com leituras de antigos
filósofos e estudiosos gregos esquecidos na Idade Média.
Sessão temática Imagens - 452
como um mundo físico e cosmológico específico e estas ideias invadem
generalizadamente pensamentos e práticas em todas as regiões europeias. Para a
representação gráfica, este acontecimento dará lugar a uma revolução nas imagens
produzidas porque, juntamente com a natureza, a razão se desloca. A razão somada à
natureza específica de uma dimensão física, terrena, permitirá o equacionamento
racional da visibilidade das representações gráficas, o que fatalmente conduzirá aos
estudos dos tratadistas italianos a partir do século XIV. É justamente aí que reside uma
diferença principal que esta pesquisa introduz. Trata-se de uma inversão do que fazem
as costumeiras análises a respeito do desenho na atualidade. Essas análises veem no
acontecimento histórico do aparecimento da perspectiva linear – o processo gráfico e
geométrico elaborado pelos estudiosos italianos do século XIV – o fundamento e ponto
de partida para o desenho dos séculos seguintes. Aqui não é o desenho que advém da
perspectiva, mas, pelo contrário, a perspectiva participa como uma possibilidade do
grande fenômeno cultural europeu, medieval e cristão, a que o desenho, a designalidade
deu lugar. À diferença de outros estudos, não tomo o Renascimento como o ponto de
partida para a revolução da representação gráfica, mas sim o longo processo medieval
que se afirma no século XIII, e que fornece as condições de possibilidade para a
emergência da perspectiva na Renascença italiana, a partir do século XV. A perspectiva
somente aconteceu e se tornou possível a partir da transformação representada pela
designalidade. Isto explicaria a disseminação generalizada do termo “desenhar” nas
referências de literatos florentinos como Dante Alighieri (1265-1321) e Giovanni
Boccaccio (1313-1375) e nas representações gráficas de Giotto di Bondone (1266-1337)
e Duccio di Buoninsega (1255-1319), entre outros.
REFERÊNCIAS
BISMARCK, Mário. Contornando a origem do desenho. PSIAX (Estudos sobre
Desenho e Imagem). Porto: Universidade do Minho, Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto e Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, n. 3,
junho, 2004, p. 36-38.
CASTRO Y VELASCO, Palomino de. Museo pictorico y escala óptica. Madrid:
Aguilar, 3 v., 1988.
Sessão temática Imagens - 453
COROMINAS, Joan. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid:
Gredos, 2 v., 1976.
COROMINAS, Joan. Diccionari etimologic i complementari de la llengua catalana.
Madrid: Curial Edicions Catalanes S.A., 2 v., 1990.
COROMINAS, Joan. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid:
Gredos, 6 v., 1980-1991.
DENIS, Rafael C. Uma introdução à história do design. São Paulo: Edgar Blücher,
2000.
DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. Versão 1.0: Instituto Antônio
Houaiss, Editora Objetiva Ltda, 2001. 1 CD-ROM.
ENCYCLOPEDIA.COM – search over 100 encyclopedias and dictionaries. Disponível
em: <http://www.encyclopedia.com/>. Acessado em: 24/032010.
FOUCAULT, Michel. Nietzsche, a genealogia e a história. In: _____. Microfísica do
poder. Tradução Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, pp. 15-37.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas.
Tradução Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 1995. (Coleção Ensino
Superior).
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Tradução de Edmundo Cordeiro. São
Paulo: Edições Loyola, 1996. 79 p.
FOUCAULT, Michel. Segurança, território e população: curso dado no Collège de
France (1977-78). Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008a.
(Coleção Tópicos).
FOUCAULT, Michel; BOURRIAUD, Nicolas (Ed.). Manet and the Object of Painting.
Direção geral de Nicolas Bourriaud. London: Tate Publishing, 2009.
GARCÍA-QUIRÓS, Ignacio E. Dibutades o el arte de dibujar. Arte, Individuo y
Sociedad, revista do Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de
Madrid, Madrid, n. 12, p. 241-271, 2000. Disponível em: <http://revistas.ucm.es/bba/
11315598/articulos/ARIS0000110241A.PDF>. Acessado em: 23 jan. 2010.
GROULIER, Jean-François. A teologia da imagem e a estrutura da pintura. In:
LICHTENSTEIN, Jacqueline. A pintura, textos essenciais: a teologia da imagem e o
estatuto da pintura. Tradução de Magnólia Costa. São Paulo: Editora 34, v. 2, 2004. p.
9-15.
Sessão temática Imagens - 454
LACUS CURTIUS. (Website). Disponível em: <http://penelope.uchicago.edu/Thayer/
L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/ home.html>. Acessado em: 17 jan. 2010.
LE GOFF, Jacques. As raízes medievais da Europa. Tradução Jaime A. Clasen.
Petrópolis: Vozes, 2007.
LEMOS, José Carlos F. Para uma história da designalidade. Porto Alegre:
PPGEDU/UFRGS, 2010. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/1>.
LESTER, Toby. O fantasma de Da Vinci: A história desconhecida do desenho mais
famoso do mundo. Tradução José Rubens Siqueira – São Paulo: Três Estrelas, 2014.
LICHTENSTEIN, Jacqueline. A pintura, textos essenciais: a teologia da imagem e o
estatuto da pintura. Tradução de Magnólia Costa. São Paulo: Editora 34, v. 2, 2004.
MAYHOFF, Karl F. T. Pliny the Elder: Naturalis Historia. Leipzig: Teubner, 37 v.
1906: Lacus curtius. Disponível em: <http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/
Texts/Pliny_the_Elder/ home.html>. Acessado em: 17 jan. 2010.
MEDEIROS, Lúcia. H. Um breve elogio à leitura. Porto Alegre: PPGEDU/UFRGS,
2005. Tese de Doutorado.
MENDONÇA, Antonio da S. Referência I, Seleção e tradução da Naturalis Historia de
Plinio, o Velho. Revista de História da Arte e Arqueologia. Campinas: Centro de
História da Arte e Arqueologia, Programa de Pós-Graduação do Departamento de
História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp, n. 2, 1995/1996, p. 317-
330. Disponível em: <http://www.unicamp.br/chaa/rhaa/english/revista02.htm>.
Acessado em: 22 dez 2009.
ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. Disponível em: <http://www.etymonline.
com/index.php>. Acessado em 12/12009.
PANOFSKY, Erwin. A perspectiva como forma Simbólica. Tradução Elisabete Nunes.
Lisboa: Edições 70 Ltda., 1999.
PARCELL, Stephen. Four historical definitions of architecture. Québec: McGill-
Queen's University Press, 2012.
TESORO DELLA LINGUA ITALIANA DELLE ORIGINI (Tlio). Dizionario storico
dell’italiano antico in rete. Firenze: Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Disponível em: <http://tlio.ovi.cnr.it/>. Acessado em: 01/02/2010.
Sessão temática Imagens - 455
THE AMERICAN HERITAGE DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE.
Boston: Houghton Mifflin Company, 2004. Disponível em: <http://
dictionary.reference.com/browse/designable>. Acessado em: 13/03/2010.
THE BRITISH MUSEUM. Disponível em: <http://www.britishmuseum.org/>.
Acessado em 21/02/2015.
TRIPLO V.com: INTRODUÇÃO À MAÇONARIA CARBONÁRIA; OS SAGRADOS
RITUAIS MAÇÔNICOS DAS FLORESTAS. Disponível em: <http://www.
triplov.com/carbonaria/introducao/index.htm>. Acessado em: 20/02/2010.
VALLVERDÚ, Francesc & BAÑERES, Jordi. Enciclopèdia de la Llengua Catalana.
Barcelona: Edicions 62, S.A. Vol. XII, 2002.
WEB GALLERY OF ART. (Website). Disponível em: <http://www.wga.hu/>.
Acessado em: 24/03/2010.