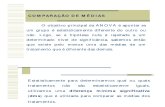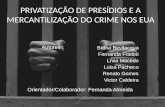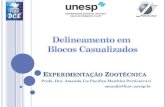MERCANTILIZAÇÃO DA INFÂNCIA Um problema de todos Isabella Henriques e Lais Fontenelle
O Cinema de Experimentação Em Florianópolis Nas Décadas de 1960 e 1970 - Contrapontos à...
-
Upload
luiz-carlos -
Category
Documents
-
view
224 -
download
1
description
Transcript of O Cinema de Experimentação Em Florianópolis Nas Décadas de 1960 e 1970 - Contrapontos à...

O cinema de experimentação em Florianópolis nas décadas de 1960 e 1970:
contrapontos à mercantilização da cultura local
Henrique Luiz Pereira Oliveira*
Entre os anos de 1968 e 1976 o cinema catarinense vivenciou um produtivo
momento de experimentação. Neste período foram realizados três filmes de curta-
metragem, as ficções Novelo (1968) e A Via Crucis (1972) e o documentário Olaria
(1976), todos filmados em 16 mm, preto e branco e produzidos em Florianópolis por
jovens amadores. Embora sejam essas produções os primeiros curtas-metragens1 que se
tem conhecimento em Santa Catarina, há no meio acadêmico e cinematográfico um
silêncio em torno deles, permanecendo pouco conhecidos até mesmo pelos estudiosos
do cinema estadual.
Os filmes Novelo e A Via Crucis foram rodados em Florianópolis e ambos são
ricos em cenas externas, utilizando diversos pontos da ilha e do continente como
locação. Mesmo mostrando praias, ruas e edificações conhecidas, não há nos filmes a
preocupação de exaltar a beleza da paisagem local ou de contribuir para a construção de
uma identidade para a cidade. Tanto Novelo como A Via Crucis contêm imagens da
cidade, e se tornaram um importante registro visual do passado. Mas nos filmes a
presença da cidade se dá apenas como cenário onde as tramas se desenrolam. O
documentário Olaria, por sua vez, foi rodado em São José (município vizinho de
Florianópolis), no bairro da Ponta de Baixo, local onde já existiram diversas olarias.
Neste filme, ao mostrar o trabalho do oleiro, a sua oficina e as peças de cerâmica, não se
trata de celebrar os traços típicos da tradição cultural local.
Cultura regional e mercado
Os pontos mais característicos da cidade e da paisagem, os aspectos que
reportam à cultura e à tradição açoriana têm comparecido de forma recorrente na
produção audiovisual, em película e em vídeo, a partir da década de 1990. Diversos
curtas-metragens privilegiaram o local, as particularidades da “nossa cultura” e os
* Professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutorado em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Coordenador do Laboratório de Pesquisa em Imagem e Som - LAPIS.1 Não estamos considerando nem os cinejornais nem os filmes de família, como os recém-descobertos filmes em 16mm de Edla von Wangenheim, realizados em Florianópolis nas décadas de 1930-40.

resquícios da tradição açoriana2, aspectos que se tornaram o próprio motivo da criação
audiovisual. Assim, por vezes o elemento regional ganhou status de personagem,
tornando-se fundamental à trama. É importante destacar que a constituição desta
tendência na produção audiovisual coincidiu com o incremento da indústria do turismo
e com uma série de políticas públicas visando transformar a cultura em atrativo
turístico. Assim, uma parte significativa da produção audiovisual realizada em
Florianópolis nas últimas décadas acabou muitas vezes por ratificar a agenda cultural
pautada pela mídia e pelo Estado, assumindo um caráter quase institucional. Isto porque
as agências de fomento vêm incitando a determinadas temáticas e abordagens, e,
sobretudo, porque se estabeleceu um acordo tácito sobre aquilo que é relevante para
história e para a cultura da região e sobre qual deve ser a função do audiovisual na sua
preservação e divulgação.3
As análises sobre os filmes Novelo, A Via Crucis e Olaria, sintetizadas no
presente artigo, foram realizadas como parte de um projeto de pesquisa que teve por
objetivo investigar o modo como a história e o patrimônio cultural de Florianópolis vêm
sendo apropriados para a construção de uma determinada percepção sobre o município,
delimitando parâmetros para pautar a sua gestão e projetar o seu futuro.4 Nas últimas
décadas, Florianópolis vem passando por uma acelerada transformação sócio-espacial
que tem sido, em grande parte, condicionada por uma forma particular de associação
entre empreendimentos turísticos e empreendimentos imobiliários. Esta junção de
interesses vem pautando as ações da iniciativa privada e definindo as políticas públicas
em relação à gestão do espaço da cidade e em relação aos seus habitantes.
As produções de Novelo, A Via Crucis e Olaria ocorreram em um período
intermediário entre a fase de “descoberta” da história e da cultura local, cujo marco foi a
2 Com relação à presença açoriana no litoral de Santa Catarina, e especificamente em Florianópolis, é preciso distinguir dois processos. Um primeiro foi o processo de transferência de um contingente populacional do arquipélago dos Açores entre os anos de 1748 a 1756. Um segundo momento foi o conjunto de motivações que levaram ao estudo da história da migração açoriana, cujo marco é Primeiro Congresso de História Catarinense, realizado em 1948. A partir deste marco é preciso considerar as diferentes formas de apropriação e de utilização da história e da cultura dos açorianos e de seus descendentes no litoral de Santa Catarina. Esta hipótese de trabalho norteou o projeto de pesquisa mencionado na nota 4.3 Ao mesmo tempo, atribuindo ao audiovisual a função de preservar e divulgar a história e a cultura de Santa Catarina, os produtores buscam legitimidade para reivindicar programas de financiamento por parte dos órgãos públicos.4 O projeto de pesquisa "Protótipo de uma série de vídeos: Produção cultural e transformações urbanas em Florianópolis na segunda metade do século XX", financiado pelo FUNPESQUISA, foi executado nos anos de 2004 e 2005, no Laboratório de Pesquisa em Imagem e Som – LAPIS – pertencente ao Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. O projeto envolveu alunos e professores do Curso de Graduação em História, mestrandos e pesquisadores sem vínculo institucional, e resultou na produção de diversos trabalhos de conclusão de curso.

realização do Congresso de História Catarinense em 1948, e a fase de apropriação da
história e da cultura pela mídia e pelos empreendimentos turísticos e imobiliários. Os
filmes foram realizados em um momento em que se acentuava a transformação e
descaracterização da cidade, consubstanciada na verticalização das edificações da parte
central, na derrubada do casario antigo e no afastamento do centro histórico em relação
ao mar, com a construção de um aterro para distribuir o fluxo de veículos em direção à
nova ponte.
A positivação do passado e a construção do “mito da origem açoriana”
Para explicitar a singularidade dos três curtas-metragens realizados em
Florianópolis entre 1968 e 1976 em relação a uma tendência da produção audiovisual
das décadas recentes, é necessário acompanhar, sumariamente, o modo como a cultura
local se tornou objeto de conhecimento no século passado. Da segunda metade do
século XIX até meados do século XX os agentes que se propunham a civilizar ou
modernizar a cidade de Desterro/Florianópolis recorriam ao conceito de cultura como
um valor universal, conceito que não pretendia dar conta dos particularismos locais.
Neste sentido o conceito de cultura não abarcava nem a valorização dos resquícios do
passado local nem as práticas populares, que na época eram associadas ao atraso.
Excluídas do espaço urbano pelas reformas sanitaristas da Primeira República, as
tradições viriam a se tornar objeto de interesse dos intelectuais apenas algumas décadas
mais tarde.
Uma reelaboração no conceito de cultura e nas formas de abordar as práticas da
população não integrada à modernização urbana ocorreu ao final da década de 1940,
com a realização do Primeiro Congresso Catarinense de História, comemorando o bi-
centenário de colonização açoriana em Santa Catarina. Além de atualizar as concepções
de história e de cultura no âmbito da produção regional, uma das conseqüências do
Congresso de História foi conferir historicidade e visibilidade aos setores da população
que ficavam a margem do processo de modernização urbana, sobretudo os pescadores
artesanais. Na medida em que lhes era atribuído um fundamento histórico, uma origem -
a transferência dos açorianos em meados do século XVIII - foi possível construir uma
percepção positiva da tradição.5 Como desdobramento, passou-se a repertoriar os
diversos elementos da existência material e subjetiva que guardavam traços dos modos 5 Sobre o tema ver FLORES, Maria Bernadete Ramos. “A autoridade do passado”, in: Teatros da vida, cenários da história: a farra do boi e outras festas da Ilha de Santa Catarina – leitura e interpretação . São Paulo, PUC, 1991. Tese de Doutorado em História.

de vida trazidos pelos colonizadores: artesanato, formas de convívio, crenças etc.
Décadas mais tarde (1980-90), o tema da “açorianidade” tornou-se um importante
produto cultural e passou a ser enfatizado pela mídia e pelas campanhas turísticas.
Paralelamente a realização do Primeiro Congresso de História Catarinense,
constituiu-se em Florianópolis o Círculo de Arte Moderna – CAM – com a proposta de
acompanhar as reflexões e inquietações contemporâneas no campo da filosofia, da
ciência e da cultura. Este movimento de renovação do referencial estético e filosófico
teve como principal veículo de propagação a Revista Sul, que alcançou trinta edições
entre os anos de 1948 a 1957. A revista foi também o elemento de articulação do
movimento, que ficou conhecido como Grupo Sul, o qual além da produção literária,
montou peças de teatro, organizou exposições de artes plásticas, criou um clube de
cinema e produziu um filme.6
Um ponto forte na intervenção do Círculo de Arte Moderna foi a insistência no
vínculo necessário entre a Arte e as transformações que ocorriam no mundo. A
produção literária do Grupo Sul, ao mesmo tempo em que impôs como exigência ao
homem moderno – e à arte – uma atenção “a maravilhosa complexidade e as reais
transformações da vida que o rodeia”7, expressou um desencanto com a existência,
sobretudo um desencanto com a ordem social. Simultaneamente, uma via de atualização
em relação ao presente e uma via de reflexão crítica sobre condição do homem
moderno, a intervenção do Grupo Sul implicava no combate ao provincianismo e à
estagnação do pensamento local, mas também expressava o desconforto próprio ao
homem integrado aos novos tempos. Diversos textos do Grupo Sul remetem à
experiência da angústia, ao desencanto ante a existência. Um desencanto que clama por
um mundo novo. Era necessário um sujeito de ação que recriasse o mundo, mas na
produção literária do Grupo Sul a ação quase nunca era concretizada, permanecendo em
uma dimensão inacessível.
Embora a discussão da tradição não tenha tido um peso relevante na Revista Sul,
o romance Rede, de Salim Miguel, publicado pelas Edições Sul em 1955, tematizou
uma face do confronto entre tradição e modernização. O romance descreve, em tons
realistas, as precárias condições de vida dos pescadores da comunidade de Ganchos, que
atualmente pertence ao município de Governador Celso Ramos. Ao mesmo tempo
desvela a lógica do capitalismo, cuja expansão passou a ameaçar a já frágil existência 6 SABINO, Lina Leal, Grupo Sul: modernismo em Santa Catarina, Florianópolis, Fundação Catarinense de Cultura, 1981.7 PIRES, Aníbal Nunes. Sul, Revista do Círculo de Arte Moderna. Ano I, nº 1, Florianópolis, jan. de 1948.

dos pescadores, com a chegada na região de grandes barcos pesqueiros provenientes de
Santos. Movidos a motor e dotados de equipamentos modernos, estes barcos
estabeleciam uma competição desigual com a pesca artesanal praticada na localidade.
Os pescadores viram-se pressionados pelo avanço tecnológico, que os ameaçava de
fora, e pelos patrões dos barcos que, no interior das relações de trabalho, se apropriavam
da maior parte do que era obtido na pesca. Há, portanto, em Rede, também uma crise,
um desencantamento com a ordem vigente. Sintomaticamente, ao contrário de grande
parte da produção literária do Grupo Sul, em Rede a crise desencadeia uma trajetória de
transformações. A crise gera uma consciência política entre os integrantes da
comunidade, consciência que implica na ultrapassagem dos interesses e das ações
individuais. Através da união, os pescadores descobriram que “pode existir uma outra
vida que não aquela só de miséria, uma vida de luta e decisão, mas uma vida de
esperança”.8 O inusitado é que este ser coletivo, capaz de ultrapassar a crise e se
constituir como força ativa frente àquilo que o ameaça, tenha sido justamente uma
comunidade de pescadores, que teve a coragem de destruir as redes dos grandes barcos
e de fazer uma greve contra os patrões. Poder-se-ia minimizar estes feitos, alegando que
Rede segue a vertente do chamado romance de 30.9 Ainda assim, é significativo que
Salim Miguel tenha escolhido a figura do pescador para atuar como agente
transformador, já que durante a primeira metade do século XX os habitantes do litoral
foram muitas vezes referenciados pelos intelectuais e jornalistas como “matutos”,
“caboclos” ou “amarelos do litoral”, em textos que ressaltavam a sua debilidade física e
os seus hábitos atrasados e incompatíveis com a civilização.10
Se em Rede os pescadores foram retratados como transformadores das condições
a que estavam sujeitos, bem diversa foi a percepção que Othon D’Eça11 construiu dos
mesmos em Homens e Algas. Iniciado em 1938 e só publicado em 1957, o livro Homens
e Algas retrata os pescadores como seres condenados à fatalidade, condição que decorre
do próprio modo como eles sentem e são afetados pela existência.12 O que está implícito
8 MIGUEL, Salim. Rede. Florianópolis, Edições Sul, 1955, p. 290.9 HOHLFELDT. “Entre a aparência e a realidade, a essência na fragmentação”. In: SOARES, Iaponan (org.). Salim Miguel: literatura e coerência. Florianópolis, Lunardelli, 1991, p. 10.10 ARAÚJO, Hermetes Reis de. A invenção do litoral: reformas urbanas e reajustamento social em Florianópolis na Primeira República. São Paulo: PUC, 1989. Dissertação de Mestrado em História.11 Escritor que pertencia à chamada “geração da academia”, cujas proposições estéticas foram contestadas pelos integrantes do Grupo Sul.12 Segundo o próprio D’Eça, seu livro não é uma ficção, mas é um retrato realista do viver dos pescadores e jornaleiros que ele presenciou nas praias de Coqueiros, Abraão, Bom Abrigo e Canasvieiras, quando estas ainda não eram praias de veraneio. D’EÇA, Othon. Homens e Algas, Florianópolis: FCC: Fundação Banco do Brasil : Editora da UFSC, 1992.

é que o pescador é diferente do tipo humano que habita os espaços urbanos
modernizados, pois este último governa sua conduta através de escolhas desvinculadas
dos velhos costumes, das superstições e do temor ao sagrado. Para compreender a
“indolência” que era atribuída ao homem do litoral e a sua resistência à modernização,
D’Eça procurou conhecer “sua alma”, ou seja, a constituição subjetiva dos pescadores,
explicando-os como sujeitos resignados ante a fatalidade da existência e, portanto,
dotados de uma percepção trágica.13
O conflito entre a experiência moderna e a tradição também foi objeto de
atenção no filme de longa-metragem O Preço da Ilusão. Inspirado na estética neo-
realista e engajado na proposta de “criação de um estilo cinematográfico de conteúdo e
formas nacionais”, O Preço da Ilusão foi realizado entre 1957 e 58 por iniciativa dos
integrantes do Grupo Sul.14 De um lado da trama há um menino pobre vinculado ao
modo de vida tradicional. É Maninho, engraxate, filho de uma rendeira e de um pai que
lida com brigas de canário. Sua família reside em Coqueiros, localidade
tradicionalmente habitada por pescadores e jornaleiros, que no decorrer dos anos 50
passou a ser freqüentada por veranistas e transformada com a construção de casas de
praia. O menino tem como sonho montar um boi-de-mamão. A outra face da trama trata
de uma moça que quer ampliar seu acesso ao mundo moderno. É Maria da Graça, que
apesar da oposição do seu namorado, aceita participar de um concurso para escolher a
“Rainha do Verão” e sai vitoriosa. Após vencer o concurso ela acabou cedendo ao
desejo sexual do seu patrocinador, Dr. Castro, que influenciou a escolha do júri do
concurso de beleza através da compra de votos. A partir daí a moça entra em crise.
Ouve repetidas vezes a voz do Dr. Castro enfatizando: “Seu mundo agora é outro”. Nas
cenas finais, no carro, Maria das Graças chorando é interpelada por Dr. Castro: “Mas
que história é essa de medo do futuro?”. Não há retorno, mas o novo é incerto.
Em outro plano, Maninho pega o dinheiro que arrecadara para montar o boi de
mamão e sai na noite, em direção a ponte Hercílio Luz, para comprar remédio para a
mãe doente. Nesse momento as duas histórias se entrecruzam na ponte. A moça e Dr.
Castro discutem, enquanto atravessam a ponte Hercílio Luz de carro em alta velocidade.
13 É verdade que este intento de compreensão da subjetividade do pescador serviu também para legitimar a intervenção do Estado, sua tutela sobre este segmento populacional.
14 O Argumento foi criado pelos escritores catarinenses, Salim Miguel e Egle Malheiros, que juntamente com E. M. Santos produziram o roteiro. Armando Carreirão (também membro do Grupo Sul) ficou responsável pela produção. Para mais informações sobre o filme ver DEPIZZOLATTI, Norberto Verani (org), O cinema em Santa Catarina, Florianópolis, Editora da UFSC, 1987 e SABINO, op. cit.

O carro perde o rumo e cai da ponte. O único a ver esta queda foi Maninho, cujo
dinheiro, levado pelo vento, também caiu da ponte.
O conflito narrado no filme contrapõe a sedução do sucesso moderno - e às
rupturas que isto implica - ao apego à tradição. Os valores e as práticas do mundo
tradicional estão em crise, mas quem procurou forçar uma passagem para a
modernidade caiu da ponte - ironicamente, os meios para manter a tradição ou para
salvar os antepassados (a mãe doente) também caíram (o dinheiro). A divulgação do
filme foi patrocinada pela empresa de Transportes Aéreos Catarinenses (TAC), cujos
publicitários enfatizavam: “o turismo é caminho natural sobre o qual se baseará o
progresso da cidade”15. O filme privilegiou planos e cenas que mostrassem “costumes,
usos, tipos pitorescos, bares, cafés, ruas, praças, praias. As cenas mais significativas
desenvolvem-se à sombra da ponte Hercílio Luz, compondo um ambiente
característico.”16 A realização de O Preço da Ilusão foi marcada por uma ambigüidade:
de um lado o sentido de reflexão crítica sobre a mercantilização das relações (todo o
esquema que envolve o concurso de beleza) e de outro os compromissos estabelecidos
para obter apoio financeiro para a produção do filme. A própria divulgação do filme na
imprensa local associava o empreendimento à divulgação da cidade:
“Muita gente ouviu falar na cidade menina-moça, porém não a conhece. Canasvieiras, Praia das Saudades, Ponte Hercílio Luz, a casa de Vítor Meirelles, as famosas rendeiras que enfeitam suas praças, a simpatia esplendida pelo homem de suas ruas, o pitoresco de suas praias, o sotaque característico e todo 'enchanteur' dos barriga-verdes, a pele tanada dos brotinhos da Lagoa da Conceição; tudo isso será o motivo principal para uma bela cinta em nosso Brasil. E, pensando assim, que o Clube de Cinema de Florianópolis e outros elementos artísticos da tranqüila cidade catarinense, conceberam a idéia para a feitura de uma película em longa metragem que dignificasse e engrandecesse o cenário artístico de nossa terra”.17
Novelo, A Via Crucis e Olaria: sem presente e sem saudade
Os filmes de curta-metragem Novelo, A Via Crucis e Olaria são expressões da
dissidência cultural na cidade de Florianópolis nos anos 60 e 70.18 Embora
15 O Estado. Florianópolis, 01/11/1955, n°. 12.314, ano XLII, p. 4. Apud LOHN, Reinaldo. Pontes para o Futuro: relações de poder e cultura urbana em Florianópolis, 1950 –1970 . Porto Alegre: UFRGS, 2002. Tese de doutorado em História, p. 266.16 SABINO, Lina Leal, op. cit., p. 61.17 Jornal Diário Comércio e Indústria – Florianópolis – 25/05/1957. Apud TOBAL Jr, Henrique. Cinema catarinense, identidades e políticas culturais: o regionalismo selecionado da produção cinematográfica local. Florianópolis, UFSC. Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em História, 2005, p. 51.18 Uma pesquisa sobre os filmes, cotejada com o contexto da época e com os depoimentos dos realizadores, foi empreendida por PEREIRA, Sissi Valente. Novelo, A Via Crucis e Olaria: experiências cinematográficas na Florianópolis das décadas de 1960 e 1970. Florianópolis, UFSC. Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em História, 2007.

compartilhassem de algumas premissas divulgadas pelo Círculo de Arte Moderna,
correspondem a novas formas de radicalização da crítica às relações capitalistas de
produção e aos rumos da civilização ocidental. Os filmes tangem o problema da
individuação19 na sociedade capitalista e nos propõem uma questão: se a constituição
dos indivíduos se dá necessariamente em relação a um meio, o que acontece quando
uma individuação ocorre em defasagem com as relações que regem o meio? Uma
trajetória de individuação pode ser um processo de integração harmoniosa em um dado
campo relacional. Mas os filmes não tratam de experiências harmoniosas. Tratam de
experiências de descompasso, de disjunção ou da inserção brutal. As experiências de
dilaceração ganham o primeiro plano quando se passa a conceber que os processos de
individuação nas sociedades capitalistas não são caracterizados pela afirmação da
liberdade mas sim pela construção de modelos em série que enquadram e padronizam os
indivíduos, subjugando-os aos padrões pré-estabelecidos. Ocorre um profundo mal estar
quando se conclui que na sociedade industrial a individuação tornou-se uma fabricação
em série de corpos e de mentes programadas.
O filme Novelo propõe a trajetória de um indivíduo que se desinstala do campo
social. A experiência de descompasso entre o indivíduo e o meio leva a um radical e
voluntário desmanche de si. Os planos iniciais mostram o pré-formado ou o que está em
formação: espermatozóides, feto humano. São alusões à gênese de uma individuação.
Há uma elipse e aparece um personagem (uma individualidade já constituída) lendo.
Uma frase que está assinalada no livro20 - “os valores não são, eles valem” - desencadeia
a desorganização do campo semiótico e o personagem entra em uma crise existencial,
usando uma linguagem própria à época. Alguns elementos que suportam os valores
começam a desmoronar: os livros caem, a imagem da igreja deriva. O personagem
segue por um corredor (fluxo direcionado) e é interceptado pela visão de uma gilete
(corte do fluxo). A imagem da gilete materializa o plano subjetivo no quadro da tela e
interrompe a possibilidade do indivíduo seguir linearmente as rotas pré-estabelecidas.
Depois deste encontro insólito com a lâmina de barbear, ocorre um afastamento da ação.
O personagem “recua” para o seu quarto. Deitado e introspectivo, ele se recusa a agir e
acessa uma memória de gênese: a imagem de uma criatura sendo extraída do lodo. O
início de uma formação. Seu nascimento? No plano seguinte, da janela, ele contempla o 19 Utilizamos o conceito de individuação para marcar o aspecto processual da constituição de uma individualidade. Neste sentido ver GUATTARI, Félix. “Da produção de subjetividade”, in PARENTE, André (org). Imagem máquina: a era da tecnologia do virtual. São Paulo, Editora 34, 1993. p. 177-191; e DELEUZE, Gilles e PARNET, Claire. “Políticas” in: Diálogos, São Paulo, Escuta, 1998, p. 145-170.20 Trata-se da Introdução à metafísica, de Martin Heidegger.

exterior. Subitamente tem um impulso de ação, de saída da letargia. De carro, atravessa
uma ponte congestionada21, deslocando-se até o centro da cidade (Florianópolis).
O centro da cidade é mostrado através de planos fechados, destacando corpos
que se deslocam solitários. Os automóveis interceptam a visibilidade dos corpos. As
pessoas não se relacionam, são existências fragmentadas. O personagem encontra um
conhecido que parece tentar persuadi-lo a aceitar as coisas como são, a se enquadrar. A
conversa intensifica a crise e ele cospe sinalizando sua recusa à proposta do outro (a
adaptação ao “sistema”). Busca uma rota de fuga e segue em direção à praia da
Armação. Já na praia, joga fora a chave do carro e caminha. Nos planos finais aparece
encolhido, nu, recostado em uma pedra junto ao mar. Nu, em posição fetal, misturado
com o mineral - a água e a pedra – regressa ao pré-humano. A possibilidade de
reinventar a existência implica em voltar a um estado anterior à cultura e à civilização.
Implica até mesmo em preceder a humanização e, talvez, em atingir uma condição
anterior à forma viva - o pré-orgânico.
O que está em jogo em Novelo não é apenas mostrar a aparição de uma crise no
processo de individuação. Trata-se de mostrar como um indivíduo se impôs um
exercício de ascese para despotencializar o regime semiótico dominante. Para
ultrapassar os modelos vigentes de individuação em série, o personagem traçou uma
rota de lavação das somatizações culturais (catarse). Impôs a si mesmo o devir de uma
condição pré-humana para assim realizar uma trajetória radical de descivilização.
A utopia da ação coletiva, indicada em Rede, de Salim Miguel, se ainda é
possível em Novelo, é sob a condição de invenção de novas rotas de individuação, que
liberem os condicionamentos da civilização. Um novelo não é igual a uma rede. A rede
é articulada e pode ser vista nas diversas linhas de extensão, revelando as relações entre
as partes. É este o sentido da expressão “rede social”. O novelo se enrola e se desenrola,
só é conhecido no movimento centrípeto ou centrífugo: o enrolamento a partir de um
centro ou o desenrolamento a partir da ponta externa do fio. A rede permita a visão
sinóptica de um real que se espraia ante os olhos para que se possa desvendá-lo. Na
perspectiva do novelo o desvelamento exige um mergulho para atravessar da ponta
externa do fio até a sua ponta interna. Um caminho até a gênese, até o estado fetal. Um
caminho que só se dá por aprofundamento. O indivíduo deve fazer o movimento reverso
ao seu “enrolamento”. Trata-se de uma des-individuação, de um desenrolamento.
21 O engarrafamento deve-se às obras de asfaltamento da ponte Hercílio Luz. Há um consenso entre os participantes do filme quanto à intenção documental dos planos que mostram a ponte engarrafada.

É possível encontrar no filme Novelo uma sintonia com formas de pensamento
que não supõem nem um sujeito nem uma realidade objetiva como dados a priori.
Percorrer um novelo não é esticar um fio, mas atravessá-lo em suas voltas; neste
percurso, as redes sociais só existiriam porque as individuações as atravessam. As redes
não seriam pré-existentes, seriam coexistentes. Se há um plano objetivo que afeta a
subjetivação, que a condiciona, seria sempre segundo um percurso singular que este
plano ganharia consistência para cada sujeito. É neste sentido que a utopia de Rede
encontraria limites. A possibilidade de um plano de realidade ser compartilhado por um
conjunto de sujeitos se tornaria mais problemática, justamente porque já não haveria
uma “rede” para estender, só haveria um fio de novelo para ser perseguido. Assim, não
se trataria de uma recusa da ação coletiva, se trataria de uma prospecção das formações
singulares. Mais do que descrever redes pré-existentes, Novelo trataria de acompanhar
uma des-individuação e os arranjos que ela decompõe.
A concepção e o resultado final do filme Novelo reuniu, de forma às vezes
contraditória e conflituosa, a personalidade, a formação, as experiências e habilidades
de cada um dos integrantes da produção.22 Ady Vieira Filho, estudante de contabilidade,
militante estudantil, destacava-se por sua habilidade de administrar e articular. Pedro
Bertolino, que na época já estudava o existencialismo de Jean-Paul Sartre e se
interessava pela teoria da informação, publicava críticas literárias em revistas e jornais,
e participou do movimento poema concreto em São Paulo e do movimento de poema
processo do Rio de Janeiro. Pedro Paulo Souza, estudante de administração, cinéfilo,
participava ativamente dos debates sobre música e cinema da Sociedade Oratória
Estreitense - SOE. Fernando José da Silva estudava administração e era interessado
pelas artes. Gilberto Gerlach estudava engenharia e implantou, no mesmo ano da
realização do Novelo, o Cineclube da Engenharia - que a partir de 1972 passou a ser
denominado Cineclube Nossa Senhora do Desterro.23 De todo o grupo, Orivaldo dos
Santos, intelectual autodidata, era o que tinha mais conhecimento sobre cinema e,
inclusive, inicialmente ficou responsável pela direção do filme.
22 Entre os anos de 2003 e 2005 o grupo de pesquisa que se reunia no LAPIS (ver nota 4) entrevistou cinco integrantes do grupo que realizou Novelo, só não foi entrevistado o ator Fernando José da Silva. Há muitas divergências entre os depoimentos, ainda assim eles são a principal fonte para recuperar detalhes do processo de concepção e de realização do filme.23 O cineclube utilizava um projetor de 16 mm proveniente de um lote de equipamentos recebidos pela Universidade Federal de Santa Catarina da Alemanha Oriental. GERLACH, Gilberto. “O curta metragem em Santa Catarina”. In Ô Catarina!, Florianópolis, jul/ago, 1998, nº 30, p. 6.

A realização do Novelo foi motivada por uma notícia publicada no Jornal do
Brasil, informando sobre a inscrição de filmes para o IV Festival Brasileiro de Cinema
Amador de 1968, no Rio de Janeiro, que era patrocinado pelo Jornal do Brasil e pela
rede de lojas Mesbla. Orivaldo dos Santos, que leu a notícia, procurou Ady Viera
propondo que reunissem alguns companheiros da Sociedade Oratória Estreitense para
produzir um filme. O equipamento para filmagem, uma câmera Payllard Bolex 16mm,
foi obtida junto a Universidade Federal de Santa Catarina, que havia recebido diversas
câmeras e projetores da Alemanha Oriental. Ady Viera ficou responsável pela
coordenação do grupo, pela produção e obtenção dos recursos financeiros e também
atuou em uma cena. Para inscrever Novelo no festival, Ady criou o Grupo Universitário
de Cinema Amador – GUCA. O argumento do filme foi escrito por Pedro Bertolino; o
roteiro foi elaborado por Pedro Paulo Souza e Orivaldo dos Santos. O filme foi
protagonizado por Fernando José da Silva. Gilberto Gerlach ficou responsável pela
operação da câmera. A montagem final foi realizada por Pedro Paulo Souza, que
também selecionou a trilha sonora. Pedro Paulo e Gilberto dirigiram as filmagens. O
filme ganhou uma Menção Honrosa no IV Festival Brasileiro de Cinema Amador de
1968 e a quantia de 500 cruzeiros novos.24 Comentários simpáticos ao filme foram
publicados em artigos dos críticos de cinema Alex Viany e Maurício Gomes Leite.
Fazendo um balanço dos filmes apresentados no IV Festival JB/Mesbla, Alex
Viany observou que os participantes não pareciam mais interessados no preciosismo
formal nem na mensagem direta, “interessa-lhes acima de tudo relacionar seus temas e
personagens com os grandes problemas do mundo moderno”:
“A solidão das grandes cidades, a falta de comunicação entre os seres humanos, o crescente abismo entre as gerações e a permanência de velhos mitos e tabus tanto podem levar ao manequim de A Morte Branca, quanto ao homossexualismo de Um Clássico Dois em Casa Nenhum Jogo Fora, ao isolamento total de A Jaula, ou à volta à posição fetal de Novelo.”25
De diferentes maneiras, cada um dos participantes foi envolvido pela discussão
cinematográfica que passou a ter crescente importância em Florianópolis no decorrer da
década de 1960. Um primeiro marco, depois da experiência do Preço da Ilusão no fim
da década anterior, foi a realização da 1ª Semana do Cinema Novo Brasileiro, ocorrida
na cidade de 1º a 7 de setembro de 1962, evento que, segundo Paulo Emílio Salles
24 O júri foi composto por José Medeiros, Leon Hirszman, Walter Lima Junior, Marcos Farias, Alex Viany, Tati de Morais. “‘Um clássico, dois em casa’ ganha o primeiro prêmio do Festival do Cinema Amador”, Jornal do Brasil, 09/11/1968, 1º caderno, p. 9.25 VIANY, Alex. “Uma sociedade em negativo”, Jornal do Brasil, 16 de novembro de 1968.

Gomes, teve a importância de estruturar uma comunidade em “torno da causa do cinema
nacional”.26 Na Sociedade Oratória Estreitense (SOE), criada em 1961, o cinema, a
música, a literatura e a filosofia estavam entre os diversos temas debatidos. Pedro
Bertolino, Pedro Paulo de Souza, Ady Vieira, Fernando José da Silva e Orivaldo dos
Santos participaram ativamente desta sociedade. Valmor Cardoso de Oliveira, que
integrara o Grupo Sul, foi uma das pessoas que fomentou/ a discussão sobre cinema na
SOE. Em 1966, Benito Batistotti criou o Cineclube Ilha. Nesta década, Darci Costa
escrevia críticas cinematográficas em jornais locais, promovia exibição de filmes,
debates e cursos sobre cinema. Além do Cineclube da Engenharia havia também o
Cineclube da FAFI (Faculdade de Filosofia). O expressionismo alemão, o cinema russo,
o cinema surrealista (particularmente Luis Buñuel), o cinema impressionista e realista
francês, o Neo-Realismo italiano, o cinema japonês de Yasujiro Ozu, o Cinema Novo
brasileiro e a Nouvelle Vague francesa foram as principais referências cinematográficas
mencionadas pelos realizadores de Novelo.
A visualidade do filme foi também decorrência das conexões que os integrantes
de Novelo estabeleciam com as artes plásticas. As imagens que aparecem no início do
filme foram criadas pelo artista plástico Hiedy de Assis Corrêa, o Hassis, que no final
da década de 50 participou da formação do Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis
(GAPF), movimento que difundiu as proposições modernistas na arte local. Gilberto
Gerlach freqüentava a casa do pintor Martinho de Haro, convivência que lhe propiciou
uma proximidade com as artes plásticas e com o meio cultural. Ady Vieira também se
relacionava com os artistas plásticos e no ano seguinte à realização de Novelo, em 1969,
criou uma galeria para comercialização da obra dos artistas locais, o Mini-Mercado das
Artes. Gerlach como fotógrafo e Ady como produtor e ator, participaram em 1969 do
filme No Elevador, dirigido pelo artista plástico Rodrigo de Haro.27 Bertolino dialogava
com o tapeceiro Pedro Paulo Vecchietti e com o artista plástico Jayro Schmidt, tendo
proposto a Jayro e a João Otávio Neves Filho (Janga) o desafio de realizar telas
concretistas. Jayro Schmidt, Janga e Max Moura, que expunham no Mini Mercado da
Arte, criaram o Grupo Nossa’Arte no ano de 1969, com a intenção de levar a arte aos
morros e escolas públicas, ultrapassando os espaço de exibição institucionalizados.28
26 Ver GOULART, Ricardo Fernando. “Cinema, modernidade e cultura”, in: O Catarina!, ano XIV, nº 63, 2005, p. 10-11. 27 O filme, com 90 segundos, atendia as novas regras do Festival Brasileiro de Cinema Amador JB-Mesbla.28 BORTOLIN, Nanci Therezinha. Indicador catarinense de artes plásticas. 2ª ed. Itajaí : Ed. UNIVALI; Florianópolis : Ed. UFSC, FCC, 2001, p. 391-2

Além de No Elevador, mais dois filmes de curtíssima duração foram produzidos
em 1969 com as câmeras da UFSC e com a participação de alguns dos integrantes da
produção de Novelo, visando a participação no V Festival Brasileiro de Cinema
Amador, que naquele ano estipulou a duração máxima dos filmes em 90 segundos. A
vida é curta e... , com 60 segundos, foi dirigido por Pedro Paulo Souza, produzido por
Ady Vieira, fotografado por Nelson dos Santos Machado, com argumento de Pedro
Bertolino, e interpretado por Fernando da Silva e Alba Silva. Nau fantasma, com
duração de 90 segundos, foi concebido, dirigido e fotografado por Gilberto Gerlach,
sendo interpretado por Martim Afonso de Haro.
Novelo é um filme hermético, carregado de símbolos. Os planos utilizados não
são ingênuos, revelam um cuidado na escolha dos enquadramentos, no posicionamento
dos atores. A montagem final valorizou a junção dos elementos simbólicos e a
construção interna de cada um dos planos. A trilha sonora é forte. No filme não há
diálogos audíveis. Segundo Pedro Bertolino, na concepção do argumento ele estava
“interessado exatamente em mostrar como era possível passar uma história sem
palavras, só com imagens, por isso que o filme Novelo não tem diálogos”.29 Embora não
haja concordância dos demais participantes do filme em relação à motivação para a
ausência de falas, há sem dúvida já no argumento (que é bastante literário) uma
proposta de estrutura que aponta para a viabilidade de uma narrativa sustentada apenas
com imagens, sem o uso de diálogos, proposição que se manteve na filmagem dos
planos e na montagem final.
Se em Homens e Algas, Othon D’Eça descreveu a condição trágica dos
pescadores, a constituição dos indivíduos nas sociedades pré-modernas, Novelo discutiu
a tragédia das formas de individuação modernas. A questão não é mais, em Novelo, a
fragilidade da vontade frente ao meio, mas a condição de um sujeito que, frente ao meio
que o cerceia, opera um trabalho de reinvenção de si. É como se o personagem tivesse
consciência dos vínculos entre poder e somatização e por isto escolheu zerar em si as
marcas da civilização.
Mas as rotas de fuga são continuamente recapturadas. Até a crucificação, até a
imobilização nas coordenadas de horizontalidade espacial e de verticalidade temporal.
A recaptura das linhas de fuga é a trajetória de A Via Crucis, que descreve os
dispositivos que operam a modelização das individuações. A Via Crucis percorre as 29 Entrevista com Pedro Bertolino, realizada por Bárbara Vitória Zacher, Sissi Valente Pereira e Fernando Boppré, em agosto de 2003. Segundo outros participantes na realização do filme, a ausência de diálogos se deveu à limitações técnicas.

estações dos enrolamentos seriados das individuações. Seis estações da Via Crucis são
listadas no cartão que aparece no início do filme: condenação, caminho da cruz, queda,
encontro, flagelação e morte.
Os planos iniciais de A Via Crucis mostram a borda da cidade, seu limite com o
mar, para depois entrar no núcleo urbano, com enquadramentos fechados, semelhantes
aos de Novelo, onde vultos passam apressados. Esta passagem da borda para o núcleo
precede a aparição de um personagem, cuja cabeça com longos cabelos está cercada por
dedos que a apontam. É a primeira estação, a condenação. Quatro planos se sucedem:
um filhote de ave, franzino; uma cobaia dentro de uma gaiola; crianças em um
parquinho vistas através de grades; uma seqüência de fisionomias “engaioladas” dentro
de um ônibus, visíveis através das pequenas molduras das janelas. Após este
enfileiramento de seres enquadrados, ocorre uma sucessão de corpos realizando
trabalhos braçais.
De pé, em um escritório, um indivíduo recebe uma negativa de alguém sentado
em uma mesa. Na saída do escritório ele entrega um papel para uma jovem e corre em
direção a uma grande porta que se fecha. A moça também corre, tentando abrir diversas
portas. O caminho da cruz parece ser o esforço de inserção de uma singularidade no
campo social. Um esforço que não encontra abertura. O corpo cai. A moça aparece
agachada em planos que se distanciam até ela se tornar uma pequena massa no canto da
tela cinza (vazia). Um carro se aproxima e uma porta se abre. A porta que se abre será a
porta desejada ou será a via de inclusão recusada?
A seqüência seguinte se passa em uma madeireira, com operários trabalhando.
Um operário vai ao encontro de duas mulheres e se ajoelha ante elas, secando a face no
vestido de uma delas. Outra seqüência de encontro: dois jovens no mar brincam e se dão
as mãos. A única cena de prazer e liberdade no filme. Logo o casal de jovens é cercado.
Começa a flagelação. Os cabelos do rapaz são cortados, sua camisa é rasgada, uma unha
é extraída. As expressões de dor do corpo torturado ocupam a tela, sendo intercaladas,
em contra-plano, por imagens de chaminé, de automóveis, de mãos buzinando, de
fisionomias que observam (uma ri), de uma sirene. Por fim o corpo aparece estendido
no asfalto, na posição de crucificado. Nos planos finais a cidade reaparece.
A Via Crucis é um filme ainda mais hermético e fragmentado do que Novelo, o
que em parte se deve ao fato de ter sido produzido em 1972, período em que a repressão
política da ditadura militar no Brasil chegou ao auge, amparada pela implantação do Ato
Institucional nº5, em dezembro de 1968. Paralelo à supressão das liberdades individuais

e à institucionalização da violência, promovia-se a euforia e o ufanismo associados ao
“milagre econômico”. O recurso ao simbolismo, à metáfora, tornou-se uma necessidade
para burlar a censura e ao mesmo tempo uma via de experimentação artística.
A Via Crucis tem dez minutos de duração e não inclui a ficha técnica. Foi
roteirizado, dirigido, fotografado e editado por Nelson dos Santos Machado e Deborah
Cardoso Duarte.30 O argumento inicial, bastante transformado posteriormente, foi escrito
por Pedro Bertolino. No elenco participaram José Henrique Moreira, Álvaro Reinaldo
de Souza, Ester Brattig, Marcus Brattig, Olinda Machado, Vera Collaço, Nei Gonçalves
e Yara Koneski Abreu. Nelson Machado havia feito o registro fotográfico e
acompanhado o processo de realização do Novelo, filme do qual inicialmente seria o
cinegrafista. Nelson, na época estudante de sociologia, desde a adolescência gostava de
desenhar e estudou pintura com Silvio Pléticos.31 Mais tarde misturou desenho artístico
com desenho técnico e trabalhou no setor de produção gráfica de uma empresa.
Promoveu mostras de cinema na Universidade Federal de Santa Catarina, para as quais
produzia os cartazes. Deborah Cardoso Duarte cursava medicina e realizava estudos
autodidatas sobre música, literatura e dança. Além das demais atribuições
compartilhadas com Nelson, ficou particularmente responsável pela coordenação da
produção e pela trilha sonora. A sonoplastia é fundamental na composição de A Via
Crucis:
A sonoplastia de A Via Crucis é um elemento determinante da linguagem. Além de já ser totalmente anti-linear, ela ainda foi manipulada de acordo com a velocidade das cenas, sendo atrasada juntamente com as imagens em câmera-lenta, ou cortada juntamente com os cortes dos planos, produzindo efeitos inusitados, quase sempre compostos por ruídos disformes. O efeito dos ruídos, dos sons disformes, entrecortados, contribuiu definitivamente para compor o clima sombrio e perturbador que envolve o filme.32
Nos filmes Novelo e A Via Crucis ocorrem dois processos inversos. Novelo, que
foi realizado primeiro, mostra o processo em que um ser desata os nós da costura social
que modelou a sua individualidade. O indivíduo nu, junto à pedra e ao mar realizou a
terapia última. Depois de se desvencilhar dos regimes sócio-técnicos de modelização,
lavou as marcas corporais (marcas psicossomáticas), o saldo afetivo da cultura. A pedra
(o inorgânico) é o bálsamo que completa o desenrolamento. Em A Via Crucis ocorre a
primeira parte do processo: o modo como o social (o poder) opera para modelar as
30 Foram realizadas duas entrevistas com Nelson dos Santos Machado sobre os filmes A Via Crucis e Olaria. Nenhum outro participante na produção destes dois filmes foi entrevistado.31 Silvio Pléticos, nascido na Itália, fixou residência em Florianópolis em 1967, onde teve papel importante na renovação do ensino de artes plásticas.32 PEREIRA, S. V., op. cit. p. 45

individuações. Trata-se de um processo de inclusão social que se realiza pela negação
da singularidade. A posição de crucificado pode ser a metáfora da imobilização de uma
singularidade fixada nas coordenadas x/y de uma determinada ordem social. É o
“enrolamento do novelo”, a captura de uma individuação. Se recorremos à figura do
“novelo” (enrolamento e desenrolamento) para refletir sobre os dois filmes, é no sentido
de demarcar, a partir do final da década de 1960, a emergência de uma nova percepção
sobre o campo social e sobre os processos de constituição dos indivíduos.
O terceiro filme, Olaria, um documentário com dez minutos de duração,
realizado em 1976, opera um deslocamento espacial. Não trata do espaço urbano, nem
da Ilha de Santa Catarina. Olaria aborda a manufatura de objetos de cerâmica no
município de São José, uma atividade que estava em extinção devido ao avanço da
produção industrial. A narrativa visual mostra o processo de produção de artefatos de
argila, descrevendo a realidade objetiva das etapas de trabalho, desde a chegada do
barro até o objeto pronto. O plano sonoro faz um outro percurso. Através do
depoimento de dois oleiros (pai e filho), o filme dá voz à experiência subjetiva, à
singularidade do sujeito que fala. Embora o plano visual demonstre o processo de
trabalho naquilo que ele tem de genérico, o plano do áudio não é expressão de um oleiro
genérico. A obsolescência dos artefatos de cerâmica, que são substituídos por utensílios
produzidos pela indústria com novos materiais, é narrada pelos oleiros a partir da
experiência e da trajetória particular de cada um.
Olaria foi dirigido, fotografado e montado por Deborah Cardoso Duarte e
Nelson dos Santos Machado. A elaboração do roteiro contou também com a
participação de José Henrique Moreira e Iracema Moreira. Não há no filme a inclusão
da ficha técnica. Olaria foi exibido na V Jornada Brasileira de Curtas-metragens, em
1976, realizada em Salvador, patrocinada pela Universidade Federal da Bahia e pelo
Instituto Goethe de Salvador. Neste evento recebeu o Prêmio Cinemateca do Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAN.
A abordagem de Olaria expressa uma atenção aos efeitos acarretados pela nova
fase de inserção do Brasil no quadro do capitalismo internacional, afetando de modo
cada vez mais ostensivo o cotidiano dos habitantes de uma cidade que até então se
mantivera relativamente periférica às grandes transformações vivenciadas nos centros
urbano-industriais. Atesta também uma aproximação a reflexões sobre a dinâmica
própria às sociedades tradicionais e sobre o impacto acarretado a estas sociedades pela

expansão das relações capitalistas de produção. Para além destes aspectos, Nelson
Machado apontou uma motivação estética para a realização de Olaria:
Inicialmente, o ponto de partida era uma questão plástica, era um belo que estava sendo corrompido, fragmentado, diluído... na verdade era um vaso que estava se quebrando, pra usar a expressão da própria cerâmica... a gente ficou apavorada, meu Deus, vai sumir esse negócio! 33
Em um estudo sobre Novelo, A Via Crucis e Olaria, Sissi Valente Pereira
apontou diversas características formais que, em maior ou menor grau, estão presentes
nos filmes.34 Observou a predominância de planos fechados, que dificultam a
contextualização dos objetos e dos personagens, que aparecem quase sempre “cortados”
pelos limites da tela. Outra característica é a transição brusca de um plano ao outro,
causando uma sensação de rigidez na montagem e ao mesmo tempo favorecendo a
criação de uma multiplicidade de sentidos resultante da associação de planos que não
estão obviamente relacionados. A utilização de uma narrativa não-linear favorece a
produção de significados em cada cena isolada ou nas junções parciais; ao mesmo
tempo deixa fluida a relação das partes com o todo da montagem. As cenas gravadas em
contra-luz, de modo particular utilizadas em A Via Crucis, dificultando a observação da
fisionomia dos personagens, sugerem um apagamento da individualidade. Há um
cuidado grande com a escolha dos enquadramentos, com a construção de planos
esteticamente consistentes e semanticamente significativos. Com freqüência os planos
são preenchidos com elementos cuja relação com a narrativa não é óbvia e com uma
função simbólica algumas vezes obscura.35
O passado agrega valor ao presente
Estes três filmes, realizados entre os anos de 1968 e 1976, demarcam um
momento particular na produção artístico-cultural florianopolitana e são permeados por
referências filosóficas e ideológicas provenientes de Maio de 68, da contracultura, do
marxismo e dos diversos movimentos revolucionários na América Latina. Há nos filmes
uma leitura crítica da nova fase de inserção do Brasil no quadro das relações capitalistas
e um posicionamento frente à ditadura militar implantada no país em 1964.
33 Entrevista com Nelson dos Santos Machado, realizada por Sissi Valente e Gláucia Costa, em 05 de maio de 2005.34 PEREIRA, S. V., op. cit. p. 32-51.35 Para as análises desenvolvidas na pesquisa de Sissi Valente Pereira, realizada sob minha orientação, foram fundamentais os seguintes autores: XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência, Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1977 e BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo, Companhia das Letras: São Paulo, 2003

Vimos que desde as décadas de 1940 e 1950 os particularismos locais, com seus
componentes arcaicos, ganharam um novo estatuto, sob o invólucro de “tradição”. Estas
práticas culturais, revestidas de historicidade (a colonização açoriana) e legitimadas na
sua diferença em relação à modernização (são remanescentes de uma outra época
histórica), passaram a ganhar um valor positivo como “tradição”. No entanto, se as
antigas práticas culturais gradualmente deixavam de ser percebidas de modo
depreciativo, permaneciam ocupando áreas na fronteira dos espaços urbanos
modernizados. A resignificação do “antigo” não garantia um estatuto de inviolabilidade
frente às demandas da urbanização: verticalização das edificações do centro histórico e
balnearização das praias. Nos anos 60 e 70 este processo se acentuou, bloqueando, por
assim dizer, o vetor de valorização da tradição. Foi apenas no decorrer dos anos 70 que
se difundiu no campo social a consciência de que a modernização acarretava na perda
de elementos materiais e imateriais do passado, o que não impediu a devastação do
patrimônio arquitetônico e a desagregação das comunidades “tradicionais”.
Através de diversos programas dos órgãos públicos municipais e estatuais, de
forma mais incisiva a partir do início da década de 1980, foi construída uma agenda
cultural que, apoiada pela mídia e tendo por objetivo o fomento do turismo, passou a
pautar também a criação artístico-cultural, na medida em os realizadores dependem dos
recursos financeiros do Estado e da iniciativa privada. Estas produções, às vezes
motivadas pelo desejo de preservar as tradições, com freqüência enaltecem um feliz
passado, mais tranqüilo, o tempo lento dos “açorianos” ou dos “manezinhos”.36 Todavia
acabam, paradoxalmente, propagando o mito do paraíso ilhéu - ilha das bruxas, ilha da
magia etc. - que tem servido para transformar a cultura local em chamariz para
empreendimentos turístico-imobiliários. Assim, sob o rótulo de “açorianidade” ou de
“manezinho”, elementos dos modos de vida e das práticas culturais tradicionais vêm
sendo valorizados, sob a condição de servirem de atrativos turísticos. A produção
artística e cultural, em particular a produção audiovisual, vem cumprindo uma função
estratégica nesta operação simbólica que possibilita a transformação da cultura e da
história em produtos aptos a agregar valor aos empreendimentos turístico-imobilários.
36 O termo “mané” ou “manezinho”, para designar aqueles que não estavam integrados ao meio urbano, deixou de ter um sentido pejorativo apenas nos anos 80. Um marco foi a criação do Troféu Manezinho da Ilha em 1987. Para uma reflexão sobre as transformações no termo “manezinho” ver: LIMA, Ronaldo e SOUZA, Ana Cláudia, “Flutuação de sentido: um estudo na ilha de Santa Catarina” in: Revista Philologus do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lingüísticos (CiFEFiL), Rio de Janeiro, 2005, ano 11, nº 33. http://www.filologia.org.br/revista/33/05.htm, consultado em 16/04/2008.

Concluindo este panorama das primeiras experiências cinematográficas em
Florianópolis, cabe chamar a atenção para o fato de estes três curtas-metragens
produzidos entre 1968 e 1976 não foram pautados nem pela descoberta da tradição nem
pela sua conversão em mercadoria turística. Novelo, A Via Crucis e Olaria ficaram
então à margem da produção cultural que tem sido divulgada pela mídia e apropriada
com fins de promoção turística de Florianópolis. Nos três filmes a experiência da
modernização implica em estados de crise. Novelo mostra o congestionamento da ponte
Hercílio Luz e também a congestão de um indivíduo que, como tratamento, constrói
uma rota de fuga se despojando das marcas da civilização. A Via Crucis pontua, através
de seis “estações”, as formas sociais de condicionamento das individuações, culminando
na crucificação, no aprisionamento nas coordenadas x/y. Os planos finais sugerem uma
cidade que prossegue talvez indiferente ou automatizada. Que estas duas histórias
transcorram em Florianópolis é mera decorrência do local em que os filmes foram
produzidos. Ainda que os filmes na atualidade sejam um precioso documento sobre
aspectos próprios a esta localidade, - por exemplo, o antigo convívio entre o urbano e o
mar, as obras de asfaltamento e os engarrafamentos na Ponte Hercílio Luz -, os
elementos que remetem a um cenário local estão a serviço de uma crítica à opressão e
aos valores dominantes. Não há uma glamorização dos particularismos locais. Esta é
também a abordagem de Olaria, que desloca o problema para a tensão entre as formas
tradicionais de existência e a expansão das relações capitalistas de produção. Ao invés
de uma apologia à cultura e à história regional, os filmes são pautados pelo exercício da
reflexão crítica. Não se trata de desamor ao local mas de atenção às implicações dos
processos que regem as relações entre a aldeia e o universo.