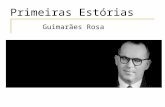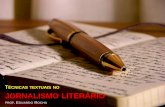O Jornalismo Como Gênero Literário
-
Upload
paulo-costa -
Category
Documents
-
view
16 -
download
0
description
Transcript of O Jornalismo Como Gênero Literário
Slide 1
IIIA crtica temtica, por Daniel Bergez
1 Hbito de se falar em temas dos estudos literrios;Agrupamentos temticos aparecendo em concursos, provas dos exames finais do curso secundrio e nos manuais escolares;A noo parece, pois, ser evidente. No entanto, problemtica, quando relacionada corrente crtica qual emprestou esse nome.
2
A crtica temtica foi globalmente assimilada nova crtica:
[...] essa assimilao enganadora: a nova crtica desenvolveu-se sobretudo no campo da lingustica, do estruturalismo e da psicanlise, trs correntes em relao s quais a crtica temtica sempre pretendeu preservar a sua autonomia.
Essa confuso motivou vinculaes errneas. Roland Barthes e Jean-Paul Sartre foram assim associados, s vezes, a essa corrente crtica. Ora, eles no partilharam seus fundamentos espiritualistas e se distanciaram dela progressivamente [...].
Ambos se aproximaram da crtica temtica, mas no em torno dessa referncia que se desdobra sua reflexo crtica (p. 97).
o caso, em compensao, de todos aqueles que escolhemos para evocar neste captulo: Georges Poulet, Jean Rousset, Jean Starobinski, Jean-Pierre Richard, todos influenciados pelos trabalhos de Gaston Bachelard e, de modo mais subterrneo, pelos fundadores da Escola de Genebra, Albert Bguin e Marcel Raymond (p. 98).curiosidade atenta que manifestavam uns pelos outros (p. 98). relaes de amizade e de estimaesses crticos se observam trabalhar para melhor interrogar-se sobre seu prprio procedimento (p. 98).
[...] o ponto de vista temtico nada tem de dogma, no se articula em torno de um corpo doutrinal, mas se desenvolve como uma pesquisa, a partir de uma intuio central. Seu ponto de partida decerto a rejeio de qualquer concepo ldica ou formal da literatura, a recusa de considerar um texto literrio como um objeto cujo sentido poderia ser esgotado por uma investigao cientfica (p. 98).
A ideia central a de que a literatura no tanto objeto de conhecimento quanto de experincia, e que esta de essncia espiritual (p. 98). natural [...] que esses crticos se voltem, prioritariamente, para a poesia; a ela que so consagrados os textos mais densos de Albert Bguin, ela que interrogada com mais frequncia por Gaston Bachelard, para quem a poesia uma funo de despertar (A gua e os sonhos) (p. 99).
8
1. Situao histrica
A crtica temtica , com efeito, ideologicamente filha do Romantismo. Entretanto, a referncia aos temas nos estudos literrios bem anterior. O termo herdado da antiga retrica, que concedia grande importncia ao topos, elemento de significao determinante num dado texto. Foi preciso, todavia, esperar os desenvolvimentos do comparativismo lingustico e literrio no incio do sculo XIX, para que a noo a adquirisse importncia: o tema fornece ento um elemento comum de significao ou de inspirao, que permite comparar, a partir de um mesmo ndice, obras de outros autores (p. 99).
10Situao histricaUma teoria da obra de arte que, mais de um sculo depois, ter continuidade na crtica temtica:
Para o Grupo de Iena, a obra de arte no mais pensada em funo de um modelo prvio, que conviria reproduzir; ela remete a uma conscincia criadora, a uma interioridade pessoal a que se subordinam todos os elementos formais e contingentes da obra: tema de inspirao, maneira, composio, etc (pp. 100-101).
Na perspectiva romntica, a arte no , a princpio, uma construo formal, vale como geradora de experincia, e produtora de um sentido que repercute sobre a vida. Todos os crticos de inspirao temtica concordam nesse ponto: se, ao sair da experincia (de leitura e de interpretao), nem o mundo nem a vida do intrprete encontraram um acrscimo de sentido, valeria a pena a se aventurar nessa experincia? (J. Starobinski, La relation critique).
Nessa experincia dupla visto que diz respeito tanto ao leitor quanto ao escritor a realidade formal da obra no poderia ser estudada por si mesma. A obra de arte o desabrochar simultneo de uma estrutura e de um pensamento (...) amlgama de uma forma e de uma experincia cuja gnese e nascimento so solidrios (J. Rousset, Forme et signification) (p. 100).
12 Segundo J. Starobinski, Rousseau foi um dos primeiros, na histria das letras na Frana, a viver esse pacto do eu com a linguagem (Jean Jacques Rousseau, a transparncia e o obstculo), a fazer com que seu destino de homem dependesse de sua criao verbal. H, pois, em Rousseau, confuso entre a existncia, a reflexo e o trabalho literrio: o escritor no s se diz mas tambm se cria no compromisso das palavras. Rousseau e depois dele os romnticos propuseram, assim, uma concepo a um s tempo espiritualista e dinmica do ato criador: a obra aventura de um destino espiritual, que se realiza no prprio movimento de sua produo (pp. 100-101).
A filiao proustiana
Marcel Proust: Afirmando a necessria superao do ponto de vista biogrfico, recusando toda concepo exclusivamente artesanal do trabalho criador e toda definio limitativa do estilo, ele dava continuidade herana romntica, lanando as bases da futura crtica temtica ->
Estabelecendo que o estilo no questo de tcnica mas de viso, que a obra implica uma percepo do mundo singular que adere ao material de que feita, ele definia o estilo em sua dupla realidade indecomponvel de criao lingustica e de universo sensvel (p. 101).
2. Embasamentos filosficos e estticos
O eu criadorI. A concepo proustiana, superando a distino tradicional da forma e do contedo, tambm implica necessariamente uma nova definio do eu criador. Proust se explica claramente em Contre Sainte-Beuve: um livro o produto de um eu diferente daquele que manifestamos em nossos hbitos, na sociedade, em nossos vcios. Esse eu, se quisermos tentar compreend-lo, ser no fundo de ns mesmos, ao tentar recri-los em ns, que poderemos consegui-lo;II. [...] o eu de que fala , a um s tempo, um dado da psicologia profunda do artista e o objeto de uma (re)criao;III. Compreendamos que o eu criador se inventa no movimento pelo qual ele se comunica. Ele se exprime, pois, se superando, e o ato criador inseparvel desse movimento instaurador (p. 103).
A maioria dos crticos de inspirao temtica partilham esse sentimento de uma plasticidade dinmica do eu (p. 102):J. Starobinski pensa [...] que o escritor, em sua obra, se nega, se supera e se transforma (La relation critique); e J. Rousset, no entanto mais atento que qualquer outro ao jogo das formas literrias, no receia afirmar que antes de ser produo ou expresso, a obra para o sujeito criador um meio de autorrevelao (Forme et signification) (p. 102).
A crtica temtica recusa, pois, tanto a concepo clssica do escritor totalmente dono do seu projeto quanto o procedimento psicanaltico que atribui a obra a uma interioridade psquica que lhe anterior. Ela no esquece nem esse domnio nem essa parte de inconsciente, mas vincula a verdade da obra a uma conscincia dinmica que se est formando (p. 103).
Para explicar esse desvelamento de um eu contemporneo da obra, a crtica temtica costuma evitar relacion-la com o indivduo histrico que seu autor. Em seu estudo sobre Montaigne, J. Starobinski substitui frequentemente o nome do autor pelos termos eu, sujeito, ser. Esta ltima noo uma das manias lingusticas mais reconhecveis da crtica temtica (p. 104).
Visto que a obra tem uma funo tanto de criao quanto de desvelamento do eu, a crtica temtica concede uma ateno muito particular ao ato de conscincia do escritor (p. 103).A conscincia , porque se mostra. Entretanto, no pode se mostrar sem fazer surgir um mundo no qual ela est indissoluvelmente interessada (Montaigne em mouvement, Gallimard, 1982).
A relao com o mundo
O relevo dado ao ato de conscincia implica necessariamente um pensamento da relao com o mundo. A filosofia moderna nos convenceu realmente de que toda conscincia conscincia de alguma coisa, de si mesmo ou do universo de objetos que nos cerca (p. 104).
Um dos principais conceitos da crtica temtica , portanto, o da relao; por sua relao consigo mesmo que o eu se estabelece, por sua relao com o que o cerca que se define (p. 105).
A insistncia sobre o tema do olhar ato relacional por excelncia deve decerto muito a essa intuio: em G. Bachelard, para quem o olhar um princpio csmico; em J. Rousset que, em Leurs yeux se rencontrrent [Os olhos se encontraram], consagra uma srie de estudos cena da primeira vista no romance, ou ainda em J. Starobinski, que coloca o ato crtico sob a insgnia do olho vivo (p. 105).
Essa filosofia instauradora instauradora deve muito ao desenvolvimento da fenomenologia. Bachelard fora marcado por Husserl; seus sucessores sero influenciados por Merleau-Ponty. Este define a fenomenologia como uma filosofia que substitui as essncias na existncia e no pensa que se possam compreender o homem e o mundo de outro modo seno a partir de sua facticidade (la phnomenologie de la perception). Nessa perspectiva os sentidos tm um sentido, segundo a expresso de Emmanuel Levinas [...] (p. 105).
A abordagem fenomenolgica j fora privilegiada por Proust, mormente nas clebres pginas que o narrador dedica viso de seu quarto ao despertar, no incio de Em busca do tempo perdido. Essa perspectiva tornou-se dominante na crtica temtica que costuma dedicar-se a definir um modo de estar-no-mundo a partir dos textos literrios (p. 105).
A leitura temtica das obras em geral se organiza, pois, em funo das categorias da percepo e da relao: tempo, espao, sensaes... Para G. Poulet a pergunta Quem sou eu? se confunde (...) naturalmente com a questo Quando sou eu? (...) Mas a essa pergunta, outra anloga: Onde estou eu? (La conscience critique) (p. 106).
ffG. Bachelard: foi o primeiro a mostrar como a imaginao criadora se apropria do tempo e do espao conforme um modelo revelador de um estar-no-mundo prprio do artista (p. 106).O estilo de expresso da crtica temtica se ressente dessa inflexo, dando s categorias de percepo um largo uso metafrico. ->Num sentido paralelo, as modalidades de percepo adquirem muitas vezes uma realidade substancial, que lhe comprova importncia no estar-no-mundo do artista (p. 107).
A escrita dos crticos temticos alarga e desloca assim o jogo da caracterizao: a apreciao crtica no se refere somente a uma conscincia, um objeto ou um ser, mas aos meios e modalidades das relaes que os unem. A impresso sensvel pode ento ter tanta importncia quanto o pensamento reflexivo (p. 107).
Consideraes finaisIdeal inatingido do jornalismo: em qual jornalismo?O rigor e o conceito genrico de jornalismo na anlise de Alceu Amoroso Lima.Os diferentes gneros jornalsticos assimilados por Clarice Lispector e a relao desses com os elementos apresentados pelo referido autor.Enquanto exceo, colaboradora, Clarice exerce um jornalismo autoral, cerceado por elementos do mencionado estilo comum.Consideraes finaisIdeal inatingido do jornalismo: em qual jornalismo?O rigor e o conceito genrico de jornalismo na anlise de Alceu Amoroso Lima.Os diferentes gneros jornalsticos assimilados por Clarice Lispector e a relao desses com os elementos apresentados pelo referido autor.Enquanto exceo, colaboradora, Clarice exerce um jornalismo autoral, cerceado por elementos do mencionado estilo comum.Referncias bibliogrficasGOTLIB, Ndia Battella. Mais um doce veneno. In: NUNES, Aparecida. Clarice Lispector jornalista: pginas femininas e outras pginas. So Paulo: Senac So Paulo, 2006, pp. 9-13.LIMA, Alceu Amoroso. O jornalismo como gnero literrio. So Paulo: Com-arte: EDUSP, 1990.LISPECTOR, C. Fatos & Fotos/Gente, Braslia, n. 821, 16 mai. 1977. pp. 14-15. Entrevista.LISPECTOR, Clarice. Mineirinho. Em Senhor, Rio de Janeiro, junho de 1962, pp. 16-19.NUNES, Aparecida. Clarice Lispector jornalista: pginas femininas e outras pginas. So Paulo: Senac So Paulo, 2006.
Referncias bibliogrficasGOTLIB, Ndia Battella. Mais um doce veneno. In: NUNES, Aparecida. Clarice Lispector jornalista: pginas femininas e outras pginas. So Paulo: Senac So Paulo, 2006, pp. 9-13.LIMA, Alceu Amoroso. O jornalismo como gnero literrio. So Paulo: Com-arte: EDUSP, 1990.LISPECTOR, C. Fatos & Fotos/Gente, Braslia, n. 821, 16 mai. 1977. pp. 14-15. Entrevista.LISPECTOR, Clarice. Mineirinho. Em Senhor, Rio de Janeiro, junho de 1962, pp. 16-19.NUNES, Aparecida. Clarice Lispector jornalista: pginas femininas e outras pginas. So Paulo: Senac So Paulo, 2006.