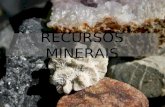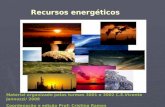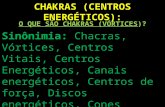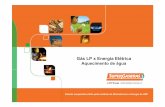O MERCADO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS ENERGÉTICOS… · Isso ocorre pois o consumidor que deseja...
Transcript of O MERCADO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS ENERGÉTICOS… · Isso ocorre pois o consumidor que deseja...
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
INSTITUTO DE ECONOMIA
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
O MERCADO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS ENERGÉTICOS: UMA
COMPARAÇÃO ENTRE OS MERCADOS DO REINO UNIDO E DO
BRASIL
GABRIEL VIANNA HIDD
Registro no: 113013241
ORIENTADOR: Profo. Dro. Edmar Luiz Fagundes de Almeida
COORIENTADORA: Profa. Dra. Clarice Campelo de Melo Ferraz
Rio de Janeiro
Agosto 2015
Gabriel Vianna Hidd
O MERCADO DAS EMPRESAS DE SERVIÇO ENERGÉTICOS: UMA
COMPARAÇÃO ENTRE OS MERCADOS DO REINO UNIDO E DO
BRASIL
Dissertação submetida ao Instituto de Economia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como
parte dos requisitos necessários à obtenção do
título de Mestre em Economia.
Orientador: Profo. Dr. Edmar Luiz Fagundes de
Almeida
Coorientadora: Profa. Dr
a. Clarice Campelo de
Melo Ferraz
Rio de Janeiro
2015
H632 Hidd, Gabriel Vianna. O mercado das empresas de serviços energéticos : uma comparação entre os mercados
do Reino Unido e do Brasil / Gabriel Vianna Hidd. -- 2015.
66 f. ; 31 cm.
Orientador: Edmar Luiz Fagundes de Almeida.
Coorientadora: Clarice Campelo de Melo Ferraz Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de
Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2015.
Referências: f. 60-66.
1. ESCO (Energy Service Company). 2. Empresas prestadoras de serviços de energia. 3.
Eficiência energética. 4. Setor elétrico. I. Almeida, Edmar Luiz Fagundes de Almeida, orient.
II. Ferraz, Clarice Campelo de Melo, coorient. III. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Instituto de Economia. IV. Título.
CDD 333.793 2
AGRADECIMENTOS
À Agência Nacional do Petróleo, através do Programa de Formação de Recursos
Humanos (PRH) da ANP para o Setor de Petróleo e Gás Natural, pelo apoio bibliográfico,
financeiro e de capacitação profissional.
Ao Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro por abrir suas
portas, permitindo meu desenvolvimento acadêmico.
Ao Professor Edmar e à Professora Clarice, pelos ensinamentos em sala de aula, no
desenvolvimento desse trabalho acadêmico e pela confiança que depositaram em mim durante
esta trajetória.
Ao Grupo de Economia da Energia que proporcionou debates enriquecedores,
contribuindo para meu desenvolvimento profissional.
Aos meus pais Nacif e Ilza que foram fundamentais nesse período.
Aos meus amigos Helder, Erika, Rodrigo, Daniel, Bruno, Joana e Lucas, obrigado
pelas conversas, estudos e cervejas.
RESUMO
Atualmente, a questão energética volta a ganhar forte atenção devido à crescente
preocupação com a segurança de abastecimento e mudanças climáticas. O constante aumento
do consumo de eletricidade, acompanhado da dificuldade de se expandir a oferta, tem causado
uma elevação nos preços da energia elétrica.
Além disso, a poluição do meio ambiente, oriunda das emissões de poluentes causadas
pela geração e do uso de energia, associadas às alterações climáticas. Dessa forma, assistimos
a uma pressão pelo aumento da oferta e, ao mesmo tempo, a busca da redução das emissões
de poluentes. Diante desse quadro, como uma das soluções a esses problemas, surgem
políticas de controle de demanda como uma solução.
Os ganhos com a eficiência energética (EE) conciliam os objetivos de redução do
consumo e, consequentemente, a diminuição dos danos ambientais. Nos mercados de
eletricidade abertos à concorrência foram criadas as empresas de serviços de energia (Energy
Service Companies - ESCOs), cujo serviço oferecido é a promoção da EE. Essas empresas são
especializadas em serviços de conservação de energia e promovem a diminuição do consumo
e, consequentemente, dos gastos com energia dos seus clientes. Além de abrirem uma nova
modalidade de negócios, as ESCOs estão entre os agentes mais ativos de intermediação de
produtos, processos e serviços eletricamente mais eficientes. Em virtude disso, elas são
relevantes para alguns setores, tais como: indústria de porte médio e serviços de grande e
médio porte.
Devido à importância de se obter ganhos de EE, o objetivo deste trabalho é analisar o
modelo de negócios das ESCOs e, em particular, sua atuação no setor elétrico brasileiro. A
hipótese que norteia esse trabalho é a seguinte: soluções de mercado que incentivam a EE
ajudam a acelerar a difusão das ESCOs. Assim, para melhor entendimento das atividades das
ESCOs, será feito uma análise comparativa entre o mercado de ESCO no Brasil e no Reino
Unido. O mercado elétrico do Reino Unido foi o mercado escolhido nesta análise por causa
do seu pioneirismo e de suas metas de diminuição do consumo energético e de emissão de
gases nocivos à atmosfera. Além disso, o ambiente regulatório deve ser constantemente
aperfeiçoado para que possa evoluir de acordo com as necessidades da população e, ao
mesmo tempo, fornecer um ambiente de negócios mais atraente para essas empresas.
Constatamos, então, que soluções de mercado que incentivam a EE ajudam a desenvolver o
mercado das ESCOs.
Palavras-chave: ESCO, eficiência energética, setor elétrico brasileiro, setor elétrico do Reino
Unido
ABSTRACT
Currently, the energy issue back to gain strong attention due to growing concerns
about security of supply and climate change. The constant increase of electricity consumption,
accompanied by the difficulty of expanding supply, has caused a rise in the price of
electricity. Added to this is the concern related to pollution of the environment, coming in
pollutant emissions caused by the generation and use of energy, associated with climate
change. Thus we have seen a push for increased supply and at the same time, the pursuit of
reduction of pollutant emissions. Given this situation, as an alternative to these problems,
demand control policies emerge as a solution. Gains in energy efficiency (EE) reconcile the
consumption reduction targets and consequently the reduction of environmental damage. In
open electricity markets to competition have been created energy service companies (Energy
Service Companies - ESCOs) whose service offered is to promote EE. These companies
specialize in energy conservation services and promote the decline in consumption and hence
the energy costs of their customers. They open up a new type of business, ESCOs are among
the most active agents of intermediary products, processes and services more electrically
efficient. As a result, they may be relevant to some sectors, such as medium-sized industry
and large and mid-sized services. Due to the importance of achieving EE gains, the objective
of this study is to analyze the ESCO business model and, in particular, his experience in the
Brazilian electric sector. The hypothesis that guides this work is the following: market
solutions that encourage EE help accelerate the diffusion of ESCOs. So for better
understanding of the activities of ESCOs, will be a comparative analysis between the ESCO
market in Brazil and the UK. The electricity market in the UK was the chosen market in this
analysis because of its pioneering spirit and its goals of reducing energy consumption and
emission of harmful gases to the atmosphere. This research deals with the identification of
mechanisms of action of the ESCO market. From this analysis, it is concluded that energy
efficiency regulation (EE) directs the market for a more active role as encouraging low-carbon
energy; or more passive, just by changing behavior. In addition, the regulatory environment
must be continually upgraded so you can evolve according to people's needs and at the same
time provide a more attractive business environment for these companies. We note, then, that
market solutions that encourage EE help develop the market for ESCOs
Keywords: ESCO, energy efficiency, Brazilian electricity sector, power sector UK.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 1
CAPÍTULO 1 – O MODELO DE NEGÓCIOS DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS
ENERGÉTICOS .................................................................................................................... 4
1.1 - Eficiência Energética .................................................................................................. 4
1.2 - As Empresas de Serviços Energéticos (Energy Service Companies – ESCOs) ............ 6
1.3 - Receitas e Custos das ESCOs ..................................................................................... 8
1.4 - Principais Parceiras .................................................................................................. 13
1.5 - O Modelo de Desempenho das ESCOs ..................................................................... 16
CAPÍTULO 2 - A EXPERIÊNCIA DO REINO UNIDO ...................................................... 18
2.1 - O Setor Elétrico Britânico e as Empresas de Serviços energéticos............................. 18
2.2 - Principais características do mercado das ESCOs no Reino Unido ............................ 23
2.2.1 - Aspectos Regulatórios ........................................................................................ 23
2.2.2 - Aspectos Econômicos ........................................................................................ 24
2.2.3 - Infraestrutura e Tecnologia ................................................................................ 25
2.3 - Diferentes Modelos de ESCOs no Reino Unido ........................................................ 26
CAPÍTULO 3 - A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA ............................................................... 29
3.1 - O Setor Elétrico Brasileiro e as Empresas de Serviços Energéticos ........................... 29
3.2 - Políticas de Eficiência Energética no Brasil .............................................................. 36
3.3 - Principais Aspectos de Atuação das ESCOs no Brasil ............................................... 39
3.3.1 - Aspectos Regulatórios ........................................................................................ 39
3.3.2 - Aspectos Econômicos ........................................................................................ 40
3.3.3 - Infraestrutura e Tecnologia ................................................................................ 42
3.4 – Financiamento das ESCOs no Brasil ........................................................................ 43
CAPÍTULO 4 – COMPARAÇÃO ENTRE OS MERCADOS DO REINO UNIDO E DO
BRASIL ............................................................................................................................... 49
4.1 - Uma História Comum dos Modelos Britânico e Brasileiro ........................................ 49
4.2 - Comparação dos Principais Aspectos de Atuação das ESCOs no Brasil e no Reino
Unido ............................................................................................................................... 51
4.2.1 - Aspectos Regulatórios ........................................................................................ 51
4.2.2 - Aspectos Econômicos ....................................................................................... 52
4.2.3 - Aspectos de Infraestrutura e Tecnologia ............................................................. 53
4.3 - Resultados da Análise Comparativa .......................................................................... 54
CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 57
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 62
1
INTRODUÇÃO
Atualmente, a questão energética volta a ganhar forte atenção devido à crescente
preocupação com a segurança de abastecimento e mudanças climáticas. O constante aumento
do consumo de eletricidade, acompanhado da dificuldade de se expandir a oferta, tem causado
uma elevação nos preços da energia elétrica. A isso se soma a preocupação relacionada à
poluição do meio ambiente, oriunda das emissões de poluentes causadas pela geração e do uso
de energia, associadas às alterações climáticas. Dessa forma, assistimos a uma pressão pelo
aumento da oferta e, ao mesmo tempo, a busca da redução das emissões de poluentes.
Diante desse quadro, como alternativa a esses problemas, políticas de controle de
demanda surgem como uma solução. Os ganhos com a eficiência energética (EE) conciliam
os objetivos de redução do consumo e, consequentemente, a diminuição dos danos
ambientais. Apesar de sua importância, no Brasil a eficiência energética recebe pouca
atenção. Os programas de promoção de EE são tímidos, possuem pequenas linhas de
financiamento e carecem de divulgação.
Tradicionalmente, as preocupações com a segurança energética baseiam-se na garantia
da expansão da oferta, negligenciando o papel do controle da demanda como instrumento para
frear a necessidade de expansão da geração. Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN)
de 2013, o consumo final de energia elétrica aumentou de 2003 para 2012 em,
aproximadamente, 45,64% (BEN, 2013:67). Com destaque para os setores residencial
(54,52%) (BEN, 2013:77) e comercial (65,00%) (BEN, 2013:75) que cresceram, nesse
mesmo período, acima do consumo final e do setor industrial, que cresceu 30,42% (BEN,
2013:84).
O aumento do consumo de energia é apontado como um dos responsáveis pelas
mudanças climáticas que vêm ocorrendo (WEC, 2013). A geração de energia, através de
usinas termelétricas, e o consumo desordenado de energia elétrica são dois dos principais
causadores do aumento das emissões de poluentes na atmosfera. Dessa forma, espera-se que
as políticas de EE ao promover o uso mais eficiente da energia possam ajudar a diminuir essas
emissões, sem alterar o conforto das pessoas.
Nos mercados de eletricidade abertos à concorrência foram criadas as empresas de
serviços de energia (Energy Service Companies - ESCOs), cujo serviço oferecido é a
2
promoção da EE. Essas empresas são especializadas em serviços de conservação de energia e
promovem a diminuição do consumo e, consequentemente, dos gastos com energia dos seus
clientes.
Diferentemente de outros mercados, as ESCOs não surgiram de uma ruptura
tecnológica, mas sim da necessidade em reduzir custos. A partir da criação desse novo espaço
econômico surgiu um novo agente econômico, o provedor de serviços energéticos, além dos
três já existentes: o fornecedor de energia (distribuidora), o fornecedor de equipamentos e o
consumidor de energia.
Além de abrirem uma nova modalidade de negócios, as ESCOs estão entre os agentes
mais ativos de intermediação de produtos, processos e serviços eletricamente mais eficientes.
Isso ocorre pois o consumidor que deseja diminuir seus gastos energéticos não possui o
conhecimento necessário para realizar essa otimização. Assim, essas empresas conseguem
fazer a ligação entre a demanda por redução energética e a oferta de redução. Em vista disso,
elas podem ser relevantes para alguns setores, tais como: indústria e serviços de grande e
médio porte.
Devido à importância de se obter ganhos de EE, o objetivo deste trabalho é analisar o
modelo de negócios das ESCOs e, em particular, sua atuação no setor elétrico brasileiro.
Devido à falta de dados referentes ao mercado brasileiro, esta pesquisa terá um enfoque mais
qualitativo do que quantitativo. A hipótese que norteia esse trabalho é a seguinte: soluções de
mercado que incentivam a EE ajudam a acelerar a difusão das ESCOs.
Assim, para melhor entendimento das atividades das ESCOs, será feito uma análise
comparativa entre o mercado de ESCO no Brasil e no Reino Unido. O mercado elétrico do
Reino Unido foi o mercado escolhido nesta análise por causa do seu pioneirismo e de suas
metas de diminuição do consumo energético e de emissão de gases nocivos à atmosfera. Isso
se deve ao fato do país ser pioneiro nas políticas de liberação e desregulamentação de seu
sistema elétrico. Além disso, o mercado britânico possui uma tradição em políticas públicas,
transparência em seu acompanhamento, em planejamento energético e de alcance de metas.
Desde 1994, quando a política de EE começou, já foram economizados mais de 699 TWh de
energia (Rosenow, 2012).
Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. No primeiro, faremos uma breve
apresentação do conceito de EE e mostraremos seus benefícios físicos e econômicos. Em
3
seguida, estudaremos o modelo de negócios das ESCOs e como elas se inserem nos mercados
elétricos competitivos.
No segundo capítulo, apresentaremos a experiência britânica. Iniciaremos expondo a
evolução do setor elétrico britânico, juntamente com suas políticas de eficiência energética,
do período de nacionalização à liberalização do mercado de energia. Em seguida, serão
analisados os aspectos regulatórios e institucionais, econômico, infraestrutura e tecnologia.
Por último, iremos verificar alguns tipos de ESCOs existentes no Reino Unido, como a ESCO
comunitária, da autoridade local e outras.
O terceiro capítulo é dedicado à análise da experiência brasileira, apresentando de
forma breve a história do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) e a participação das Empresas de
Serviços Energéticos (ESCOs) neste mercado. Destacaremos as políticas de EE aplicadas no
Brasil, assim como a atuação das ESCOs no Brasil. Em seguida, serão analisados os mesmos
aspectos do capítulo anterior para o mercado das ESCOs. Por fim, veremos a forma de
financiamento dessas empresas no Brasil.
No quarto capítulo, faremos a comparação entre a atuação das ESCOs no Brasil e no
Reino Unido. Retomaremos a forma de negócios das ESCOs, destacando os pontos favoráveis
dessas empresas, suas limitações, assim como sugestões de como essas dificuldades poderiam
ser superadas.
4
CAPÍTULO 1 – O MODELO DE NEGÓCIOS DAS EMPRESAS
DE SERVIÇOS ENERGÉTICOS
O objetivo desse capítulo é mostrar o funcionamento do modelo de negócios das
Empresas de Serviços Energéticos (Energy Service Companies – ESCOs), cuja principal
atividade consiste na “venda” de ganhos de eficiência energética (EE). Para tanto, iniciaremos
apresentando o conceito de EE e os fatos que a ajudaram a se desenvolver tanto no Brasil
como no mundo. Falamos sobre a origem dessas empresas, seu modelo de negócio e, em
seguida, verificamos o desempenho de suas principais atividades e os tipos de contratos que
essas empresas oferecem e como funcionam. Por último, analisamos os agentes com os quais
as ESCOs se relacionam nos setores públicos e privados.
1.1 - Eficiência Energética
A EE busca melhorar o uso das fontes de energia. Ela consiste no emprego de técnicas
e processos capazes de usar a energia de um modo mais eficiente para obter um melhor
desempenho na produção, ou consumo, de um serviço, ou bem, com menor gasto energético.
Dessa forma, se reduzem custos e se aumentam a produtividade e a lucratividade (MME,
2007).
Pode-se dizer que, antes de tudo, a EE é uma questão de comportamento individual e
reflete a lógica dos consumidores de energia. Um modo importante de se reduzir o consumo
de eletricidade foi através do desenvolvimento de produtos movidos à eletricidade mais
eficientes. Outro mecanismo é a gestão energética, que visa otimizar a utilização de energia
por meio de orientações, direcionamento, propostas de ações e controles sobre os recursos
humanos, materiais e econômicos (Eletrobrás; Procel, 2005).
No Brasil, em virtude do racionamento de energia elétrica em 2001, medidas de
conservação de energia e de EE1 foram reforçadas e regulamentadas e também foram
1 Conservação de energia é utilizar menos energia, EE é usar menos energia para obter-se a mesma quantidade
de serviço ou produto.
5
determinadas metas de economia para frear o acelerado ritmo de crescimento da demanda,
seguindo a tendência internacional.
Em relação à tendência internacional, a EE ganhou espaço na agenda mundial a partir
dos choques no preço do petróleo dos anos 1970, quando ficou claro que o uso das reservas de
recursos fósseis teria custos crescentes, dos pontos de vista econômico, social e ambiental.
Passou-se a buscar maneiras de obter o mesmo serviço prestado com menor gasto de energia
e, consequentemente, reduzindo os impactos econômicos, ambientais, sociais e culturais
associados à escassez e aos altos preços dos insumos energéticos. A partir daí, equipamentos e
hábitos de consumo passaram a ser analisados em termos de seu consumo energético. Dessa
forma, pode-se observar que muitas iniciativas que resultam em maior EE são
economicamente viáveis e que essa foi uma das estratégias utilizadas para redução da
dependência dos combustíveis fósseis. Além disso, houve busca por outros combustíveis que
atendessem a esse mesmo objetivo.
Nos últimos vinte anos, a EE também passou a ser vista como um modo de combate às
mudanças climáticas. Isso se deve, principalmente, ao fato de que ganhos de EE diminuem a
necessidade de consumo e, consequentemente, de geração de energia. Sendo assim, reduz a
emissão de poluentes na atmosfera e restringe os efeitos das alterações climáticas à ela
atribuídos. Em vista disso, é cada vez maior o número de países que veem os projetos de EE
como uma forma de mitigação dos efeitos dessas mudanças ambientais.
Para economistas, a EE consiste na redução da quantidade de energia utilizada para
produzir uma unidade de atividade econômica, seja ele um produto ou um serviço. A EE está
associada com a eficiência econômica e inclui mudanças tecnológicas, comportamentais e
econômicas (WEC, 2008).
Os esforços na busca de ganhos de EE se passam em esferas distintas, do lado da
oferta e do lado da demanda de energia. Pelo lado da oferta, as empresas de geração,
transmissão e distribuição de energia adotam tecnologias que reduzem os custos de produção,
as perdas técnicas e não técnicas, podendo assim auferir lucros maiores. Pela ótica da
demanda, o desenvolvimento de aparelhos energeticamente mais eficientes traz benefícios aos
consumidores, através da redução de seus gastos com energia. Caso estejam submetidos a um
regime de tarifas e incentivos de demanda adequados, os demandantes finais são capazes de
modificar seu comportamento (Maia et. al, 2010).
6
Os ganhos com EE também contribuem para o desempenho da balança comercial, pois
proporcionam redução da necessidade de importação em energia. Isso também gera maior
segurança de abastecimento, podendo assim distribuir melhor a energia e garantir maior
acesso a ela, sem depender de agentes externos. Além disso, a EE beneficia as indústrias que
são mais intensivas em energia, pois melhora sua competitividade. Sendo assim, essas
indústrias aumentariam seus lucros, contribuindo para o crescimento do país com aumento do
emprego e impostos pagos, ajudando a reduzir a pobreza (Ryan et. AL, 2012; WEC, 2013).
A EE é contemplada por políticas públicas que buscam (Ryan et. AL, 2012; WEC):
I) a segurança no abastecimento de energia;
II) a redução dos investimentos em geração de energia elétrica;
III) o maior acesso a energia elétrica;
IV) a redução das importações de petróleo, gerando benefícios energéticos e
ambientais;
V) o superávit na balança comercial;
VI) a melhoria na competitividade da indústria;
VII) o estímulo ao crescimento econômico, por meio da criação de emprego e de
investimentos; e
VIII) a redução da pobreza.
1.2 - As Empresas de Serviços Energéticos (Energy Service Companies – ESCOs)
As Empresas de Serviços de Conservação de Energia ou Energy Service Companies
(ESCOs) surgiram no final dos anos 1970 nos Estados Unidos, com a finalidade de promover
serviços de EE. As ESCOs se propõem a reduzir a conta de energia de seus clientes, sem
reduzir o seu nível de conforto e garantindo a qualidade de abastecimento e suprimento
(Bullock et. al, 2001).
Quando se fala de serviços energéticos, geralmente se refere a prestações de serviços
que são obtidas com o uso da energia. Não se consome energia diretamente, mas sim bens e
serviços que a utilizam. Assim, podem-se destacar os seguintes serviços: iluminação,
motorização e bombeamento; otimização de processos; ar comprimido, ar condicionado e
ventilação; refrigeração, resfriamento e aquecimento; produção e distribuição de vapor;
7
automação e controle; geração, transmissão e distribuição de energia; gerenciamento
energético automatizado; qualidade da energia e correção de fator de potência; redução da
demanda no horário de ponta do consumo do sistema elétrico; estudos e projetos; obras e
instalações; máquinas e equipamentos novos, inclusive importados; sistemas de informação,
monitoramento e controle; serviços técnicos especializados; dentre outros serviços.
Diferentemente de outros agentes que atuam na área de eficiência energética, as
ESCOs trabalham com o lado da demanda, ou seja, diretamente com os usuários finais de
energia, os consumidores. Dessa forma, elas podem oferecer um serviço diferenciado aos seus
clientes, através de seus conhecimentos técnicos, institucionais, da sua estrutura
organizacional e de seus suportes financeiros.
Essas empresas também prestam o serviço de substituição do sistema de conversão
primária por outro que utilize uma matéria prima mais econômica. A cogeração, por exemplo,
fornece as mesmas quantidades de eletricidade, que seria oferecida por uma estação
centralizada, e de calor, que seria fornecida por uma caldeira, com menos perdas e uma menor
quantidade de insumos (Carbon Trust, 2010). Como nos mostra a figura 1.1:
Figura 1.1: Cogeração de Energia e Calor
Fonte: Hannon, 2012:157
Desse modo, o aspecto mais importante oferecido por uma ESCO para o seu cliente é
a satisfação de suas necessidades energéticas em relação a esses serviços. Ela oferece a
8
redução da quantidade de energia primária requerida pelo consumidor, através da instalação
de aparelhos mais eficientes energeticamente e/ou de equipamentos de conversão secundária
(equipamentos de isolamento térmico e outros), juntamente com a implantação de controle
energético em prédios modernos e/ou mudando o comportamento do consumidor (Hannon,
2012).
As ESCOs também contribuem para a realização de benefícios sociais, pois elas
ajudam a reduzir a “miséria de combustível” (fuel poverty2). Alguns programas de EE
obrigam as empresas do setor energético a atuarem com a população de baixa renda. Dessa
forma, as ESCOs conseguem atenuar a fuel poverty e providenciar um efeito renda3 aos seus
clientes, devido à diminuição dos gastos energéticos (Hannon, 2012).
1.3 - Receitas e Custos das ESCOs
As soluções energéticas das ESCOs são feitas de acordo com as necessidades de seus
clientes, aumentando assim seus custos de transação, por causa das negociações a serem feitas
entre as partes envolvidas. Comparadas aos contratos padronizados que as concessionárias de
energia tradicionalmente oferecem aos seus clientes, essas empresas, ESCOs, representam
uma importante fonte de valor, devido ao melhor atendimento às demandas energéticas de
seus clientes.
Diferentes das concessionárias, as ESCOs não se envolvem em um conjunto padrão de
atividades, pois isso varia muito de acordo com o âmbito da aplicação (número de fluxos de
energia útil ou serviços finais de energia) e profundidade do seu contrato (Sorrel, 2007). Os
dois contratos típicos de uma ESCO são o Contrato de Performance Energética e o Contrato
de Fornecimento de Energia (Sorrell, 2005).
O Contrato de Performance Energética fornece um serviço energético associado à
redução de conta de energia. Inicialmente, a ESCO faz uma auditoria energética no seu cliente
para saber o potencial de economia de energia, no local, em um período razoável. Se a
2 A miséria do combustível é definida como sendo a necessidade de uma família gastar mais de 10% de sua
renda com energia para tornar satisfatório o aquecimento e outros serviços energéticos (DECC, 2011a). 3 A alteração de preço provoca impacto na quantidade demandada, que surge de uma mudança no poder de compra com
relação a dois, ou mais, bens. Uma queda de preço aumenta o poder de compra. À medida que o preço de um bem diminui, o poder de compra do consumidor aumenta provocando uma mudança na quantidade demandada de um dos bens. Para
mais informações ver Varian (2006).
9
auditoria satisfizer os critérios da empresa de viabilidade de projeto, inicia-se, juntamente
com o cliente, o processo de gerenciamento de demanda (melhoras na iluminação, em
equipamentos, no isolamento térmico, no aquecimento) capaz de entregar o potencial de
economia energética encontrado na auditoria. Durante esse estágio, a ESCO explora diversas
formas de financiamento (bancos, capital próprio, fundos de investimentos, capital do cliente
e outros), que geralmente são obtidas juntamente com subcontratos. A empresa fica
responsável pela operação e manutenção dos novos sistemas instalados (iluminação,
isolamento térmico, aquecimento e outros), assim como pela medição e verificação da
economia energética gerada.
Normalmente, esse tipo de contrato é estruturado para que a empresa obtenha grande
parte, mas não toda, a economia energética realizada pelo seu cliente. Dessa forma, a empresa
poderia capturar boa parte do excedente do consumidor e mesmo assim o cliente ainda estaria
satisfeito. Observa-se que a receita obtida pela ESCO é paga regularmente pelos seus clientes,
com o objetivo de manter certa quantidade e qualidade de um ou mais serviços energéticos,
como iluminação, ventilação, isolamento térmico, aquecimento, etc. O pagamento do cliente é
estruturado pela empresa de forma que ele cubra não apenas o investimento inicial e os custos
de operação e manutenção, mas que as medidas entregues sejam capazes de fornecer
economia para o cliente e lucro para a ESCO.
A figura 1.2 nos mostra como é arquitetado o contrato de Performance Energética
(Sorrell, 2005).
10
Figura 1.2: Estrutura de um Contrato de Performance Energética
Fonte: Hannon, 2012: 156.
Outro tipo de contrato padrão das ESCOs é o Contrato de Fornecimento de Energia
que permite um fluxo de eletricidade e/ou calor através da instalação de sistemas de
cogeração. Ao firmar esse tipo de contrato, a ESCO em primeiro lugar identifica potenciais
clientes que necessitam de grandes quantidades de calor e eletricidade. Feito isso, a empresa
busca o financiamento para a realização do projeto (bancos, capital próprio, fundos de
investimentos e outros) e, em seguida, dá início a implementação do mesmo. Após a
instalação, realizam-se as contratações e instalações dos agentes interessados em obter o
serviço. Ela também fica responsável pela operação e manutenção do sistema, assim como
pela medição das contas de energia e/ou calor de seus clientes (Hannon, 2012).
Nessa modalidade de contrato, a receita é obtida com a venda de um fluxo de energia
útil, como calor e/ou eletricidade, para seus clientes. Nesse sentido, o fluxo de receita da
ESCO é muito similar ao de uma distribuidora de energia. Como nesse contrato as ESCOs
promovem a geração distribuída, elas podem receber incentivos financeiros destinados a tais
investimentos, caso existam (Sorrell, 2005).
Assim, essas empresas promovem economia de custos através da venda de energia útil
para seus clientes. Buscam combinar os incentivos financeiros com os ganhos de eficiência
energética, obtidos com os equipamentos de conversão primária para subsidiar a conta de
11
energia do cliente, que é capaz de pagar menos e ter suas necessidades energéticas atendidas
(Sorrell, 2005), como ilustra a figura 1.3 abaixo.
Figura 1.3: Estrutura de um Contrato de Fornecimento de Energia
Fonte
Fonte: Hannon, 2012:158
Através do Contrato de Fornecimento de Energia, a ESCO é capaz de reduzir a conta
de energia de seus clientes, graças à combinação de incentivos financeiros e redução de
custos, associados à melhora da eficiência da conversão primária de seus consumidores ou à
troca de combustível, por um menos oneroso. Assim, com o lucro obtido com a venda de
kWh de energia útil (calor ou eletricidade), as ESCOs também recorrem a essas duas receitas,
de energia e calor, como parte de sua renda.
A flexibilidade dos contratos das ESCOs possibilita a redução de energia em
diferentes vias, o que uma concessionária de energia não conseguiria com um contrato
padronizado. Uma dessas vias é a comunicação entre a fornecedora de energia, realizando
medidas de gestão de demanda como parte do contrato, e seu cliente. Porém, a falta de
padronização nos contratos de serviços energéticos torna o processo de venda demorado e
intensivo em recursos. O tempo gasto na negociação desses contratos é elevado, por causa dos
termos de fornecimento individual de energia, dos leasings de aparelhos geradores. Logo, os
12
custos de transações associados às negociações seriam menores se houvessem a regularização
e padronização dos contratos.
Normalmente, os clientes usufruem diretamente ou indiretamente dos benefícios dos
contratos de serviço energético por longo prazo, pois eles costumam ter duração, em média,
entre 05 e 25 anos. No entanto, alguns clientes podem perceber que os arranjos contratuais
constituem uma forma de dívida de longo prazo com a ESCO, visto que eles estão
comprometidos a entregar ‘X’ por cento da sua receita com economia energética para essas
empresas por ‘Y’ anos (Marino et al., 2011).
Por outro lado, as ESCOs assumem grande parte do risco do projeto (ou todo risco).
Esse risco está associado a não entrega do gerenciamento da demanda energética e/ou a falta
de fornecimento de energia sustentável, além do caráter técnico, associado à implantação e a
operação das medidas necessárias para satisfazer seus clientes. Assim, o consumidor não faz
nenhum investimento inicial (ou uma pequena parte). As ESCOs costumam arcar com os
custos das medidas por conta própria ou através de financiamentos externos (por exemplo,
instituições financeiras) (Hannon, 2012).
A experiência internacional mostra que a maioria dos contratos de serviços energéticos
é assinada pelo setor público, por diversos motivos. Primeiro, as organizações públicas
ocupam grandes espaços (universidades, hospitais, etc.) com grande demanda energética.
Segundo, as ESCOs obtêm um retorno maior em contratos de organizações que operam em
grande e única localização. Isso ajuda a redução dos custos de transação e torna o projeto de
economia energética mais viável economicamente.
Outro motivo pela escolha do setor público é o fato dessas instituições possuírem o
governo como financiador de última instância. Isto, geralmente, garante às ESCOs um
pagamento confiável que ocorrerá durante a vigência do contrato, reduzindo parte do seu
risco. Além disso, normalmente, o setor público consegue obter um financiamento mais
acessível do o setor privado, o que ajuda no financiamento dos custos dos projetos de
eficiência energética. Por último, onde as organizações públicas ocupam prédios antigos e
ineficientes há oportunidade para a redução do consumo de energia.
Em relação a sua estrutura de custos, o que se mais destaca é o pagamento à
construtora ou ao proprietário de terra, para a instalação de máquinas e equipamentos (como
os cogeradores, para realizar o serviço de geração distribuída em uma determinada região).
13
Esse custo, normalmente, deve-se ao investimento inicial feito à construtora, ou ao
proprietário de terra, como parte dos compromissos para a execução do Contrato de
Fornecimento.
Além disso, a ESCO pode atuar, junto a uma construtora, na concepção de um projeto
e construção de uma edificação, já ajudando a incorporar melhorias em termos de EE. Após a
finalização do empreendimento, a empresa passa a atuar com os novos proprietários na gestão
energética do empreendimento.
Outra fonte de custos para as empresas são os pagamentos às instituições financeiras
(juros e amortizações) responsáveis pela realização do empreendimento, além dos dividendos
aos acionistas do projeto, caso existam. Se a ESCO não for capaz de cumprir as cláusulas do
contrato, ela deve pagar uma multa ao agente financiador (geralmente uma porcentagem do
kWh que deveria ser economizado).
1.4 - Principais Parceiras
As ESCOs necessitam de uma arquitetura empresarial para conseguirem otimizar seus
serviços. Dificilmente uma empresa de serviço energético teria sucesso sem parcerias. Mesmo
que ela fosse grande o suficiente para desenvolver-se por conta própria, seu capital estaria
aplicado de uma forma mais eficiente com auxílio de outras instituições . Segundo Hannon
(20012), as principais parceiras das ESCOs vêm do setor público e privado. A seguir vamos
destacar algumas dessas instituições:
a) Instituições Financeiras (Bancos, Fundos de Pensão, Fundos de Investimentos): A
maioria das ESCOs depende de investimentos externos ou financiamentos para
cobrirem os custos iniciais de seus projetos e, portanto, precisam desenvolver
parcerias com instituições financeiras para providenciar seus fundos.
b) Terceirizados: É comum as ESCOs terceirizarem a instalação de seus projetos,
normalmente por causa da falta de mão de obra especializada. Além disso, elas
também usam esse serviço para: operação e manutenção das medidas, medição,
cobrança e verificação das economias realizadas. Observa-se, na maioria dos
casos, a terceirização de quase todos os serviços.
14
c) Serviços Financeiros, Jurídicos e Consultores Técnicos: Caso a empresa não
possua esses serviços, ela deve recorrer às firmas especializadas para auxiliá-la.
d) Autoridades Locais: Estas possuem poderes políticos significativos e as ESCOs
precisam desse suporte para desenvolver as oportunidades de serviço energético.
Também recomendam o serviço prestado por essas empresas aos potenciais
acionistas, que podem ajudar no financiamento dos seus projetos, ou indicar
possíveis clientes.
e) Construtoras: Geralmente as ESCOs trabalham com construtoras para o
desenvolvimento de novas residências ou campos comerciais. Elas estão em
comum acordo para que a ESCO possa desenvolver um centro energético e,
consequentemente, fornecer energia aos ocupantes de uma determinada área.
f) Concessionárias de Energia: Frequentemente são citadas como parceiras
importantes por causa dos programas de obrigações energéticas (CERT, CESP4,
PEE5 e outros). Elas têm oferecido o suporte financeiro para algumas operações
das ESCOs. Devido à sua atuação em diversos distritos, as ESCOs precisam
trabalhar em conjunto com elas para conectarem geradores independentes à rede de
energia.
Como se pode verificar, as ESCOs possuem uma relação com diversos atores, sejam eles
relacionados à energia ou não. A figura 1.4 ilustra de forma esquemática essa relação.
4 Tanto o CERT (Carbon Emissions Reduction Target) quanto o CESP (Community Energy Saving Programme)
são programas de entrega de EE dos fornecedores de energia realizado no Reino Unido. Esses fornecedores
precisam entregar uma determinada quantidade de eficiência energética, ao longo do programa, determinada pela
autoridade do setor. 5 O PEE (Programa de Eficiência Energética) é o programa de eficiência energética no Brasil. Esse programa
obriga as distribuidoras de energia a realizarem um investimento mínimo em eficiência energética.
15
Figura 1.4 – Relação das ESCOs com os principais parceiros
Fonte: Hannon, 2012: 154
Uma ESCO também precisa de pessoas especializadas na instalação de seus projetos.
Seja esse pessoal da própria empresa ou terceirizado. A empresa procura pessoas qualificadas
em termos legais, técnicos, financeiros e marketing.
Em relação aos aspectos legais, pode-se destacar a necessidade de profissionais
qualificados para melhor compreensão do marco regulatório do setor, protegendo assim o
consumidor e a própria empresa. Sabe-se, também, que técnicos especializados são essenciais
na verificação do serviço, na auditoria, pois identificam a viabilidade do projeto e o custo-
benefício das soluções energéticas. Além de proverem os serviços estabelecidos no contrato
(operação, manutenção, medição e verificação, etc.) (Hannon, 2012).
Já os profissionais de serviços financeiros são necessários para o desenvolvimento dos
contratos que garantam o lucro da empresa por longo prazo, também para a identificação e
16
garantia da várias formas de suporte financeiro viáveis pelo governo. Por fim, os de marketing
para a identificação de potenciais clientes e melhor divulgação dos trabalhos da empresa.
Portanto, a realização de parcerias com empresas e instituições é uma das maneiras
encontradas pelas ESCOs para diminuir sua exposição aos riscos e expandir seus negócios.
Isso permite que várias organizações (empresas, associações locais, instituições,
concessionárias de energia e outras) reúnam seus recursos e, consequentemente, forneçam
uma proposta mais atraente do que se estivessem operando de forma independente.
1.5 - O Modelo de Desempenho das ESCOs
Como vimos anteriormente, o modelo de negócios das ESCOs propõe o
gerenciamento da demanda energética ou soluções sustentáveis de fornecimento, de acordo
com a necessidade de consumo de seus clientes. Sabe-se que quanto maior for o grau de
customização dos contratos, maiores serão os custos de transação associados ao negócio. Essa
diferenciação nos contratos aumenta a necessidade de recursos financeiros e técnicos das
ESCOs.
Em virtude da natureza única dos Contratos de Performance e de Fornecimento, os
custos das transações costumam ser elevados e limitam a margem de lucro das empresas
(Sorrell, 2007). Assim, muitas dessas empresas ficam dependentes de verbas oriundas de
políticas públicas e de incentivos financeiros regulamentados (como as tarifas de alimentação
– “Feed Tariff6”) para tornar seu negócio comercialmente viável, o que expõe as ESCOs a
riscos.
A não padronização dos contratos requer das ESCOs um gasto significativo de tempo
com seus clientes durante o estágio de concepção das mudanças a serem implantadas , para
garantir que as soluções aplicadas satisfaçam às necessidades dos contratantes e não afetem as
suas rotinas operacionais. Por exemplo, como parte do Contrato de Performance Energética, a
ESCO realiza uma auditoria sobre o consumo energético corrente e projeta os níveis de
consumo. Isso requer a coleta de informações por essa empresa para projetar um contrato
justo.
6 Tarifas que incentivam a micro geração de energia.
17
Os contratos de serviços energéticos, oferecidos pelas ESCOs, são de longo prazo.
Dessa forma, eles podem garantir receitas por muitos anos, o que facilita o cálculo do seu
fluxo de caixa e do seu orçamento. Entretanto, esses contratos também restringem a
flexibilidade operacional do seu serviço, pois não permitem ajustes no seu modelo de negócio
com o cliente e comprometem as empresas a cumpri-los por um extenso período (Mariano et
al., 2011).
No entanto, há ressalvas sobre as vantagens do desenvolvimento do mercado das
ESCOs sob argumentação de que o serviço oferecidos podem gerar efeito inverso, conhecido
como “rebound effect7”. Assim, a construção de aparelhos mais eficientes pode gerar uma
mudança no comportamento de seus agentes, fazendo com que estes aumentem o uso desses
aparelhos e, consequentemente, eliminem o ganho esperado de eficiência energética (Sorrell,
2007), criando um problema de risco moral8. Todavia, a literatura descreve casos de grandes
economias realizadas, dificilmente o efeito rebote seja suficiente para causar impactos
negativos no modelo de negócios das ESCOs e na redução do consumo de energia.
Os programas de eficiência energética que atuam pelo lado da demanda têm por
objetivo a diminuição do consumo de energia pelo consumidor. Alguns autores acreditam na
hipótese de mudança de comportamentos não desejada pelos clientes após a adesão dos
serviços das ESCOs, mas nada disso ainda foi comprovado. O mercado das ESCOs busca
superar esses problemas operacionais e comportamentais, através de soluções como
incentivos e parcerias.
7 O "rebound effect" (efeito rebote) é a redução dos ganhos esperados de eficiência energética. Um exemplo seria
que com o uso de lâmpadas mais eficientes, o agente decide deixá-las mais tempo acessa. Em virtude disso, os
ganhos de eficiência energética seriam reduzidos. 8 Risco moral é a mudança de comportamento de um agente após a adesão de um contrato. Para mais
informações, ver Pindyck (2006).
18
CAPÍTULO 2 - A EXPERIÊNCIA DO REINO UNIDO
Neste capítulo vamos apresentar a evolução das Empresas de Serviços Energéticos
(Energy Service Companies – ESCOs) no setor elétrico do Reino Unido. Para tanto,
estudamos as políticas de eficiência energética (EE), do período desde a nacionalização à
liberalização do mercado de energia. O foco deste estudo será as Empresas de Serviços
Energéticos e como elas estão inseridas nesse processo.
2.1 - O Setor Elétrico Britânico e as Empresas de Serviços energéticos
A reestruturação do setor elétrico britânico se destaca por seu pioneirismo e por ser a
reforma mais radical já realizada no setor elétrico mundial (Melo, 2002). As mudanças
introduzidas no setor elétrico inglês faziam parte do programa liberal, adotado pelo Partido
Conservador Inglês, que previa privatização e desverticalização das empresas estatais;
realização de um novo marco regulatório para o setor elétrico; reestruturação setorial e
liberalização do fornecimento de energia. Por esses motivos, foi objeto de estudo e inspiração
para que os governos implementassem, em seus países, mudanças nos seus respectivos setores
de energia elétrica. Esse modelo, inclusive, serviu de inspiração para a reforma do setor
elétrico no Brasil.
O setor de energia do Reino Unido era organizado como monopólio estatal entre o
final da Segunda Guerra Mundial (por volta de 1947) e o fim da década de 1970, com
instituições nacionais responsáveis pela geração, distribuição e fornecimento de energia
(Pond, 2006).
O Reino Unido era dividido em três zonas de despacho, de tamanho muito desigual.
Na Inglaterra e no País de Gales, toda a geração (cerca de 300 TWh) e a transmissão
pertenciam a Central Electricity Generation Board (CEGB9), enquanto doze Area Boards
eram responsáveis pela distribuição e fornecimento da energia no varejo. Na Escócia, o
sistema era dividido entre a North of Scotland Hydro-Eletric Board (NSHEB) e a South of
9 Para ter uma noção do tamanho dessa empresa, a CEGB era responsável pela geração e transmissão em torno
de 95% de toda a energia comercializada no Reino Unido.
19
Scotland Electricity Board (SSEB), cada uma responsável pelas atividades de geração (menos
de 40 TWh no total), transmissão, distribuição e fornecimento em suas respectivas áreas de
atuação (Ferraz, 2006).
No final desse período de nacionalização, as ESCOs começaram a surgir no Reino
Unido. A primeira dessas empresas, a Associated Heat Services10
, uma companhia estatal, foi
criada em 1966, como uma subsidiária da National Coal Board (Fawkes, 2007; Iqbal, 2009) e
não tinha a mesma definição de hoje. A empresa focava na oferta de energia, com operação e
gerenciamento de caldeiras residenciais a carvão. Essa primeira companhia foi desenvolvida
com o objetivo de prover serviços energéticos ainda atuando do lado da oferta, devido às
crescentes preocupações com o aumento do preço da energia nos final dos anos 1960 (Dalkia,
2012).
Essa empresa pioneira tinha como meta reduzir o custo de energia da National Coal
Board, predominantemente com EE e economia de trabalho. Logo após a consolidação da
Associated Heat Services, outras empresas similares entraram em cena fornecendo o mesmo
tipo de serviço, de operação e gerenciamento de caldeiras residenciais a carvão (Iqbal, 2009).
Devido ao fato do Reino Unido ser importador de petróleo e, consequentemente, estar
sujeito às suas volatilidades de preço, as duas crises desse insumo nos anos 70 levaram sua
economia a uma recessão (Aguiar-Conraria and Wen, 2006). Além de ter aumentado o preço
dos insumos energéticos, essas crises provocaram mudanças radicais e permanentes da
política energética do Reino Unido que ajudaram a desenvolver o mercado das ESCOs.
Com a chegada do Partido Conservador ao poder, em 1979, foi dado início ao
programa liberal defendido pelo partido. Esse programa previa a privatização das empresas
estatais que atuavam na indústria aeroespacial, nas telecomunicações, eletricidade, água, aço,
gás, carvão e, das estradas de ferro.
No início dos anos 80, a política econômica do governo da Primeira Ministra, recém
eleita, Margaret Thatcher trouxe mudanças significativas ao setor energético britânico através
de privatizações que começaram intensamente nesse período (Thomas, 1996). Nesse contexto
de crise energética, o Reino Unido passou a oferecer Contratos de Performance Energética,
sendo a “Management Company” a primeira ESCO de acordo com os conceitos que temos
hoje (Fawkes, 2007).
10 Atualmente, a empresa é conhecida como Dalkia, uma das maiores ESCO no Reino Unido.
20
O crescimento das ESCOs foi direcionado, num primeiro momento, ao fornecimento
de calor, via contrato de fornecimento energético. Dessa forma, grandes empresas do setor de
energia começaram a investir nesse mercado, como a Shell, com a Shell’s Emstar em 1982, e
a BP, com a BP Energy em 1983 (Sorrell, 2005). Essas companhias responsabilizavam-se
pelo design, construção, financiamento das caldeiras residenciais e por sua operação e
manutenção, de acordo com condições pré especificas e performance garantida (Fawkes,
2007; Sorrell, 2005).
O aparecimento desse tipo de trabalho pelas ESCOs surgiu devido ao incentivo
governamental ao uso das caldeiras residenciais a carvão pelas indústrias, com objetivo de
conservar esse insumo (Fawkes, 2007), pois as caldeiras que indústria usava até então
consumiam mais carvão do que as residenciais.
O processo de reforma do setor elétrico britânico era inerente ao conjunto de medidas
liberais introduzidas durante o governo Thatcher. Ele se baseava na crença de que a estrutura
de monopólio estatal era inflexível, burocrática e ineficiente, além de dificultar
reestruturações, devido às influências políticas. Havia ainda a preocupação com a segurança
do abastecimento, que estava ameaçado, sobretudo, pelas greves e crises de combustíveis.
Além disso, Oliveira (2004) destaca outras motivações que impulsionaram as mudanças:
I) novas abordagens acadêmicas, a partir da década de 60, sobre o funcionamento
das indústrias de rede, particularmente em relação ao conceito de
monopólio natural;
II) nova percepção quanto ao papel do Estado;
III) a redefinição e pressão por reformas na União Europeia; e
IV) inovações tecnológicas.
Pode-se considerar que a liberalização do mercado de energia elétrica teve início com
o Electricity Act, de 1989, que introduziu mudanças significativas no setor energético do
Reino Unido, como:
I) a introdução de um regulador de mercado (Offer em 1989 e Ofgem em 200011
);
II) a divisão das grandes empresas, que diminui o poder de mercado dessas empresas,
estimula novos entrantes no mercado; e
11 O agente regulador do mercado de eletricidade no Reino Unido até 2000 era o Office of Electricity Regulation (OFFER). Depois do energy act de 2000, o Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) passou a ser o
regulador tanto do mercado de eletricidade quanto do mercado de gás.
21
III) a reforma dos arranjos de mercado de energia elétrica.
Além dos novos arranjos de mercado houve a reestruturação do cálculo da tarifa de
energia, que passou a ser determinado através do modelo price cap12
. Esses arranjos tinham
como objetivo fornecer maior competição entre o mercado de geração (Helm, 2003) e garantir
o equilíbrio do sistema elétrico.
A competição na geração foi introduzida por meio da implantação de um mercado
único de energia no atacado, em que todos os geradores teriam que vender sua energia. Esse
mercado, conhecido como Electricity Pool, funcionava com lances de todos os participantes
que, além dos preços, continham dados técnicos (carga mínima, tempo de resposta etc.), antes
das 10 da manhã (Ferraz, 2006). O preço desse mercado variava em resposta às mudanças
regionais das companhias de eletricidade (Pond, 2006).
Segundo Glachant (2002), devido a Grã Bretanha não ser suficientemente conectada a
outros mercados elétricos, qualquer reforma competitiva deveria necessariamente dividir o
monopólio estatal de geração em vários geradores, separados da transmissão.
A liberalização dos mercados, realizada em um momento em que havia capacidade de
geração excedente, provocou uma redução significativa dos preços da eletricidade. Isso
limitou o interesse em medidas de EE e, consequentemente, na atratividade dos serviços das
ESCOs (Sorrell, 2005; Bertoli et al., 2007; Bertoli et al., 2006b). Ainda assim, o mercado das
ESCOs obteve crescimento sustentável durante os anos 1990 (Sorrell, 2005), atrelado aos
contratos de fornecimento de energia (Fawkes, 2007) através de Contratos de Fornecimento
Energético, o mais comum no mercado britânico de serviços energéticos.
Na década de 1990, a introdução de políticas de EE, pelo regulador setorial, ajudou a
impulsionar esse mercado. Os programas de EE obrigavam os fornecedores a economizarem
certa quantidade de energia por período. Sendo que, à medida que um programa acabava e
começava-se outro, a meta de economia energética era aumentada (Rosenow, 2012).
Em relação a esse crescimento, Hannon (2005:137) mostra que, de acordo com dados
da Energy Service and Tecnology Association (ESTA), o valor total anual das contas de
energia vinculadas às ESCOs subiu de £127 milhões/ano em 1993 para £500 milhões/ano em
12 Esse sistema consiste em estabelecer um limite superior para a indústria regulada aumentar seus preços, limite este que pode ser estabelecido para cada preço individualmente ou para a média de preços dos serviços
fornecidos pela indústria regulada. Para mais informações ver (Kupfer et. al, 2002).
22
2001. O crescimento das ESCOs, nos anos 2000, deu-se principalmente pela redução de
tamanho e terceirização da indústria. O autor destaca outro fator importante para esse
crescimento. Houve uma mudança nas regras governamentais, que antes proibia o
financiamento privado no setor público. Até então os contratos de serviços energéticos do
setor privado com o setor público eram limitados. A remoção dessa barreira e a entrada de
fundos privados ajudaram no crescimento das ESCOs (Sorrel, 2005; Grout, 1997).
Assim, as mudanças no marco regulatório no final do século XX impulsionaram o
mercado das ESCOs no Reino Unido, pois as dificuldades com a segurança energética,
acessibilidade e redução das emissões de carbono foram sendo equacionadas. Em seu
trabalho, Sorrel (2005) mostra que o aumento dos preços do gás e da eletricidade13
, durante os
anos 2000, e o papel do governo em relação à segurança de abastecimento e ambiental (em
resposta ao fornecimento de energia e às mudanças climáticas) proporcionaram um
crescimento de aproximadamente 15% ao ano do mercado de ESCOs até a metade da década
de 1990.
No início do século XXI, o foco do governo britânico continuou voltado à promoção
de segurança, acessibilidade e o fornecimento de energia de baixo carbono. Foram
implantadas regras que apoiam as medidas de EE e o fornecimento de energia de baixo
carbono, favorecendo o desenvolvimento do mercado das ESCOs. Em 2010, o número de
ESCO no Reino Unido era em torno de 20 empresas, com um mercado de 400 milhões de
Euros por ano (Marino et al. 2010). Em 2013, já existiam aproximadamente 50 ESCOs, com
um mercado de um bilhão de Euros por ano (Bertoldi et. al, 2014).
Observa-se que nos últimos anos o mercado das ESCOs passa por um crescimento
acelerado, impulsionado pelo surgimento de novas regras para a promoção de EE e redução
de emissões de poluentes. Foi o que ocorreu com a Electricity Market Reform de 2013, que
estabeleceu um preço mínimo para o carbono, com a implementação dos programas Energy
Company Obligation e Green Deal, desenvolvidos para promover a EE no Reino Unido e
internalizar as externalidades negativas relativas à poluição.
13 Nos anos de 1980 e 1990 o preço da energia era baixo, quando comparado com os preços praticados nos anos
2000. Entretanto, de 2002/2003 em diante, os preços de todos os insumos energéticos cresceram drasticamente. O preço do gás, em termos reais, quase dobrou em uma década e a eletricidade aumentou em 45% (Rosenow,
2012).
23
2.2 - Principais características do mercado das ESCOs no Reino Unido
2.2.1 - Aspectos Regulatórios
O marco regulatório atual promove incentivos financeiros à geração de energia de
baixo carbono, tarifas feed-in14
, para as ESCOs e incentivos para uso de aquecimento
renovável. Assim contribui para um maior fluxo de receita das ESCOs, tanto na instalação
residencial como na governamental, devido ao longo prazo de maturação dos investimentos
realizados.
Existem programas de acesso ao crédito que contribuem para a diminuição do custo do
capital inicial disponível para o desenvolvimento dos projetos de serviços energéticos. Os
novos incentivos financeiros do Department of Energy e Clima Change (DECC) ajudam no
aumento do número de demonstrações de EE e no uso de novas ideias relacionadas à EE.
Além disso, o Carbon Reduction Commitment Energy Efficiency Scheme (CRC) coloca a EE
na agenda coorporativa do governo.
As campanhas de consumo consciente de energia, do CERT e do CESP15
, tornam o
investimento inicial mais disponível, através de fundos próprios, e encorajam as
concessionárias de energia (Energy Utilities) a diversificarem suas atividades. Entretanto, o
governo impôs muitas exigências para que as ESCOs aplicassem os fundos governamentais
na realização de projetos de EE.
Além disso, as leis locais (Energy Act) têm criado grandes oportunidades para que
seus governos e comunidades estabeleçam suas ESCOs. Elas são, em grande parte,
relacionadas ao planejamento da própria localidade16
. Assim, as comunidades passam a ter
mais autonomia sobre sua fonte energética, dependendo menos de fontes distantes e do
governo central. Apesar disso, muitos conselhos locais ainda são conservadores em relação
aos riscos que correm essas empresas, como foi mencionado no primeiro capítulo,
dificultando assim o desenvolvimento de novos negócios.
Mesmo com esses avanços, no âmbito regulatório, as regras de contratação podem ser
melhoradas. Essas regras fazem com que a procura por contratos de serviços energéticos seja
14 Tarifas que incentivam a micro geração de energia. 15 O CERT (Carbon Emissions Reduction Target) e o CESP (Community Energy Saving Programme) são programas governamentais que propõem a melhoria da eficiência energética nas residências do Reino Unido. 16 Cidades de pequeno e médio porte.
24
mais demorada e que esses contratos sejam intensivos em capital, tanto para as empresas
quanto para os consumidores. Isso diminui a procura pelos serviços das ESCOs.
Além disso, o declínio do fundo setorial específico (Capital Grant schemes) torna o
capital inicial mais escasso, o que prejudica as empresas com pouca condição financeira.
Apesar dos programas de acesso ao crédito no novo modelo de negócio energético, a falta de
financiamento suficiente dificulta a sua implantação (Hannon, 2012).
2.2.2 - Aspectos Econômicos
A diminuição do ritmo de crescimento da economia, após as crises do petróleo nos
anos 70, induziu o consumidor a diminuir seus gastos com energia. Em virtude da restrição
de renda, por causa da recessão, ocorreram limitações para a realização dos investimentos
necessários para a diminuição desses gastos. Assim, as ESCOs puderam tirar vantagem desse
cenário. No mercado das ESCOs, o sinalizador mais influente é o preço da energia, pois ele é
tangível.
Devido ao baixo crescimento econômico, os casos de miséria de combustível (Fuel
Povert) estão aumentando. Isso leva a uma perda da qualidade de vida da população mais
carente e a possíveis aumentos dos casos de inadimplência, estimulado assim ações
governamentais para aliviá-la. Como exemplo, o aumento de projetos distritais,
particularmente àqueles liderados por autoridades locais, que atuam diretamente para a
resolução dessa situação.
O mercado de baixa emissão de carbono mostra-se como uma boa oportunidade de
negócio. Esse mercado recebe incentivos governamentais e exerce influência no
desenvolvimento de projeto de energia verde, reduzindo as emissões de carbono na atmosfera.
Sabe-se que o aumento de crédito para as ESCOs financiarem seus projetos de energia,
em virtude da ampliação dos investimentos nessas empresas, possibilitou maior eficiência na
prestação de seus serviços aos clientes. Todavia, o principal obstáculo econômico se refere à
falta de apoio financeiro apropriado para garantir os contratos de serviços energéticos.
Projetos de infraestrutura necessitam de financiamentos específicos e, geralmente, eles não se
encontram disponíveis em quantidade suficiente para atender às empresas (Hannon, 2012).
25
Pela falta de familiaridade com tais investimentos, algumas instituições privadas cobram altas
taxas de juros, afastando assim potenciais clientes.
Para atuar no mercado energético, a ESCO entrante encontra dificuldades em se
estabelecer, em comparação às grandes empresas, devido aos custos iniciais maiores e,
consequentemente, lucros menores. No Reino Unido, as maiores concessionárias de energia
(empresas de fornecimento, geradoras e distribuidoras de energia) têm grande influência no
setor energético. Essas empresas possuem juntas entre um e dois milhões de consumidores e
um custo marginal capaz de inibir a entrada qualquer outra nesse mercado.
Algumas ESCOs são chamadas de “campeãs locais”, pois essas empresas se destacam
em suas localidades em virtude do grande número de cliente e da satisfação alcançada na sua
meta energética. Essas empresas orientam as demais na busca pela melhor qualidade de
serviço e maior EE.
Os modelos de negócios que visam decisões sustentáveis ganham cada vez mais
espaço no ambiente empresarial. Grande parte das empresas e instituições adotam políticas de
responsabilidade social (Corporate Social Responsability), que contribuem para melhorar a
imagem da empresa. Realizam projetos que se destinam à redução do seu consumo de energia
e, consequentemente, das suas emissões de gases nocivos à atmosfera. Além disso, existem
problemas em encontrar mão de obra qualificada para liderar os projetos de energia nesse tipo
de empresa (ESCO) e entregar a energia estabelecida nos contratos (Hannon, 2012).
2.2.3 - Infraestrutura e Tecnologia
As inovações tecnológicas têm melhorado a relação custo-benefício dos contratos de
serviços energéticos. Um exemplo disso são as lâmpadas de LED, que passaram a fornecer
uma economia dos custos com iluminação que pode chegar a 40%.
O aproveitamento dos sistemas de distribuição existentes, como os sistemas de redes
de aquecimento urbano, os sistemas particulares de energia e o sistema nacional, facilitaram a
implementação de geradores distribuídos. Isso diminuiu a necessidade de geradores centrais,
afastados das áreas geradoras, diminuindo seus custos de instalação.
26
Os projetos de serviços energéticos trazem soluções que visam à redução dos custos
dos prédios, principalmente dos mais antigos, que podem ter uma economia energética em
torno de 30% da sua conta (MME, 2013). Há situações, nesses prédios, em que a troca do
sistema de aquecimento interno não foi autorizada pelo conselho de administração do
estabelecimento. Nesses casos, ainda é melhor providenciar contratos energéticos do que não
fazer nada.
Apesar desses pontos positivos em tecnologia e infraestrutura, os altos custos das
tecnologias de baixo carbono (como o isolamento térmico das paredes externas) e da
infraestrutura energética (como as redes privadas) podem tornar os projetos de serviços
energéticos financeiramente inviáveis.
2.3 - Diferentes Modelos de ESCOs no Reino Unido
De acordo com Hannon (2012), existem diferentes modelos de ESCO do Reino Unido.
São quatro os tipos de variações mais comuns no Reino Unido:
ESCO da Autoridade Local (Local Authority ‘Arm’s Length’ ESCo);
Fornecedor de Serviços Energéticos (Energy Service Provider);
Fornecedor de Serviços Energéticos das Concessionárias de Energia (Energy
Utility Energy Service Provider); e
ESCO Comunitária (Community Owned and Led ESCo).
A ESCO da Autoridade Local é uma empresa de serviço energético que pode ser
inteiramente do conselho local (prefeitura) ou ter participações do setor privado. Seu objetivo
principal é ajudar a autoridade local a atingir seus objetivos de política energética (redução da
miséria de combustível, mitigação das mudanças climáticas, melhora da economia local com
geração de emprego e outros) através de um veículo privado. Geralmente, essa empresa não
possui fins lucrativos, pois toda a sua receita é destinada ao seu autofinanciamento.
Nesse modelo de ESCO, a empresa fica exposta a riscos de financiamento menores,
dado a conversão do lucro em caixa, além da possibilidade de auxílio da autoridade local.
Apesar disso, esse modelo ainda está associado a algum risco, seja ele relacionado ao
pagamento aos fornecedores e credores ou à capacidade técnica da ESCO em atingir suas
metas energéticas.
27
As Fornecedoras de Serviços Energéticos são empresas do setor privado, com clientes
residenciais e comerciais, sem atendimento industrial, que assumem todo ou grande parte do
risco financeiro e técnico do projeto. Algumas organizações, como as autoridades locais e
promotores imobiliários, contratam essas empresas, caso sofram de falta de recursos
financeiros, técnicos ou por causa dos riscos associados. Porém, essa transferência de
responsabilidade se traduz por uma grande divisão das receitas obtidas com tal serviço.
As Concessionárias de Energia começaram a criar, recentemente, suas próprias
empresas de serviço energético, adicionando valor ao seu serviço, diferenciando-se dos seus
concorrentes e atraindo (ou mantendo) mais clientes com a nova demanda de qualidade de
serviço, sustentabilidade e diminuição dos custos energéticos. A principal diferença entre
essas empresas e as Fornecedoras se caracteriza pelo fato dessas últimas serem subsidiárias de
uma Concessionária de energia. Segundo executivos de setor, isso se deve às mudanças do
mercado e as Concessionárias terem adequado o seu modelo de negócios, até então
caracterizado apenas pela venda de energia elétrica. Assim, elas podem ser bem sucedidas em
um novo ambiente competitivo, compensando a perda em outro mercado.
Algumas empresas tradicionais de distribuição/fornecimento já possuem suas próprias
ESCOs. O que está sendo considerado agora é a atuação de alguns fatores (ver seção 3.2) para
dinamizar o mercado das ESCOs.
Podemos dizer que as Concessionárias de Energia estão interessadas em ampliar seu
mercado, mas no atual modelo regulatório ainda há poucos incentivos para que isso aconteça.
O principal argumento usado para não existir uma regulamentação sobre o tema é o desejo de
continuarem lucrativas no futuro, através do crescimento e concentração da fatia de lucro das
empresas atuantes do mercado (Hannon, 2012).
A ESCO Comunitária é uma empresa que tem como objetivo atender às necessidades
energéticas de uma comunidade (entrega de projetos de serviço energético), como também
realizar um conjunto de objetivos comunitários (desenvolvimento sustentável, diminuição da
miséria de combustível, crescimento da economia local e outros). Um exemplo de ESCO
comunitária é a Meadows Ozone Energy Services Limited (MOZES), que além de atuar como
fornecedora de energia na região de Nottingham, também é responsável pelo financiamento,
instalação, operação e manutenção dos painéis solares de seus clientes.
28
Normalmente, esse tipo de ESCO tem mão de obra oriunda da comunidade local que
também são acionistas da empresa, sem fins lucrativos. Devido à limitação de seus recursos,
ela depende de seus parceiros comerciais para entregar os serviços de energia. Essa empresa
se sustenta com os habitantes da região, via trabalho voluntário, para operar os seus serviços.
Como se pode ver, o Reino Unido possui políticas de EE desde o pós-guerra. Assim, o
amadurecimento dos mercados possibilitou a implementação e o desenvolvimento das
empresas de serviços energéticos (Energy Service Companies – ESCOs). É possível notar que
uma maior participação governamental (seja por incentivos diretos, indiretos, atos legislativos
ou regulatórios) estimula uma maior concorrência nesse mercado.
29
CAPÍTULO 3 - A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA
Neste capítulo vamos analisar a implementação das Empresas de Serviços Energéticos
(Energy Service Companies – ESCOs) no Brasil. Para isso, fazemos uma breve apresentação
da história do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) e da participação das ESCOs neste setor. Em
seguida, estudamos as políticas de eficiência energética (EE) que se desenvolveram ao longo
da história do SEB, a atuação das ESCOs e o financiamento dessas empresas no Brasil.
3.1 - O Setor Elétrico Brasileiro e as Empresas de Serviços Energéticos
Historicamente, a partir de 1950, o Estado Brasileiro foi responsável pelo
fornecimento de infraestrutura para o desenvolvimento econômico, especialmente o setor
industrial. O setor elétrico brasileiro possuía então desenho estrutural misto, formado por
diversas empresas que atuavam em segmentos específicos e outras integradas verticalmente.
Em relação ao desenho institucional, a estrutura de decisões do setor elétrico brasileiro foi
concebida de forma bastante centralizada (Roxo, 2005).
Esse desenho (estrutural e institucional) do setor elétrico brasileiro, vigente desde
1964, permaneceu praticamente inalterado nos trinta anos posteriores. Como Pinto Jr. (1998)
ressalta, a capacidade de intervenção do Estado foi favorecida por uma conjuntura
internacional marcada pelo crescimento econômico e pela abundância de recursos financeiros.
Entretanto, nesse mesmo trabalho, o autor destaca que os primeiros anos da década de 1980
foram marcados por uma crise financeira do setor elétrico brasileiro, caracterizada por
endividamento excessivo17
, dificuldades de captação de novos empréstimos externos e forte
dependência dos recursos do Tesouro Nacional. Em vista disso, profundos impactos no setor
deterioraram a eficiência econômica do modo de organização industrial e do modelo de
financiamento setorial.
17 Segundo Leite (1997, p. 439), o endividamento total do setor com operações externas, passa de US$ 3.459
milhões em 1973, para US$ 25.929 milhões em 1986.
30
Devido ao fato do Brasil ser importador de petróleo e, consequentemente estar sujeito
às volatilidades do preço do combustível, as duas crises desse insumo, nos anos 70, levaram
sua economia a uma recessão. No contexto de crise do petróleo, começaram surgir medidas
governamentais de EE e o mercado de ESCOs. A ênfase inicial dos programas de EE estava
no uso industrial dos derivados do petróleo e, frequentemente, envolvia mais a substituição
desses derivados do que propriamente a EE (Poole et. al, 1997).
Em meados da década de 80, a queda dos preços do petróleo reduziu o mercado de
ESCO. No entanto, em 1986, foi dado um novo impulso ao seu desenvolvimento com o
início do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) para a
eletricidade. Isso incentivou muitas auditorias do uso de energia, mas poucos investimentos
foram realizados em medidas de conservação de energia (Poole et. al, 1997).
No final dos anos 80, foi promulgada a Constituição de 1988, cujo art. 175 dispôs que
“incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”, deixando aberta a
possibilidade de se reestruturar o sistema elétrico brasileiro. No entanto, o artigo só
regulamentado anos depois através das denominadas Leis das Concessões, como veremos
mais à frente (Ferraz, 2006).
Entre as motivações para a reestruturação do setor elétrico brasileiro, se destaca a
perda progressiva da capacidade de investimento em infraestrutura do Estado. Isso
comprometeu a qualidade, a expansão e a modernização dos serviços públicos. Então, para
equacionar o problema do déficit fiscal, atrair investimentos e tornar as empresas energéticas
mais eficientes, a solução seria a entrada de capitais privados no setor. Desse modo, segundo
seus defensores, permitiria a expansão do sistema elétrico (Roxo, 2005).
Esse debate sobre a crise do Estado brasileiro e a necessidade de sua reconstrução era
caracterizado por dois aspectos: a necessidade de torná-lo mais eficiente, eficaz e efetivo nos
aspectos administrativo e político e de efetuar a revisão de suas funções (Roxo, 2005).
A partir de meados da década de 1990, quando o Estado passou por uma fase de
liberalização, teve início uma nova fase do setor elétrico brasileiro. Nessa ocasião, começou o
processo de desregulamentação e privatização das empresas. Essas mudanças, em parte,
desenvolveram-se a partir das modificações no contexto internacional, principalmente às
31
associadas ao modelo de competição introduzido no Reino Unido, com a abertura do mercado
de energia elétrica.
A turbulência macroeconômica, na virada da década de 90, causada pela situação
econômica do país, pelo o declínio do PROCEL e dos correspondentes programas das
concessionárias naquela época, levaram o mercado de serviços de EE a uma baixa (Poole et.
al, 1997). Mas, apesar disso, a primeira empresa de serviço energético (ESCO) surgiu no
Brasil, em 1992 (Vine, 2005).
Mesmo com a queda da atividade econômica brasileira, desde os anos 1980, o ritmo de
crescimento do mercado elétrico nacional era muito superior comparado a mercados mais
maduros (Pinto Jr. et al., 2007). Com isso, as empresas elétricas brasileiras colocaram-se em
posição de destaque para a atração de investimentos estrangeiros.
Como ocorreu em diversos países, observa-se que a entrada de capitais privados e a
eficácia de um novo modelo dependem de mudanças institucionais no setor elétrico brasileiro.
Para a criação desse novo modelo de organização industrial do setor, destacamos quatro
aspectos legais e institucionais (Pinto Jr et al., 2007):
I) nova lei de concessões, Lei 9.074/95;
II) criação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);
III) criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); e
IV) instituição do Mercado Atacadista de Energia18
(MAE).
A Lei Geral de Concessões, Lei nº 9.074/95, definiu algumas regras gerais para a
prestação dos serviços públicos, como os direitos e as obrigações dos usuários. Nesse
contexto, deve-se ressaltar a instituição do serviço pelo preço (em substituição ao serviço pelo
custo) para concessões e permissões de serviços públicos com reajustes e revisões tarifárias, a
fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro das concessões (Tolmasquim, 2011).
Em 1996, foi criada a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com o objetivo
principal de ser a agência reguladora19
do setor elétrico, baseada em conceitos voltados para
garantir a autonomia e a independência em relação às influências do Governo Federal (Lei nº
9.427/96).
18 Futuramente, esse mercado seria substituído pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 19 Segundo Pires (1999), durante o período de predomínio estatal, não foi exercida qualquer forma efetiva de regulação sobre as empresas, pois não interessava ao Estado se autofiscalizar, visto que as empresas estavam sob
o seu controle acionário e não havia mecanismos sociais para controlá-las.
32
Em 1998, o Mercado Atacadista de Energia (MAE) e o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) foram criados para assumirem as funções que eram de responsabilidade da
Eletrobrás (Lei nº 9.427/96). Sua regulamentação se deu através do Decreto 2.655, de 2 de
julho de 1998.
O MAE tinha como objetivo o estabelecimento de um preço que refletisse o custo
marginal da energia no sistema. Esse preço sinalizava a necessidade de novos investimentos e
servia como base para contratos bilaterais de longo prazo, destinados a reduzir a volatilidade
dos preços. Nesse mercado, onde ocorriam às negociações de energia não contratada, criava-
se um ambiente multilateral em que os comercializadores e geradores podiam comprar e
vender energia, possibilitando um ambiente concorrencial (Ferraz, 2006).
O ONS garantia o livre acesso à rede básica de transmissão. Ele também era
responsável pela manutenção da integridade do sistema, operando um conjunto de modelos de
otimização que definiam o despacho das centrais elétricas. Nesse processo, o ONS levaria em
consideração todo o fluxo de energia, tanto à contratada previamente, quanto à liquidada em
tempo real por meio do MAE. Dessa forma, seria estabelecida a livre negociação para a compra e
venda de energia elétrica entre as concessionárias, permissionárias e autorizadas dos serviços de
distribuição e geração de energia elétrica (Lei nº 9.648/98).
Essas três instituições (ANEEL, ONS e MAE) constituíam a base para o novo modelo
de setor elétrico que o governo se propunha à instituir na segunda metade dos anos 1990.
Podemos acrescentar que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e o Comitê
Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos (CCPE) detinham papéis
secundários nessa reforma. Havia a percepção de que o monitoramento e o planejamento não
eram funções de primeira instância, pois se esperava que o mercado fizesse as coordenações
mais relevantes para o setor (Pinto Jr et al, 2007).
A partir dessa reforma, o resultado para o setor foi à desestatização de 80% da
distribuição e 20% da geração de energia elétrica (Ferraz, 2006). Nessa ocasião, ocorreram
novas licitações de concessões de serviços públicos, separação das atividades de geração,
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e, também, a criação de novos
agentes (Produtor Independente de Energia e Consumidor Livre).
As experiências internacionais influenciaram a agenda de reestruturação do setor de
energia no Brasil, devido à falta de capacidade de financiamento das empresas estatais.
33
Assim, os novos operadores privados deveriam recuperar o nível de investimentos,
eliminando gargalos de crescimento dos demais setores econômicos. Em vista disso, o
governo brasileiro diminuiu o seu papel de proprietário de empresas e passou a exercer uma
função mais regulatória, principalmente no segmento de distribuição de energia elétrica.
No entanto, de acordo com Fonseca et. al (2012), entre 1999 e 2001, uma série de
problemas colocou em dúvida a credibilidade do novo modelo:
I) o MAE não conseguiu fazer nenhuma liquidação mensal, paralisado por ações
judiciais causadas pela falta de cumprimento dos contratos de entrega de
energia (no caso das empresas geradoras), ou de consumo de energia (no caso
das distribuidoras). Esses contratos tinham que ser respeitados, mesmo que a
quantidade de energia comercializada não fosse à contratada;
II) os investimentos eram insuficientes para a expansão da transmissão e produção
de energia elétrica. Como as empresas estatais foram impedidas de fazer a
captação de recursos (Resolução do BACEN nº 1.464/00 e 1.469/00), ocorreu
maior dependência de capitais privados;
III) a ocorrência de falhas no planejamento energético integrado, pois acreditava-se
que as forças de mercado equilibrariam a oferta e a procura de energia elétrica,
e que as térmicas a gás natural seriam competitivas;
IV) a estiagem que atingiu os reservatórios do nordeste e do sudeste/centro-oeste,
em maio de 2001, levou ao racionamento de energia;
V) por último, a perda de receitas das empresas distribuidoras provocou, entre
2001 e 2003, uma grave crise financeira nas empresas elétricas, em particular
nas empresas de distribuição.
Nesse contexto de incerteza quanto às condições econômico-financeiras necessárias ao
prosseguimento da reforma no setor elétrico, os novos entrantes privados e as empresas
públicas retardaram novos investimentos. O risco de déficit de energia vinha aumentando
desde 1997, devido à redução contínua dos níveis de confiabilidade dos reservatórios. Esse
aspecto contribuiu para a instabilidade das relações comerciais no setor. Além disso, o
racionamento de eletricidade, em maio de 2001, provocou a perda de receita das
34
distribuidoras e, consequentemente, uma grave crise financeira nas empresas elétricas
brasileiras (Pinto Jr et al, 2007).
Em plena crise do setor elétrico, o País teve eleições e o então candidato da oposição,
Luís Inácio Lula da Silva, foi vitorioso. Um novo modelo para o setor elétrico brasileiro foi
proposto pelo governo do novo presidente e definido a partir da aprovação no Congresso
Nacional das Leis 10.847 e 10.848, em março de 2004. As regras de comercialização de
energia elétrica e o processo de outorga de concessões e autorizações no novo modelo do
setor foram regulados pelo Decreto 5.163, em julho de 2004.
Nessa ocasião, as alterações mais significativas estabelecidas pelo governo foram
(Fonseca et. al 2012), :
I) a criação de uma nova entidade prevista para elaborar o planejamento
energético e ambiental – a Empresa de Estudos e Planejamento Energético
(EPE);
II) o aumento do controle do Ministério de Minas e Energia no ONS e no MAE,
substituído pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE);
III) a alteração da compra garantida e obrigatória por parte das distribuidoras por
um processo de leilões de energia, baseado no menor preço, nos quais a
compra seria efetuada por um único comprador (monopsônio), pool,20
que faria
o rateio do montante para os compradores; e
IV) a criação do Comitê Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), responsável
pela garantia da normalidade do suprimento de energia elétrica e pela emissão
dos sinais de alerta quando ocorrerem desequilíbrios entre oferta e demanda.
O foco da nova organização industrial, proposto por esse modelo, foi à criação de
condições para a garantia do suprimento de energia elétrica, tentando reduzir os riscos de
racionamento de energia, como o ocorrido em 2001 e 2002 (Pinto Jr et al, 2007). Segundo
esses autores, os principais objetivos do novo modelo são:
I) a promoção da modicidade tarifária, um fator essencial para o atendimento da
função social da energia e a melhoria da competitividade da economia;
20 O pool consiste em mecanismos regulatórios do novo modelo institucional do setor elétrico, havendo um mix
tarifário para a formação dos preços. A energia mais barata, proveniente das hidrelétricas antigas, já amortizadas,
é misturada com a energia de novos empreendimentos, mais cara. As distribuidoras são obrigadas a comprar energia desse pool, o que garante às geradoras receitas certas, possibilitando assim a baixa de preços. (Bosquetti
et. al, 2004)
35
II) a segurança do abastecimento, condição básica para garantir o
desenvolvimento econômico sustentável;
III) a garantia da estabilidade do marco regulatório, com vista à atratividade dos
investimentos na expansão do sistema; e
IV) a inserção social por meio do setor elétrico, em particular através de
programas de universalização de atendimento, como o Luz Para Todos.
No início do século XXI, mesmo com grave crise financeira nas empresas elétricas,
foram também criadas condições que garantissem a implantação do novo modelo do setor
elétrico. Houve uma fase de grandes oportunidades para as empresas de serviços energéticos.
A EE voltou a ser importante na política energética brasileira, como demonstram dois fatores
a seguir:
I) a criação da Lei 9.99121
, de 2000, que regulamenta a obrigatoriedade de
investimentos em programas de EE por parte das empresas brasileiras
distribuidoras de energia elétrica, ajudou a desenvolver a EE no Brasil assim como
o seu mercado; e
II) o racionamento de energia em maio de 2001, que ajudou a dar uma maior
viabilidade para essas empresas de serviços energéticos (ESCOs) no país.
Em 2005, atuavam no Brasil 60 ESCOs e com valor de projetos estimados em 100
milhões de dólares (US$ de 2001), como observa Vine (2005). A isso se somaram atividades
do PROCEL e do financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) que criaram um ambiente de mercado favorável às ESCOs e que analisaremos mais
adiante. Atualmente, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Conservação de
Energia (ABESCO), o país possui um total de 88 ESCOs, porém apenas 22 dessas empresas
participam do Qualiesco22
.
Para se ter uma ideia do tamanho desse mercado no Brasil, de acordo com o Balanço
Consolidado de 2014 do grupo Light SA, o lucro obtido no período de 2013 pela Light ESCO
21 Essa Lei criou o Programa de Eficiência Energética das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica
(PEE). 22 O Qualiesco é um programa desenvolvido pela ABESCO, em escala nacional, que visa conhecer e quantificar
as especialidades de cada ESCOs. Ele tem o propósito de desenvolver um bom programa de capacitação, além de
poder referenciá-la ao mercado.
36
foi de R$17.723.000, enquanto o do Grupo Light23
foi de R$609.462.000, representando
assim apenas 2,91% do lucro da empresa. Já em 2014, a Light ESCO obteve prejuízo de
R$2.091.000, em frente ao lucro de R$673.420.000 no período do Grupo Light. Isso
demonstra como esse mercado pode ser instável e contribui ainda muito pouco para a receita
das concessionárias. Sendo assim, ele necessita de programas de EE para promoverem o
crescimento do mercado das ESCOs.
3.2 - Políticas de Eficiência Energética no Brasil
O Brasil possui há pelo menos duas décadas programas de EE reconhecidos
internacionalmente: o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), o
Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural
(CONPET) e o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE).
Em 1984, o Instituto Brasileiro de Metrologia, Normalização e Qualidade (Inmetro)
implementou o PROCEL, tendo por objetivo promover a redução do consumo de energia em
equipamentos como refrigeradores, congeladores, e condicionadores de ar domésticos. Nessa
época, algumas iniciativas também ocorreram como estímulo ao desenvolvimento tecnológico
e à adequação de legislação e normas técnicas. Somente a partir de 1990, o PROCEL iniciou
projetos de demonstração e cursos técnicos para formar profissionais com competência
específica na área.
Esse programa foi renomeado, em 1992, sendo a partir de então denominado Programa
Brasileiro de Etiquetagem (PBE). As suas atribuições iniciais foram preservadas, às quais
foram agregados os requisitos de segurança e o estabelecimento de ações para a definição de
índices mínimos de EE (MME, 2013). Esse programa de etiquetagem de equipamentos
elétricos classifica os produtos pela utilização eficaz da energia elétrica, recebendo categorias
de A ao E, do mais eficiente até o menos eficiente, respectivamente.
Em 1991, foi instituído, por decreto presidencial, o Programa Nacional de
Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (CONPET) sob a
coordenação de representantes de órgãos estatais e privados. Nesse mesmo ano, as
23 As empresas que fazem parte do Grupo Light nessa comparação são: Light SESA (distribuição),Light Energia
(geração), Light ESCO (comercialização e serviços), Light Comercializadora (comercialização e serviços), Light Soluções (comercialização e serviços), Lightger (geração), Itaocara Energia (geração), Axxiom (Tecnologia da
Informação) e Amaxônia Energia (geração).
37
competências do PROCEL foram revistas. Ambos os programas têm como finalidade
desenvolver e integrar ações que visem à racionalização do uso da energia. A área de atuação
do CONPET abrange as instituições de ensino e os setores de transportes, industrial (melhoria
ambiental e competitividade produtiva), residencial e comercial (uso de selos de eficiência
para produtos), agropecuário (uso de óleo diesel) e geração de energia (termelétricas) (MME,
2013).
Em 08 de dezembro de 1993, por meio de decreto federal, foi instituído o Prêmio
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, destinado ao reconhecimento das
contribuições em prol da conservação e do uso racional da energia no país. O decreto
determinou que o prêmio fosse conferido, anualmente, nas seguintes categorias: órgãos e
empresas da administração pública, empresas do setor energético, indústrias, empresas
comerciais e de serviços, micro e pequenas empresas, edificações, transporte e imprensa.
Nessa mesma data, outro decreto instituiu o Selo Verde de Eficiência Energética, com o
objetivo de identificar os equipamentos que apresentassem níveis ótimos de eficiência no
consumo de energia (MME, 2013).
Em 24 de julho de 2000, foi promulgada a Lei n° 9.991, que regulamenta a
obrigatoriedade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento em EE, por parte das
empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. A Lei
9.991 consolidou a destinação de recursos para ações de EE, o chamado Programa de
Eficiência Energética das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica (PEE), que já
contou com mais de R$ 2 bilhões em investimentos realizados ou em execução. A referida Lei
dispõe sobre a política nacional de conservação e uso racional da energia, visa à alocação
eficiente dos recursos energéticos e também a preservação do meio ambiente (Plano Nacional
de Eficiência Energética).
No âmbito do PEE, verificou-se nos primeiros ciclos, a predominância dos
investimentos na redução de perdas técnicas nas redes de distribuição, em lâmpadas eficientes
em redes de iluminação pública e na realização de diagnósticos energéticos em instalações
industriais, comerciais e de serviços. Nos ciclos mais recentes, observou--se o forte
crescimento de ações para a melhoria da gestão energética, frequentemente envolvendo
parcerias com Empresas de Serviço de Conservação de Energia (Energy Service Companies -
ESCOs), em indústrias e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços (ANEEL,
2013).
38
Em Outubro de 2001, foi promulgada a Lei da Eficiência energética (Lei 10.295). A
referida Lei dispõe sobre a política nacional de conservação e uso racional da energia, visando
à alocação eficiente dos recursos energéticos e também a preservação do meio ambiente.
De acordo com a Lei de Eficiência Energética vigente no país, o Poder Executivo, via
Ministério de Minas e Energia, é responsável por formular as políticas energéticas. Ele possui
as seguintes funções (MME, 2013):
I) estabelecer níveis máximos de consumo específico de energia, ou mínimos de EE,
de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados
no país, com base em indicadores técnicos pertinentes;
II) desenvolver mecanismos que promovam a EE nas edificações construídas;
III) estabelecer um programa de metas para sua progressiva evolução e obrigar os
fabricantes e importadores dos aparelhos a adotar as medidas necessárias para que
sejam obedecidos os níveis máximos de consumo de energia e mínimos de EE,
constantes da regulamentação estabelecida para cada tipo de máquina ou aparelho;
IV) regulamentar a aplicação da Lei n° 10.295/01, através do Comitê Gestor de
Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE), que tem como
competência elaborar a regulamentação e plano de metas, específicas para cada
tipo de aparelho e máquina consumidora de energia;
V) coordenar as ações do PROCEL e do CONPET;
VI) constituir comitês técnicos, entre outras atribuições.
Em 2005, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabeleceu o
direcionamento de pelo menos 50% dos recursos do PEE para o uso eficiente de energia,
junto a consumidores residenciais de baixa renda (adequação de instalações elétricas internas
das habitações, doações de equipamentos eficientes, entre outros).
Em 2010, foi promulgada a Lei n° 12.212, que alterou o percentual destinado aos
consumidores de baixa renda. Por meio dessa Lei, as concessionárias e permissionárias de
distribuição de energia elétrica devem aplicar, no mínimo, 60% dos recursos dos seus
programas de EE em unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social.
A figura 3.1, a seguir, mostra como foi desenvolvido a política de EE brasileira ao
longo do tempo.
39
Figura 3.1. Evolução da política de eficiência energética
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, Baseado no Plano Nacional de Eficiência Energética,
A experiência acumulada ao longo desses anos evidencia que é possível, de fato,
retirar uma parcela do consumo de energia por meio de iniciativas na área de EE. O consumo
energético final no Brasil atingiu 253.422 10³ tep (toneladas equivalente de petróleo) no ano
de 2012. Com base nos estudos do Ministério de Minas e Energia, o Brasil possui um
potencial de EE que corresponde a 8,7% do consumo energético final (MME, 2007).
Conforme as estimativas realizadas a partir do Balanço Energético Nacional (BEN,
2013), mais da metade do potencial de EE no Brasil encontram-se no consumo das famílias
(setor residencial), na indústria, no comércio e no setor público. Em 2012, esses setores
representaram juntos mais de 50% do consumo energético do país (BEN, 2013), o que os
torna alvo das políticas de EE das ESCOs.
As políticas públicas de EE precisam, cada vez mais, incluir o setor privado visando à
transformação e à inovação do mercado de EE. Assim, deve ser dada maior ênfase às ações
desenvolvidas pelas empresas de distribuição de energia elétrica e às ESCOs.
3.3 - Principais Aspectos de Atuação das ESCOs no Brasil
3.3.1 - Aspectos Regulatórios
Conforme determina a Lei 9.991, de 2000, as empresas concessionárias ou
permissionárias de distribuição de energia elétrica devem aplicar um percentual mínimo da
receita operacional líquida (ROL) em Programas de Eficiência Energética, segundo
regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Esses investimentos podem
ser feitos por conta própria ou através de empresas especializadas em projetos de EE, como as
ESCOs (Lei 9.991/00).
40
Contudo, no caso de envolvimento das concessionárias de energia com algum de seus
clientes em projetos de EE, novos arranjos institucionais, práticas e acordos legais devem ser
requeridos. Dessa forma, podemos definir melhor os novos espaços de atuação e como cada
agente pode se relacionar dentro dele.
3.3.2 - Aspectos Econômicos
O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) busca apoio do
BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP24
) para financiar os projetos das
ESCOs. Além de tratar diretamente com os bancos, o PROCEL facilita a apresentação de
projetos específicos que necessitam de fundos.
A abertura da economia promove a concorrência internacional, o que também obriga
os empresários a darem mais atenção aos custos e à qualidade de seus produtos. Isto aumenta
o interesse por investimentos que reduzam o seu custo. Além disso, os preços de
equipamentos energeticamente eficientes e de equipamentos “standard” estão diminuindo,
apesar de, em alguns casos, ainda serem muito elevados.
No entanto, o tipo de contrato fornecido pela ESCO no Brasil, Contrato de
Performance Energética, é um conceito que tanto o fornecedor quanto o comprador ainda não
se familiarizaram. Isso torna mais difícil a negociação desse contrato (Poole, 1997).
Existe ainda outra barreira para o desenvolvimento das ESCOs: a falta de
financiamento por terceiros, quando o consumidor não tem condições de financiar o
investimento com recursos próprios (Poole, 1997). Basicamente, os bancos privados não
realizam financiamento de projetos de longo prazo, a não ser o BNDES (veremos mais
adiante). Financiamentos de prazos menores costumam ter taxas de juros muito elevadas.
As ações específicas visando à otimização energética de processos industriais vêm
sendo implementadas no Brasil desde a década de 70, reduzindo assim os gastos da indústria
com energia. Tais ações somam-se a outras similares, voltadas às grandes instalações
24 A FINEP é uma empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades,
institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas.
41
comerciais do setor de serviços públicos25
e privados, que tiveram um incremento nos últimos
anos em função da estruturação do mercado das ESCOs. O PROCEL tem atuado em vários
setores direta e indiretamente por meio de seus programas: PROCEL na Indústria, Gestão
Energética Municipal, EPP (Eficiência Energética nos Prédios Públicos), RELUZ e SANEAR
(MME, 2013).
O PROCEL dá apoio às concessionárias locais para financiar e contratar ESCOs como
parte de seus próprios programas de EE, quando essas não possuem suas próprias ESCOs.
Além disso, o PROCEL contrata empresas especializadas para ajudar na elaboração e
desenvolvimento de projetos de EE (por exemplo, em prédios públicos e empresas de águas e
esgotos).
Como o cliente pode ter dificuldades para tomar decisões, recorre-se a tomadores de
decisões múltiplos que causam altos custos na transação (Poole, 1997). Muitas vezes, a
renegociação do contrato de fornecimento de energia entre o cliente e a concessionária, depois
de realizar os investimentos, tem sido um problema. Está claro que se as empresas de serviços
energéticos fossem da própria concessionária facilitaria essa negociação.
Observa-se, porém, que a falta de consciência dos consumidores em relação ao
desperdício de energia elétrica e ao que pode ser feito para evitá-lo. Muitas empresas,
também, não estão cientes do potencial energético que poderia ser economizado em suas
dependências. Isso ocorre devido à desinformação, ao gerenciamento incorreto e à falta de
interesse dos acionistas (Poole, 1997).
Além disso, os serviços de consultoria energética, oferecidos no mercado, possuem
uma qualidade muito irregular. As empresas que possuem poucos projetos de referência
(situação comum) são, muitas vezes, vistas com desconfiança pelo mercado. Existe ainda o
receio de vazamento de informações confidenciais, como dados sobre seu processo de
produção, obtidas pela consultante sobre os processos do cliente (Poole, 1997).
Em relação às dificuldades de crescimento do mercado das ESCOs, nota-se a
insuficiência de apoio governamental e seu envolvimento como cliente (mais intensivo). Em
virtude do seu tamanho, o governo brasileiro, nas três esferas de poder, possui uma gama de
25 O Procel Prédios Públicos estima um potencial de redução de consumo, com implementação de ações de
eficiência energética, da ordem de 20%. (Ref. Projetos implementados no período de 2002 a 2007), ou de 25% a
60% de economia de energia elétrica conforme projetos elaborados pelas ESCOs no âmbito do PEE.
42
prédios públicos, sendo a sua maioria de prédios construídos sem a preocupação energética.
Logo, a atuação dessas empresas na esfera pública poderia ajudá-las a desenvolver e
dinamizar o seu mercado (Painuly et. al, 2003; MME, 2013).
Além disso, algumas concessionárias de energia não conseguem desenvolver projetos
de EE sem a ajuda do governo. Elas não precisam de ESCO própria, pois não são obrigadas a
entrarem em nenhum programa de gerenciamento de demanda energética. A saúde financeira
debilitada de algumas concessionárias restringe a capacidade das mesmas de promoverem
suas ESCOs (Painuly et. al, 2003).
Um grande potencial para projetos de EE, também, encontra-se em empresas de
pequeno e médio porte, mas essas carecem de recursos necessários para a realização de tais
projetos, que são pouco atraentes devido à sua pequena escala (Painuly et. al, 2003).
A pouca de competitividade de alguns setores da economia não incentiva as empresas
a baixarem seus custos. Dessa forma, elas poderiam repassá-lo para o consumidor. Alguns
especialistas relataram que, geralmente, as empresas que “estão indo bem”, não necessitam de
medidas de EE. Logo, não precisam dos serviços das ESCOs (Painuly et. al, 2003).
Além disso, a carência de mão de obra capacitada nas empresas, tão necessária para a
realização de projetos de EE das ESCOs, prejudica o seu modelo de negócios. Assim como a
falta de um marketing mais agressivo, que também dificulta o desenvolvimento do mercado
dessas empresas (Poole, 1997).
3.3.3 - Infraestrutura e Tecnologia
O PROCEL está envolvido numa série de atividades para apoiar o crescimento e o
amadurecimento da indústria das ESCOs no Brasil, por exemplo: financiamento, treinamento,
seminários e outras atividades que divulgam e apoiam os esforços dessas empresas (Poole,
1997).
O Instituto Nacional de Eficiência Energética26
(INEE) oferece apoio às ESCOs no
Brasil, principalmente aos aspectos mais relevantes dos contratos de risco com garantias de
26 O INEE é uma organização não governamental, com o objetivo de promover o aumento da eficiência energética. Atua em benefício da economia, do meio ambiente e dá maior segurança ao acesso de energia e ao
bem estar da sociedade.
43
desempenho. Organiza diversos Workshops e seminários, tanto para desenvolver ferramentas
de negócios entre ESCOs como para apresentar seu modelo de negócios aos consumidores
(Poole, 1997).
3.4 – Financiamento das ESCOs no Brasil
A falta de um mecanismo de financiamento apropriado é uma das principais barreiras
que as ESCOs enfrentam no Brasil. Os bancos não estão familiarizados com projetos de EE e
dificultam seu financiamento. Por isso, a principal fonte de financiamento dessas empresas é o
BNDES, que não contempla pequenos investimentos. Para garantir o financiamento de longo
prazo, as ESCOs devem ter condição financeira satisfatória e mostrar potencial de
crescimento.
Em vista disso, esforços estão sendo feitos para colocar à disposição dos projetos das
ESCOs financiamentos dos bancos de desenvolvimento (BNDES e FINEP) com taxa de juros
reduzida para superar essa barreira e o PROCEL estimula as ESCOs a apresentarem projetos
específicos para financiamento aos bancos (MME, 2013).
Atualmente no Brasil, muitas empresas de serviço energético, mesmo sendo
subsidiárias de uma concessionária de energia, não possuem capacidade financeira para a
implementação de grandes projetos somente seu capital social. Por isso, o BNDES
desenvolveu diversas linhas de crédito para consumidores de energia. Dentre elas, a principal
é o Programa de Apoio a Projetos de Eficiência Energética27
(PROESCO). Este programa,
criado em 19 de maio de 2006, tem como finalidade apoiar projetos de EE em que as
empresas de serviços de conservação de energia, usuários finais de energia e empresas de
geração, transmissão e distribuição de energia são considerados o público alvo (BNDES,
2009; BNDES, 2012).
O PROESCO funciona como um indicador de preços dos contratos para as ESCOs.
Caso não possamos usar outros concorrentes como referência, o custo de oportunidade do
projeto pode ser baseado na taxa de juros cobrada pelo financiamento deste programa. Logo, a
27 É importante destacar que, embora não quantificadas de forma explícita, os ganhos de eficiência energética
estão invariavelmente presentes nos projetos financiados pelas diversas linhas de crédito do banco, por meio da natural incorporação dos avanços tecnológicos na aquisição de processos e equipamentos, objetos de tais
financiamentos.
44
taxa de retorno do contrato da ESCO terá de ser maior, ou igual, do que a taxa de capitação de
recursos.
Essa linha de financiamento ainda contempla os usuários finais de energia,
interessados em financiar a compra de equipamentos eficientes. O PROESCO, executado nos
mesmos padrões e na linha dos projetos de defesa ambiental, abre uma linha de crédito de R$
100 milhões para até 80% do valor total dos projetos. Esse programa pode financiar até 100%
do valor do projeto, se ele for aplicado em municípios de baixa renda, localizados nas regiões
Norte e Nordeste (MME, 2013).
Os tipos de projetos apoiados pelo PROESCO são aqueles cujas intervenções
contribuem comprovadamente para a economia de energia, aumentam a eficiência global do
sistema energético, ou promovem a substituição de combustíveis de origem fóssil por fontes
renováveis (BNDES, 2009; BNDES, 2012). O solicitante de financiamento deverá apresentar
um projeto que seja possível identificar, analisar e acompanhar detalhadamente o conjunto de
ações e metas, através do qual se pretenda contribuir para a conservação de energia. Além do
mais, os investimentos já realizados até o sexto mês anterior à data da apresentação do pedido
de financiamento poderão ser considerados para efeito de contrapartida ao projeto (BNDES,
2009; BNDES, 2012).
As operações do PROESCO podem ser realizadas tanto por apoio direto do BNDES,
como por intermédio de instituições financeiras credenciadas28
, mediante repasse ou mandato
específico, independente do valor do pedido do financiamento. No início de 2008, somente o
Banco do Brasil estava comprometido com o PROESCO. Hoje, estão ao lado dessa linha de
financiamento, como mandatários, os três maiores bancos privados do país, além dos estatais
de maior penetração.
A linha de financiamento para projetos do PROESCO opera em três modalidades:
1. Operação Direta com o BNDES: Nesse tipo de operação, o BNDES assume todo o risco
do projeto. A taxa de juros cobrada pelo banco é de: Custo de Financiamento +
Remuneração Básica do BNDES + Taxa de Risco de Crédito. O custo financeiro é a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP), a remuneração básica do BNDES é de 0,9% a.a. e a taxa
de risco de crédito varia de acordo com o projeto, podendo chegar até 4,18% a.a (BNDES,
2012).
28 Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e Caixa RS.
45
Figura 2.2: Operação de Financiamento de Forma Direta
Fonte: Elaboração do próprio autor, com base na apresentação de Financiamento da Política de
Eficiência Energética: BNDES - PROESCO
2. Operação Indireta29
: Nessa modalidade, a instituição financeira credenciada assume
integralmente o valor financiado e os riscos de crédito. A taxa de juros cobrada é: Custo de
Financiamento + Remuneração Básica do BNDES + Taxa de Risco de Crédito +
Remuneração do Agente Financeiro. Nota-se que essa taxa é limitada a 4% a.a (BNDES,
2012).
Figura 2.3: Operação de Financiamento de Forma Indireta
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, com base na apresentação de Financiamento da Política de
Eficiência Energética: BNDES – PROESCO
3. Operação na modalidade de Risco Compartilhado30
entre o BNDES e as instituições
financeiras credenciadas. A taxa de juros cobrada seria o Custo do Financiamento +
Remuneração Básica do BNDES + Risco de crédito do banco mandatário + Risco de
crédito do BNDES31
. Nesse tipo de operação, o BNDES poderá se responsabilizar por até
80% do valor financiado e as instituições financeiras credenciadas devem assumir a
participação mínima de 20%. Os projetos devem ser apresentados ao BNDES com a
análise da instituição financeira credenciada mandatária, após ter sido realizada a
certificação da viabilidade técnica por instituição capacitada (BNDES, 2009).
29 A inclusão dessa nova modalidade de financiamento pela qual o banco mandatário do BNDES (Banco do
Brasil, Itaú, Bradesco, BDMG e Caixa RS) antecipa recursos para o empreendedor, posteriormente cobertos pelo
banco de fomento. Com isso, espera-se diminuir o tempo entre o pedido de financiamento e a liberação dos
recursos. 30 Na operação de Risco Compartilhado é necessário um parecer técnico, de entidade independente com notório
saber, sobre a adequação da tecnologia adotada para a obtenção dos resultados esperados. 31 Lembrando que o Banco Central do Brasil, segundo a sua norma, define que a classificação do risco de
crédito, e consequentemente os juros a serem cobrados, são de responsabilidade da agência financiadora.
46
Figura 2.4: Operação de Financiamento de Compartilhado
Fonte: Apresentação de Financiamento da Política de Eficiência Energética: BNDES - PROESCO
No caso da operação indireta, a participação de outras instituições financeiras ocorre
por intermédio do BNDES. No Brasil, dificilmente obtém-se crédito de longo prazo, no setor
privado, a taxas acessíveis, que não sejam através de bancos de desenvolvimento. A vantagem
dessa forma, em relação à direta, seria a rapidez com que o financiamento é liberado. Em
compensação, a desvantagem seria que as taxas de juros são mais elevadas em relação à outra
forma de operação.
Todas essas linhas de financiamento têm um prazo de até 72 meses, com carência de
até 24 meses. Como não há um histórico de crédito para as operações das ESCOs, o risco de
crédito tende a ser mais elevado. Dessa forma, eleva-se o custo de captação de crédito com as
instituições financeiras (BNDES, 2009, BNDES, 2012).
Devido à natureza dos contratos das ESCOs, Performance e Fornecimento, as margens
de lucro são limitadas. Isso significa que altas taxas de financiamento, além de restringirem a
capacidade de autofinanciamento, também podem afetar sua expansão e atuação no mercado.
Assim, o empreendimento talvez não seja economicamente viável, dependendo dos fluxos de
caixas estimados e das taxas aplicadas
Apesar de ser o maior fundo de financiamento das empresas de serviços energéticos
do Brasil, o PROESCO apresenta alguns pontos a serem melhorados. Tais como (MME,2013;
BNDES, 2009, BNDES, 2012):
I) Dificuldade e morosidade no processo de análise e aprovação dos projetos;
II) Pouco entendimento/resistência dos agentes financeiros credenciados (bancos
mandatários), comprometendo sua difusão;
47
III) Contrato de Performance ainda é um conceito novo no Brasil, gerando
desconfiança por parte dos possíveis clientes, sobretudo por parte das grandes
empresas;
IV) Poucas ESCOS possuem porte e respaldo financeiro para acessar recursos
elevados, inclusive para modernização de processos térmicos de grande monta;
V) Há pouca divulgação e difusão dessa linha de crédito.
Além desses problemas no PROESCO, também podemos citar como entraves ao
financiamento das ESCOs os seguintes fatos (Painuly et. al, 2003):
I) Um grande número de projetos de EE é de pequeno porte, não sendo muito
relevante para financiamento (na qual as instituições financeiras analisam a
habilidade de pagamento do projeto). Logo, o custo de transação é muito alto para
financiamento desses projetos.
II) Muitas instituições financeiras carecem de capacidade de avaliação de projetos
relacionados à EE. Em muitos casos, as instituições financeiras preferem realizar
empréstimos com base no balanço financeiro, isso significa que as ESCOs devem
possuir um bom desempenho, ou pelo menos seu cliente deve possuí-lo. Como
consequência, as ESCOs têm dificuldade em conseguir financiamentos.
III) Devido à falta de histórico de crédito, as ESCOs são tratadas como crédito de
risco. Em muitos casos, os emprestadores são avessos ao risco ou possuem
pequena capacidade para suportá-lo.
IV) O maior consumidor em potencial, o governo, carece de crédito e, dessa forma,
não pode providenciar financiamento para projetos em EE nas suas próprias
alocações. Então, foram firmados acordos voluntários entre classes de
consumidores e o governo, visando reduções do consumo energético específico.
Houve incentivo à atuação de empresas prestadoras de serviços de energia
(ESCOs) e à celebração de contratos de desempenho entre estas e seus
consumidores.
Dessa forma, observa-se que no Brasil, o mercado de EE começou no final da década
de 1970. Mesmo com as dificuldades econômicas dos anos 1990, a primeira ESCO surgiu em
1992. Nota-se, também, que a Lei 9.991/00 regulamentou a política nacional de conservação e
o uso racional de energia e de preservação do meio ambiente. Além disso, o PROCEL, o
49
CAPÍTULO 4 – COMPARAÇÃO ENTRE OS MERCADOS DO
REINO UNIDO E DO BRASIL
Nos capítulos anteriores observamos os principais mecanismos de atuação no mercado
das empresas de serviços energéticos (ESCOs) no Reino Unido e no Brasil. Vimos o
desenvolvimento dessas indústrias nos seus respectivos mercados, assim como a evolução das
ESCOs e dos setores elétricos nos dois modelos de estudo. Neste capítulo, fazemos uma
comparação entre esses dois modelos.
4.1 - Uma História Comum dos Modelos Britânico e Brasileiro
Iniciamos nossa análise comparativa com uma breve descrição do setor elétrico
brasileiro e britânico antes da reforma. Os dois setores eram formados por monopólios
estatais, com decisões de cima para baixo, com instituições nacionais responsáveis pela
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
Na década de 1970, as crises do petróleo ajudaram a desenvolver programas de
projetos de eficiência energética nos dois modelos. No Brasil, podemos destacar a criação de
programas voltados para o uso industrial de derivados de petróleo, como o Programa Nacional
de Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural (CONPET), o
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Enquanto isso, no Reino Unido, as duas crises
ajudaram no desenvolvimento do mercado das ESCOs.
Em 1980, no Reino Unido, foi criada a primeira ESCO de acordo com a definição que
temos hoje. Nessa mesma década, no Brasil, ganhou destaque o surgimento do primeiro
programa de eficiência energética (EE) voltado para o setor elétrico, o Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica (PROCEL). E apenas na década seguinte, em 1992, foi
criada a primeira ESCO no Brasil (Vine, 2005).
No Reino Unido, no início dos anos 1980, ocorreram privatizações de acordo com
programa liberal defendido pelo governo. Seguindo o modelo britânico, as privatizações
brasileiras começaram na década seguinte, nos anos 1990, juntamente com a liberalização do
50
setor elétrico. Tanto no Reino Unido como no Brasil, as privatizações foram realizadas por
partidos mais conservadores, buscando uma menor intervenção do Estado e maior eficiência
do setor elétrico. Dessa forma, nos dois países, o setor elétrico tornou-se mais competitivo
através da:
I) a criação de um regulador de mercado, Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) no Brasil e de um regulador britânico (Office of Electricity Regulation –
Offer);
II) quebra dos monopólios estatais;
III) desverticalização das empresas do setor elétrico;
IV) introdução da competição nos segmentos de geração e comercialização de energia;
V) mudança no calculo tarifário, via price cap32
; e
VI) lei de concessões33
(Lei 9.074/95) no Brasil e Electricity Act (1989) no Reino
Unido.
No início do século XXI, ocorreram mudanças em relação à política de privatização e
liberalização nos dois modelos. A segurança do abastecimento continua a fazer parte da
agenda do governo britânico, mas o foco passou a ser também a acessibilidade e fornecimento
de energia de baixo carbono, possibilitando assim um terreno fértil para o desenvolvimento do
mercado das ESCOs. Enquanto isso, no Brasil, o novo século foi marcado pela criação da Lei
9.991 de 2000 e pelo racionamento de energia, em maio de 2001. Assim, essas empresas
passaram a ter maior viabilidade no país.
Na comparação dos dois modelos dos setores elétricos e dos mercados de ESCOs,
constatamos que o setor elétrico do Reino Unido serviu como exemplo para as alterações
ocorridas no Setor Elétrico Brasileiro.
Observa-se, portanto, que as crises energéticas da década de 1970 colaboraram para o
desenvolvimento de políticas de eficiência energética no Brasil e do mercado de ESCO no
Reino Unido. Entretanto, enquanto a primeira ESCO britânica foi criada na década de 1980, o
Brasil só veio a ter sua primeira ESCO na década seguinte. Além disso, o novo século trouxe
maiores oportunidades de negócios para essas empresas, seja por novas posições no marco
regulatório ou por crises de abastecimento.
32 Essa mudança veio a ocorrer no Brasil apenas no início dos anos 2000. 33 Lei sobre a prestação de serviços públicos.
51
A seguir, vamos realizar a comparação entre os dois mercados de ESCO, do Reino
Unido e do Brasil. Para esta análise, destacamos os seguintes aspectos: regulatório,
econômico, infraestrutura e tecnologia.
4.2 - Comparação dos Principais Aspectos de Atuação das ESCOs no Brasil e no Reino
Unido
4.2.1 - Aspectos Regulatórios
Observa-se que, no Reino Unido, o governo tem oferecido incentivos financeiros à
geração de energia de baixo carbono (tarifas feed-in) e incentivos para o uso de aquecimento
renovável. As campanhas governamentais, através do CERT e do CESP, aumentaram a
quantidade de capital inicial para investimentos , que geralmente são direcionados para
compra de equipamentos, contratação de mão de obra qualificada, campanhas de marketing,
etc. Isso permitiu que as concessionárias passassem a diversificar suas atividades. Em
contrapartida, há muitas exigências para as ESCOs que usam fundos governamentais. As leis
locais (Energy-Act) também têm criado oportunidades para que o governo e as comunidades
estabeleçam suas próprias ESCOs, apesar do conservadorismo de alguns agentes locais.
Por outro lado, mesmo com essas novas medidas, as regras de contratação são mais
demoradas e intensivas em capital, tanto para empresas como para consumidores. Além disso,
a diminuição do fundo setorial tornou o capital menos acessível para empresas com poucos
recursos financeiros.
Enquanto isso, no Brasil, destacamos a Lei 9.991/00, que tornou obrigatória a
aplicação mínima da Receita Operacional Líquida (ROL) em programas de eficiência
energética, segundo regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica. Porém,
necessitamos de novos arranjos institucionais, que acompanhem os avanços tecnológicos,
comportamentais, legais, práticos e financeiros, para melhorarem o envolvimento da
concessionária com projetos de eficiência energética. Dessa forma, o desenvolvimento de
novos arranjos institucionais pode aumentar a participação das concessionárias nesse
mercado.
52
4.2.2 - Aspectos Econômicos
Em relação aos aspectos econômicos, destacamos que, no Reino Unido, as crises do
petróleo, nos anos 1970, provocaram mudanças na política energética. A recessão econômica,
ocasionada por elas, tornou o cenário favorável para os negócios das ESCOs. Nos anos 1980,
as privatizações trouxeram mudanças significativas para o setor energético. Enfatizamos o
aumento da participação governamental para aliviar a miséria de combustível, os incentivos
para o mercado de geração de energia de baixo carbono. Vimos também o aumento de crédito
disponível para as ESCOs e os incentivos financeiros do Department of Energy and Clima
Change para a implantação de programas de eficiência energética.
Outros destaques contribuíram para o aumento do mercado das ESCOs como o
surgimento de “campeões” locais de energia, devido aos ótimos resultados obtidos por essas
empresas, e o avanço das responsabilidades sociais no meio empresarial.
Entretanto, alguns empresários britânicos ainda criticam a falta de financiamento
suficiente para a realização de projetos de eficiência energética. Além disso, algumas
empresas iniciantes, para atuar nesse mercado, pagam uma penalidade muito grande, em
comparação às grandes empresas já estabelecidas nele, podendo desestimular sua entrada no
mercado. Outro ponto a ser melhorado é a quantidade de mão de obra qualificada disponível.
Visto que algumas empresas possuem dificuldade em encontrar trabalhadores qualificados
para liderarem os projetos de EE.
Em relação ao Brasil, destacamos a maior participação de agentes governamentais,
como o PROCEL34
, BNDES35
e FINEP36
, para o financiamento das ESCOs. Vimos que a
abertura da economia, iniciada nos anos 1990, colocou as empresas para competirem
internacionalmente, aumentando o seu interesse por investimentos que reduzam os seus custos
de produção. O País possui um histórico de ações que visam a otimização energética de
processos industriais, com grandes instalações comerciais do setor de serviços públicos e
privados. Observamos apoio às concessionárias locais, via PROCEL, para financiarem e
contratarem ESCOs como parte de seus próprios programas de EE.
No entanto, o mercado nacional possui alguns empecilhos para o desenvolvimento
dessas empresas. Pelo lado dos consumidores, destacamos a falta de familiarização com os
34 Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) 35 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 36 Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
53
tipos de contratos oferecidos pelas ESCOs, a pouca consciência para evitar o desperdício de
energia elétrica. Além disso, alguns serviços de consultoria energética possuem uma
qualidade muito irregular.
Pelo lado da oferta, notamos a falta de financiamento adequado para esses tipos de
projetos e de apoio governamental. Projetos de infraestrutura necessitam de financiamentos
específicos que, geralmente, não se encontram disponíveis ou são extremamente onerosos nos
mercados privados. Dessa forma, a atuação do governo se faz necessária para o aporte desse
capital. O apoio governamental, também, pode ser feito através de campanhas educacionais,
suporte financeiro e como cliente das ESCOs. Além disso, a pouca de competitividade de
algumas atividades econômicas não incentiva essas empresas a baixarem seus custos e
tornarem-se mais eficientes. Dessa forma, qualquer que seja o seu custo de produção, elas
podem repassá-lo aos seus consumidores sem se preocuparem com a perda de espaços em
seus respectivos mercados.
Verificamos, também, que um grande potencial para projetos de EE encontra-se em
empresas de pequeno e médio portes, além do setor residencial, que, em muitos casos, não são
muito atrativas economicamente e não são contemplados pelas linhas de financiamento
oferecidas pelo governo. Outro fato encontrado, foi a carência de mão de obra capacitada nas
empresas (ponto comum entre os dois mercados), assim como a falta de um marketing mais
agressivo.
4.2.3 - Aspectos de Infraestrutura e Tecnologia
Em relação aos aspectos de infraestrutura e tecnologia, no caso específico do Reino
Unido, notamos que o aproveitamento dos sistemas de distribuição existentes facilitaram a
implementação de geradores distribuídos. Já no Brasil, destaca-se a grande atuação do
PROCEL e do INEE37
no apoio à indústria de ESCOs.
Dois pontos comuns entre os modelos pesquisados seriam o barateamento das inovações
tecnológicas (melhor relação custo-benefício dos contratos de serviços energéticos) e a maior
eficiência de gerenciamento energético para prédios, especialmente os mais antigos. No
entanto, destacamos ainda que, nesses dois mercados, os altos custos das tecnologias
37 Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE)
54
energéticas de baixo carbono e da infraestrutura energética podem tornar os projetos de
serviços energéticos financeiramente inviáveis.
4.3 - Resultados da Análise Comparativa
Após a comparação entre os mercados do Brasil e do Reino Unido, observa-se que
cada um deles oferece pontos específicos. Em relação ao Reino Unido, nota-se o
desenvolvimento do mercado de baixo carbono, o favorecimento a essas empresas pelas leis
locais e o incentivo à micro geração de energia. No caso brasileiro, pode-se destacar a lei de
eficiência energética (Lei 9.991/00), que tornou obrigatória a aplicação mínima em programa
de EE, e o apoio governamental às ESCOs
Alguns pontos em comum são verificados nesses mercados, como a falta de
financiamento adequado e a escassez de mão de obra especializada. Em ambos os mercados é
possível constatar a participação do governo no financiamento a essas empresas, apesar dos
empresários dizerem que este financiamento é insuficiente. Nos dois mercados, as inovações
tecnológicas são muito bem recebidas pelos agentes capazes de adquiri-las, ainda que seus
preços sejam elevados.
O mercado de ESCO brasileiro deve ser aperfeiçoado. Algumas medidas contribuiriam
para o seu crescimento, como a participação do governo (nas três esferas de poder) como
cliente e um marketing mais agressivo. Em mercados mais desenvolvidos, com maior
participação governamental em diversos setores da sociedade, é possível otimizar o consumo
de energia em suas grandes edificações como: escolas, colégios, hospitais, universidades
públicas, repartições governamentais e outras instituições do governo.
Em relação ao Brasil, caso o governo decida entrar nessas áreas como consumidor, o
mercado das ESCOs poderá dar um grande salto no seu desenvolvimento. Convém ressaltar
que o setor público representa mais de 8% do consumo de energia elétrica do país e que os
maiores responsáveis por esse consumo são os sistemas de iluminação e climatização de suas
edificações. Segundo o Balanço Energético Nacional de 201038
, o setor público consumiu 35
TWh de energia. O seu consumo de energia elétrica relativo aos Prédios Públicos em 2009 foi
38 Ano base de 2009.
55
aproximadamente de 12 TWh. Dessa forma, os Prédios Públicos contribuíram com 2,8% do
consumo total de energia elétrica no País.
De acordo com o Plano Nacional de Eficiência Energética (2013), o PROCEL Prédios
Públicos estima um potencial de redução de consumo, com implementação de ações de
Eficiência Energética, da ordem de 20% ou de 25% a 60% de economia de energia elétrica,
conforme projetos elaborados pelas ESCOs no âmbito do Programa de Eficiência Energética.
Dessa forma, o potencial de economia de energia seria da ordem de 2,4 TWh/ano, potencial
conservador, com intervenções basicamente nos sistemas de iluminação e ar condicionado.
Nos Ministérios (Administração Direta), isso equivale a uma economia aproximada de R$ 25
milhões por ano, segundo o Projeto Esplanada Sustentável do Ministério do Planejamento.
Nessa comparação, podemos observar que o crescimento do mercado das ESCOs no
Brasil acompanhou o desenvolvimento do Setor Elétrico Brasileiro. As empresas de serviços
energéticos possuem um mercado em desenvolvimento que recebe apoio governamental via
instituições, como PROCEL, BNDES, FINEP e INEE, mas não recebe apoio direto do
governo, feito através de campanhas educacionais, suporte financeiro e de seu envolvimento
como cliente. Diferentemente do que acontece no Reino Unido, e em outros países, em que a
atuação governamental é mais acentuada. No Brasil, talvez isso ocorra pelos motivos
explicados nesse trabalho: a falta de percepção dos agentes econômicos pelo o que pode ser
feito para economizar energia. Assim como, a falta de transparência dos resultados obtidos
com as medidas de eficiência energética e dos meios para consegui-los.
Além disso, pudemos perceber a diferença entre as políticas de EE entre esses dois
mercados. Atualmente, no mercado do Reino Unido, o governo busca focar em segurança de
abastecimento, acessibilidade e fornecimento de energia de baixo carbono. Dessa forma, o
mercado das ESCOs foi impulsionado pelo surgimento de novas regras para a promoção de
EE e redução de emissões de poluentes.
Enquanto isso, no mercado brasileiro, a política de EE optou por projetos de pesquisa
e desenvolvimento e atender a consumidores de baixa renda. O Programa de Eficiência
Energética39
(PEE) passou a regulamentar a obrigatoriedade de investimentos em pesquisa e
desenvolvimento em eficiência energética, por parte das empresas concessionárias,
permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. Recentemente, observamos
39 Lei 9.991/00
56
crescimento de ações para a melhoria da gestão energética, envolvendo parcerias com ESCOs,
em indústrias e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços (ANEEL, 2013). Além
da destinação de recursos para a área de pesquisa e desenvolvimento, a Agência Nacional de
Energia Elétrica estabeleceu o direcionamento de pelo menos 60% dos recursos do PEE para
o uso eficiente de energia, junto a consumidores residenciais de baixa renda.
A política de EE adotada no Brasil, apesar de contemplar a pesquisa e o
desenvolvimento e os consumidores de baixa renda, apesar do potencial de economia para
essa classe consumidores ser limitado,deixa de atender outras necessidades da sociedade. Um
exemplo disso seria a falta de legislação específica para micro geradores residenciais de
energia. Ainda não foram criadas as leis que incentivem esse tipo de prática, tornando esse
investimento viável apenas para poucos agentes.
57
CONCLUSÃO
Nessa dissertação analisamos o modelo de negócios das Empresas de Serviços
Energéticos (Energy Service Companies – ESCOs) e fizemos uma comparação entre as
atividades dessas empresas no Brasil e no Reino Unido.
As ESCOs desempenham um papel fundamental na procura por mais eficiência
energética (EE). Essas empresas buscam a satisfação energética dos seus clientes, com
contratos customizados, reduzindo os seus gastos com energia. Nesse tipo de negócio, elas
assumem grande parte dos riscos do projeto, associados ao gerenciamento da demanda
energética e/ou medidas de fornecimento de energia sustentável. Além disso, tem o risco
técnico, associado à implantação e operação das medidas necessárias para satisfação de seus
clientes.
Destacamos os dois tipos de contratos energéticos oferecidos por essas empresas: o
Contrato de Performance Energética e o Contrato de Fornecimento Energético. Enquanto o
primeiro busca fornecer serviço energético associado à redução de conta de energia, o
segundo possibilita um fluxo de energia e/ou calor através da instalação de sistemas de
cogeração.
As ESCOs necessitam de recursos para elaborar seus projetos de serviços de energia.
Ressaltamos alguns deles, como: financiamento externo, equipamentos tecnológicos
específicos para cada projeto, mão de obra técnica, especialistas em marco regulatório do
setor e profissionais de marketing.
Em virtude dos altos custos para a realização de alguns projetos, as ESCOs podem
recorrer aos seguintes parceiros: instituições financeiras, empresas terceirizadas, consultoria
financeira, jurídica e técnica, autoridades locais, construtoras, concessionárias de energia e
outras.
Em geral, os custos que mais oneram essas empresas referem-se ao pagamento à
construtora ou ao proprietário de terra, para a instalação de máquinas e equipamentos na
realização de seus projetos. Além disso, os pagamentos às instituições financeiras,
58
responsáveis pela realização do empreendimento, e dos dividendos aos acionistas do projeto
também aumentam as despesas dessas empresas.
Por outro lado, as fontes de receita das ESCOs dependem do tipo de contrato
realizado. No contrato do tipo Performance Energética, a receita obtida pela ESCO é paga
regularmente pelos seus clientes, com o objetivo de manter certa quantidade e qualidade de
um ou mais serviços energéticos. No contrato de Fornecimento de Energia, a receita é obtida
com a venda de um fluxo de energia útil, como calor e/ou eletricidade, para seus clientes.
Em relação às ESCOs no Brasil, os anos 80 foram marcados por crise financeira no
Setor Elétrico Brasileiro. No final dessa década, houve o início da reestruturação desse setor a
partir das mudanças da Constituição de 1988. O processo de incentivo às ESCOs só veio no
novo século, com a Lei 9.991/2000 que regulamentou a destinação de recursos para
programas de eficiência energética. Em 2004, um novo modelo para o setor elétrico foi
proposto pelo governo, dando continuidade ao processo de mudanças começado na década
anterior. Além disso, a linha especial de financiamento do BNDES40
, o PROESCO41
,
proporciona o desenvolvimento de projetos de eficiência energética e do mercado das ESCOs.
No Reino Unido, no início dos anos 1980, a política econômica de Margaret Thatcher
trouxe mudanças significativas, as privatizações começaram nesse período. O mercado das
ESCOs obteve crescimento, na década de 1990, com a introdução de políticas de eficiência
energética. Nota-se também o desenvolvimento do mercado de baixo carbono, pela procura
por sustentabilidade e diminuição das alterações climáticas. O modelo de ESCO britânica
apresenta em quatro tipos de empresas: ESCO da Autoridade Local, do Fornecedor de
Serviços Energéticos, das Concessionárias de Energia e ESCO Comunitária. No Brasil, o
mercado das ESCOs não oferece tanta diversidade de contratos, pois ainda está
amadurecendo.
Na análise comparativa dos casos britânico e brasileiro, as reformas do setor elétrico
tinham objetivos semelhantes, mas elas evoluíram de formas distintas no mercado de ESCOs
e nas políticas de eficiência energética. Enquanto no Reino Unido, as políticas de EE dos anos
1990 ajudaram a impulsionar esse mercado, no Brasil, nessa mesma década, ainda estava
começando a reforma do seu setor elétrico.
40 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 41 Programa de Apoio a Projetos de Eficiência Energética (PROESCO)
59
Recentemente, a política de EE do Reino Unido foca em segurança de abastecimento,
acessibilidade e fornecimento de energia de baixo carbono. Enquanto isso, no Brasil, a
política de EE optou em projetos de pesquisa e desenvolvimento e em atender a consumidores
de baixa renda, cujo consumo de eletricidade e, consequentemente, o potencial de economia, é
reduzido.
Na análise dos mecanismos de atuação de mercado, verifica-se que o desenvolvimento
das ESCOs no Brasil tem a grande participação de agentes públicos (PROCEL42
) e não
governamentais (INEE43
) e do financiamento governamental (via BNDES e FINEP44
).
Entretanto, alguns problemas aparecem nesse mercado como: a falta de novos arranjos
institucionais que acompanhem a evolução do mercado, a pouca consciência em relação ao
desperdício de energia, a ausência do governo como cliente mais ativo e também de
financiamentos privados. Estas dificuldades precisam ser superadas no mercado brasileiro
para que as ESCOs possam desenvolver-se de forma mais homogênea.
Em nosso mercado atual, observamos que algumas empresas são muito mais
avançadas do que outras. Isso se explica pelo fato dessas ESCOs estarem ligadas às
concessionárias de energia, tendo assim melhores condições financeiras, o que significa mais
facilidade de atrair capital e mão de obra especializada, maior capacidade de
autofinanciamento e gestão empresarial mais profissional.
Portanto, se uma nova empresa for subsidiária de uma concessionária de energia, ela
terá maior possibilidade de entrar nesse mercado. Dessa forma, a empresa já "nasce"
conceituada no mercado, com um referencial de marcas ou produtos. Nessa situação, ocorre
um fenômeno conhecido como "transbordamento" (spill-over), isto é, a transferência de
credibilidade do mercado original (geração, transmissão ou distribuição de energia) para o
novo mercado (serviços energéticos).
Os recursos humanos qualificados são escassos, esses são contratados pelas empresas
de maior porte, ou em operação, impondo às empresas de menor porte, ou entrantes, despesas
elevadas em treinamento de pessoal ou a necessidade de pagar salários mais altos para atrair a
mão de obra já empregada.
42 Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL). 43 Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE). 44 Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
60
O acesso ao capital também tende a ser mais favorável para empresas de maior porte,
ou mais estabelecidas, capazes de oferecer garantias reais e, em contrapartida, alcançar
financiamentos concedidos a taxas de juros inferiores ou a prazos mais longos. Em vista
disso, os encargos financeiros tendem a ser maiores, pressionando os custos das novas, ou
menores, empresas. Podemos afirmar que o mercado das ESCOs no Brasil necessita de
maiores incentivos. Após o racionamento de energia elétrica, em 2001, houve aumento dos
incentivos e introdução do novo modelo institucional do setor elétrico, mas eles não foram
suficientes para dar o estímulo necessário a esse mercado. Temos poucas leis que regulam a
EE, sendo as Leis 9.991/00 e 10.295/01, e alterações, as mais importantes. Além disso, existe
apenas uma linha de financiamento (PROESCO), com um único agente (BNDES), para
atender esse mercado. Contribui, também, a baixa procura do governo para a atuação dessas
empresas em suas edificações.
Dentre as diversas medidas que poderiam contribuir para o crescimento do mercado
das ESCOs, destacamos as políticas públicas de eficiência energética mais agressiva, como
incentivos às fontes de energia de baixo carbono e à economia de energia e, também, a maior
participação do governo como cliente. Essas ações já foram adotadas no Reino Unido e
auxiliaram, tanto a oferta quanto a demanda, esse mercado.
No mercado britânico, observa-se a menor participação de agentes públicos, embora o
financiamento governamental se faça presente para essas empresas, algumas o classificam
como insuficiente. Destacam-se também soluções alternativas para as suas necessidades
energéticas como: o incentivo para geração de energia de baixo carbono, o aumento da
responsabilidade ambiental e a insatisfação com as concessionárias de energia. Nota-se que as
soluções encontradas no mercado do Reino Unido aparecem nas propostas do mercado
brasileiro. Cabe lembrar que o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) foi estruturado seguindo o
mesmo padrão do setor elétrico do Reino Unido.
No entanto, algumas dificuldades das ESCOs do Reino Unido seriam a falta de
padronização dos contratos (que aumentam seus custos de transação) e os entraves para a
entrada de novas empresas nesse mercado (em virtude dos altos custos iniciais). Sabe-se que
o contrato do tipo customizado faz parte do modelo operacional das ESCOs e que dificilmente
encontraremos contratos padronizados, por mais que estes reduzissem os custos de transação.
Em relação aos entraves à entrada de novas empresas, eles poderiam ser superados com uma
maior incentivo do governo. A maior facilidade e financiamento e outros incentivos
61
diminuiria os custos iniciais das empresas, eliminando uma importante barreira à entrada das
novas ESCOs. Dessa forma, o mercado tornar-se-ia mais competitivo. Por último, na
comparação desses dois mercados, ainda podemos acrescentar que dois problemas são
comuns: a falta de financiamento e a carência de mão de obra qualificada.
Essa pesquisa trata da identificação dos mecanismos de atuação do mercado de
ESCOs. Ela mostra que o governo se faz presente, tanto no mercado brasileiro quanto no
britânico. A regulamentação de eficiência energética direciona o mercado para uma atuação
mais ativa, como o incentivo à energia de baixo carbono e também pode atuar para promover
mudança de comportamento dos consumidores para que esses adotem hábitos de consumo
mais sóbrios. Além disso, o ambiente regulatório deve ser constantemente aperfeiçoado para
que possa evoluir de acordo com as necessidades da população e, ao mesmo tempo, fornecer
um ambiente de negócios mais atraente para essas empresas. Constatamos, então, que
soluções de mercado que incentivam a EE ajudam a desenvolver o mercado das ESCOs.
62
BIBLIOGRAFIA
Albadi, M. H.; El-Saadany, E. F. (2008). A summary of demand response in electricity
markets. Electric Power Systems Research 78: 1989–1996
ABESCO (Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia).
http://www.abesco.com.br/associados/. Acedido em 20/07/2015
Agência Nacional de Energia Elétrica; Cadernos Temáticos ANEEL: Tarifas de
Fornecimento de Energia Elétrica; Brasília Abril 2005
Agência Nacional de Energia Elétrica; Perguntas e Respostas Sobre Tarifas das
Distribuidoras de Energia Elétrica; Brasília
Agência Nacional de Energia Elétrica; Por Dentro da Conta de Luz:
Informações de Utilidade Pública; Brasília Março de 2013
Agência Nacional de Energia Elétrica; Procedimentos do Programa de Eficiência
Energética - PROPEE; Brasília 2013
BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social). Proesco.
Disponível em: <
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambi
ente/proesco.html >. Acedido em 15 de dezembro de 2014.
BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social). (2009).
Financiamento da Política de Eficiência Energética: BNDES – PROESCO. Acedido
em 15 de dezembro de 2014. Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/386240/
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. (2012). Seminário
Climatização & Cogeração a Gás Natural Linhas de Financiamentos - BNDES
Acedido em 15 de dezembro de 2014. Disponível em:
http://57484.nnan.co/url?sa=D&source=web&cd=9&ved=0gqQmYmab&url=http://w
ww.abegas.org.br/Site/wp-content/uploads/2012/07/04-Linhas-de-Financiamentos-
BNDES.pdf&ei=25Ate6/N6K+zro2PzVw39Ju1pw==&usg=Q5fOvVaGeJxOnr0zZ8M
M75&sig2=fMmM62mH498-2IyWB3FEz7
Bertoldi, P.; Boza-Kiss, B.; Panev, S.; Labanca, N. (2014). ESCO Market Report 2013.
JRC Science and Policy Reports
Bertoldi, P.; Boza-Kiss, B.; Rezessy, S. (2007). Latest Development of Energy Service
Companies across Europe - A European ESCO Update -. Ispra European Commission
Joint Research Centre Institute for Environment & Sustainability
Bertoldi, P.; Rezessy, S.; Vine, E. (2006). Energy service companies in European
63
countries: Current status and a strategy to foster their development. Energy Policy 34:
1818–1832
Bosquetti, M. A.; Fernandes, B. H. R.; Dória, R. J. (2004). Ambiente e Empresas do
Setor Elétrico Brasileiro. In: Encontro Anual de ANPAD, XXVIII, 2004, Curitiba.
Anuais... Curitiba: ANPAD
Brasil. Decreto 5.163, de 30 de Julho de 2004. Regulamenta a comercialização de
energia elétrica, o processo de outorga de concessões de autorizações de geração de
energia elétrica, e dá outras providências. D.O de 30.07.2004, seção 1, p. 1, v. 141, n.
146-A.
Brasil. Lei n° 9.427, de 26 de Dezembro de 1996. Institui a Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de
energia elétrica e dá outras providências. D.O de 27.12.1996, seção 1, p. 28653.
Brasil. Lei n° 10.847, de 15 de Março de 2004. Autoriza a criação da Empresa de
Pesquisa Energética – EPE e dá outras providências. D.O de 16.03.2004, seção 1, p.
1, v. 141, n.51.
Brasil. Lei n° 10.848, de 15 de Março de 2004. Dispõe sobre a comercialização de
energia elétrica, altera as Leis nºs 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março
de 1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6
de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.991, de 24 de julho de 2000,
10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências. Este texto não substitui o
publicado no D.O. de 16.03.2004, seção 1, p. 2, v. 141, n. 51.
Brasil. Lei n° 9.074, de 7 de Julho de 1995. Estabelece normas para outorga e
prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras
providências. Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.7.1995 - Edição extra
e republicada em 28.9.1998
Brasil. Lei n° 12.212, de 20 de Janeiro de 2010. Dispõe sobre a Tarifa Social de
Energia Elétrica; altera as Leis nºs 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.925, de 23 de
julho de 2004, e 10.438, de 26 de abril de 2002; e dá outras providências.
Brasil, R. F.; Norte, R. G. Programa de Eficiência Energética no Prédios Públicos - PROCEL
EPP: um Pré-Diaginostico no IFRN Câmpus Zona Norte. IX Congresso de Iniciação
Científica do IFRN.
Bullock, C.; George, C. A Guide to Energy Service Companies. Editora Faimont Press,
2001
Carbon Trust 2010. Introducing combined heat and power: A new generation of energy
and carbon savings. London: Carbon Trust.
Dalkia. 2012. Dalkia - Our Kistory [Online]. Available:
http://www.dalkia.co.uk/papa-preview/dalkia-history
64
Department of Energy and Climate Change. (2012). How much energy could be saved
by making small changes to everyday household behaviours?
El Hage, F.; Ferraz, L. P. C.; Delgado, M. A. P.; A Estrutura Tarifária de Energia
Elétrica: Teoria e Aplicação, 2º Edição. Rio de Janeiro. Editora Synergia, 2013.
Eletrobrás; Procel. (2005). Gestão Energética. Rio de Janeiro
Fang, W. S.; Miller, S. M.; Yeh, C. (2012). The effectof ESCOs on energy use. Energy
Policy 51: 558–568
Fawkes, S. 2007. Outsourcing Energy Management; Savig Energy & Carbon
Through energy Partnering, Aldershot, Gower Publishing Limited.
Ferraz, Rafael Campelo de Melo. (2006). Regulação de Mercados de Energia Elétrica:
Estudo dos Casos Britânico, Norueguês e Brasileiro. Prêmio SEAE
Fonseca, J. N; Reis, L. B.; Empresas de Distribuição de Energia Elétrica no Brasil:
Temas Relevantes Para a Gestão. Rio de Janeio. Editora: Synergia, 2012.
Garcia, A. G. P. (2008). Leilão de Eficiência Energética no Brasil. Rio de Janeiro
RJ. TESE (Doutorado em Engenharia Elétrica), Universidade Federal do Rio de
Janeiro – RJ
Giambiagi, Fábio; Villela, André; Barros e Castro, Lavínia; Hermann, Jennifer.
Economia Brasileira Contemporânea (1945-2004). Rio de Janeiro. Editora: Elsevier,
2005.
Gitman, L. J.; Princípios da Administração Financeira; São Paulo: Harbra, 1997
Glachant, J. M.; Brousseau, E. “Contract Economics and the Renewal of Economics”.
In Glachant J. M.; Brousseau E. (orgs.) The Economics of Contracts: Theories and
Applications. New York, EUA: Cambridge University Press, 2002, pp.
Grout, P. A. 1997. The economics of the Private Finance Initiative. Oxford Review of
Economic Policy, 13, 53-66.
Hamidi, Vandad; Li, Furong; Robinson, Francis. (2009). Demand response in the UK’s
domestic sector. Electric Power Systems Research 79: 1722–1726
Hannon, Matthew James. (2012). Co-evolution of innovative business models and
sustainability transitions: The case of the Energy Service Company (ESCo) model and
the UK energy system. Tese de Doutorado em Filosofia. Sustainability Research
Institute, School of Earth and Environment Energy Research Institute, School of
Process, Environmental and Materials Engineering - University of Leeds
Hargreaves, T.; Nye, M.; Burgess, J. (2010). Making energy visible: A qualitative field
65
study of how householders interact with feedback from smart energy monitors. Energy
Policy 38: 6111–6119
Helm, D. 2003. Energy, the State, and the Market: British Energy Policy since 1979.
Hollanda, J. B. ; Erber, P. (2009). Energy Efficiency in Brazil. Trade and Environment
Review 2009/2010.
Instituto Nacional de Eficiência Energética; A Eficiência Energética e o Novo Modelo
do Setor Energético; Rio de Janeiro ago. 2001
Iqbal, A. (2009). ESCo Development - United Kingdom. In: HANSEN, S. J. (ed.)
ESCOs Around the World: Lessons Learned in 49 Countries Lilburn: The Fairmont
Press Inc.
Junior, H. Q. (orgs). Financiamento do Setor Elétrico Brasileiro. Inovações Financeiras
E Novo Modo de Organização Industrial. Rio de Janeiro: Ed. Garamond, 1998. 195p .
Kim, J. H.; Shcherbakova, A. (2011). Common failures of demand response. Energy 36:
873-880
Kupfer, David; Hasenclever, Lia (Org.). Economia Industrial: fundamentos
teóricos e práticos no Brasil. Rio de Janeiro. Editora Elsevier, 2002 – 17º
Reimpressão
Leite, Antônio Dias. A energia do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
Light S.A. (2015). Demonstrações Financeiras Consolidadas. Disponível em:
http://ri.light.com.br/ptb/4516/2014_Demonstracoes%20Financeiras%20Consolidadas
_LSA_final.pdf . Acedido em 20/07/2015
Lima Pereira, Igor Othon de. (2011). Proposta de Leilões de Eficiência Energética
Para o Brasil. Monografia em Engenharia Elétrica. Centro de Tecnologia -
Universidade Federal do Ceará
Maia, Fernando Cesar (org.). Redes Elétricas Inteligentes no Brasil: Subsídio Para um
Plano Nacional de Implantação. Rio de Janeiro. Editora Synergia, 2013
Marino, A.; Bertoldi, P.; Rezessy, S. (2010). Energy Service Companies Market in
Europe - Status Report 2010 -. JRC Science and Technical Reports
Marino, A.; Bertoldi, P.; Rezessy, S.; Boza-Kiss, B. (2011). A snapshot of the European
energy service market in 2010 and policy recommendations to foster a further market
development. Energy Policy, 39, 6190-6198.
Melo, Vanderlei Gomes de. (2002). O Setor Elétrico no Brasil e no Mundo: Mudanças
Recentes. Monografia em Ciências Econômicas. Universidade Federal da Bahia
66
Ministério de Minas e Energia (MME); Modelo Institucional do Setor Elétrico; Brasília
dez. 2003.
Ministério de Minas e Energia (MME); Plano Nacional de Eficiência Energética;
Brasília dez. 2013.
Ministério de Minas e Energia (MME); Plano Nacional de Energia 2030; Brasília nov.
2007.
Ministério de Minas e Energia (MME); Eficiência energética na indústria e nas
residências no horizonte decenal (2010-2019); Rio de Janeiro jun. 2010.
Ministério do Planejamento . Projeto Esplanada Sustentável. Apresentação de slides em
pdf. Disponível em:
http://a3p.ana.gov.br/Documents/docs/outros/Projeto%20Esplanada%20Sustent%C3%
A1vel%20-%20PES.PDF
Moreno, E. (2003). ESCOs – Potencial do Mercado de Eficiência Energética.
Apresentação de slides em pdf. [S.l.]: ABESCO
Nicholson, W. Microeconomics Theory, 9th. Edition, Thonson, 2005
Office of Gas and Energy Markets & Energy Savings Trust. (2003). A review of the
Energy Efficiency Standards of Performance 1994 – 2002.
Office of Gas and Energy Markets. (2005). A review of the Energy Efficiency
Commitment 2002 – 2005. A report for the Secretary of State for Environment, Food
and Rural Affairs
Office of Gas and Energy Markets. (2008). A review of the Energy Efficiency
Commitment 2005-2008. Report to the Secretary of State for Environment, Food and
Rural Affairs
Oliveira, R. G. (2004). Análise de Desempenho Regulatório: Lições da Experiência
Britânica na Indústria de Eletricidade. Tese de Doutorado. 412f. 2004.
COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Painuly, J.P.; Park, H.; Lee, M.-K.;Noh, J.. (2003). Promoting energy efficiency
financing and ESCOs in developing countries: mechanisms and barriers. Journal of
Cleaner Production 11: 659–665
Pindyck, Robert; Rubinfeld, Daniel. Microeconomia. São Paulo. Editora Person
Prentice Hall, 2006 – 1º Reimpressão
Pinto Junior, Helder Queiroz; Economia da Energia: fundamentos econômicos,
evolução histórica e organização industrial; Editora: Elsevier (2007).
Pinto JR., H.Q. Os Novos Mecanismos do Financiamento: Transformações Recentes
67
e Desdobramentos para a Industria Elétrica Brasileira. In: De Oliveira, A; Pinto
Poole , A. D.; Geller , H. (1997). O Novo Mercado de Serviços de Eficiência Energética
no Brasil. INEE
Poole, A. D. (2005). Análise dos Resultados da Pesquisa das Empresas de Serviços
de Eficiência Energética no Brasil. Organizado pela ABESCO. Apoio do Banco
Mundial, PNUMA e Fundação das Nações Unidas. 26 p. [S.l.]: ABESCO
Rosenquist, G.; McNeil, M.; Iyer, M.; Meyers, S.; McMahon, J. (2006). Energy
efficiency standards for equipment: Additional opportunities in the residential and
commercial sectors. Energy Policy 34: 3257–3267
Rosenow, J. (2012). Energy savings obligations in the UK — A history of change.
Energy Policy 49 (2012) 373–382
Roxo, Letícia Figueiredo. (2005). Credibilidade das Reformas: Uma Análise do Setor
Elétrico Brasileiro. Dissertação de Mestrado em Economia. Instituto de
Economia - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ryan, L; Campbell, N. (2012). Spreading Net: the multiple benefits of energy efficiency
improvements. Paris: International Energy Agency.
Satchwell, A.; Cappers, P.; Goldman, C. (2011). Carrots and sticks: A comprehensive
business model for the successful achievement of energy efficiency resource standards.
Utilities Policy. 19: 218 – 225
Sorrell, S. (2005). The contribution of energy services to a low carbon economy.
Tyndall Centre Technical Report 37. Tyndall Centre for Climate Change Research.
Sorrell, S. (2007). The economics of energy service contracts. Energy Policy, 35,
507-521.
Srivastava, G.; Kathuria, V. (2014). Utility reforms in developing countries: Learning
from the experiences of Delhi. Utilities Policy. 29: 1 – 16
Strbac, G. (2008). Demand side management: Benefits and challenges. Energy
Policy 36: 4419–4426
Tapia, J. (2012). The ‘duty to finance’, the cost of capital and the capital structure of
regulated utilities: lessons from the UK. Utilities Policy. 22: 8 – 21
Thomas, S. 1996. The Privatisation of the Electricity Supply Industry. In: SURREY,
J. (ed.) The British Electricity Experiment. Privatisation: the record, the issues, the
lessons. London: Earthscan.
Torriti, J.; Hassan, M. G.; Leach, M. (2010). Demand response experience in Europe:
Policies, programmes and implementation. Energy 35: 1575–1583
68
Varian, Hal. Microeconomia: conceitos básicos. Rio de Janeiro. Editora Elsevier, 2006
– 3º Reimpressão
Vine, Edward. (2005). An international survey of the energy service company
(ESCO) industry. Energy Policy 33: 691–704
Vine, E.; Nakagami, H.;Murakoshi, C.. (1999). The evolution of the US energy service
company (ESCO) industry: from ESCO to Super ESCO. Energy 24: 479–492
Warren, Peter. (2014). A review of demand-side management policy in the UK.
Renewable and Sustainable Energy Reviews 29: 941–951
World Energy Council (WEC). (2008). Energy Efficiency Policies Around the World
Review and Evaluation. Official Publication of the World Energy Council.
World Energy Council. (2013). World Energy Insight. Official Publication of the
World Energy Council. World Energy Congress.