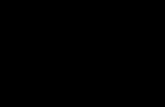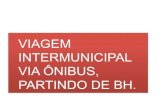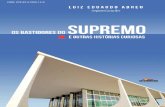O que a etnografia tem a dizer sobre alteridades
-
Upload
herbertcomex6535 -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of O que a etnografia tem a dizer sobre alteridades
Leituras de textos selecionados: O que a etnografia tem a dizer sobre alteridades?
Roberto Cardoso de Oliveira explicita, a partir de situaes etnogrficas, formas de relao entre valores distintos e seus efeitos prticos para comunidades morais. Um desses exemplos potente, como salienta, para refletirmos no apenas sobre o desfecho dos encontros, mas sobretudo, nas possibilidades em que pondo em prtica argumentos, assim estabelecendo a negociao, torna-se exequvel o encontro em termos de uma soluo tica. O caso exposto o encontro entre missionrias crists e os Tapirap em 1957, quando estes, mesmo com uma comunidade diminuta ainda praticavam o infanticdio. Detalhando sumariamente o contexto informa o leitor sobre o dilogo estabelecido entre s irms e os indgenas, tendo as primeiras o intuito de erradicar o infanticdio entre os segundos, que viam na ao uma forma legtima de controle populacional, afinal a vida da coletividade seria de primeira ordem, mesmo que para isto a morte de recm nascidos fosse uma das sadas adotadas. J, em situao avanada de reduo populacional, havia apenas 54 pessoas Tapirap, ainda sim praticava-se o infanticdio do quarto filho. Sem explicitar o argumento das irms aos Tapirap, Roberto Cardoso de Oliveira, apresenta a situao como algo inspirador, em que devido a argumentao uma soluo tica foi pronunciada. O que chamou minha ateno foi algo, em certo ponto, no totalmente explorado pelo autor a: situacionalidade, o contexto e a posicionalidade em que tal encontro ocorreu. Quando essas duas moralidades se encontraram, sendo uma moral baseada na vida da pessoa humana (Crist) e a outra baseada na vida da comunidade (Tapirap) havia um contexto que permitia articular as duas moralidades dentro de argumentaes que, mesmo se entendendo parcialmente, poderiam emergir solues satisfatrias ambos os grupos irms e Tapiraps. Questiono-me, se o contexto fosse outro em que os Tapirap estivessem em pleno florescimento populacional estes seriam sensveis aos argumentos contra o infantcdio, pregado pelas irms? Ou, revertendo a questo, se mesmo que as irms compreendessem as funcionalidades operativas do infanticdio Tapirap, como controle populacional para possibilitar a vida da coletividade, estariam dispostas, caso no contexto de plena populao indgena, a permitir uma soluo tica para o caso? O que pretendo aqui no traar quadros hipotticos e simplesmente deix-los por si s, mas pensar como tais contextos situacionalidades e posicionalidades podem, ou no, contribuir para a proposta de Roberto Cardoso de Oliveira, em que essa argumentao ocorre com pessoas em momentos especficos, s vezes, sendo que a soluo proposta pelo autor no opere satisfatoriamente, como depois ele demonstra nos casos de insucesso, claramente no por adoo desse pressuposto tico na argumentao.Ainda pensando a partir de Roberto Cardoso de Oliveira, este nos ensina sobre os perigos do relativismo s ltimas consequncias, ala Herkovits, pois assombraria as possibilidades de dilogo. Contudo, quando "o choque de valores morais" e a "soluo negociada" partem de uma via em direo a outra isto no impele uma forma de etnocentrismo suavizado? Afinal, concordando com o argumento de Geertz de que no vivemos mais em ilhas, mas sim em colagens, pergunto-me sobre a investigao das direes desses dilogos, talvez, como uma possibilidade de soluo para problemas no postos por uma das partes? Outro ensinamento potente, ou do que devemos prestar mais ateno em campo, est nas solues adotadas, inmeras vezes, por somente um dos lados e que pese no haja dilogo algum, salientando que estas formas, ainda vigentes, seriam altamente danosas aos grupos dominados e que os antroplogos assumirem, somente, a posio relativista, por receio em cair em posies etnocntricas, no se coloca ao debate com isso eximindo-se de se contrapor efetivamente a tais violncias.Ao final de sua reflexo, Roberto Cardoso de Oliveira, aponta alguns direcionamentos no que tange a caminhos que a antropologia poderia se colocar, onde mais importante que o argumento, em si, est a atitude tica aberta ao dilogo e combate as imposies unilaterais. Algumas outras consideraes consideraes me fazem pensar sobre e a partir do meu campo de pesquisa junto a coletividades Kaingang: 1) Sobre um mal estar no pressuposto de haver uma "incomensuralidade dos horizontes morais", pois: o costume ou tradio deve ser distinguido de moralidade; h caminhos de "negociao" dentro de "comunidades de comunicao" e suas possibilidades de dialogia; 2) A importncia da "tica discursiva" tendo em vista um "encontro etnogrfico" numa perspectiva de fuso de horizontes; 3) Questo da moralidade com relao aos sistemas intertnicos e ao papel do Estado-nao no trato da questo. Vejo que h um certo deslumbramento do autor com as possibilidades de dilogo e no se faz presente uma reflexo mais acurada sobre as posicionalidades em que esses dilogos so estabelecidos, das vozes sonorizadas em termos de amplitude e potncia. Penso pontualmente, mas podendo extrapol-las, nas assimetrias das relaes de poder que exprimem para certas vozes supresses quando, e se, so pronunciadas a outros ouvintes, certos do gozo de suas autoridades. O caso exposto pelo autor sobre o casamento Tkna mostra-nos quo a audincia no receptiva e isto, tambm, devido as incompreenses da vida vivida pelo outro. Mais uma vez vejo nas reflexes de Geertz um caminho, quando este defende, a etnografia em termos de fazer emergir tais entendimentos. O problema posto pelo casamento era o do incesto, mas o parentesco era para o agente do SPI um e para a coletividade indgena outro, assim gerando um desencontro de horizontes.Sem esgotar a temtica do seminrio, possvel ainda resgatar a primeira leitura que fao dos demais textos propostos. Sayad, por sua vez, ilumina outras questes, com as quais poderei refletir meu prprio campo, colocando acento sobre a natureza de certos fenmenos e suas gneses, como estes so pensados e articulados pelos dominadores, mesmo que tais noes de dominador-dominado tenha suas limitaes, como o silenciamento de aes e suas agncias frente a estrutura, em termos de articular e defender seus ideais, destituindo os dominados de evidncias contextuais que mostrem que sua situao fruto de violncias.Sayad, ainda aponta, para as funes da linguagem da moral, como moralizadora, assim atuando como mecanismo despolitizador dos problemas sociais. Fazendo aflorar dimenses mltiplas (do micro ao macro) que se atravessam complexifica e problematiza situaes postas (por certos interesses) como dadas, sem deixar de lado a discutvel acepo de cidados serem constitudos apenas parcialmente de seus direitos, em suas palavras, como no caso da migrao argelina a Frana: ser francs na prpria Frana, sem ser completamente francs ao mesmo tempo sendo francs!
REFERNCIAS PARA ESSAS REFLEXES
FRASER, Nancy. Reconhecimento sem tica? In: Lua Nova, So Paulo, 70: 101-138, 2007. Disponvel On line.
GEERTZ, Clifford. Os usos da diversidade. In: Nova Luz sobre a antropologia, Rio, Jorge Zahar Ed. 2001. (p. 68-85) (Publicado na revista Horizontes antropolgicos n. 10, 1999)
OLIVEIRA FILHO, Joo Pacheco. Pluralizando tradies etnogrficas: sobre um certo mal-estar na antropologia. Sade dos Povos Indgenas: reflexes sobre a antropologia participativa. ABA, Contracapa, 2004. (p. 09-32)
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Antropologia e Moralidade. In: RBCS n. 24. site da ANPOCS. On line site da ANPOCS, RBCS.
SAYAD, Abdelmalek. A Pobreza extica: A imigrao argelina na Frana. RBCS. N. 17, out. 1991.