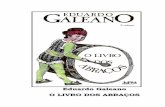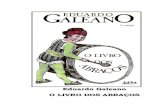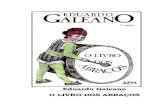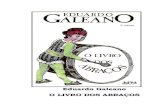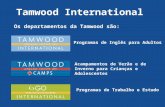O QUE NÓS QUER É OCUPAR TODOS OS ESPAÇOS”: a … · Diz adeus aos filhos, ... contada por...
Transcript of O QUE NÓS QUER É OCUPAR TODOS OS ESPAÇOS”: a … · Diz adeus aos filhos, ... contada por...
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PR- REITORIA DE PS-GRADUAO E PESQUISA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM SOCIOLOGIA
Claudia Kathyuscia Bispo de Jesus
O QUE NS QUER OCUPAR TODOS OS ESPAOS: a
participao sociopoltica do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) em Conselhos Gestores.
So Cristvo, Fevereiro de 2015
-
1
O QUE NS QUER OCUPAR TODOS OS ESPAOS: a
participao sociopoltica do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) em Conselhos Gestores
Dissertao apresentada ao Programa de Ps-Graduao em
Sociologia como requisito para a obteno do ttulo de Mestre
em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe.
Orientador: Marcelo Alario Ennes
So Cristvo, Fevereiro de 2015
-
2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PR- REITORIA DE PS-GRADUAO E PESQUISA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM SOCIOLOGIA
Claudia Kathyuscia Bispo de Jesus
O QUE NS QUER OCUPAR TODOS OS ESPAOS: a
participao sociopoltica do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) em Conselhos Gestores.
Dissertao julgada adequada para a obteno do ttulo de
Mestre em Sociologia, defendida e aprovada em __/__/__
pela Banca Examinadora.
Banca Examinadora:
________________________________
Prof. Dr. Marcelo Alario Ennes- ORIENTADOR
Universidade Federal de Sergipe- PPGS/UFS
__________________________________
Prof. Dr. Paulo Srgio da Costa Neves- EXAMINADOR INTERNO
Universidade Federal de Sergipe- PPGS/UFS
___________________________________
Prof. Dr. Teresa Cristina Zavaris Tanezini- EXAMINADORA EXTERNA
Universidade Federal de Sergipe- DSS/UFS
-
3
Ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pelos seus trinta
anos de (histrica) participao sociopoltica.
-
4
Agradecimentos
Ao considerar que a construo de um conhecimento no resultado de uma s
pessoa, mas sim de uma coletividade, registro o meu fraterno agradecimento:
minha querida me, Josefa, por aceitar e entender a minha sada do nicho
familiar e me deixar partir em busca dos primeiros passos profissionais. admirvel a
sua capacidade de resistir labuta cotidiana da vida e dispor de risos e de ternura;
Naylini Sobral, pelo companheirismo, cumplicidade e intenso amor ao longo
desse tempo vivido e compartilhado.
Neide Sobral, pela acolhida, considerao e, sobretudo, pelo respeito.
Aos queridos amigos, Conceio Santos, Igor Macedo, Luige Oliveira, Karol
Coelho e Wilian Santana, muito obrigada pela amizade sincera.
Aos professores, ou melhor, aos intelectuais orgnicos: Alexandrina Luz,
Catarina Nascimento, Christiane Senhorinha, Romero Venncio, Snia Meire e Theresa
Zavaris pela inspirao na prxis por um conhecimento engajado.
A Marcelo Ennes, meu orientador, por inicialmente ter me aceitado, mesmo nos
nossos esbarros no meu perodo de movimento estudantil. Isso mostrou o quanto o
reconhece o estudante- militante e no o distingue. E agradeo tambm pelas
orientaes e, principalmente, pela pacincia ao longo desses dois anos de convvio.
Ao GEPPIP (Grupo de Estudos e Pesquisa Processos Identitrios e Poder), meu
agradecimento pela insero e troca de saberes. Em especial, Alexsandra, Allisson,
Eduardo, Gregrio e Thiago.
Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior (CAPES),
pela colaborao financeira para a realizao desta pesquisa.
E, por fim, agradeo aos atores sociais presentes nesta pesquisa, por ser subsdio
na minha imaginao sociolgica, destes destaco o MST por mais uma vez me receber e
confiar as suas histrias orais a mim.
-
5
Trinta Anos (aos 30 anos do MST)
Trinta anos no so trinta dias,
Um ms, mesada
So muitas guas passadas
Muitas que ainda ho de passar.
Trinta anos uma vida Menina bonita, mulher,
Menino que virou rapaz,
Uma estrada que j deixou de longe
A porteira, muita gente com saudade,
Os ps dodos da caminhada
um vazio no peito da pessoa amada
e uma vontade doida de chegar.
Trinta anos uma caminhada,
Marcha, movimento, jornada,
Muita pedra chutada,
Muita cerca arrancada
Muita esperana plantada
E tambm as coisas erradas
Que ajudam a acertar o rumo
De verdade onde queremos chegar.
Trinta gros de areia na praia do tempo
Trinta gotas de sangue no mar do povo
Trinta badaladas navegando no vento
Anunciando o novo tempo que vai chegar
Quem tem seus noventa saiu na frente
E as vezes fica pra trs,
mas no nos perdemos,
pois temos um encontro marcado
No dia que este mundo vai mudar.
(Mauro Iasi, 2014)
-
6
RESUMO
Este trabalho se props a analisar a participao sociopoltica do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em conselhos gestores do municpio de Nossa
Senhora da Glria, isto , examinar se essa prtica correspondeu (ou no) a uma nova
estratgia poltica, bem como uma redefinio identitria dos integrantes do MST.
Foram abordados como temas tericos: movimentos sociais; participao; conselhos
gestores e processos identitrios. Ademais, fizemos uso da categoria analtica Campo
poltico desenvolvido por Pierre Bourdieu no aporte terico- metodolgico. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, realizada atravs da observao direta, de entrevistas semi
estruturadas e pesquisa documental que possibilitou a construo do corpus emprico,
em que podemos destacar alguns resultados: i) participao de militantes polticos em
conselhos gestores; ii) concepo e formas de participao para o MST; iii) os dilemas
do MST diante da participao em conselhos gestores. Concluimos que a insero
participativa do MST em conselhos gestores significa uma redefinio identitria dos
integrantes do movimento que, por sua vez, esto alterando a dinmica interna tanto dos
conselhos quanto a do prprio movimento no que se refere sua atuao poltica. Essa
participao sociopoltica do MST uma tentativa de garantia de permanncia e de luta
por melhores condies de vida nos assentamentos rurais.
Palavras - chave: conselhos gestores; movimentos sociais; participao sociopoltica;
processos identitrios;
-
7
ABSTRACT
This study aimed to analyze the social and political participation of the Movement of
Landless Rural Workers (MST) in management councils of the city of Our Lady of
Glory, ie examine whether the practice corresponded (or not) to a new political strategy
and an identity redefinition of MST members of the movement. We examined the
theoretical issues: social movements; participation; management councils and identity
processes. In addition, we used the analytical category political field developed by
Pierre Bourdieu in theoretical-methodological contribution. This is a qualitative
research, carried out through direct observation, semi-structured interviews and
documentary research that enabled the construction of empirical corpus, in which we
can highlight some results: i) participation of political activists in management councils;
ii) design and forms of participation for the MST; iii) MST dilemmas on participation in
management councils. It follows that participatory MST insertion in management
councils means an identity redefinition of movement members who in turn are changing
the internal dynamics of both counsel on the movement itself as regards its political
action. This socio-political participation of the MST is an attempt to stay assurance and
fight for better living conditions in rural settlements.
Key words: management councils; social movements; social and political participation;
identity processes;
-
8
LISTA DE GRFICOS
Grfico1: Nmero de Famlias Rurais Assentadas em Nossa Senhora da Glria
Grfico 2: Frequncia de representao de assentados(as) em conselho gestor do
municpio
LISTA DE QUADROS
Quadro 1- Conselhos Existentes em Nossa Senhora da Glria
LISTA DE FIGURAS
Foto 1: T. Reis, Abertura do VI- Congresso Nacional do MST (2014)
Foto 2: C. B. J. Kathyuscia, Acampamento durante o VI- Congresso Nacional do
MST (2014)
Foto 3: C.B.J. Kathyuscia, Cozinha Coletiva, (2014)
Foto 4: Participao do MST no Planejamento Participativo de Sergipe (2007)
Foto 5:Depoimento de liderana do MST sobre a participao do MST no Planejamento
Participativo de Sergipe (2009)
LISTA DE TABELA
Tabela 1- O acesso dos(as) assentados(as) rurais de N.Sr. da Glria aos programas
sociais
-
9
LISTA DE SIGLAS
ABONG- Associao Brasileira de Organizaes No Governamental
ATER Assistncia Tcnica e Extenso Rural
ATES Assessoria Tcnica, Social e Ambiental.
CDJBC- Centro de Assessoria e Servios aos Trabalhadores da Terra Dom Jos
Brando de Castro
CMAS - Conselho Municipal de Assistncia Social
CMDM conselho municipal dos direitos da mulher
CMDS- Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentvel
CMS- Conselho Municipal da Sade
CNBB- Conferncia Nacional dos Bispo do Brasil
COMAE- Conselho municipal de alimentao escolar
COMDCA- Conselho municipal dos direitos da criana e do adolescente
COMSEA- conselho municipal de segurana e soberania alimentar
CPT- Comisso Pastoral da Terra
CUT- Central nica dos Trabalhadores
DATALUTA- Banco de Dados da Terra
DCS- Departamento de Cincias Sociais
DSS- Departamento de Servio Social
FHC- Fernando Henrique Cardoso
FUNASA- Fundao nacional da sade
FUNDEB- Fundo de manuteno e desenvolvimento da educao bsica e de
valorizao dos profissionais da educao
GEPPIP- Grupo de Estudos e Pesquisa Processos Identitrios e Poder
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
IDHN- ndice de Desenvolvimento Humano Municipal
INCRA Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria
LABERUR- Laboratrio de Estudos Rurais e Urbanos
LGBT- Lsbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais e Travesti
LOAS- Lei Orgnica da Assistncia Social
MDA Ministrio do Desenvolvimento Agrrio
MPA- movimento dos pequenos agricultores
-
10
MR- Mobilizao de Recursos
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra
NERA- Ncleo de Estudos, Pesquisa e Projetos de Reforma Agrria
NMS- Novos Movimentos Sociais
ONG- Organizao No Governamental
PCB- Partido Comunista Brasileiro
PCPR- Projeto de Combate a Pobreza Rural
PIBIX- Programa Institucional de Iniciao Extenso
PMDB- Partido do Movimento Democrtico Brasileiro
PNRA Plano Nacional de Reforma Agrria
PP- Planejamento Participativo
PRONAF- Programa de Apoio a Agricultura Familiar
PRONESE- Empresa de Desenvolvimento Sustentvel do Estado de Sergipe
PT- Partido dos Trabalhadores
SEPLAN- Secretaria municipal de planejamento do Governo do Estado de Sergipe
SINDSERVE- Sindicato dos Servidores Pblicos
SPM- Secretaria de polticas para as mulheres
SUS- Sistema nico de Sade
TCC- Trabalho de Concluso de Curso
-
11
SUMRIO
INTRODUO............................................................................................................ 12
1. QUESTES BSICAS DA PESQUISA................................................................. 17
1.1. O problema da pesquisa........................................................................................... 17
1.2. O objeto emprico.................................................................................................... 20
1.2.1 O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)................................. 20
1.2.2. Nossa Senhora da Glria...................................................................................... 23
1.2.3. Os Assentamentos: lcus emprico ...................................................................... 26
1.3 Metodologia.............................................................................................................. 28
2. MOVIMENTOS SOCIAIS: UMA CATEGORIA EM ANLISE ..................... 34
2.1 Os contextos sociais e os tipos de abordagem.......................................................... 36
3. CONSELHOS & PARTICIPAO....................................................................... 51
3.1 O Movimento da Participao Sociopoltica e dos Conselhos Gestores no Brasil.. 51
3.2 Conselhos Gestores: exemplo de participao e conflito......................................... 56
4. PARTICIPAO SOCIOPOLTICA E CONSELHOS GESTORES: AS
(NOVAS) ESTRATGIAS DE LUTA DO MOVIMENTO DOS
TRABALHADORES SEM TERRA (MST)? ............................................................ 61
4.1 A participao para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ................ 61
4.1.1 A participao no VI- Congresso Nacional do MST: uma observao direta ......64
4.2 O dilema da participao do MST em Conselhos Gestores .................................... 67
4.3 Nossa senhora da Glria e o Cenrio dos Conselhos Gestores................................ 73
4.4 A experincia participativa do MST- N. Sr Glria nos Conselhos Municipais...... 79
4.5 Assentado rural- conselheiro gestor: uma redefinio identitria ....................... 87
CONSIDERAES FINAIS ...................................................................................... 92
REFERNCIAS............................................................................................................ 96
APNDICES................................................................................................................106
ANEXOS.......................................................................................................................112
-
12
Introduo
Esta mulher est indo para o norte. Sabe que pode morrer afogada na
travessia do rio, e do tiro, sede ou serpente na travessia do deserto.
Diz adeus aos filhos, querendo dizer at logo.
E indo embora de Oaxaca, ajoelha-se diante da Virgem de Guadalupe, num
altarzinho do caminho, e roga o milagre:
- No peo que voc me d nada. S peo que me voc me ponha aonde tem.
(GALEANO, 2010, p. 217)
Assim como essa historieta (A partida) contada por Eduardo Galeano (2010),
partimos para a chegada desta dissertao. Muito eram os riscos que me impediam de
chegar at o fim. Mas, deixemo-nos seguir pelas prprias experincias vividas e nos
por aonde tem.
A elaborao desta pesquisa foi continuidade de trabalho desenvolvido desde o
perodo da graduao em Cincias Sociais (2009-2012) na Universidade Federal de
Sergipe (UFS)1. Tal experincia proporcionou o contato e o envolvimento com a
temtica da sociologia rural e, principalmente, com a realidade do campo em reas
assentadas e acampadas. Vale frisar que a escolha por assentamentos rurais da reforma
agrria vai ao encontro da importncia que esse tema assumiu no campo das cincias
sociais nas ltimas dcadas no Brasil. Para estudiosos como Martins (2004) e Fernandes
(1996; 1998), foi a partir dos anos de 1980 que os assentamentos e os acampamentos
rurais surgem como uma nova categoria social no meio rural brasileiro, expressando
novas dinmicas sociopolticas pela reforma agrria e tendo no Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) um importante sujeito scio histrico.
Inicialmente, o projeto de dissertao estava voltado para examinar se ocorreram
mudanas na qualidade de vida de determinadas famlias rurais aps a obteno do
assentamento rural, nesse vis, seria, portanto, um estudo de caso atravs do uso da
etnografia. No entanto, com o decorrer do curso de mestrado, fomos bastante
questionados sobre a possvel abordagem da categoria qualidade de vida no campo
sociolgico. Diante da insuficincia terica na sociologia no que se refere categoria
1 Durante a graduao tive a oportunidade de envolvimento com a Iniciao Extenso Universitria
(PIBIX) em reas de assentamento rural, que desencadeou na minha monografia (2013), sob a orientao
do prof. Dr. Cristiano Ramalho (DCS/UFS).
-
13
Qualidade de vida e pelo curto tempo de mestrado, para construir um suporte terico
metodolgico para tal temtica, acabamos por abdicar do projeto inicial.
A partir das primeiras visitas a campo e retomando os contatos com o MST2 do
municpio de Nossa Senhora da Glria colocamos em questo meu projeto inicial e
confrontando nossos pr-conceitos tericos. At que, finalmente, decidi por pesquisar a
participao do MST, em conselhos, pois tal realidade nos chamava ateno e
despertou-nos para uma imaginao sociolgica3.
Esta mudana, do ponto de vista metodolgico, passvel de considerao, pois,
como nos lembra Becker em Segredos e Truques da Pesquisa (2007), no h uma
frmula simples para a pesquisa social, logo, pode ser modificada, virada de cabea para
baixo. E foi o que ocorreu, no final do segundo semestre de 2013, j estava iniciando a
pesquisa sobre a participao sociopoltica do MST em conselhos gestores. E sobre
ela que transcorremos a seguir.
O objetivo da pesquisa era analisar a participao sociopoltica do MST em
conselhos gestores de Nossa Senhora da Glria, isto , examinar se essa prtica
correspondeu (ou no) a uma nova estratgia poltica do movimento, bem como uma
redefinio identitria dos integrantes do movimento. Por participao sociopoltica se
pressups, aqui, enquanto um nvel poltico de integrao social de indivduos em dados
grupos decorrente de processos histricos.
Para a realizao do objetivo supracitado, recorremos metodologia qualitativa
para um estudo in loco, da qual fizemos uso da observao direta, de entrevistas
semiestruturadas e pesquisa documental. As idas a campo ocorreram em dois
momentos. O primeiro se deu pela viagem a Braslia, em fevereiro de 2014, para
acompanhar o VI- Congresso Nacional do MST. E, o segundo momento ocorreu
durante o perodo de outubro a dezembro de 2014, com as visitas Nossa Senhora da
Glria. Em suma, a realizao dessa metodologia favoreceu construo de um corpus
emprico. Sendo que, ao todo, foram levantadas as seguintes fontes de informaes:
2O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) surgiu na regio Centro-Sul do Brasil no perodo de
1984-1985. O movimento s teve contorno e repercusso nacional a partir dos anos 90, devido s vitrias
e emblemas dos processos de ocupaes de terra da poca, a exemplo da ocupao na fazenda Macali.
(TURATTI, 2005) 3 Imaginao sociolgica segundo o Wright Mills (1965, p.41). Isto , a imaginao sociolgica, quero
lhe lembrar, consiste em parte considervel na capacidade de passar de uma perspectiva para outra, e,
nesse processo, consolidar uma viso adequada de uma sociedade total e de seus componentes.
-
14
a) Uma observao direta no VI Congresso Nacional do MST;
b) Pesquisa documental do MST nacional, de Sergipe e das etapas pr-
congressuais. Alm do acesso a home page do MST.
c) Trs entrevistas aos dirigentes nacionais do MST, incluindo o representante de
Sergipe que compe a direo nacional;
d) Uma entrevista ao dirigente estadual e ao da regional do MST de Nossa Senhora
da Glria;
e) Duas entrevistas representao governamental (Coordenadora executiva do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher- CMDM e Assistente Social da
Secretaria Municipal da Assistncia Social de N. Sr da Glria);
f) Cinco relatos de militantes do MST que j foram (ou so) conselheiros;
g) Um relato da representao da sociedade civil (Sindicato dos Servidores
Pblicos SINDSERVE de N. Sr da Glria);
Em suma, foram 12 (doze) entrevistas. A fim de garantir uma preservao dos
entrevistados, utilizamos abreviaes para as identificaes das falas. Que so:
1. Coordenao Nacional do MST- Rio Grande do Sul: (COORD. RS);
2. Coordenao Nacional do MST- Par: (COORD. PA);
3. Coordenao Nacional do MST- Sergipe: (COORD. SE);
4. Dirigente estadual e da regional do MST de Nossa Senhora da Glria: (DIR.
ESTADUAL);
5. Representao governamental e Coordenadora executiva do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher-CMDM: (GOV.1);
6. Representao governamental e Assistente Social da Secretaria Municipal da
Assistncia Social /representante do Conselho Municipal de Assistncia Social:
(GOV.2);
7. Militante do MST que j foi (ou ) conselheiro: (MST- CONSELHEIRO 1);
8. Militante do MST que j foi (ou ) conselheiro: (MST- CONSELHEIRO 2);
9. Militante do MST que j foi (ou ) conselheiro: (MST- CONSELHEIRO 3);
10. Militante do MST que j foi (ou ) conselheiro: (MST- CONSELHEIRO 4);
11. Militante do MST que j foi (ou ) conselheiro: (MST- CONSELHEIRO 5);
12. Representao da sociedade civil/SINDISERVE: (SOC. CIVIL);
-
15
A demais, tivemos como suporte terico-metodolgico as abordagens dos
Movimentos Sociais- sendo que utilizamos a Teoria dos Novos Movimentos Sociais
(NMS) para a anlise do objeto; de conselhos gestores e as contribuies do
entendimento de processos identitrios.
Para facilitar o entendimento do texto, optamos por dividi-lo em quatro captulos,
a fim de seguir uma ordem lgica de raciocnio deste trabalho. No primeiro captulo
desta dissertao, temos a apresentao geral da pesquisa. Dessa forma, destacamos: a)
o problema de pesquisa; b) o objeto estudado; c) a metodologia utilizada.
O segundo captulo se refere abordagem terica. Apresentamos a anlise da
categoria Movimento Social e seus tipos de abordagem mediante os variados contextos
sociais que contriburam para as diversificaes de anlise no mbito das cincias
sociais. Destarte, enfatizamos o recorte dado ao objeto de pesquisa, a teoria dos Novos
Movimentos Sociais (NMS) como significativa para o entendimento do objetivo
proposto neste escrito cientfico.
No terceiro captulo, elaboramos um breve resgate histrico da participao
sociopoltica no Brasil, com destaque para a participao dos conselhos gestores.
Apresentam- se algumas caracterizaes e a concepo de participao sociopoltica que
orienta este trabalho, a qual est relacionada a processo histrico, na configurao e nas
mudanas nas relaes sociais.
Por fim, o ltimo captulo a apresentao dos resultados da pesquisa levantada
ao longo do ano de 2014. A descrio dos resultados acontece em dois momentos. O
primeiro decorre da observao direta no VI Congresso Nacional do MST, onde
pudemos coletar informaes a respeito do objetivo da pesquisa. E, o segundo momento
ocorreu com a pesquisa de campo no municpio de Nossa Senhora da Glria, que a
finalizao da pesquisa. As consideraes finais apresentadas so exposies
argumentativas do que propriamente uma concluso do estudo. Nessa perspectiva,
destacamos os limites e as possibilidades diante da participao sociopoltica do MST
em conselhos, bem como ressaltamos a relevncia da continuidade do estudo para um
melhor aprofundamento da (novidade da) participao e do engajamento de militantes
polticos em arranjos institucionais na esfera pblica.
-
16
Alm disso, h os apndices (que so as entrevistas semiestruturadas conforme
cada destinatrio) e os anexos. Estes os documentos oficiais (Lei Municipal, Regimento
Interno, Decretos entre outros) dos respectivos conselhos que foram possveis de serem
coletados e que serviram de subsdio para o entendimento do marco de criao, bem
como a compreenso das normas que regulam as aes dos respectivos conselheiros.
-
17
1. Questes bsicas da pesquisa
Neste captulo, apresentada a estruturao da pesquisa. Nele exposto o tema, a
questo da pesquisa e, em linhas gerais, o objeto de estudo afim de que o recorte
emprico seja situado.
1.1.Problema da pesquisa
A estrutura agrria brasileira, a permanncia do poder das classes sociais rurais
vinculadas aos grandes empreendimentos agropecurios, a pobreza e a negao de
direitos sociais que marcaram, historicamente, a vida dos camponeses e demais
trabalhadores(as) no campo foram elementos centrais definidores da formao, da
identidade e da organizao da sociedade brasileira e do seu meio rural. Nesse vis, a
histria do campesinato brasileiro registrada pelas marcas de suas lutas na obteno de
um espao prprio na economia e na sociedade, portanto, de processos sociais de
resistncia pelo direito de existir, em termos subjetivos, polticos, sociais, culturais e
econmicos.
Segundo Wanderley (2009), o Campesinato no Brasil sempre foi um setor
bloqueado historicamente, especialmente por conta da negao sistemtica, em
diversas localidades, do acesso dessa populao terra. Tais questes apresentaram-se
com particularidades, complementaridades ou oposies nas abordagens de valiosos
estudiosos da sociedade brasileira, ora enquanto componente importante dos debates
existentes na nascente cincias sociais em nosso pas, ora demarcando tambm as
leituras da atual gerao de estudiosos (as) da sociologia, principalmente, a sociologia
rural.
Esses estudos estavam inseridos em meio a um efervescente contexto
sociopoltico da poca (final da dcada de 60 do sculo XX), pois era um cenrio
marcado pelo processo de internacionalizao da indstria brasileira, bem como do
avano do capitalismo no campo, que impulsionaram o desenvolvimento da
modernizao do processo produtivo na agricultura. Desencadeou-se, enquanto reao a
-
18
essa modernizao excludente, uma forte organizao dos trabalhadores rurais em
vrios municpios no pas, que repercutiram em mbito nacional por conta de seus atos
polticos na dcada de 1950 e, principalmente nos primeiros anos de 1960 que
antecederam implantao do Regime Militar em 1964. A organizao poltica dos
camponeses contou com o apoio dos partidos polticos, sobretudo o Partido Comunista
Brasileiro (PCB), e da Igreja Catlica, os quais reunidos no I Congresso Nacional dos
Lavradores e Trabalhadores Agrcolas, em 1961, formularam, pela primeira vez, uma
proposta unitria de reforma agrria brasileira. Era uma sntese de suas interpretaes
poltica acerca da questo agrria no pas, gerando repercusso na imprensa (rdio e
jornal, na poca). Destarte, essas eram as condies em que estava ocorrendo
redefinio poltica das relaes de classes no campo. Isto , pouco a pouco, verificava-
se a metamorfose poltica do lavrador em campons (IANNI, 2004, p. 212),
especialmente na condio de elaborao de sua identidade poltica.
A agenda poltica desses grupos campesinos expressava questes como: a)
reforma agrria; b) livre direito organizao sociopoltica da classe trabalhadora rural;
c) extenso de direitos trabalhistas para o campo, bem como previdencirios; d) fim do
sistema de barraco e do cambo nos engenhos; e) polticas pblicas ligadas ao
desenvolvimento produtivo no campo, fundamentalmente para a pequena produo rural
(ANDRADE 2005; MARTINS, 1983). O elenco de aspectos j referendados mostra
como as reas rurais estavam inclumes aos direitos de cidadania, particularmente,
devido ao poder das elites agrrias em neg-los constantemente.
Esse perodo efervescente permitiu o acirramento dos conflitos no campo,
sobretudo, com a criao e a ao das Ligas Camponesas4. Em meio retomada das
manifestaes populares no perodo decisivo de encerramento do regime militar (1985),
o movimento campons ganhou (novo) impulso, com destaque para o MST.
De acordo com Stedile e Fernandes (2012), as razes do surgimento desse
movimento foram determinadas por diversos fatores, dentre os principais: a) o aspecto
socioeconmico das transformaes que a agricultura brasileira sofreu na dcada de 70
4 As Ligas Camponesas foi um movimento campons que teve seu incio no ano de 1954 em Pernambuco
e, posteriormente, na Paraba, donde emergiram suas principais lideranas: Joo Pedro Teixeira, Elizabeth
Teixeira, Jlia Santana, Francisco Julio e outros(as). As Ligas existiram at 1964, sendo eliminadas,
assim como as demais organizaes de camponeses e de trabalhadores rurais sindicalizados vinculados
esquerda. Tudo isso levou a um silenciamento da identidade poltica projetada a partir das aes e dos
valores de mundo dos prprios homens do campo. (JULIO, 1962)
-
19
do sculo passado; b) modernizao e industrializao no campo; c) e a era da
colonizao da regio Norte do pas. Portanto, o nascimento do MST tem suas razes
nas condies objetivas do desenvolvimento da agricultura, logo, o MST no surgiu s
da vontade do campons. Ele s pode se constituir como um movimento social
importante porque coincidiu com um processo mais amplo de luta pela democratizao
do pas (STEDILE & FERNANDES, 2012, p. 24).
necessrio destacar que, o surgimento do MST possibilitou uma ressignificao
do conceito campons. Isto porque, afirmava-se que o campons correspondia
meramente a um simples produtor agrcola. Com uma forma de organizao prpria e
uma identidade que foi construda no processo de consolidao do movimento no
mbito nacional e estadual, o sem-terra a cara mais renovada do campesinato
(CARVALHO, 2005, p. 156). Ainda segundo Carvalho (2005), o MST marca o perodo
de constituio de um novo campons: o assentado de reforma agrria.
J, no que se refere, famlia rural no projeto de reforma agrria, essa famlia
acaba assumindo carter central, pois a criao dos assentamentos a validao da
importncia e do reconhecimento da famlia como elemento fundamental para a vida
nos assentamentos, j que, o sujeito da conquista do assentamento de reforma agrria
tem um ncleo basicamente familiar, e de famlia extensa (MARTINS, 2003, p. 19).
Diante da conceituao apresentada por Martins, parte-se da ideia de que a famlia
rural assentada tenta garantir a reproduo social do grupo familiar e,
consequentemente, a melhoria das condies de vida, uma vez que estas so agentes da
modificao social do mundo rural. So essas famlias e as dinmicas existentes nos
assentamentos que tm possibilitado em vrios municpios formas de incluso social
antes precarizadas pela ausncia da posse da terra. Ademais, so elas que passam a
qualificar as polticas dos poderes pblicos municipais, cobrando escolas, postos de
sade, melhorias de infraestrutura (BERGAMASCO, 2003; MARTINS, 2004).
A partir desta referncia aos Movimentos Sociais do Campo, em destaque o MST,
e de suas frentes de atuaes polticas ao longo do tempo, apresentamos como questo
central desta pesquisa: a participao sociopoltica do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MST) em conselhos gestores do municpio de Nossa
Senhora da Glria-Sergipe contribui para a redefinio identitria dos integrantes
do movimento? .
-
20
Alm desta questo norteadora, seguem outras complementares:
a) A participao de integrantes do MST em alguns conselhos gestores de
Nossa Senhora da Glria representa uma (nova) estratgia de atuao
poltica por parte do movimento?
b) Quais os motivos e as finalidades que levam o MST a participar de
conselhos gestores?
c) Quais as representaes e estratgias de outros componentes do conselho
gestor no apoio e na recusa das demandas dos representantes do MST?
Essas indagaes norteadoras do projeto de pesquisa tiveram como objetivo
apreender as razes pelas quais o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), da
regional de Nossa Senhora da Glria, est se inserindo na participao de conselhos
gestores municipais e se essa participao correspondeu a (novas) estratgias de atuao
poltica por parte do movimento, uma vez que tal movimentao poltica se apresentava
ainda pontual, e esse fato se tornou uma redefinio identitria dos representantes do
movimento.
1.2. O objeto emprico
1.2.1. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
O avano do desenvolvimento no campo brasileiro, que teve incio nos anos 70 do
sculo XX, atravs da interveno do governo, ficou marcado pela aliana entre os
grandes proprietrios de terra e as empresas transnacionais, o que resultou em mudanas
na configurao da zona rural. Um exemplo dessa alterao o modo de organizao da
produo no campo. A partir disso, a produo agrcola est sob a tica da racionalidade
do capital, em que caracteriza pela produo em alta escala em reas contnuas, isto ,
o monocultivo. Alm disso, essa produo substituiu a mo de obra (barata) pela
mecanizao intensiva (com aplicao da biotecnologia e de novas tcnicas de
irrigao) e, por fim, adicionou-se o uso constante de agrotxico5. Resultando, dessa
5
Substncia qumica utilizada no s para eliminar pragas em produes, mas, sobretudo como
fertilizantes sintticos. H quem afirme que essas mudanas na organizao da produo agrcola no
campo foram mais impactantes do que a prpria Revoluo Verde, ocorrida nas dcadas de 60 e 70 do
sculo passado. Isto porque, O Brasil, como sabido, alcanou em 2009 o primeiro lugar no ranking
-
21
maneira, na criao de mercadorias agrcolas padronizveis, as denominadas de
commodities, bem como intensificou a necessidade do acesso e do uso do crdito rural
(CARVALHO, 2005).
Esse tipo de produo (de ponta por meio da mecanizao intensiva, como j
apresentado) e sua ligao poltica com os latifundirios, as empresas transnacionais e
os bancos chamado de Agronegcio e vem ganhando, nos ltimos dez anos,
expressiva valorizao, por decorrncia de sua lucratividade, haja visto que o uso do
agrotxico possibilita um rendimento na produo agrcola. Ademais, por garantir a
permanncia da concentrao de terras (improdutivas) brasileiras, como apresentou o
Relatrio DATA LUTA (2013) sobre a ampliao da Estrutura Fundiria no Brasil.6
Em suma, essa breve caracterizao para contextualizar as mudanas ocorridas
no campesinato nos ltimos anos no Brasil. Mudanas estas que foi o cenrio de
surgimento do MST, em 1984.
Segundo alguns autores, tais como: Medeiros (2010), Wanderley (2003) e Martins
(1981), o aumento de condies desfavorveis no campo, como a ampliao da
concentrao fundiria, o impacto socioambiental advindo do uso do agrotxico, os
desempregos, a expulso de famlias camponesas e o deslocamento cada vez maior da
populao rural para os centros urbanos em busca de trabalho e de melhores condies
de vida, foram processos que marcaram as dcadas de 1970 a 90 do sculo XX.
Torna-se claro que essa mesma fase de desenvolvimento no campo brasileiro,
contraditoriamente, significou a retomada das manifestaes populares no perodo
decisivo de encerramento do regime militar, o movimento campons ganhou (novo)
impulso, com destaque para o MST.
A gnese do MST ocorreu mediante um contexto de modificaes no campo
brasileiro na dcada de 1970, das quais podemos destacar quatro processos: a) o aspecto
mundial de consumo de agrotxicos, embora no sejamos, como tambm sabido, o principal produtor
agrcola mundial. Como mostrou o Boletim DATALUTA (2011). Disponvel em: www.fct.unesp.br/nera
-
22
socioeconmico das transformaes na agricultura brasileira; b) a modernizao no
campo, com a entrada da mecanizao, que impulsionou o xodo rural; c) o processo de
industrializao, afinal, estava sob o efeito do milagre econmico; d) e a colonizao
na regio Norte (especialmente em Rondnia, Par e Mato Grosso).
Em suma, esses quatro processos j apresentados, corresponderam base social
que gerou o MST. Nessa perspectiva, percebemos claramente, que o MST surgiu na
regio Centro Sul do Brasil, no perodo de 1984-1985. O movimento s teve de fato
contorno e repercusso nacional a partir dos anos 90 do sculo XX, devido s vitrias e
aos emblemas dos processos de ocupaes de terra da poca, a exemplo da ocupao na
fazenda Macali, localizada no Rio Grande do Sul (TURATTI, 2005).
importante destacar que, para alm dessas condies objetivas, diante das
metamorfoses no campo brasileiro, o MST tambm possui nas suas razes a influncia
das Ligas Camponesas e, principalmente, do trabalho pastoral das igrejas Catlica e
Luterana (STEDILE & FERNANDES, 2012). A forte presena da igreja (progressista)
como impulsionadora no surgimento do MST foi decorrente da ideologia da Comisso
Pastoral da Terra (CPT).7
O MST apresenta caractersticas de natureza importantes. A primeira diz respeito
incluso de todos os membros da famlia, pois, nesse momento sua base familiar8.
Afinal, no mbito familiar que se discute e organiza-se a insero produtiva, laboral,
social e moral de seus integrantes; sendo tambm em funo desse referencial que so
estabelecidas as estratgias individuais e coletivas, que visam garantir a reproduo
social do grupo familiar. Dessa maneira, a famlia rural representa o trabalho (o
predomnio da agricultura como base familiar), a segurana (garantia de futuro) e a
conservao dos valores, tradies e costumes9.
Outra caracterstica presente no MST a sua articulao com o movimento
sindical. Isto porque, o movimento compreende que os agricultores assentados rurais
7 Surgiu em 1975 em Goinia, vinculado Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) cuja
perspectiva doutrinria foi o da Teologia da Libertao-prtica religiosa voltada para a realidade social.
Para um maior conhecimento dessa corrente crist, ver: Boff (2010). Sobre a mediao entre a Teologia
da Libertao e os movimentos sociais no campo, ler: Iokoi (1996). 8
De um modo geral, podemos dizer que os inmeros pesquisadores das cincias sociais, que
direcionaram seus esforos de pesquisas para o tema das questes rurais e agrrias, a exemplos de
Bergamasco (2003), Loera (2006) e Martins (2003), afirmam que o sujeito principalmente da reforma
agrria no Pas tem um ncleo basicamente familiar, de famlia extensa e a partir dela e de suas
experincias cotidianas que podemos perceber do ponto de vista sociolgico as prprias mudanas
e/ou continuidades de antigas situaes de vida no campo. 9 Bergamasco et al. (2003), Leite (2004) e Medeiros (1994).
-
23
precisam se vincular aos sindicatos dos trabalhadores rurais como via de acesso a
benefcios voltados para a sua produo. No entanto, da mesma forma em que o MST
estimula a filiao aos sindicatos rurais, o prprio movimento faz suas ressalvas a isso:
Aprendemos ainda que a luta pela terra no pode se restringir ao seu
carter corporativo, ao elemento sindical. Ela tem de ir mais longe. Se
uma famlia lutar apenas pelo seu pedao de terra e perder o vnculo
com uma organizao maior, a luta pela terra no ter futuro.
justamente essa organizao maior que far que a luta pela terra se
transforme na luta pela reforma agrria. A, j um estgio superior
da luta corporativa. agregado luta pela terra o elemento poltico.
(STEDILE & FERNANDES, 2012, p. 37).
esse elemento poltico que corresponde ao terceiro elemento caracterstico do
MST. Nesse sentido destacamos que:
Na essncia, o MST nasceu como um movimento campons, que tinha
como bandeira as trs reivindicaes prioritrias: terra; reforma
agrria e mudanas gerais na sociedade (STEDILE & FERNANDES,
2012, p. 33).
Essas trs caractersticas (base familiar-corporativismo-elemento poltico)
compostas no princpio do MST apresentadas aqui sero, no decorrer do texto,
revisitadas. Uma vez que, veremos no componente familiar nuclear a tentativa de
garantir a reproduo social do grupo familiar e, consequentemente, a melhoria das
condies de vida, haja vista que estas cumprem um papel de agentes de modificao
social no mundo rural. Logo, isto pode justificar a incorporao de integrantes do MST
na participao de conselhos gestores como sendo mais um (novo) elemento poltico do
movimento.
1.2.2. Nossa Senhora da Glria
O municpio de Nossa Senhora da Glria (ou antiga Boca da Mata10
) um Polo
Regional, devido fora de sua bacia leiteira. Segundo o Instituto Brasileiro de
10
O nome foi dado pelos viajantes que descansavam no local. Por volta de 1600 a 1620, os ranchos ali
existentes formaram uma povoao. Posteriormente, a localidade foi rebatizada, quando o ento proco
Francisco Gonalves Lima fez uma campanha junto aos moradores para aquisio de uma imagem de
-
24
Geografia e Estatstica-IBGE (2012), a produo da Pecuria Municipal (2012)
correspondeu a 35.910 mil litros de leite de vaca11
. Da, o apelido popular de Glria: a
capital do serto. Ademais, o municpio localiza-se a Oeste de Sergipe, situado a 122
km de distncia de Aracaju e integra o Territrio do Alto Serto Sergipano, tanto para o
Ministrio do Desenvolvimento Agrrio-MDA, desde 2003, quanto para o Governo de
Sergipe (SEPLAN), desde 2007.
De acordo com o Censo Demogrfico (2010), Nossa Senhora da Glria possui
32.497 habitantes, sendo 10.880 residentes rurais (ver grfico-1)12
. Da sua rea de
Unidade Territorial, o municpio possui 756.490 Km, cuja densidade demogrfica de
42,96 (hab./ km). No que diz respeito ao ndice de Desenvolvimento Humano
Municipal-IDHN (2010), de 0,58713
. Destarte, o ndice da Pobreza no municpio de
54,93%14
.
Grfico 1- Nmero de Famlias Rurais Assentadas em Nossa Senhora da Glria
Nossa Senhora da Glria, fato este que inspirou a mudana de nome e a homenagem referida santa.
Fonte: http://www.gloria.se.gov.br. Acesso em jun.2012. 11 Disponvel em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=280450&idtema=121&search=sergipe|
nossa-senhora-da-gloria|pecuaria-2012. Acesso em: 02 de jul. 2014. 12
A estimativa do IBGE (2013) de que este nmero tenha aumento. Assim, a populao estimada 2013
de 34.799 habitantes. Disponvel em: http://cod.ibge.gov.br/234AO 13
Atlas Brasil (2013) 14
IBGE/ Censo Demogrfico (2000)
http://www.gloria.se.gov.br/http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=280450&idtema=121&search=sergipe|nossa-senhora-da-gloria|pecuaria-2012http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=280450&idtema=121&search=sergipe|nossa-senhora-da-gloria|pecuaria-2012http://cod.ibge.gov.br/234AO
-
25
Fonte: DATALUTA Sergipe Banco de Dados da Luta pela Terra, 2011. LABERUR/NERA, 201315
.
15
Grifo de destaque nosso!
-
26
Como j foi mencionada, a principal produo econmica do municpio se refere
pecuria, com destaque para as atividades de bovinocultura, ovino-caprinocultura,
suinocultura e a criao de animais de pequeno porte. O rebanho bovino destina-se
produo leiteira, e o restante direcionado para o abate. Os ndices mdios de
produtividade do leite em Nossa Senhora da Glria ficam em torno de 720 litros anuais
por cabea. A maior parte dessa produo absorvida pelas grandes fbricas de
laticnios instaladas na regio (a exemplo da Nativille e da Betnia). A outra parte
destina-se produo de queijos e de derivados, que so comercializados nas feiras
locais e em municpios vizinhos16
.
A segunda atividade econmica mais importante a agricultura, sendo
registrados, no censo agrcola, 5 produtos, a saber: a mandioca, o milho, o feijo, o
algodo e a fava. No setor industrial, destaca-se a produo dos derivados do leite. H,
ainda, fbricas de mveis, de estofados, de rao e de polpa de frutas. O comrcio de
Nossa Senhora da Glria considerado o mais completo da regio e a feira livre tida
como a maior do interior do alto serto sergipano.
Quanto sua geografia fsica, o clima semirido, com temperatura mdia de
25C, e o seu perodo de chuvas se estende de maro a agosto. Seu solo do tipo
massap, argila, arenoso e franco argiloso, apto explorao de cultura de subsistncia
e pecuria. Sua vegetao predominante a caatinga. Por fim, o municpio, possui 61
povoados.
Em suma, essas caractersticas apresentadas sobre Nossa Senhora da Glria
tambm esto presentes nos assentamentos rurais de reforma agrria. Dos quais
destacamos os que eram, inicialmente, o recorte emprico desta pesquisa.
1.2.3. Os Assentamentos: lcus emprico
O assentamento Ado Preto localiza-se na divisa dos municpios de Nossa
Senhora da Glria e Nossa Senhora Aparecida, possui dois anos de posse de terra (aps
dez anos de acampamento). Desde o ano de 2012, os assentados estavam a receber o
recurso financeiro para a construo dos seus 105 lotes, distribudos entre as 100
famlias assentadas mais a rea de reserva ambiental. Vale ressaltar que, nesse
16
http://www.gloria.se.gov.br
http://www.gloria.se.gov.br/
-
27
assentamento rural, havia 1 representante na composio do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Sustentvel (CMDS)17
.
J o assentamento Lus Beltrame est localizado no municpio de Nossa Senhora
da Glria, em proximidade com o municpio de Carira, tendo 20 famlias assentadas.
Alm disso, este assentamento tinha um conselheiro que representava o CMDS.
Por fim, o assentamento Z Emdio localiza-se no municpio de Nossa Senhora
da Glria, sendo este mais prximo do permetro urbano da cidade (cerca de 20 km) e
possui 23 famlias assentadas. Este assentamento se destaca pela organizao e pela
participao poltica das mulheres assentadas, existindo nessa localidade um coletivo de
mulheres mobilizado.
A vivncia acadmica adquirida desde o perodo da graduao possibilitou uma
leitura panormica das condies sociais dos assentamentos rurais, bem como o nvel de
participao de assentados em conselhos gestores do municpio e esse ltimo nos
chamou a ateno, pois dos 6 assentamentos pesquisados nessa localidade, 3 tinham
representantes nos conselhos (ver abaixo, grfico-2), principalmente no CMDS.
No decorrer da pesquisa-ao, percebemos que, dos seis
assentamentos trabalhados, trs tinham representantes em tal conselho
(assentamento Ado Preto, Lus Beltrame e Z Emdio, este tem dois
conselheiros) o que nos chamou a ateno. Uma vez que mostra que o
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra-MST comea a perceber a
importante estratgica de atuao dentro dos conselhos gestores, como
uma garantia de reivindicao e de acesso aos direitos sociais, logo, a
participao e o controle social, por esse grupo, no Conselho de
Desenvolvimento Sustentvel so de contribuio para a manuteno
da produo do assentamento (KATHYUSCIA, 2013, p.61).
Grfico 2- Frequncia de representao de assentados (as) em Conselho Gestor do
municpio
17
Esse conselho, como veremos no captulo 4, considerado pelos movimentos do campo crucial para o
acesso obteno dos recursos voltados para a rea de produo agrcola.
-
28
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2012).
importante ressaltar que, inicialmente, haviamos escolhido, como recorte
emprico da pesquisa, os assentamentos que tm representantes em conselhos gestores
do municpio. Sendo assim, os escolhidos foram os assentamentos Ado Preto, Lus
Beltrame e Z Emdio como lcus de anlise de pesquisa. Porm, tal demarcao no
foi possvel por decorrncia do prprio desenvolvimento da pesquisa de campo. Nesse
sentido, conseguimos coletar as informaes dos assentados e que foi (ou ) conselheiro
mediante as disponibilidades tanto para encontr-los como para conceder as entrevistas
semiestruturadas. Portanto, foram entrevistados militantes que pertenciam a um desses
assentamentos (o Ado Preto), bem como os que pertenciam a outros assentamentos
rurais. E sobre essa coleta destacaremos, a seguir, na metodologia.
1.3. Metodologia
Considerando que o objetivo geral da pesquisa foi o de analisar a participao
sociopoltica do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em conselhos
gestores de Nossa Senhora da Glria, isto , examinar se essa prtica correspondeu (ou
no) a uma (nova) estratgia poltica do movimento, bem como uma possvel
redefinio identitria dos integrantes do movimento, optamos pelo uso da metodologia
qualitativa para a realizao de um estudo, ainda que no de modo exclusivo.
0 0,5 1 1,5 2 2,5
Assentamento Ado Preto
Assentamento Emlia Maria
Assentamento Fortaleza
Assentamento Lus Beltrame
Assentamento Z Emdio
Assentamento Z Ribamar
no h representao doassentamento em conselhogestor.
N de representante/s, porparte do assentamento, emconselho gestor do municpio
-
29
Mesmo reconhecendo os riscos de usar a metodologia qualitativa18
em pesquisa
sociolgica mediante a dificuldade de analisar sistematicamente os dados e,
principalmente, por reconhecer que tal metodologia est entrelaada por interao,
atravs da relao pesquisador-pesquisando, que procuramos levar em considerao a
chamada vigilncia epistemolgica (BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON,
2010). Isto , lanar os cuidados cientficos com a sociologia espontnea, sociologia
esta caracterizada pelas pr-noes, as iluses do senso comum e do profetismo.
Nesse sentido, estabelecemos na construo do modelo analtico recortes
especficos de algumas das ferramentas da metodologia qualitativa, das quais achamos
pertinente conforme o objetivo proposto da pesquisa. Para tanto, fizemos uso da
pesquisa documental, da observao direta e de entrevistas semiestruturadas. Ademais,
utilizamos de dados estatsticos como complemento metodolgico.
O uso da pesquisa documental 19
foi um dos primeiros passos no
procedimento metodolgico, pois, inicialmente, levantamos as diretrizes polticas do
MST a fim de ampliar as referncias sobre a questo da participao desse movimento
na esfera institucional, que, aqui, destacamos os conselhos gestores. Durante este
procedimento, pudemos coletar informaes sobre o processo pr-congressual do MST,
sendo destacadas as discusses tericas sobre o campesinato brasileiro e, sobretudo, as
polticas no tocante aos novos rumos que o MST iria debater e deliberar no seu VI-
Congresso Nacional. Alm disso, levantamos o aspecto organizacional do MST: direo
coletiva, diviso de tarefas, disciplina militante e suas instncias. E estes aspectos
(como veremos na anlise dos resultados) esto intimamente ligados concepo de
participao para o movimento.
Outro levantamento documental, este mais com o objetivo de elaborar o
Estado da Arte, foi a consulta ao acervo da Documentao Sergipana da UFS para
levantar possveis trabalhos acadmicos que se assemelhassem ao nosso. Obtivemos trs
pesquisas, sendo duas desenvolvidas como Trabalho de Concluso de Curso (TCC)
vinculados ao curso de Servio Social e a outra diz respeito a uma dissertao defendida
18
H uma preocupao e controvrsias dentro do universo acadmico para com a alta credibilidade dada
aos dados coletados em trabalho de campo, de dar muito valor como evidncia a concluses obtidas.
Assim, importante manter o controle sobre a frequncia e distribuio do fenmeno social, assim vale
explicitar os contextos das observaes alm da descrio minuciosa do objeto estudado. (BECKER,
1994) 19
O levantamento documental uma das fontes de informaes mais corriqueiras nas cincias humanas.
(LAVILLE, 1999).
-
30
em 2013 pelo Programa de Ps-Graduao em Sociologia20
. O primeiro trabalho, de
Santanta; Maranho; Sampaio (2002), retrata a experincia do Oramento Participativo
em Aracaju durante a gesto 2001- 2004, numa perspectiva de verificar a participao
popular alm de propor alternativas viveis consolidao deste instrumento21
. O outro
trabalho de Ana Ribeiro e Marylane Santana (2002) consiste no estudo comparativo dos
CMDRs do municpio de Salgado e Paripiranga, onde procurou analisar tambm a
percepo dos conselheiros e associados quanto atuao do CMDRS e a prpria
poltica agrcola do governo, efetivada atravs do PRONAF. Por fim, encontramos uma
dissertao defendida por Rabelo (2013), teve como objetivo entender de que forma se
dava a participao de cada um e, especificamente, desmistificar a pr noo de que
esses conselheiros seriam leigos em relao aos saberes polticos, associativismos,
acadmicos e, portanto, no possuam habilitaes requeridas para participar das
decises do conselho com mais propriedade.
Em um segundo momento, realizamos a pesquisa de campo em Nossa Senhora
da Glria, levantamos os documentos oficiais dos conselhos municipais. Sendo assim,
foram levantados os regimentos internos, as leis municipais de criao dos conselhos,
os decretos de composio, os editais de processo eleitoral e demais fontes secundrias
que fossem disponibilizadas. Em suma, foram esses os levantamentos de fontes de
informao sobre o objeto estudado, a participao do MST em conselhos gestores.
Em 2014 tivemos a oportunidade de realizar uma observao direta no VI
Congresso Nacional do MST, ocorrido, durante o perodo de 10 a 14 de fevereiro de
2014, em Braslia/DF. L, obtivemos dados importantes para o alcance do objetivo
principal da pesquisa. Realizamos 3 entrevistas com as principais lideranas nacionais
do MST (sendo representantes do Rio Grande do Sul, Par e Sergipe), abordando a
questo de sua participao em conselhos gestores. Ademais, coletas de relatos dos
mesmos entrevistados sobre a experincia que tiveram na condio de representantes de
conselhos, sendo que dos 3 entrevistados, 2 j foram conselheiros (o do Rio Grande do
Sul e o de Sergipe). Alm dessas entrevistas, tivemos a oportunidade de manter
conversas informais durante a realizao do congresso do movimento com ex dirigente
20
Ambas contriburam para a nossa justificativa de projeto de pesquisa no sentido de trazer um novo
olhar sobre a questo de participao em conselhos. 21
O mtodo de anlise era o materialismo histrico dialtico. (SANTANA, Glcia; MARANHO, Lia;
SAMPAIO, Karlene. TCC, 2002).
-
31
estadual e assentados rurais que nos compartilharam as suas expectativas frente quele
evento.
importante destacar que, a possibilidade de fazer a observao direta durante
a realizao do VI Congresso Nacional do MST foi ao encontro do que significou tal
procedimento. Ou seja, encontrar informaes (de preocupaes da pesquisa) atravs da
observao do prprio fenmeno e interrogar pessoas envolvidas neste campo. E para
ns, a observao direta no congresso do MST foi enriquecedora e de certo privilgio
no contato direto com o objeto de estudo. Mesmo considerando que, com base em
Laville; 1999, p. 176). a observao como tcnica de pesquisa no contemplao
beata e passiva; no tambm um simples olhar atento. essencialmente um olhar
ativo sustentado por uma questo e por uma hiptese.
Outra tcnica de coleta de dados foi realizao de entrevistas semi-
estruturada. Ressaltamos que o uso das entrevistas em procedimentos metodolgicos
no est isento de valores prprios ou crenas do pesquisador. Nesse sentido, faz-se
necessria a vigilncia epistemolgica para com o uso das tcnicas, para assim no fazer
com que o roteiro de entrevistas no influencie a reposta, da a importncia de
considerar que a tcnica metodolgica como sendo uma teoria em atos, isto , que
precede de uma construo de pressupostos tericos (GOODE, 1979).
A srie de perguntas abertas com o intuito de acrescentar perguntas de
esclarecimento, portanto, o uso de entrevista semiestruturada possibilitou intercalar os
diferenciados roteiros; isto porque, foram elaborados 5 roteiros de entrevistas
direcionadas a:
1) Dirigente nacional do MST, para saber do posicionamento do
MST, em nvel nacional, sobre a participao em conselhos;
2) Dirigente estadual do MST (da regional de Nossa Senhora da
Glria), a fim de conhecer os motivos e finalidades de integrantes
do MST de Glria participarem de conselhos;
3) Militante do MST e que (ou j foi) conselheiro municipal, para
coletar as experincias vividas nessa atuao poltica;
4) Representao governamental de Conselho Municipal, com o
intuito de saber as impresses da parte governamental frente
participao do MST nos conselhos;
-
32
5) Representante da sociedade civil (exceto do MST), pois
possibilitaria um olhar de outra instituio no-governamental
diante da atuao do MST em conselhos.
A realizao dessas entrevistas favoreceu a construo de um corpus emprico.
Sendo que, ao todo, foram levantadas as seguintes fontes de informaes:
a) Trs entrevistas aos dirigentes nacionais do MST, incluindo o representante
de Sergipe, que compe a direo nacional;
b) Uma entrevista ao dirigente estadual e da regional do MST de Nossa
Senhora da Glria;
c) Duas entrevistas representao governamental (Coordenadora Executiva
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher-CMDM e Assistente Social
da Secretaria Municipal da Assistncia Social de N. Sr da Glria);
d) Cinco relatos de militantes do MST que j foram (ou so) conselheiros;
e) Um relato da representao da sociedade civil (Sindicato dos Servidores
Pblicos de N. Sr da Glria-SINDSERVE);
Em suma, foram 12 entrevistas gravadas e transcritas22
. Estas foram cruciais
para a anlise e, sobretudo, a averiguao da hiptese deste trabalho dissertativo, bem
como a anlise da observao direta feita na pesquisa de campo.
No foi utilizada a aplicao de questionrio, pois acreditamos que as
procedncias metodolgicas j citadas foram suficientes. Alm disso, as entrevistas se
diferenciam de um questionrio, ao passo que esse ltimo padroniza as respostas e
neutraliza a relao pesquisador/pesquisado23
, como destacaram Beaud & Weber
(2007).
22
Este tipo de entrevista pode ser denominado de Entrevista Etnogrfica. Segundo Beaud & Weber
(2007), esta entrevista aprofundada corresponde a um processo de interao singular entre o entrevistado
e o entrevistador, onde nessa relao interacional que so liberados os pontos chave da pesquisa. Da, a
necessidade de relacionar, de modo transversal, cada entrevista (etnogrfica), bem como de fazer uma
anlise da mesma. 23
Entretanto, h controvrsias sobre este pensamento. Segundo Bourdieu; Chamboredon; Passeron, 2010,
a noo de neutralidade de um questionrio e entrevista sociolgica pode ser desconstruda na medida
em que o pesquisador acaba acrescentando seu juzo de valor. importante que o pesquisador reconhea
o risco da imposio de problemtica no processo de construo de seu questionrio, na medida em que o
mesmo pode acabar impondo aos sujeitos questes que no condizem com a realidade da pesquisa. Essa
imposio se d, na maioria das vezes, por diferenas de contextos sociais e culturais adversos tanto do
pesquisado como do pesquisador, o que consequentemente acarreta tambm em desnveis de
comunicao (BEAUD &WEBER, 2007).
-
33
Por fim, outro procedimento metodolgico foi o levantamento de dados
estatsticos. Em especial, os fornecidos pelos bancos de dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica (IBGE); do Censo Agropecurio (2006); do Banco de Dados da
Luta pela Terra (DATALUTA); do Ncleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma
Agrria (NERA); e Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria (INCRA).
Justifica-se este procedimento para uma aproximao relacional entre dados qualitativos
e quantitativos, dos quais possibilitou uma melhor apresentao e descrio das
condies socioeconmicas do municpio de Nossa Senhora da Glria, conforme
exposto na introduo deste trabalho.
-
34
2. Movimentos Sociais: Uma categoria em anlise
Pretende- se no decorrer deste captulo destacar as abordagens sobre Movimentos
Sociais. Sendo assim, trarei as principais vertentes analticas e destacarei a que melhor
subsidiou a anlise deste trabalho, que foi a Teoria dos Novos Movimentos Sociais
(NMS). Alm disso, apresento uma breve caracterizao dos contextos sociais que
contriburam na emergncia dos (novos) movimentos sociais.
Para compreender os movimentos sociais no basta se debruar apenas sobre
eles, mas tambm considerar o cenrio sociocultural e poltico afirmou Domingues
(2007). Para tanto, recorro aos trabalhos do aludido autor com intuito de uma melhor
contextualizao dos processos histricos dos movimentos sociais que impulsionou o
surgimento de (novas) teorizaes sobre estes fenmenos. O autor trabalha com (trs)
fases da modernidade como baliza de anlise sobre os movimentos sociais.
A primeira fase da modernidade correspondeu era da primeira Revoluo
Industrial (sculo XIX), em que o mercado passa a ser o centro da ordem social.
tambm nesse perodo que ocorre o movimento migratrio campo- cidade, no qual
muitos camponeses expropriados de suas terras tornaram- se operrios, desencadeando
conflitos no processo de desocupao de terras. Acerca dessas transformaes no Brasil,
importante destacar o contundente trabalho de Ianni (2004), quando o mesmo
descreveu as alteraes objetivas dos sujeitos pertencentes ao mundo do trabalho rural,
de acordo com as metamorfoses vividas pela prpria economia capitalista e dos perfis
que o trabalhador rural assumiu, assim como as suas lutas polticas. E essas mudanas
significativas, conforme Ianni (2004) exps sobre a cena poltica do trabalhador e do
aspecto de sua organizao poltica, foi (e ainda ) importante no conflito de classes.
Nesse cenrio, lutas pela reforma agrria, direitos trabalhistas e previdencirios, como a
da livre organizao sindical, deram a tnica para as reivindicaes populares.
A segunda fase da modernidade correspondeu a de consolidao do mercado e da
era da segunda Revoluo Industrial, onde destaca se o modelo Fordista de Produo
(racionalizao da produo capitalista; sistema de produo em massas). Essa fase
tambm se caracteriza, no continente europeu, como a era do Estado de Bem Estar
Social cujos traos, segundo Offe (1991), eram de frmula de paz para as democracias
-
35
capitalistas. Alm disso, o abrandamento do conflito de classe (negociaes coletivas
entre o capital e o trabalho) e de obrigao explcita do mecanismo estatal de
proporcionar assistncia e apoio aos cidados, doravante das polticas keynesianas (a
exemplo da interveno do Estado na economia. Por fim, assegurar direitos polticos e
sociais; entre outros). Em suma durante todo o perodo de ps- guerra, o Estado Social
foi celebrado como a soluo poltica para as contradies sociais (OFFE, 1991, p.
114).
J na Amrica Latina destacaram-se o movimento campons e os movimentos
comunitrios ligados ao mercado informal de trabalho e as precrias condies de vida
das populaes migratrias para as cidades. Deve se observar que a distribuio dos
movimentos sociais em terras espaciais se dava mediante as prprias condies
econmicas das minorias. Por exemplo, no Mxico, Peru, Bolvia, Venezuela,
Nicargua e Cuba apresentaram-se muitos movimentos populares sob o lema
reivindicatrio da concentrao latifundiria, ao contrrio dos da Argentina e Chile que
eram mais urbanos, pautados pelas reivindicaes dos direitos humanos, a exemplo dos
movimentos negros, de mulheres e LGBT.
A partir dos anos 1980, poca de maior produo acadmica sobre o tema, de
acordo com Domingues (2007), os movimentos sociais populares urbanos passam ser
analisados de modo mais aprofundado. Alm disso, houve incorporaes de noes
vindas da antropologia e da educao popular. Nesse mesmo perodo, houve mudanas
no foco de anlise das pesquisas sobre movimentos sociais, pois o olhar no estava mais
nas determinaes estruturais da economia sobre aes coletivas, mas sim o eixo de
anlise era a identidade, as falas e as prticas cotidianas dos movimentos. Isto porque os
pesquisadores estavam sobre influncia de novos estudiosos europeus: Thompson
(1987), Foucault (2012) e Offe (1991).
Com base em Domingues, a (atual) terceira fase da modernidade inicia-se com a
emergncia do Neoliberalismo24
. a fase do processo de reestruturao produtiva, da
crescente globalizao econmica e cultural tornando assim a sociedade mais complexa
24
O Neoliberalismo nasceu logo depois da 2 Guerra Mundial, na regio da Europa e da Amrica do
Norte, com a chegada da grande crise do modelo econmico do ps- guerra, em 1973, quando todo o
mundo capitalista avanado caiu numa longa e profunda recesso. A partir da, as principais ideias
neoliberais, como o reordenamento de prioridades das despesas pblicas; liberalizao do comrcio e do
investimento estrangeiro direto; desregulamentao de direitos sociais e a privatizao passaram a ganhar
terreno. (ANDERSON, 2012)
-
36
e plural mediante os desdobramentos da (ps) modernidade25
. O incio dessa fase
tambm marcado pelo movimento transitrio do regime poltico democrtico em toda
a Amrica Latina, a qual antes era dirigida por regimes autoritrios. Ademais, para
Domingues, este perodo corresponde fase crucial na compreenso das caractersticas
e potencialidades dos novos movimentos sociais latino-americanos haja vista que
encontramos de um lado os condicionamentos sociais (a fragmentao da classe
trabalhadora) e do outro as questes e possibilidades institucionais a exemplo da luta
pela democracia e pela participao popular e controle social por parte da sociedade
civil. Esse cenrio propiciou, em certa medida, o surgimento de novas reivindicaes,
bem como o surgimento de novos movimentos sociais pautados por uma nova cultura
poltica.
Os anos de 1980 foram para os movimentos sociais um tempo de disputa de
projeto societrio. Pode-se que dizer que o almejado era a criao de novas
sociabilidades de carter pblico; participativo; universalizantes e, sobretudo,
democrtico (GOULART, 2009). neste cenrio que, se destacaram as Organizaes
No Governamentais (ONGs) e os conselhos, conforme irei abordar no prximo
captulo.
Essa apresentao da trajetria dos movimentos sociais ao longo dos perodos
histricos procurei chamar ateno as condies scio histricas influenciam na
dinmica dos movimentos sociais. Assim como os impactos do ps- industrial
corroborou para os primeiros levantes do movimento operrio, as vicissitudes da
histria contempornea contriburam (e ainda contribuem) no amoldamento dos (novos)
movimentos sociais. Tal modo, tambm se refletiu no campo intelectual, donde
surgiram diferentes tipos de abordagem sobre os movimentos sociais.
2.1Os tipos de abordagem dos movimentos sociais
25
Segundo Gran Therborn (2012, p. 35), O ps- modernismo alimentou- se da desmoralizao e da
incerteza da esquerda durante a euforia do fim dos anos 60 e comeo dos anos 1970. Sua crtica razo e
racionalidade se fortaleceu na maquinaria de imagens da sociedade televisiva, dando suporte aos
estudos culturais acadmicos. Havia, alm disso, outros dois pilares no novo edifcio da ps-
modernidade. Um foi a reestruturao social que surgiu a desindustrializao- uma poca de mudana
social.o outro foi a crtica ao progresso modernista que surgiu com as preocupaes ecolgicas- que, por
sua vez, intensificaram- se com a crise do petrleo dos anos 1970 e incio dos anos 1980.
-
37
No mbito da anlise dos movimentos sociais, feita pelas Cincias Sociais, as suas
principais matrizes referenciais se apresentam em trs partes: a primeira de uma
abordagem norte americana sobre a ao coletiva, em que se destacam as teorias
clssicas; a teoria da Mobilizao de Recursos e teorias sobre a Mobilizao Poltica
contempornea. A segunda parte aborda a produo terica europeia; das teorias
marxistas clssicas teoria dos Novos Movimentos Sociais. E por fim, a terceira parte
diz respeito ao paradigma Latino Americano, o qual sobressai anlise a respeito dos
movimentos populares latinos de esfera urbana e rural, bem como os estudos sobre os
movimentos identitrios (gnero, etnia, ambientalistas, direitos humanos, etc.) (GOHN,
1997).
Ressalto que a teoria dos Novos Movimentos Sociais (NMS), a meu ver, traz
considerveis contribuies para o arcabouo terico metodolgico de pesquisa. Uma
vez que, ao esmiuar a dinmica interna dos conselhos gestores destacando a
conflitualidade, os atores sociais (militantes), bem como o contexto social, percebo
como a anlise somente limitada as questes macroestruturais ou meramente de
mobilizao de recursos (financeiros e/ ou humanos) no oferece suporte para tal
pretenso analtica. Assim, preciso alargar o olhar e considerar tambm as motivaes
das aes sociais dos conselheiros (militantes) e possivelmente as alteraes na
constituio das identidades coletiva (e dos processos identitrios) desses atores sociais.
Inicialmente, o paradigma norte americano se inscreve no mesmo processo em
que se inicia a sociologia enquanto disciplina nessa regio. Essa abordagem foi pioneira
na teorizao sobre as Aes Coletivas, cuja base terica alicerada pela teoria da
Ao Social26
com nfase na compreenso dos comportamentos coletivos: Assim, os
comportamentos coletivos eram considerados pela abordagem tradicional norte-
americana como fruto de tenses sociais (GOHN, 1997, p. 25).
26
A teoria da Ao Social foi preconizada nas cincias sociais por um dos fundadores da sociologia
moderna: o socilogo alemo Max Weber (1864- 1920). Por ao entende-se- segundo o conceito
sociolgico weberiano- neste caso, um comportamento humano (tanto faz tratar-se de um fazer externo ou
interno, de omitir ou permitir) sempre que na medida em que o agente ou os agentes o relacionem com
um sentido subjetivo. Em outras palavras, um comportamento humano dotado de um sentido subjetivo.
Ao social por sua vez, significa uma ao que, quanto o seu sentido visado pelo agente refere- se ao
comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso, logo, a ao social uma ao que se
refere ao comportamento do outro. Desta forma a ao s ao social, segundo Weber, se apresentar
duas caractersticas indissociveis, a de conter um sentido subjetivo, isto , dotado de inteno no outro,
seja boa ou ruim; e por fim, conter um motivo, o que a ao representa para o agente ( a razo da ao),
caso contrrio, ser, como o prprio Weber diz, um simples modo de conduta reativo (agir sem pensar;
espontneo). Para uma melhor compreenso da teoria da Ao Social, ler: WEBER (2004).
-
38
Dentro do paradigma norte-americano destaca- se duas principais correntes
tericas: a Escola de Chicago e o Interacionismo (Simblico). A Escola de Chicago, sob
influncia de um cenrio impulsionado pelo progresso do ps- guerra, buscou colocar a
sociologia como um campo autnomo de investigao, logo, deveria buscar leis
cientficas para descobrir como a mudana social ocorria haja visto que esta categoria
um dos enfoques da Escola de Chicago, bem como a noo de comunidade (ecolgica).
(LALLEMENT, 2012)
Com a consolidada dominao americana no campo internacional, aps o fim da
2 guerra mundial, a teoria estrutural funcionalista (de Parsons) 27
torna-se hegemnica
na sociologia americana. Mas, os abalos nos Estados Unidos na dcada de 1970
contribuiram para o declnio do funcionalismo. Assim, tericos de diferentes correntes
atacaram a teoria funcionalista e passaram a tambm se destacar e terem mais
visibilidade, como aconteceu com as teorias do pragmatismo e da sociologia norte-
americana. Podemos ter como destaque dessa teoria o Howard Becker e sua sociologia
do desvio e Erving Goffman e a sua dramaturgia cotidiana.
Em suma, ao contrrio dos seguidores de uma primazia da estrutura social como
determinante na dinmica da sociedade, os interacionistas- tanto da vertente do
interacionismo simblico, como da Etnometodologia- buscaram nos processos
interacionais a explicao dos fenmenos sociais. Nesse sentido, o interacionismo tem
como foco analtico o ator social e suas relaes sociais (COLLINS, 2009).
Da Escola de Chicago e do Interacionismo Simblico para as teorias
contemporneas norte americana da ao coletiva e dos movimentos sociais destacaram-
se o predomnio da Teoria da Mobilizao de Recursos (MR).
A teoria da Mobilizao de Recursos surgiu em meio s manifestaes dos anos
60 do sculo XX- perodo em que Domingues denomina de a segunda fase dos
movimentos sociais, como foi esboado anteriormente. Diante das (novas)
27
O principal ponto de partida da abordagem funcionalista o de buscar analisar uma sociedade como
uma estrutura em funcionamento. Seu principal questionamento: como possvel ordem social? foi
um dos nortes da sociologia de Parsons, na tentativa de compreenso do funcionamento das estruturas do
sistema social. Com base em Wright Mills (1965, p. 43- 44), a sociologia, segundo Parsons, relaciona-se
com aquele aspecto da teoria dos sistemas sociais que se ocupa dos fenmenos da institucionalizao dos
padres do valor- orientao no sistema social, com as condies dessa institucionalizao; e das
modificaes dos padres, com condies de conformidade com e de desvios de uma srie de tais
padres, e com processos motivacionais na medida em que esto nelas envolvidos. No mbito da questo
dos movimentos sociais a teoria (funcionalista) de Parsons d respaldo terico para entender o
comportamento coletivo dos grupos sociais expresso em movimentos.
-
39
caracterizaes emergentes nos movimentos sociais a teoria da MR critica o paradigma
tradicional (norte americano) pela nfase, at ento, dada a psicologia como foco
explicativo da ao coletiva, bem como as anlises centradas no comportamento
coletivo dos grupos sociais. Assim, segundo Mayer (1991 apud GOHN, 1997 p. 51):
A MR emergiu de um esforo para analisar os movimentos sociais dos
anos 60 e, como consequncia, reflete suas contradies de
emergncia, dinmica, desenvolvimento, estrutura de organizao etc.,
em contraste com as abordagens clssicas que procuravam explicar os
movimentos de massa dos anos 20 e 30, os quais eram totalmente
diferentes dos tipos de movimento dos anos 60.
Em sntese, a teoria da Mobilizao de Recursos busca explicar os movimentos sociais
sobre a tica organizacional, e no mais pelo mbito individual. Organizao esta, que
envolve variveis de recursos humanos; financeiros e de infraestrutura.
No que concerne os estudos sobre os movimentos sociais do campo, mais
especificamente o MST, sobre o ponto de vista da teoria da MR h uma vasta literatura
(FERNANDES, 1996; 1998;). Basicamente, os primeiros estudos das cincias sociais
sobre o MST esto ancorados na perspectiva da Teoria dos Recursos. At porque, tal
movimento surgiu com um diferencial organizativo: direo coletiva; diviso de tarefas;
disciplina e etc. (GOIRAND, 2009).
Embora a Teoria da Mobilizao de Recursos trouxesse a questo da organizao
como eixo central de anlise dos (novos) movimentos sociais, torna- se necessrio
destacar suas limitaes. As principais crticas direcionadas a MR de que compreende
o movimento social como burocrtico, isto de modo pejorativo, de relaes
impessoais estabelecidas via regras e controles de procedimentos. Assim, se deixa
passar despercebidos os valores, as ideologias, as culturas e identidades presentes no
seio do movimento. Alm disso, de no distinguir movimento social de ao coletiva,
de acordo com Gohn (1997).
Com o decorrer da dcada de 1970, os percussores da MR (a exemplo de
Gusfield, 1996) aceitaram as crticas construtivas e buscaram alargar seu foco de anlise
que antes davam primazia questo organizativa meramente no mbito econmico.
-
40
Nesse sentido, se passou a enfatizar tanto o processo poltico como a anlise cultural na
interpretao dos movimentos sociais28
.
Por fim, o paradigma norte americano aps suas revises trouxe aproximaes
com o paradigma europeu no que diz repeito a Teoria dos Novos Movimentos Sociais.
Isto porque conseguiu ampliar seu olhar sobre os movimentos sociais para alm do seu
mbito organizacional, passando assim a considerar os aspectos culturais e,
principalmente, polticos na constituio da identidade (coletiva) do movimento social.
Entretanto, h quem mantenha a crtica (a exemplo de GOHN, 1997), sobre o paradigma
norte americano, de que tal marco terico acaba dando primazia anlise
macroestrutural e produzindo generalizaes a despeito dos movimentos sociais e at
mesmo negligenciando a questo da sociedade civil.
Os paradigmas europeus sobre os movimentos sociais assim como o latino
americano, que veremos a seguir destacaram se aps as contestaes dos anos 60 do
sculo passado. Vale ressaltar mais uma vez que, o contexto propriamente dito do Maio
de 6829
foi significante para as ramificaes de abordagens tericas na Europa30
. nesse
sentido que encontramos dentro deste paradigma, duas principais correntes: a
neomarxista e a dos Novos Movimentos Sociais.
28
Da teoria contempornea norte- americana destaco dois trabalhos. O primeiro o de Elisabeth Clemers
(2010), que traz apontamentos pertinentes para a compreenso da relao entre Movimentos Sociais
versus instituies Polticas. E, o segundo o de Camille Goirand (2009), que destacou as mudanas
ocorridas na poltica com a chegada de integrantes de esquerda ao poder, mais precisamente o caso do PT
no Brasil. Este texto auxilia na compreenso das dinmicas de mudana na estrutura organizacional de
um movimento poltico, bem como de suas ideologias. 29
O Maio de 68 foi marcado por um perodo de sucessivas manifestaes polticas em vrios pases
(Frana, Itlia, Alemanha, Estados Unidos, Brasil) sob o prisma das reivindicaes de liberdade
individual e por uma nova cultura poltica, marcando assim um divisor de guas para os movimentos
polticos posteriores (BADIOU, 2012). 30
A respeito das interpretaes feitas ao movimento do Maio de 68 (na Frana) destaco o trabalho da
Gohn (2013), cujo objetivo foi o de analisar as teorias sociais e culturais que deram suporte ao
movimento e que no ps-maio de 68 vigoraram, possibilitando assim novas interpretaes sobre
juventude e os (novos) movimentos sociais. Gohn nos lembra de que a dcada de 1960, mais
precisamente em 68, foi considerada a era da teoria, isto porque foi um perodo de forte produo
terica, em destaque: J. P. Sartre; S. Beauvoir; L. Althusser; A. Touraine; P. Bourdieu; H. Marcuse, G.
Debord; E. Morin[...] Sendo que, o pilar das manifestaes foi o da sigla MMM (conforme era expressado
nas pichaes dos muros de Paris), se referindo a Marx; Mao; Marcuse. Embora, no foi s a Teoria
Crtica da Escola de Frankfurt o grande substrato terico que deu origem as revoltas e rebelies. O
socialismo libertrio, especialmente o anarcosocialismo do final do sculo XIX e incio do sculo XX, e
as teorias de Nietzsche deram suporte as ideologias criadas no calor das aes, expressas nos muros da
cidade de Paris. Dentre as anarquistas, as ideias de Bakunine e Kropotkin estiveram muito presentes nos
ideais libertrios de 1968, especialmente as concepes sobre ajuda mtua e autogesto e a crtica ao
consumo de Kropotkin, assim como as ideias contra o Estado opressor de Bakunin[...] Guy Debord, com
a Sociedade do Espetculo, foi tambm um grande inspirador de militantes e lideranas estudantis no
Maio de 1968 francs. (Gohn,2013, p. 102- 103).
-
41
Na corrente neomarxista temos as teorias dos historiadores ingleses
Hobsbawm, Rude e Thompson, e a teoria histrico- estrutural
representada pelos trabalhos de Castells, Borja, Lojkine, nos anos 70 e
80. Na corrente dos Novos Movimentos Sociais destacam- se trs
linhas: a histrico- poltica de Clauss Offe, a psicosocial de Alberto
Melucci, Laclau e Mouffe, e a acionalista de Alan Touraine. Alguns
analistas agrupam os trabalhos de Castells, Touraine, Laclau, Offe etc.
sob o rtulo de neomarxistas (GOHN, 1997, p.119).
A importncia da teoria dos NMS est relacionada visibilidade que ganhou nos
paradigmas europeus. Uma vez que, tal teoria se destacou pelas contundentes crticas
feitas ao marxismo (ortodoxo). Vale lembrar tambm que era um perodo critico para a
abordagem marxista, haja vista a crise do socialismo real pela qual passavam os pases
modelos comunistas31
.
As principais crticas feitas pelos tericos do NMS ao marxismo, e que acabaram
se configurando caractersticas gerais, foram: a) a viso de cultura; b) da ideia de
conscincia de classe; c) do marxismo como referencial terico de anlise das
manifestaes da poca; d) negao do sujeito histrico (universal); e) da concepo de
poltica; f) e o aspecto de antagonismo social. (GOHN, 1997)
Se para o marxismo, cultura est entrelaada com a noo de ideologia (falsa
conscincia) para a abordagem do NMS, a cultura, ou melhor, as prticas culturais so
expressas atravs da linguagem, do discurso. nesse sentido que tambm a categoria
da conscincia de classe no tem relevncia no paradigma dos NMS, mas apenas a das
ideologias, atuando no campo da cultura (GHON, 1997: 122).
Como nos anos sessenta o que predominava na academia era o marco terico do
Estruturalismo, porm com o apogeu das manifestaes de Maio de 68 tal
predominncia se instabilizou. desse cenrio que alguns tericos (TOURAINE, 1998;
LACLAU, 1978) colocaram em xeque as noes de estrutura, macro e objetividade e,
assim, explica- se o porqu do paradigma dos NMS negarem o marxismo (estruturalista)
como campo terico capaz de dar conta da explicao da ao dos indivduos e da ao
coletiva. (GHON, 1997)
Uma das caractersticas da teoria dos NMS e decorrente da crtica noo de
sujeito histrico universal conforme o pensamento marxista a sua concepo como
31
A despeito da crise do campo socialista, ver Netto (2012).
-
42
coletivo difuso, logo, os que praticam a ao coletiva so os atores sociais. Desse modo,
em oposio a esta objetividade (antagonismo; luta de classes; proletrio como sujeito
histrico) presente no clssico marxismo, que Laclau e Mouffe32
iro desenvolver suas
definies de discurso; significante vazio; hegemonia, noes fundamentais para sua
tese de Democracia Radical. (RODRIGUES & MENDONA, 2008).
Nessa mesma perspectiva de resignificar a concepo de sujeito social pode-se
tambm citar o filsofo francs Alan Touraine. Este teve no incio de sua trajetria
intelectual a forte influncia do marxismo estruturalista de Althusser, cujas pesquisas
voltavam-se a formao de uma conscincia de classe33
. As destacadas contribuies do
Touraine esto voltadas para a anlise dos movimentos sociais, principalmente os da
Amrica Latina, pois considera os movimentos sociais como sujeito- ator.
A ideia de sujeito, isto , do indivduo reconhecido como criador dele
mesmo e, consequentemente, capaz de reivindicar contra todos o seu
direito de existir como um indivduo portador de direitos, e no
somente em sua existncia prtica. (TOURAINE, 2009, p.15)
O ator capaz de atuar e modificar seu prprio meio social. Percebe- se que esta
noo de sujeito, segundo o Touraine (2009) tangencia a influncia macroestrutural (ou
parafraseando o prprio, foge do discurso interpretativo dominante 34
) e se deixa levar
pelas motivaes de sua prpria ao social. Ademais, esta percepo resultado de seu
pressuposto de sociedade ps- industrial35
e que, logo, a condio contempornea
tanto a fragmentao da vida social quanto a fragmentao do indivduo entre a
racionalidade e a subjetivao (TOURAINE, 1998).
Outro conceito que foi revisado e resignificado pela teoria dos NMS foi o de
poltica. A poltica agora tambm est presente na vida social, para alm da