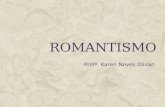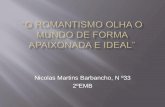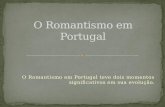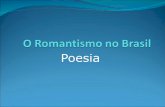O Romantismo Alemão
-
Upload
anderson-m-goes -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
description
Transcript of O Romantismo Alemão
-
O Romantismo Alemo e a Filosofia da Linguagem. O exemplo Os Discpulos em Sas, de Novalis.
Natlia Corra Porto Sanches Fadel
O Frhromantik (Primeiro romantismo alemo)
O Romantismo uma esttica um tanto quanto difcil de se definir, uma vez que engloba diversos aspectos essenciais que o caracterizam, muitos deles profunda-mente marcados pela contradio.
Primeiramente, faz-se necessrio ressaltar o fato de que tal esttica difere em alguns aspectos a medida que se apresenta em lugares diferentes, o que no nos causaria estranhamento, j que cada nao possui todo um contexto histrico-social prprio. Alm disso, devemos nos lembrar que o movimento romntico estendeu-se por toda Europa, chegando at mesmo ao Brasil. Assim, no poderia-mos acreditar que o romantismo francs, por exemplo, apresentaria exatamente os mesmos propsitos verificados no romantismo alemo, como nos atesta Henri LICHTENBERGER:
Chez nous les romantiques se sont insurgs contre les classiques et leur idal potique. Rien de tel en Allemagne. Au dbut, romantiques et classiques sont allis: ils saccordent pour cribler de leurs sarcasmes le grand parti de la mdiocrit satisfaite et outrecuidante, les derniers champions de lAufklrung, de lre des lumires que penche vers son dclin (LICHTENBERGER 1983: 341).
De modo geral, o Romantismo constituiria um movimento no apenas literrio, mas filosfico espiritual, o qual envolveria todas as artes figurativas, a poesia e a msica, expandindo-se pela Europa num perodo que compreende o final do sculo XVIII e incio do sculo XIX.
De acordo com Reale e Antiseri, o adjetivo romntico apareceria pela primeira vez na Inglaterra em meados do sculo XVII, sendo usado para indicar extra-vagante, irreal, fantstico. No sculo seguinte, passou a ser usado para indicar momentos agradveis. Aos poucos, adquiriu o sentido que lhe caracterstico a partir do Romantismo, indicando o renascimento do instinto e da emoo, de modo a combater o racionalismo exacerbado que se verifica durante o sculo
-
XVIII. Desse modo, Friedrich Schlegel- um dos fundadores da revista Athenum na Alemanha, a qual constitui um marco para o Romantismo, reunindo o grupo de filsofos-escritores que fariam parte do primeiro movimento romntico no pas, o Frhromantik, relacionou romntico ao romance, gnero romntico por excelncia, uma vez que em si um amlgama de todos os outros gneros, mistura que ultrapassa os limites da literatura, o que vai de acordo com o conceito de poesia segundo o prprio Schlegel:
A poesia romntica uma poesia universal progressiva. Sua vocao no apenas unificar novamente todos os gneros separados da poesia e estabelecer uma ligao entre poesia e retrica. Ela quer e deve igualmente tanto misturar quanto amalgamar poesia e prosa, genialidade e crtica, poesia e arte e poesia natural, tornar a poesia viva e social (SCHLEGEL apud TODOROV 1996: 247).
Em linhas gerais, o Frhromantik fundamenta-se a partir da ansiedade ou nostalgia pelo infinito (Sehnsucht), o qual deve ser explicado por meio de coisas finitas, isto , coisas compreensveis ao ser humano, gerando uma aparente contradio. Tal infinito deveria ser buscado no interior do ser humano, na Nature-za, em Deus, na Arte, de maneira que os quatro elementos so postos em um mesmo patamar, uma vez que constituiriam parte de um Todo-Uno anterior a tudo o que h. A Arte tornar-se-ia, ento, auto-suficiente, de modo que no mais deveria ser meramente cpia, isto , representao do mundo, mas construo. Deixando de ser utilitria, a Arte passaria a se justificar por fatores internos, o que lhe exigiria coerncia entre suas partes complementares, resultando em harmonia, beleza. Assim, a nfase dar-se-ia no processo de criao artstica, e no mais no resultado, de maneira que o Artista capaz de absorver tais conceitos constituiria o Gnio.
No que se refere linguagem, os romnticos valorizam a linguagem potica em detrimento da linguagem comum, de cunho utilitrio, representativo, j que se destinaria apenas comunicao. A linguagem potica apresentaria, assim, uma pluralidade de sentidos que jamais se observariam na linguagem comum, levando a uma infinita possibilidade de significados. Desta forma, a linguagem potica seria completa em si, intransitiva, e no mais um meio, como a linguagem comum.
Alm disso, vlido ressaltar o fato de ser o Romantismo o gnero dos contrastes por excelncia, reunindo consciente e inconsciente, intencional e instintivo, natural e
2
-
artificial, masculino e feminino, geral e particular, etc. Assim, o que em um primeiro momento pareceria contraditrio, explicar-se-ia a partir da idia de que, na verdade, constituiriam elementos complementares que, reunidos, ultrapassariam os limites humanos, levando transcendncia, possvel por meio da Arte.
A mitologia, por sua vez, tambm era muito valorizada pelos romnticos, j que, assim como a linguagem potica, apresentar-se-ia completa em si mesma, bem como o elemento mstico, numa mistura de literatura, filosofia e religio, uma vez que os princpios romnticos estendem-se para a vida, no compreendem apenas a literatura.
Na Alemanha, o primeiro crculo de poetas romnticos reuniu-se na cidade de Jena em fins do sculo XVIII. Desse crculo, participaram grandes nomes da literatura alem, entre eles os irmos Wilhelm e Friedrich Schlegel e, mais tarde, com a fundao da revista Athenum, o poeta Novalis.
Friedrich von Hardenberg, conhecido como Novalis, nasceu em 1772 e morreu aos 29 anos vtima de tuberculose, sendo talvez o poeta mais expressivo do primeiro movimento romntico na Alemanha. Suas idias, expressas sobretudo em Fragmentos, baseiam-se, num primeiro momento, nas teorias de Fichte acerca do idealismo mgico, a partir do qual estabelecer-se-ia a noo do No-eu, gerado a partir da atividade produtora inconsciente do Eu. De modo geral, fundem-se teoria e literatura, resultando numa obra hbrida, na qual se observam poesia, retrica, questes de cunho filosfico, religioso e social. Em Os Discpulos em Sas, por exemplo, verifica-se tambm a presena da parbola, a qual remonta ao mito, de grande valor para os romnticos. A narrativa fundamenta-se a partir de uma discusso interior acerca de diversos conceitos que nada mais so do que alguns dos ideais romnticos veiculados por Novalis.
Os Discpulos em Sas Considerada pela crtica como um fragmento de romance, a narrativa de Novalis apresenta um elenco bastante rico no que se refere aos pressupostos de uma possvel teoria da linguagem, de carter simblico-potico e messinico.
A abordagem de uma possvel teoria (primeiro-)romntica da linguagem est associada ao debate em torno da questo da origem da linguagem, intensificado
3
-
no final do sculo XVIII e incio do sculo XIX. O avano dos estudos filolgicos e o nascimento da gramtica comparada das lnguas indo-europias compem a base da lingstica moderna, a qual deixou de lado a questo da origem das lnguas, decidindo-se pela origem arbitrria dos signos. Nos termos de Benveniste:
O que arbitrrio que tal signo e no outro seja aplicado a tal elemento da realidade. Nesse sentido, e apenas nesse sentido, pode-se falar de contingncia [...] Pois o problema no outro seno o famoso: tsei ou physei? E no pode ser resolvido por decreto. , com efeito, transposto em termos lingsticos, o problema metafsico do acordo entre o esprito e o mundo, problema que o lingista talvez um dia esteja altura de abordar de modo frutfero, mas que ele far melhor por agora, deixando-o de lado. (BENVENISTE, Problmes de linguistique gnerale I [1966] apud SELIGMANN-SILVA 1999: 23).
O problema se delineia medida que, para NOVALIS e Schlegel, contemporneos do estabelecimento dos pressupostos que orientam a lingstica moderna, e, eles prprios, estudiosos de filologia, a questo da linguagem parece estar associada ainda a uma possvel relao entre esprito e mundo, a qual, por sua vez, se ope ao conceito hoje clssico da arbitrariedade do signo. Novalis fala de uma linguagem originria, de uma linguagem a priori da natureza humana, sendo que a tarefa do gramtico consiste em recuper-la (W II 703). A mesma idia encontra-se em outro fragmento (W II 510) sobre o tempo em que pssaros, animais e rvores falavam, ou seja, NOVALIS refere-se aqui aos tempos imemoriais do Mrchen ou conto de fadas, gnero presente tanto em seu Heinrich von Ofterdingen quanto na narrativa Os Discpulos em Sas. Para NOVALIS, O autntico conto de fadas [das chte Mrchen] deve ser ao mesmo tempo exposio proftica exposio ideal [...] O autntico conto de fadas um visionrio do futuro. (W II 514). Como formula SELIGMANN-SILVA, em Novalis, o passado remoto (a poca da linguagem originria) e futuro proftico (antevisto nos contos de fada) se refletem.
Justifica-se aqui a escolha da narrativa Die Lehrlinge zu Sas, texto pouco classificvel nas categorias tradicionais dos gneros literrios e que vem sendo referido pela crtica em geral como fragmento de um romance. Se o considerarmos um fragmento de romance, preciso lembrar que para os primeiros romnticos o fragmento a forma ideal da expresso artstica, capaz de veicular tanto a expresso potica quanto a filosofia e esttica romnticas. Ou seja, o fragmento de Novalis intencional, no se tratando, portanto, de um texto que permaneceu fragmentrio por
4
-
conta das circunstncias histricas e biogrficas do autor. Alm disso, preciso lembrar que Os Discpulos em Sas contm em si um outro gnero tambm praticado com freqncia pelos romnticos alemes. Trata-se do Mrchen Jacinto e Rosinha (Hyazinth und Rosenbltchen), narrativa de profundo sentido alegrico que permeia o texto de Novalis, a qual pode ser classificada sob a rubrica dos contos artsticos portadores de idias (cf. artigo Um estudo do conto de fadas. de Karin VOLOBUEF no vol. 33 da Revista de Letras da Unesp).
Desta forma, a abordagem de Os Discpulos em Sas ter como perspectiva a possvel identificao, no texto literrio, dos pressupostos de um filosofia ou teoria romntica da linguagem, manifestada em alguns fragmentos do prprio Novalis e de seu contemporneo Friedrich Schlegel.
Ali, manifesta-se uma reflexo que se constitui sobre a idia de uma linguagem original, capaz de relacionar o homem diretamente com um conhecimento total e com a Natureza. Em SCHLEGEL, essa idia encontra-se manifestada com bastante clareza em um texto de 1828, o qual, sem dvida alguma, traz ainda muitos dos conceitos estticos e filosficos da poca da revista Athenum (1798-1800):
No incio o homem tinha a palavra [Wort] e esta palavra era de Deus: e a partir da potncia viva que lhe foi dada na e com esta palavra, proveio a luz da sua existncia [...] Enquanto a harmonia interna das almas no fora incomodada e dilacerada e a luz do esprito no fora deste modo obscurecida, a linguagem no podia ser outra coisa seno a simples e bela impresso ou expresso da clareza interna; e, portanto, s podia haver uma linguagem. Contudo, depois que o intrnseco da palavra conferida `a humanidade por Deus foi obscurecido e a conexo divina perdida, logo a linguagem externa tambm teve que cair, ento, na desordem e na confuso. A verdade divina homognea foi coberta com diversas poesias naturais sensveis [sinnlichen Naturdichtungen], enterra-da sob imagens enganosas e at mesmo, finalmente, desfigurada numa miragem horrvel. Tambm a natureza, que no incio permaneceu como um espelho claro da criao de Deus, aberto e translcido diante dos olhos claros da humanidade, tornou-se cada vez mais incompreensvel a ela, estrangeira e assustadora. Uma vez afastado da divindade, o homem caiu tambm, interna-mente e consigo mesmo, sempre e mais em conflito e confuso. Assim surgiu, ento, essa quantidade de lnguas que no se entendem entre si (SCHLEGEL apud SELIGMANN-SILVA 1999).
A partir dos fragmentos de SCHLEGEL e NOVALIS acima citados, torna-se possvel esboar os princpios de uma concepo primeiro-romntica da linguagem, na qual,
5
-
segundo SELIGMANN-SILVA (1999), possvel distinguir trs etapas: a primeira caracteriza-se pela linguagem anterior queda, na qual no h distncia ente os signos e os elementos designados. Isto quer dizer que, nesse primeiro nvel, a humanidade no precisa de mediadores entre a linguagem e as coisas. Atravs da queda, o homem conhece a ignorncia, perdendo a capacidade admica de compreender a natureza e a coisas. Por fim, a terceira etapa dessa filosofia romntica da linguagem prev a recuperao ou restituio dessa linguagem originria, atravs do trabalho de (re-)criao do filsofo e do poeta. Essa concepo encontra-se expressa de maneira exemplar nas palavras de Albert Bguin, em L me romantique et le rve, de 1946: Nul lautre que lui [o poeta] peut retrouver la langue anglique, le discours parfait o le symbole visible e la ralit quIl exprime se confondent. La posie a pour mission de recrer le langage primitf. (BGUIN 1991: 93).
Nossa abordagem da narrativa de Novalis Os Discpulos em Sas baseia-se essencialmente nessa concepo da linguagem originria, passvel de ser recuperada pela poetizao do mundo sensvel. J nas primeiras linhas o poeta apresenta o cosmos como uma floresta de signos, reafirmando o carter simblico que predominar em toda a narrativa:
Os homens percorrem caminhos diferentes; quem se der a segui-los e a com-par-los, ver surgir estranhas figuras; dir-se- que fazem parte daquela escrita difcil e caprichosa que em todo o lado se encontra: nas asas, na casca dos ovos, nas nuvens, na neve, nos cristais, na forma das rochas, na gua gelada, dentro e fora das montanhas, das plantas, dos animais, dos homens, nos resplendores do cu, nas placas de vidro e de resina quando so esfregadas e as apalpamos; nas limalhas que aderem ao man e nas estranhas conjunturas da sorte... pressente-se a chave e a gramtica dessa escrita singular (NOVALIS 1960: 31).
Nesse pargrafo inicial encontram-se j alguns dos principais pressupostos que iro nortear a potica de Novalis, uma espcie de simbologia da natureza, sob a qual o mundo sensvel todo ele constitudo por signos que, se decifrados, permitiro ao homem o conhecimento mais ntimo dos mistrios da vida humana e da natureza.
O poeta, decifrador de signos, est ele prprio destinado a depreender os sentidos misteriosos dos signos que povoam o mundo sensvel.
Essa simbologia da natureza est associada, por sua vez, idia da linguagem admica como um conjunto de smbolos primitivos, aos quais s possvel ter acesso atravs da poetizao do mundo.
6
-
A anlise dessa simbologia da natureza que, por sua vez, estende-se tambm linguagem, pressupe a discusso dos conceitos de smbolo que se encontravam ento no centro da discusso esttica entre os ltimos anos do sculo XVIII e os primeiros do sculo XIX. O perodo, marcado pela coexistncia das concepes estticas clssica e romntica, v surgir em Karl Phillip Moritz e no prprio Goethe dois importantes tericos do smbolo.
Vejamos a concepo de MORITZ, expressa em Reisen eines Deutschen in Italien [Viagens de um alemo na Itlia], de 1793:
Pois tudo que h na natureza no se encontra repleto de significao? E tudo isso no seria um signo de algo maior, que nesse mesmo signo se revela ? Pois no lemos ns em cada pequena parte desse constructo os vestgios dessa grandeza, que nela se reproduz?... Dessa forma, tudo aquilo que nos rodeia torna-se signo, adquire sentido, torna-se linguagem (MORITZ, apud SRENSEN 1963: 71).
Moritz compartilha com GOETHE a ideal de que o mundo sensvel est habitado por signos ou smbolos (Zeichen), os quais cabe ao poeta decifrar, a fim de que possa penetrar os mistrios:
Esteja o artista na oficina de um sapateiro, em um estbulo, contemple ele o rosto de sua amada, suas prprias botas ou as obras da Antigidade; por toda parte o que ver sero as sagradas vibraes e os sons suaves atravs dos quais a natureza liga todos os objetos existentes. A cada passo, revela-se a ele o mundo mgico (GOETHE, apud SRENSEN 1963: 88).
Ambas as afirmaes levam compreenso do poeta como gnio e como vidente, como o medium capaz de reproduzir e decifrar, no mundo sensvel, a escritura divina e metafsica. No texto de Novalis, os discpulos, reunidos ao redor do templo de Sas, sabem reconhecer esse papel do artista:
S os poetas compreendem que significado a natureza pode ter para o homem, comentou um formoso adolescente [...] O vento um movimento do ar que pode obedecer a muitas causas externas; mas quando passa, chegado de uma qualquer regio muito amada, e com mil suspiros profundos e melanclicos, parece dissolver a serena dor num grande e melodioso suspiro da natureza inteira, no direis que significa outra coisa para o corao solitrio que rebenta de desejos? [...] O jovem apaixonado tambm no v que a tenra e meiga verdura dos campos primaveris lhe exprime a alma saturada de flores com admirvel verdade? E alguma vez a vivacidade de uma alma que acaba de mergulhar no ouro do vinho se poder mostrar mais preciosa e sorridente
7
-
do que no cacho de uvas pesado e brilhante, quase oculto debaixo das folhas? (NOVALIS 1960: 66f).
Por fim, o alcance do aspecto simblico do texto de Novalis pode ser estendido para alm do mero procedimento de alegorizao. Do ponto de vista de uma dimenso filosfica, a linguagem simblica capaz de expressar conceitos impossveis de serem expressos pela linguagem conceitual. Ou seja, como j reconhecera Kant, a filosofia, no princpio, por ressentir-se da falta de um vocabulrio que lhe fosse prprio, teve que fazer emprstimos linguagem da poesia. Na palavras de A. W. SCHLEGEL em sua Kunstlehre:
O belo uma representao simblica do infinito; pois assim se torna ao mesmo tempo claro como o infinito pode aparecer no finito [...] Como o infinito pode ser conduzido superfcie, ao aparecimento ? Apenas simbolicamente, em imagens e signos. (...) Fazer poesia (no sentido mais amplo do potico, que se encontra na base de todas as artes) nada seno um simbolizar eterno. (SCHLEGEL apud TODOROV 1996: 251).
Bibliografia
BGUIN, Albert. Lme romantique ei le rve. Essai sur le romantisme allemand et la posie franaise. Paris, Libririe Jos Corti 1991.
LICHTENBERGER, Henri. Quest-ce que le Romanstisme?In: BGUIN, Albert (Hg.): Cahiers du Sud. Le Romantisme Allemand. Marseille, Rivages 1983.
NOVALIS (Fredrich von Hardenberg). Die Lehrlinge zu Sas. In: Die Werke Friedrich von Hardenbergs. Begrndet von Paul KLUCKHORN und Richard SAMUEL. Band I: Das dichterische Werk. Stuttgart, Kohlhammer 1960.
NOVALIS (Fredrich von Hardenberg). Werke, Tagebcher und Briefe. Herausgegeben von H.-J. Mhl und R. Smule. Bnde I-III. Mnchen, Karl Hansen Verlag 1978ff.
SELIGMANN-SILVA, Mrcio. Ler o livro do mundo. Walter Benjamin: Romantismo e crtica literria. So Paulo, Iluminuras 1999.
SRENSEN, Bengt Algot. Symbol und Symbolismus in den sthetischen Theorien des 18. Jahrhunderts und der Deutschen Romantik. Kopenhagen, Athenum 1963.
TODOROV, Tzvetan. Teorias do smbolo. Campinas, Papirus 1996.
8