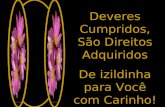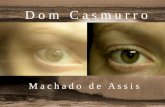O s E s tu d os d e S e gu r an ç a I n te r n ac i on al ... · o engajamento de civis nos...
Transcript of O s E s tu d os d e S e gu r an ç a I n te r n ac i on al ... · o engajamento de civis nos...
Os Estudos de Segurança Internacional em Perspectiva Histórica: evolução teórica, regionalismo e a expansão da agenda securitária
Guilherme Paiva Stamm Thudium 1
Douglas de Quadros Rocha 2
Gabriela Freitas dos Santos 3
Luiza Nunes Corrêa 4
Rafaela Pinto Serpa 5
Rodrigo dos Santos Cassel 6
Resumo: Este artigo oferece uma releitura dos Estudos de Segurança Internacional (ESI) a partir da evolução teórica do conceito. O recorte temporal escolhido para este fim é o pós-Segunda Guerra Mundial e o limiar da Guerra Fria, estendendo-se até a nova onda regionalista que surge em meio à reconfiguração do sistema internacional após o colapso do bloco soviético. A evolução teórica terá como base a obra de Barry Buzan e os demais autores associados a ele através da Escola de Copenhague de Relações Internacionais. A hipótese inicial aponta que a aproximação entre civis e militares no pós-guerra oportunizou uma importante ampliação do conceito de segurança, cujas abordagens resultantes foram transportadas para a análise das transformações da ordem internacional no pós-Guerra Fria. Nesse período, vislumbra-se uma expansão da agenda de segurança internacional, que está atrelada à intensificação dos processos de integração regional, com a ascensão das ordens regionais e dos complexos regionais securitários (CRS), e a distribuição assimétrica de poder no sistema interestatal. Como análise empírica dos estudos, em momento final oferece-se um breve exame do CRS da América do Sul, região de influência brasileira. Conclui-se preliminarmente da imprescindibilidade dos ESI incorporarem a variável regional no seu método de análise diante da estrutura anárquica e multipolar do sistema hodierno. Palavras-chave: Estudos de Segurança Internacional. Escola de Copenhague. Regionalismo. Complexos Regionais de Segurança. Distribuição de Poder. América do Sul.
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGPOL-UFRGS). Pesquisador Assistente e Representante de Pós-Graduação do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais (NERINT). Pesquisador vinculado aos programas “Pró-Estratégia” e “Pró-Defesa” do Ministério da Defesa. Contato: [email protected] 2 Graduando do 7º semestre de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisador Assistente do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais (NERINT). Contato: [email protected] 3 Graduanda do 7º semestre de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Contato: [email protected] 4 Graduanda do 7º semestre de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Contato: [email protected] 5 Graduanda do 7º semestre de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisadora Assistente do Centro Brasileiro de Estudos Africanos (CEBRAFRICA). Contato: [email protected] 6 Graduando do 5º semestre de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisador Assistente do Centro Brasileiro de Estudos Africanos (CEBRAFRICA). Contato: [email protected]
1. Introdução
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma releitura da evolução teórica dos Estudos de Segurança Internacional após a Segunda Guerra Mundial. A progressão temporal da pesquisa irá se estender, na medida do possível, até os dias atuais, dedicando especial atenção para duas mudanças paradigmáticas: a ampliação do conceito de Segurança Internacional que ocorre nas décadas de 1960 e 1970; e os estudos abrangentes e regionalizados que surgem a partir da expansão da agenda de segurança internacional após o fim da Guerra Fria. Além disso, procura-se oferecer uma análise da distribuição de poder após o fim do conflito bipolar, visto que a polaridade do sistema afeta a estabilidade, a grande estratégia e a segurança internacional.
O estudo será estruturado em três partes. O primeiro plano da escrita, neste viés, objetiva perseguir as inovações resultantes das abordagens que emergem após 1945, quando a noção de segurança passa a ser um elemento central de análise – e não somente a defesa ou a guerra. Importante ressaltar que “segurança” e “defesa” possuem significados dessemelhantes. Enquanto que a área de defesa se debruça essencialmente sobre questões que ameaçam a soberania e o monopólio legítimo do uso da força por parte do Estado, dentro da concepção weberiana, os estudos de segurança tratam de questões que afetam a estabilidade do sistema como um todo, como ameaças que englobam também questões econômicas, políticas, ambientais e energéticas, dentre outras, no seu método analítico.
A ampliação dos estudos em segurança nas décadas de 1950 e 1960, no que Lawrence Freedman (1998a) chamou de os “Anos Dourados” para os estudos securitários, oportunizou uma importante aproximação entre acadêmicos e estrategistas com os órgãos estatais responsáveis pelas políticas de segurança e as forças armadas nos países Ocidentais. Como consequência, já a partir do final da década de 1970 pode-se falar em uma renovação teórica na área de Segurança Internacional, com o advento de abordagens mais extensivas – como a oferecida pela Escola de Copenhague de Relações Internacionais, que tem sua origem na obra People, States and Fear, publicada por Barry Buzan em 1983.
Na segunda parte, em um primeiro momento apresentamos as duas principais abordagens de segurança internacional que emergem a partir do colapso da União Soviética e do sistema bipolar, utilizando como referencial teórico a obra de Buzan e Hansen (2012). Em momento seguinte, busca-se examinar as teorias do “novo regionalismo”, tendo como norte a obra de Kelly (2007), e como estas se relacionam com as abordagens securitárias que surgem no limiar do Século XXI, em especial a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS) de Buzan e Waever (2003). Nesta seção, exploraremos a importância do nível regional de análise para o estudo da ordem internacional do pós-Guerra Fria, com enfoque para a área de segurança internacional. O conceito de ordem internacional utilizado é o preconizado por Hedley Bull (1999, p. 8, tradução dos autores): “um padrão de atividades que sustentam objetivos elementares ou primários da sociedade internacional ou interestatal”; já o de ordem regional é aquele fornecido por Lake e Morgan (1977, p. 32, tradução dos autores): “padrões dominantes de gerenciamento da segurança nos complexos securitários”. Ordens regionais e complexos regionais de segurança (CRS), portanto, são concepções complementares.
A última seção aborda dois dos principais elementos do contexto político internacional que estão necessariamente atrelados ao fenômeno da expansão conceitual da agenda de segurança internacional: a distribuição assimétrica de poder e a intensificação dos processos de integração regional (CEPIK, 2011). Com relação ao primeiro, fazemos uso das análises sobre polaridade
oferecidas pelos principais autores abordados nas seções anteriores para depois oferecer a que julgamos mais adequada para explicar a distribuição de poder vigente desde o fim da Guerra Fria: o conceito de tripolaridade assimétrica apresentado por Cepik (2013). Finalmente, analisamos a intensificação dos processos de integração regional a partir de um recorte temático empírico sobre o complexo regional de segurança da América do Sul e o papel do Brasil no mesmo, aplicando a análise estrutural de Buzan e Waever e atualizando-a com novas proposições. 2. O Engajamento de Civis e a Evolução dos Estudos de Segurança Internacional após a Segunda Guerra Mundial: dos “Anos Dourados” à Escola de Copenhague
O conceito de segurança, embora seja amplamente aplicado, não possui uma definição única e estática. As mais diversas abordagens que almejam especificar tal termo, dessa forma, partem de pressupostos distintos, analisando-o ora por meio de um viés político-material, no qual o poder é derivado de recursos econômicos e bélicos, ora através de uma perspectiva emancipatória, a qual prioriza a promoção da justiça e dos direitos humanos por intermédio da cooperação entre os agentes (WILLIAMS, 2008). Dentro desse contexto, ressalta-se Cox (1981), o qual introduz a ideia de que uma teoria sempre serve a algum propósito. O mesmo ocorre com a noção de segurança: de acordo com Paul Williams (2008), os tradicionais estudos sobre segurança internacional são, até certo ponto, uma consequência teórica das motivações dos seus desenvolvedores. Logo, cabe ressaltar antecipadamente que a definição de segurança internacional se trata de um conceito inevitavelmente político, pois possui um papel vital sobre a alocação de recursos no sistema interestatal (LASSWELL, 1936 apud WILLIAMS, 2008). Segurança, portanto, diz respeito a temas políticos cruciais, como Estado, autoridade, legitimidade, política e soberania (BUZAN & HANSEN, 2012).
Quando analisamos os Estudos de Segurança Internacional (ESI) – o qual consideramos um subcampo da área de Relações Internacionais –, notamos que as suas origens e concepções são inerentemente ocidentais e, mais precisamente, anglo-americanas (BUZAN & HANSEN, 2012). Consoante Williams (2008, p. 29, tradução dos autores), “estudos de segurança tradicionais são [...] escritos por [autores] ocidentais para governos ocidentais”. Tal fenômeno, no entanto, não é dado ou arbitrário. Ele encontra o seu fundamento, justamente, no contexto histórico em que estava inserido: nomeadamente, o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e os primeiros ensaios da Guerra Fria.
Embora já houvesse literatura sobre a paz e a guerra, sobre militarismo e geopolítica – haja vista Clausewitz (2003), entre outros –, foi apenas após a Segunda Guerra Mundial que os estudos a respeito de segurança começaram a adquirir projeção e solidez. De acordo com Buzan e Hansen (2012), há três inovações oriundas dessa emergente literatura. Em primeiro lugar, ressalta-se que o conceito de segurança passou a ser o elemento central, e não mais a defesa ou a guerra, fazendo com que a análise perpassasse uma maior gama de aspectos, incluindo a presença de ameaças não-militares. Segundamente, há o fato de que tal literatura emergiu em meio às dinâmicas da Guerra Fria e da era nuclear, ambas apresentando situações jamais antes vivenciadas por estadistas e agentes militares. Foi a terceira inovação, no entanto, que marcou de maneira profunda o campo dos Estudos de Segurança Internacional.
O elevado montante de capital humano mobilizado ao longo da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, bem como os novos desafios estratégicos provenientes do advento das armas nucleares, catalisou a ocorrência da terceira e mais significativa inovação:
o engajamento de civis nos estudos de Segurança Internacional e a consequente colaboração destes para com as autoridades militares e governamentais. Conforme apontam Buzan e Hansen (2012, p. 24), “bombardeios estratégicos e armas nucleares transcendiam a expertise tradicional de combate militar, de maneira que exigiam [...] que se trouxessem especialistas civis, desde físicos e economistas até sociólogos e psicólogos”. Tal expansão de estudiosos dedicados à área, por conseguinte, acarreta um aumento expressivo na produção de conhecimento relativo às políticas de segurança.
Esse fenômeno, portanto, credita às décadas de 1950 e 1960 o título de “Anos Dourados” dos Estudos de Segurança Internacional (FREEDMAN, 1998a). Durante esse período, os governos ocidentais passaram a recrutar civis estrategistas, oriundos de instituições acadêmicas, a fim de que inovações conceituais e pesquisas de elevado nível pudessem ser viabilizadas e utilizadas pelo alto escalão da burocracia estatal. Não raramente, inclusive, tais acadêmicos eram aceitos e incorporados ao funcionalismo público, passando a exercer, portanto, um papel mais ativo no processo de decisão das políticas de segurança (WILLIAMS, 2008). Buzan e Hansen (2012 apud BALDWIN, 1995) ainda acrescentam que os “Anos Dourados” representaram a era mais inventiva dos estudos de segurança devido a duas razões particulares: (i) a introdução de técnicas não-militares à projeção de poder na esfera internacional; e (ii) a valorização dos assuntos domésticos para fins de política externa. Em outras palavras, o rebalanceamento na maneira de se abordar políticas securitárias no pós-Segunda Guerra Mundial oportunizou uma aproximação entre acadêmicos e estrategistas com governos Ocidentais.
À medida em que o conflito da Guerra Fria se intensificava, contudo, tal abrangência e criatividade teórica passava a ceder espaço para a centralização dos estudos de segurança em dois pontos centrais: o conflito nuclear e a rivalidade bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética (BUZAN & HANSEN, 2012). Paralelamente a isso, é possível identificar a consequente consolidação do realismo como paradigma teórico preponderante, “o que propiciou a elaboração do conceito de estratégia nuclear, dissuasão e deterrence” (DUQUE, 2009, p. 462). Desenvolvido em 1939 por Edward Carr, em sua clássica obra Os Vinte Anos de Crise, o realismo – mais especificamente o realismo clássico – atribui um comportamento maximizador de poder aos Estados, os quais, em última instância, visam à expansão de suas capacidades político-militares para fins de sobrevivência e de projeção internacional. Ademais, conforme aponta Hans Morgenthau (1948), o comportamento dos Estados é derivado de motivações racionais, as quais são resultado de uma análise acerca dos custos e dos benefícios de despender esforços para determinada iniciativa.
Reitera-se, ainda, que os Estudos de Segurança Internacional emergem após a Segunda Guerra Mundial como uma tentativa de sistematizar os modos de proteção do Estado contra ameaças externas e internas (BUZAN & HANSEN, 2012). Vê-se, portanto, que, desde a gênese desse processo, o debate teórico em termos de segurança sempre esteve intrinsecamente atrelado à instituição do Estado. Com efeito, conforme Williams (2008), o pensamento realista da época pode ser mapeado por meio dos “quatro Ss”, quais sejam: states, strategy, science e status quo (do inglês, Estados, estratégia, ciência e status quo). O primeiro deles, o Estado, designa não apenas o mais importante agente no cenário internacional, mas também a mais assertiva e sólida referência de segurança em termos práticos. Em segundo lugar, há a estratégia, cujo estudo, em linhas gerais, visa à maximização de benefícios para o Estado patrocinador em situações nas quais há o emprego de poderio militar para a obtenção de determinados fins. O terceiro, a ciência, é a representação da racionalidade advogada pela teoria realista. Seu papel, portanto, é conferir
aspectos metodológicos ao conhecimento acerca da política internacional, a fim de torná-lo confiável e útil para o processo de tomada de decisões. Por fim, há o status quo, isto é, a constatação de que, na literatura tradicional de segurança (assentada sobre o paradigma realista), há uma preocupação em prol do conservadorismo e da manutenção das grandes potências, e contra mudanças radicais e revolucionárias na ordem mundial.
Paralelamente, o campo de Estudos Estratégicos também recebeu notável expansão durante esse período. Buscando uma abordagem mais específica do que aquela proposta pelos estudos de segurança tradicionais, ao longo da segunda metade do Século XX sucederam-se os conceitos de “grande estratégia” e “estratégia total”, bem como análises em níveis – militar, naval, aérea, aeroespacial, industrial, operacional etc. (PROENÇA & DUARTE, 2007). Buzan e Hansen (2012) qualificam os Estudos Estratégicos como um conceito entrelaçado aos Estudos de Segurança, inseridos em um dos três eixos centrais dos ESI: (i) os complementares, e aqui se enquadram os conceitos não só de “estratégia”, mas também de “dissuasão” e “contenção”; (ii) os paralelos, referenciais da Teoria Política, tais como “poder”, “soberania” ou “identidade”; (iii) e os opositores, como os estudos sobre “paz” (Peace Research), que reivindicam a substituição dos conceitos de segurança pelos seus próprios.
Já a partir da década de 1970, inicia-se um movimento de renovação teórica na área de Segurança Internacional. Segundo Freedman (1998a), após a crise dos mísseis em Cuba, ocorre um relaxamento na tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Essa “maturidade na relação entre as superpotências”, como caracterizaram Buzan e Hansen (2012, p.25), junto ao envolvimento norte-americano no Vietnã, resultaram em um declínio dos Estudos Estratégicos. Ao mesmo tempo, nas décadas de 1970 e 1980, os choques do petróleo e o surgimento de novos atores no sistema internacional – como organizações multilaterais, empresas transnacionais e ONGs – intensificam a necessidade de se pensar a área de Segurança Internacional de uma forma mais diversa, abarcando agendas como economia, meio ambiente, direitos humanos, dentre outros (DUQUE, 2009; DE OLIVEIRA, 2009).
Dessa forma, segundo Grace Tanno (2003) e Barry Buzan (1997), três vertentes teóricas se consolidaram nesse período: a tradicionalista, a crítica e a abrangente. A premissa tradicionalista, vinculada ao realismo e, em tempos mais recentes, ao neorrealismo de Kenneth Waltz (1979), enfatizou as questões militares e a centralidade do Estado na análise do sistema internacional. Em contrapartida, a vertente crítica, ligada a Escola de Frankfurt, centra-se no indivíduo, entendendo as ameaças e os objetos de segurança como construções sociais importantes para o processo de emancipação humana. Por último, a vertente abrangente, como seu próprio nome diz, buscou um conceito que abordasse não somente o âmbito bélico-militar, colocando-se numa posição intermediária entre as duas outras vertentes (BOOTH, 1991; BUZAN, 1991; TANNO, 2003).
A perspectiva abrangente da Escola de Copenhague, na figura de Barry Buzan, foi importante no desenvolvimento da corrente acadêmica dos Estudos de Segurança Internacional. No livro People, States and Fear, de 1983 (e atualizado em 1991), Buzan fornece uma nova estrutura para a análise da segurança internacional, afastando-se do modelo estadocêntrico ulterior, ao entender a ideia de segurança das coletividades humanas e dos Estados de forma conjunta. Dessa forma, os estudos de segurança devem incorporar tanto as questões militares quanto as políticas, econômicas, ambientais e sociais:
Militar: preocupado com a interação entre as capacidades militares ofensivas e defensivas dos Estados e percepções dos Estados sobre as intenções de cada um.
Político: focado na estabilidade organizacional dos estados, sistemas de governo e ideologias que lhes dão sua legitimidade. Econômico: girava em torno do acesso aos recursos, finanças e mercados necessários para sustentar níveis aceitáveis de bem-estar e poder estatal. Societal: centrada na sustentabilidade e evolução dos padrões tradicionais de linguagem, cultura e identidade e costumes religiosos e nacionais. Ambiental: preocupado com a manutenção da biosfera local e planetária como o sistema de apoio essencial de que dependem todas as outras empresas humanas (WILLIAMS, 2008, p. 4, tradução nossa).
Através de uma pesquisa que reconhece a característica anárquica do sistema internacional – portanto, dentro da teoria realista, ainda que muito próxima ao construtivismo – demonstra que as relações interestatais, ainda que um elemento extremamente importante, não são os únicos determinantes das dinâmicas securitárias que caracterizam a política internacional. Além dos cinco campos que envolvem os ESI, ainda de acordo com Buzan e Hansen (2012, p. 36), estes também podem ser vistos como estruturados pelo envolvimento com outras quatro questões implícitas ou explícitas: “privilegiar o Estado como objetivo de referência; incluir tanto as ameaças internas quanto as externas; expandir a segurança para além do setor militar e do uso da força; ver a segurança como inextricavelmente ligada a uma dinâmica de ameaças, perigos e urgência”.
3. A Expansão da Agenda de Segurança Internacional no pós-Guerra Fria e o Novo Regionalismo
Sob o impacto do colapso da União Soviética, os estudos de segurança precisaram enfrentar novos desafios impostos pelo fim do conflito bipolar. Os estudos desse período foram essencialmente marcados pelo fim da bipolaridade, tanto material quanto ideologicamente, o que impôs um questionamento sobre a própria natureza dos estudos de segurança sendo feitos até o momento, basicamente focados na rivalidade das superpotências e na ameaça de guerra nuclear entre elas (BUZAN & HANSEN, 2012). Partindo da perspectiva teórica apresentada por Buzan e Hansen, o debate dos estudos de segurança que começa nesse período e segue até os dias de hoje pode ser definido entre a abordagem tradicionalista, que apresenta perspectivas mais estadocêntricas e militarizadas, e a abordagem abrangente, que coloca a necessidade de expansão e aprofundamento do conceito de segurança para melhor responder às questões atuais.
A primeira grande discussão da abordagem tradicional durante esse período foi sobre qual seria a polaridade do sistema naquele momento: se os Estados Unidos manteriam sua primazia em uma consequente unipolaridade, ou se alguma outra ordem de poder se alinharia em seguida e qual deveria ser a estratégia adotada pelos EUA para manejar essa transição (HUNTINGTON, 1993; WALTZ, 1993; WOHLFORTH, 1999). Na próxima seção, exploraremos a nova configuração da distribuição de poder no pós-Guerra Fria. Outra importante contribuição da abordagem tradicionalista foi a discussão sobre o impacto da tecnologia nas questões militares. Nesse sentido, as discussões sobre proliferação nuclear do período da Guerra Fria tiveram continuidade, mas estavam agora acompanhadas pelo debate sobre a aplicação dos Programas de
Defesa Antimíssil (do inglês, Ballistic Missile Defense) . Análises sobre o uso dessa tecnologia 7
podem ser encontradas nos trabalhos de Payne (2000) e Levine (2001). A questão tecnológica ainda esteve presente no debate sobre “o novo modo americano de fazer guerra” (BOOT, 2003) e a Revolução em Assuntos Militares – RAM, que consiste no impacto que as tecnologias de vigilância, controle, comunicações e inteligência causam na condução da guerra (BUZAN & HANSEN, 2012). Essa discussão pode ser acompanhada nos trabalhos de Cohen (1996) e Freedman (1998b).
Ainda dentro da abordagem tradicional, é válido destacar o trabalho de autores como Ayoob (1995), Lake e Morgan (1997) e Hettne (2005) que buscaram levar o foco de análise dos estudos de segurança para o nível regional. Essa literatura buscava explicar as dinâmicas próprias regionais que foram um tanto quanto negligenciadas no contexto da Guerra Fria, considerando o enfoque na política das duas grandes potências e sua rivalidade. Para a abordagem abrangente, os estudos de segurança deveriam ir além da agenda estadocêntrica militar, incluindo novas perspectivas em suas análises para lidar com os desafios impostos pelo fim da Guerra Fria. Nas palavras de Buzan e Hansen, os estudiosos dessa abordagem:
defendiam, em níveis e combinações diferentes, que se favorecesse o aprofundamento do objeto de referência para além do Estado, ampliando o conceito de segurança para incluir outros setores que não somente o militar, dando a mesma ênfase a ameaças domésticas e transfronteiriças e permitindo a transformação da lógica realista e conflituosa da Segurança Internacional (BUZAN & HANSEN, 2012, p. 288-289).
Na vertente abrangente destacamos primeiramente o construtivismo, corrente que
buscava, através da ótica ideacional, analisar o processo de construção de ideias e narrativas para explicar fenômenos que a perspectiva tradicional realista-materialista não alcançava. O construtivismo convencional mantinha seu foco de análise na segurança nacional e militar (KATZENSTEIN, 1996), conservando uma agenda de pesquisa de abordagem positivista (WENDT, 2014). O construtivismo crítico, no entanto, apesar de compartilhar o foco da análise em fatores ideacionais, divergia do construtivismo convencional na medida em que questiona a posição do Estado como objeto referencial da análise, afirmando que essa opção oculta fatores importantes envolvidos na constituição de identidades históricas e discursivas relevantes para a análise de políticas de segurança (BUZAN & HANSEN, 2012).
Dentro das abordagens abrangentes que advogam de forma mais clara por uma ampliação do objeto de referência dos Estudos de Segurança Internacional, apresentamos aqui as abordagens pós-coloniais. As teorias pós-coloniais são diversas mas, de forma geral, impelem a área a enxergar para além do Estado Ocidental, atentando para a necessidade de se reconhecer as particularidades do Terceiro Mundo na formulação de conceitos de segurança verdadeiramente efetivos. Krause (1996) traz, por exemplo, a perspectiva de que os conceitos de segurança amplamente utilizados pelas teorias tradicionais realistas são baseados na formação estatal específica do continente europeu e, portanto, diferem radicalmente das trajetórias dos Estados não-Ocidentais. Teóricos pós coloniais também analisam a construção discursiva que cria uma identidade não-ocidental carregada de “exotismo” e, por vezes, uma inferioridade que legitima
7 A BMD consiste em um sistema que envolve a detectação, interceptação e destruição de mísseis de ataque. Esse sistema é geralmente composto de mísseis terra-ar (do inglês, surface to air missile) que interceptam os mísseis balísticos em sua trajetória.
discursos securitários irrefletidamente aceitos, como os argumentos contrários à proliferação nuclear nos países do Terceiro Mundo (BISWAS, 2001).
É provável que a maior expansão do conceito de segurança a partir da vertente abrangente tenha surgido com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de 1994, que formula o conceito de Segurança Humana. Essa formulação tinha por objetivo ampliar a lógica de segurança para além da defesa territorial e das questões de interesse nacional, incluindo também a “segurança do indivíduo” como uma variável a ser considerada nas formulações políticas. Mudar o foco do referencial Estado-nação para considerar o referencial indivíduo significa ampliar radicalmente o que é considerado ameaça à segurança e quais são os setores envolvidos para abarcar questões de saúde, meio ambiente, desenvolvimento, crescimento populacional e migrações, por exemplo (BUZAN & HANSEN, 2012). Em um sistema caracterizado pela anarquia, no entanto, “a garantia de segurança de um indivíduo ainda é condicionada primordialmente pelo seu pertencimento a um Estado nacional” (CEPIK, 2013, p. 307). Assim, ainda de acordo com Marco Cepik (2013, p. 307), “a existência do Estado continua sendo condição necessária para a realização de qualquer valor individual e, portanto, a segurança nacional é indissociável da segurança individual”.
Enfim, destacamos o trabalho da Escola de Copenhague, já mencionada anteriormente por seu esforço em ampliar o escopo dos Estudos de Segurança no período da Guerra Fria. Aliando noções construtivistas (WENDT, 2014; WAEVER, 1995) ao realismo estrutural (WALTZ, 1979) e ofensivo (MEARSHEIMER, 2001), essa Escola assume uma posição intermediária entre o estadocentrismo das perspectivas tradicionais, ainda que mantenha o Estado como ator primordial nas relações de segurança, e as reivindicações de caráter “individual” e “universal” das perspectivas críticas de Segurança Humana ao introduzir a sociedade como unidade de análise (BUZAN & HANSEN, 2012). Além de sua importante contribuição para as questões de segurança regional, com a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS), que será melhor abordada na próxima seção, a Escola de Copenhague inovou ao incorporar os conceitos de Segurança Social, Securitização e Desecuritização (WAEVER, 1995). A Segurança Social é definida como “a capacidade de uma sociedade persistir com seu caráter essencial sob condições cambiantes e ameaças possíveis ou reais” (WAEVER et al., 1993 apud BUZAN & HANSEN, 2012, p. 322). Esse conceito atenta para a capacidade de resiliência social diante de ameaças securitárias e está intimamente ligado ao conceito de Securitização, que trata do “processo de apresentar uma questão em termos de segurança” (BUZAN & HANSEN, 2012, p. 323), e Desecuritização, que se refere ao processo inverso pelo qual as questões já rotuladas como tal são retiradas de um modo “emergencial” e colocadas de volta à esfera política normal (BUZAN & WAEVER, 2003). Nessa perspectiva, a segurança ganha uma dimensão de “ação”, pois ela não é apenas uma condição objetiva a ser observada, mas também representa o “ato de securitizar”. Esse ato de securitizar possui um poder discursivo forte que permite ao Estado, ou outro sujeito com autoridade, tomar atitudes que possam ferir algum ordenamento ou regra graças à urgência ou prioridade dada a determinada ameaça (BUZAN & HANSEN, 2012). 3.1 Segurança Internacional e o “Novo Regionalismo”
O estudo do ordenamento regional é vital para que possamos compreender a agenda de
segurança internacional no pós-Guerra Fria. A primeira onda dos estudos regionalistas, como
analisada por Kelly (2007), ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970, durante o período de détente internacional, dos “Anos Dourados” para os estudos securitários e do avanço dos principais blocos de integração regionais. Conforme analisado por Kelly (2007), consonantes as pesquisas realizadas na época por Miller (1973), Thompson (1973) e Väyrynen (1986), essa onda inicial teve como primeiro impulso a expansão do sistema estatal gerada pelos processos de descolonização na África e na Ásia. A partir desse novo fenômeno, acadêmicos rejeitaram a visão generalizante das teorias sistêmicas tradicionais e passaram a dar mais ênfase às dinâmicas regionais. Estes novos processos possuíam um forte aspecto normativo de resistência da periferia em relação ao centro, sobretudo com a emergência do Movimento Terceiro-Mundista de não alinhamento e, consequentemente, de uma busca por maior autonomia das regiões do “Sul”. Dessa forma, o nível de análise do “subsistema” passou a ganhar maior atenção como um intermediário entre o nível sistêmico e o estatal.
Por volta desse mesmo período houve também a criação da Comunidade Europeia (CE) e o início de processos regionais de integração. A partir da abordagem neofuncionalista (HAAS, 1958; 1964; NYE, 1968), processos de integração foram percebidos como instrumentos capazes de evitar conflitos entre Estados (sobretudo aqueles em descolonização), servindo para a construção da ordem. As organizações internacionais recém criadas passaram a receber grande atenção dos acadêmicos e foram utilizadas como critério para a delimitação de “subsistemas” a serem estudados (RUSSETT, 1967). Devido às dificuldades na definição do conceito de região – muitas vezes confundidas com organizações internacionais – e a hesitação da integração no âmbito da Comunidade Europeia, acabaram por enfraquecer o debate até seu esgotamento. Contudo, os questionamentos gerados pela primeira onda a respeito do papel das regiões e dos “subsistemas” serviram de fundamento para a segunda onda no pós-Guerra Fria.
A segunda onda do regionalismo, também chamada de “novo regionalismo”, representou então a volta do interesse pelas dinâmicas regionais após o fim da Guerra Fria e a reestruturação do sistema internacional. Com o fim da bipolaridade, cujas agendas securitárias das duas superpotências se sobrepunham às dinâmicas regionais, as regiões adquiriram maior autonomia em relação às potências globais, o que oportunizou o retorno da abordagem regionalista entre acadêmicos. No entanto, o novo regionalismo possui duas vertentes, a primeira influenciada pelas teorias funcionalista e construtivista, enquanto que a segunda apresenta uma abordagem positivista-materialista influenciada pelo neorrealismo.
A primeira vertente do chamado novo regionalismo esteve centrada nos aspectos políticos, econômicos e culturais para analisar e definir as regiões de análise. Dentre os principais expoentes estão Björn Hettne (1994; 2000; 2005), Andrew Hurrell (1995; 2005; 2007), Louise Fawcett (1995) e Fredrik Sö derbaum (2003). Esses autores utilizaram a abordagem teórica funcionalista em conjunto com aspectos da teoria construtivista para delimitar as regiões a serem analisadas. Aspectos como identidade, relações econômicas e até mesmo externalidades ambientais são instrumentalizados na delimitação das regiões conforme o objetivo metodológico da análise (FAWCETT & HURRELL, 1995). A “multidimensionalidade” do novo regionalismo demonstra seu esforço “de ultrapassar a cartografia e construir regiões com base em uma característica compartilhada conforme a necessidade” (KELLY, 2007, p. 205, tradução dos autores). Dentre os expoentes dessa primeira vertente, Hettne foi um dos principais acadêmicos a defender a abordagem crítica-normativa em oposição à abordagem positivista-formal da segunda vertente. Hettne (2000; 2005) argumenta que os regionalismos e os processos de integração resultantes ao redor do mundo seriam capazes de alterar a ordem mundial e até mesmo substituir
os Estados dentro de um mundo regionalizado. Assim, o estudo das organizações internacionais e do regionalismo ganha força quando comparado ao estudo centrado no Estado, conforme as teorias tradicionais.
Em sua obra A World of Regions: Asia and Europe in the America Imperium, Peter Katzenstein (2005) oferece uma crítica às teorias regionalistas. De acordo com a abordagem institucionalista do autor, as regiões devem ser vistas para além do aspecto meramente geográfico. Para Katzenstein (2005), contudo, apenas uma potência realmente importa: os Estados Unidos, cujos poderes e preferências impactam o funcionamento de todas as regiões do globo. Segundo o autor, são os EUA que tornam o regionalismo uma característica central da política mundial e, ao mesmo tempo em que moldam regiões “porosas”, o “Império Americano” também é moldado por elas (KATZENSTEIN, 2005). Tal disposição também dialoga, de certa forma, com o realismo ofensivo de Mearsheimer (2001), que sugere uma tendência natural e inevitável entre grandes potências no sentido da dominação regional.
A segunda variante do novo regionalismo, por sua vez, possui uma abordagem propriamente securitária, que é a mais relevante para a presente análise, fundamentada em abordagens positivistas dominantes nas teorias de Relações Internacionais, como o neorrealismo e neoliberalismo. Tal vertente é representada principalmente pela Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS) desenvolvida por Barry Buzan e Ole Waever em sua obra Regions and Powers: The Structure of International Security (2003) . No entanto, outros autores 8
contribuíram para o desenvolvimento do novo regionalismo, como David Lake e Douglas Lemke. David Lake (1997) desenvolve toda sua argumentação em torno do conceito de
“externalidades securitárias”. Em oposição à Buzan e Waever, Lake (1997) considera aspectos geográficos, históricos e culturais desnecessários para a definição dos complexos regionais. Em compensação, o autor argumenta que “externalidades securitárias” – isto é, fluxos de ameaças ou amizades – são o que ligam verdadeiramente os Estados. Uma vez que uma externalidade securitária afeta mais de um Estado, tais Estados formam um complexo regional em torno desta externalidade, independente da proximidade geográfica. A formação de complexos regionais estaria dessa forma condicionada pela capacidade de alcance das externalidades e ameaças. O exemplo apresentado é o caso da Coreia do Norte e dos Estados Unidos que, apesar de distantes, estariam ligados à uma mesma externalidade (os mísseis balísticos norte-coreanos). Assim, Lake desconsidera regiões como um nível de análise, uma vez que as ameaças podem tomar proporções devidamente globais. A abrangência e a falta de delimitação precisa das regiões, o que implica na ausência de limites para o número de complexos regionais, estão entre as principais críticas à teoria de Lake.
Outro autor que contribuiu para o debate foi Douglas Lemke, ao desenvolver sua teoria em torno do conceito da transição de poder. Assim como no nível sistêmico de análise, Lemke (2002) argumenta que transições de poder ocorrem também no nível regional, como “sistemas internacionais paralelos menores”. Cada região possuiria hierarquias regionais que, conquanto não fossem interferidas por grandes potências exteriores, apresentariam as mesmas dinâmicas que no nível sistêmicos (LEMKE, 2002 apud KELLY, 2007). De acordo com o autor, tais hierarquias são formadas entre Estados geograficamente próximos que, devido a essa proximidade, criam ameaças em maior intensidade. No entanto, Lemke concorda com Lake no sentido de que regiões
8 Ainda que classificada dentro da vertente positivista-materialista, que desenha, essencialmente, a partir do neorrealismo, a obra de Buzan & Waever combina também perspectivas construtivistas, globalistas e regionalistas para compreender as dinâmicas securitárias regionais.
são formadas em torno de uma ameaça e de sua capacidade de projeção, considerando a geografia e a história elementos secundários dentro de sua teoria. Assim como Lake, Lemke (2002) argumenta a importância do alcance da projeção de forças, existindo um “gradiente de força” inversamente proporcional à distância geográfica. Estados privilegiariam, assim, interações militares no âmbito de sua vizinhança regional em oposição ao alcance e atuação globais argumentados por Lake.
Tanto Lake quanto Lemke contribuíram para o avanço do novo regionalismo que surgiu após o fim da Guerra Fria. Contudo, a principal e mais consistente contribuição dessa nova onda foi a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS) desenvolvida por Buzan e Waever que, ao apresentar uma abordagem fortemente geográfica e histórica, forneceu uma base estrutural para o estudo das regiões. 3.2 Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS)
Conforme a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança (TCRS), após o fim da Guerra Fria o sistema internacional tem passado por uma série de mudanças em que as regiões têm adquirido crescente relevância. De acordo com Buzan e Waever (2003), complexos regionais de segurança são, de forma ampla: “um conjunto de unidades cujos principais processos de securitização, dessecuritização, ou ambos são tão interligados que seus problemas de segurança não podem ser analisados ou resolvidos separados uns dos outros” (BUZAN & WAEVER, 2003, p. 44, tradução dos autores). Tais complexos de segurança são formados a partir de quatro características que condicionam suas dinâmicas: apresentam uma estrutura anárquica sob relações de balança de poder; são polarizadas; territorialmente delimitadas; e influenciadas por padrões duráveis de amizade e inimizade (BUZAN & WAEVER, 2003). À semelhança da concepção 9
neorrealista do sistema internacional, cada complexo regional de segurança seria uma “mini-anarquia” em que os Estados permanecem como atores principais em relações de competição na disputa pelo poder (KELLY, 2007). Dessa forma, a concentração de poder em torno dos Estados existentes condicionam a polaridade dentro do complexo regional de segurança e resultam em configurações próprias.
Uma característica central para a TCRS e que muitas teorias contemporâneas têm dado pouca atenção é a questão da territorialidade. A TCRS é estruturada em torno da visão de que a geografia e a proximidade geográfica entre os atores condicionam as relações dentro de um complexo regional de segurança e deste com os demais adjacentes (BUZAN & WAEVER, 2003). Padrões de amizade e inimizade são construídos ao longo do tempo entre Estados de uma mesma região, o que resulta em uma história comum e uma certa constante nas relações entre estes. Nesse sentido, o mundo poderia ser dividido em complexos regionais de segurança delimitados geograficamente e sem sobreposição, representando um nível intermediário de análise logo abaixo do nível sistêmico. Para Buzan e Waever (2003), o nível regional das relações internacionais permanece sendo o mais importante para os Estados enquanto atores individuais. Contudo, ambos autores consideram as relações existentes entre o nível regional e o sistêmico importantes para as dinâmicas de poder entre as grandes potências e os Estados menores.
9 De acordo com a teoria, padrões de amizade e inimizade são influenciados por fatores históricos, culturais, religiosos e geográficos duráveis, mas não permanentes, que condicionam a formação dos complexos regionais de segurança e as relações entre os Estados existentes em seu interior (BUZAN & WAEVER, 2003).
Outro ponto analisado pelos autores da TCRS e que influencia diretamente as relações internas e inter-regionais dos complexos de segurança é o espectro de Estados fracos e fortes relativo à segurança nacional. Longe de considerações sobre poder, são utilizados como critério deste espectro a coesão sociopolítica entre a sociedade civil e instituições governamentais (BUZAN & WAEVER, 2003). Estados mais próximos da classificação “forte” possuem maior grau de soberania, onde a maioria das ameaças provêm do exterior, enquanto que Estados mais próximos da classificação “fraco” tendem a apresentar uma vaga soberania e ameaças sobretudo internas, causadas por grupos que disputam o poder. Assim, Estados classificados como fracos são mais vulneráveis a ameaças externas e criam dinâmicas diferentes em CRS onde são maioria (KEELY, 2007).
Os Estados também são classificados quanto ao alcance da sua atuação no sistema internacional, estando as superpotências de um lado do espectro, com capacidades de atuar sobre todo o sistema, e as potências regionais do outro, cujo teatro de atuação é a região em que se encontram (BUZAN & WAEVER, 2003). Entre uma e outra classificação, estão as grandes potências, cujas capacidades são superiores às das potências regionais e inferiores às das superpotências, agindo e definindo a polaridade no nível sistêmico. É importante salientar que as superpotências e grande potências, devido ao seu amplo alcance militar, são “capazes de projetar força pelo globo e como resultado, elas podem intervir em qualquer complexo regional de segurança sempre que servir aos seus interesses” (BUZAN & WAEVER, 2003, p. 33, tradução dos autores). A classificação dos Estados, dessa forma, adquire importância ao analisar as relações de poder no interior do complexo regional e a relação deste com os complexos regionais adjacentes. 10
Figura 1: Padrões de segurança regional no pós-Guerra Fria
10 Há, ainda, outras duas categorizações na TCRS: insulators e buffers. O primeiro, insulators, diz respeito aos Estados que se localizam entre dois CRS, participando de ambas dinâmicas regionais, mas não possuem força o suficiente para unificá-los em um único. Já os Estados buffers são aqueles que se localizam no centro de um CRS altamente securitizado ou separando duas potências rivais (BUZAN & WAEVER, 2003). Na atual configuração do sistema internacional, não existem mais Estados buffers, diferentemente do período de Guerra Fria.
Fonte: BUZAN & WAEVER, 2003.
Dessa forma, a partir do número de grandes potências e da distribuição de poder no interior de um CRS, pode-se classificá-los em três categorias principais : centralizado, de grande 11
potência e padrão. O primeiro, o complexo regional de segurança centrado, ocorre quando há somente uma grande potência no CRS ou uma instituição capaz de agir coletivamente dentro do sistema global; o de grande potência, por sua vez, ocorre quando há mais de uma grande potência dentro do CRS; por fim, o padrão ocorre quando não há uma grande potência em nível global, ainda que possa haver uma potência regional (ACHARYA, 2007; BUZAN & WAEVER, 2003). Os principais exemplos de cada uma destas categorias são, respectivamente: América do Norte pós-URSS e UE-Europa como centrados; Leste Asiático como de grande potência; e América do Sul, Sul da Ásia, Oriente Médio, Chifre da África, África Ocidental, África Central e África Austral como CRS padrão.
Os complexos regionais de segurança, apesar de possuírem uma relativa autonomia e dinâmicas próprias, não estão isolados das dinâmicas sistêmicas entre as grandes potências. Assim sendo, os complexos regionais de segurança estabelecem relações com o nível sistêmico e são diretamente influenciados por ele. Buzan e Waever (2003) argumentam que uma das características dos CRS é que estes são abertos, o que torna possível a intervenção de grandes
11 Ressaltam-se também os chamados proto-complexos e supercomplexos. Os proto-complexos são aqueles em que há certa interdependência securitária para delimitá-lo como uma região, mas as dinâmicas regionais são tão fracas que não é possível caracterizá-lo como um CRS. Já os supercomplexos são aqueles em que as relações inter-regionais são tão fortes devido ao transbordamento dos interesses das grandes potências que o resultado é um novo CRS que os unifica. O exemplo contemporâneo é o supercomplexo asiático que unifica o CRS do Nordeste Asiático e o do Sul da Ásia (BUZAN & WAEVER, 2003).
potências na região. Tal conceito é denominado overlay e refere-se às situações em que os “interesses de grandes potências exteriores transcendem a mera penetração, e vêm a dominar uma região tão intensamente que as dinâmicas locais de interdependência securitária cessam virtualmente de operar” (BUZAN & WAEVER, 2003, p. 61, tradução nossa). O complexo regional passa assim a funcionar de acordo com os interesses da grande potência externa, sendo muitas vezes imposta através da força militar ou estacionamento de forças no território. Outro 12
caso de sobreposição ocorre quando um Estado local aceita subordinar-se em favor da grande potência exterior. O exemplo mais claro dessa situação é a Europa durante a Guerra Fria, quando as forças estacionadas de ambas superpotências sobrepujaram as dinâmicas regionais conforme seus interesses. 4. A Nova Estrutura do Sistema Internacional: impactos para a Agenda de Segurança Internacional
Após o fim da Guerra Fria e, consequentemente, da bipolaridade que imperou durante esse período, uma série de acadêmicos se questionaram sobre a nova estrutura do sistema internacional. Teorizações postulavam a unipolaridade dos Estados Unidos em meio aos fenômenos da globalização e internacionalização do mundo. Outros, no entanto, acreditavam que o sistema internacional se encaminhava para uma crescente importância das regiões na distribuição de poder sistêmico. O fenômeno de expansão conceitual da agenda de segurança internacional no século XXI está atrelado a dois componentes do contexto político internacional (CEPIK, 2011): (i) a distribuição assimétrica de poder, que será abordada primeiramente; e (ii) a intensificação dos processos de integração regional, que terá como recorte temático a América do Sul e seu complexo regional securitário, com foco para o papel brasileiro.
A ampliação da agenda de segurança também decorre de pressões estruturais associadas à quatro processos transitórios em andamento: a transição demográfica, a transição climática, a transição energética e a transição tecnológica. A transição demográfica é entendida por Cepik 13
(2013) como “o crescimento acelerado da população mundial e pela redução relativa da força de trabalho nos países desenvolvidos simultaneamente à grande concentração de jovens em determinados países periféricos”. A transição tecnológica, ou digitalização (MARTINS, 2008), por sua vez, altera de modo significativo os padrões produtivos e organizacionais, trazendo consigo transformações para o campo militar com a horizontalização relativa das capacidades bélicas (ÁVILA et. al., 2009; CEPIK, 2013; BIDDLE, 2004). As transições climática e energética, por fim, sofrem os impactos das duas variáveis anteriores, tornando “mais críticos os requerimentos logísticos de sustentação da grande estratégia de todos os estados” (CEPIK, 2013). 4.1 Polaridade e Distribuição de Poder
12 Outro caso de sobreposição ocorre quando um Estado local aceita subordinar-se em favor da grande potência exterior. O exemplo mais claro dessa situação é a Europa durante a Guerra Fria, quando as forças estacionadas de ambas superpotências sobrepujaram as dinâmicas regionais conforme seus interesses. 13 Palestra proferida por Marco Cepik no I Seminário de Estudos Estratégicos do Comando Militar do Sul / III Seminário de Estudos Estratégicos Internacionais / IV Seminário de Casas da União (III SEBREEI), realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 2016.
A polaridade do sistema afeta a estabilidade, a grande estratégia e a segurança internacional (BUZAN, 2012). De acordo com a teoria securitária de Buzan & Waever (2003; 2012), a distribuição de poder no pós-Guerra Fria compreenderia uma estrutura de “4+1”, com quatro grandes potências – China, Rússia, Japão e União Europeia – e uma superpotência, os Estados Unidos. A abordagem regionalista de Peter Katzenstein (2005), por outro lado, é ainda mais centrada no papel dos Estados Unidos, assim como Kelly (2007), porém Katzenstein ressalta a importância de dois “Estados centrais” (core states) que serviriam aos propósitos da potência hegemônica – Japão, na Ásia, e Alemanha, na Europa. A relevância de Japão e União Europeia como grandes potências no sistema internacional, contudo, sofreu considerável redução nas últimas décadas. O promissor papel do Japão na ordem internacional do século XXI foi muito explorado (KENNEDY, 1988), porém perpassado pela ascensão chinesa. Já a União Europeia tem em Berlim seu pilar de sustentação, porém carece de capacidades plenamente autônomas de defesa. A Alemanha, além do mais, já não atua tão somente como um vetor dos interesses norte-americanos na região. Ademais, com a dissipação do soft-power americano, crescem as dissonâncias entre os “Estados centrais” e a superpotência (ACHARYA, 2007).
Samuel Huntington (1999) também apontou a formação de um sistema exclusivamente centrado nos Estados Unidos como uma “superpotência solitária”, em uma estrutura híbrida uni-multipolar com outras grandes potências. Abaixo da superpotência estariam potências regionais como Alemanha e França na Europa, Rússia na Eurásia, China e Japão na Ásia Oriental, Índia na Ásia Meridional, Brasil na América Latina e Nigéria e África do Sul na África. Em um terceiro nível, por fim, estariam potências secundárias às potências regionais respectivas, como, por exemplo, o Reino Unido diante de Alemanha e França, o Paquistão diante da Índia, a Arábia Saudita frente ao Irã e a Argentina em relação ao Brasil. Análises mais recentes, no entanto, abordaram o desgaste dos Estados Unidos diante da crise financeira de 2008 (ARRIGHI, 2008), o declínio da ordem liberal construída sob a liderança norte-americana (ACHARYA, 2014) e a ascensão das chamadas potências emergentes (VISENTINI, 2013).
Para Mearsheimer (2001), a estrutura que sucede a bipolaridade da Guerra Fria é um sistema ainda anárquico, ou seja, ausente de um governo soberano ou universal, porém multipolar e desequilibrado. Dentro deste sistema, a abordagem que escolhemos para enquadrar os estudos de segurança internacional é a proposta por Cepik (2011; 2013): um sistema tripolar com grandes assimetrias de forças convencionais e nucleares a favor dos Estados Unidos em comparação com outras duas grandes potências, uma decadente porém assertivamente reemergente no espaço Eurasiático (Rússia), e outra ascendente (China). A tripolaridade assimétrica está fundamentada em três prerrogativas militares determinantes: as capacidades estratégicas de segundo ataque (dissuasão nuclear); o comando do espaço; e a inexpugnabilidade frente a ataques convencionais. Nesse sentido, somente Estados Unidos, Rússia e China mostram-se detentores dessas três capacidades, com uma grande assimetria em favor dos Estados Unidos, principalmente em termos de capacidades convencionais e de projeção de forças em praticamente qualquer teatro de operações (CEPIK, 2013; POSEN, 2003).
O fim do sistema unipolar centrado nos Estados Unidos e o advento de um sistema multipolar e desequilibrado fez com que diferentes pólos do sistema acendessem em termos de relevância estratégica, no que Amitav Acharya (2014, p. 79) chama de “mundos regionais” (Regional Worlds). Tal conceito surge paralelamente à literatura sobre “novo regionalismo” como uma metáfora que busca capturar os múltiplos e transversais condutores da ordem internacional no pós-Guerra Fria (ACHARYA, 2014). Dentro desse contexto, o mundo atual é
melhor descrito como um “mundo multiplex”, que incorpora a existência de “múltiplos atores culturalmente e politicamente diversos – porém economicamente interdependentes – que enfrentam novas ameaças complexas em meio a um cenário onde as instituições multilaterais são desafiadas por uma multidão confusa de instituições e redes grandes e pequenas, públicas e privadas” (ACHARYA, 2016). Nesse sistema, nenhuma potência é capaz de dominar os três indicadores de poder que Joseph Nye (2015, on-line) utiliza para defender a primazia norte-americana: econômico, militar e soft. O “mundo multiplex”, portanto, demanda maior atenção às ordens regionais. Nas palavras de Henry Kissinger,
[...] a busca contemporânea exige uma estratégia coerente para estabelecer um conceito de ordem mundial no interior de várias regiões, que precisam relacionar-se umas com as outras; [...] a busca por uma ordem mundial, ainda, deve ser acompanhada pelo reconhecimento da realidade dessas outras regiões e culturas por parte das potências tradicionais desenvolvidas, principalmente os Estados Unidos (KISSINGER, 2015, p. 373-375).
4.2 Regionalismo, Integração e Segurança: breve exame do complexo regional de segurança da América do Sul
A compreensão das dinâmicas regionais de segurança se vincula estreitamente à análise da distribuição de poder em termos globais. A partir da obra de Barry Buzan e Ole Waever, que se insere no contexto de segunda onda do regionalismo e define a Teoria dos Complexos Regionais de Segurança, temos uma contribuição significativa para a abordagem da segurança da América do Sul. Diferentes teóricos vêm analisando os padrões de segurança e de ameaças na região desde a virada do século, muitas vezes englobando também os países da América Central, dentro do espaço latino-americano.
David Mares (2001) utiliza a expressão paz violenta para definir o paradoxo securitário na região. Para o autor, não se deve falar em uma “longa paz”, ao contrário do que afirmam outros teóricos, mesmo que a definição de paz seja a ausência de guerra ou de uma confrontação militar séria (MARES, 2001). As externalidades de segurança que definem a região estão presentes nas três arenas principais de análise: doméstica, regional e internacional. As sociedades desiguais e hierarquizadas desses países representam o nível doméstico, onde levantes sociais em um país repercutem sobre os demais. No âmbito regional, existem os conflitos resultantes dos processos de independência e consolidação desses estados, principalmente na forma de fronteiras contestadas. Por fim, a nível internacional há a superpotência, EUA, que colocou a América Latina como um todo dentro de sua esfera exclusiva de influência.
Segundo a Teoria dos Complexos Regionais de Buzan e Waever (2003), a América Central estaria subordinada ao complexo norte-americano, sendo vital para os interesses dos Estados Unidos e sofrendo suas maiores intervenções. Já a América do Sul constituiria um CRS próprio do tipo padrão, apresentando dois subcomplexos: o Cone Sul e o Norte-Andino. O complexo securitário da América do Sul teria se formado a partir das dinâmicas iniciadas após as independências na região, em meio a diversas disputas territoriais, principalmente quanto a demarcações de fronteiras. Com o final da Guerra Fria, ocorre uma diminuição nas tensões entre Brasil e Argentina com relação a hegemonia regional e a instabilidade da região como um todo, além de um distanciamento relativo dos Estados Unidos. Essa relação passa a ser mais orientada pela dinâmica regional, e não pelos assuntos globais, e a potência passa a colocar uma grande
ênfase sobre a Guerra às Drogas, o que também entra em choque com as novas dinâmicas de segurança cooperativa dos países da região. Para Andrew Hurrell (2007), a projeção de poder dos EUA sobre a América do Sul vem reduzindo no pós-Guerra Fria como resultado do crescente enraizamento institucional na região.
Fuccille e Resende (2013) trouxeram uma perspectiva atualizada sobre o CRS sul-americano: para eles, este seria do tipo centrado, no qual a potência unipolar – o Brasil – não é uma potência global. A partir das mudanças ocorridas no sistema internacional, os autores defendem que o papel centralizador exercido pelo Brasil nos dois subcomplexos da região e a aparente concordância dos EUA caracterizariam a unipolaridade na região. A importância da América do Sul para o Brasil e o papel centralizador exercido pelo país podem ser observados no protagonismo brasileiro quando da criação do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), bem como nas disposições consonantes nos documentos oficiais que tratam da defesa do país, como o Livro Branco de Defesa Nacional e a Estratégia Nacional de Defesa:
A integração sul-americana permanece como objetivo estratégico da política externa brasileira, pois o País reconhece no adensamento das relações políticas, sociais e econômicas entre os países sul-americanos um elemento fundamental para o desenvolvimento socioeconômico e para a preservação da paz na região. Do mesmo modo, a consolidação de um mercado sul-americano e o fortalecimento da capacidade de atuação e negociação dos governos nos fóruns internacionais dependem da continuidade e do fortalecimento de relações amistosas entre os países da região (BRASIL, 2012, p. 34).
Conclui-se que os problemas de segurança na América do Sul são, de maneira geral, internos à própria região. A América do Sul constitui uma região de segurança, formando um complexo regional de segurança (CRS) como teorizado por Buzan e Waever, dada a intensidade e o padrão regional de interdependência nas relações entre os países, porém as possibilidades de unificar a região em torno de uma agenda de segurança comum são reduzidas, seja pela persistência de conflitos fronteiriços ou pela fragmentação das posições da região por atores não estatais (PAGLIARI, 2009). 5. Conclusão
Os Estudos de Segurança Internacional apresentaram notável evolução desde o epílogo da
Segunda Guerra Mundial. Durante a segunda metade do Século XX, mais especificamente entre 1945 e 1991, destacam-se três importantes inovações: a centralidade do elemento securitário nas análises acadêmicas, que passaram a incorporar também ameaças não-militares; o fator nuclear sobre os novos estudos de segurança internacional, inerente ao período de Guerra Fria; e o engajamento de civis nos assuntos de segurança, com a aproximação entre acadêmicos e militares. Estes processos sincrônicos culminaram em uma notável ampliação conceitual dos estudos securitários, cujo escopo analítico se tornou mais abrangente. Antes essencialmente estadocêntricos, os estudos passaram a incorporar também questões políticas, econômicas, ambientais e sociais ao nível militar-estratégico, expandindo o próprio conceito de segurança internacional.
O estudo do ordenamento regional, como foi visto, mostra-se vital para que possamos compreender as relações de segurança e o funcionamento do sistema internacional como um todo. As regiões, nesse sentido, estão crescentemente sendo vistas para além do aspecto
meramente geográfico, bem como produzem suas próprias ordens internas. Com o fim da Guerra Fria, abordagens regionalistas ganharam novo fôlego: o “novo regionalismo” formou parte de uma estrutura global transformadora, na qual uma variedade de atores não-estatais passaram a operar em vários níveis do sistema. As variáveis sobre globalização, internacionalização e interdependência econômica presentes no novo regionalismo podem enriquecer abordagens como a dos complexos regionais de segurança, que combina perspectivas neorrealistas, globalistas e regionalistas para fornecer uma estrutura teórica sobre as dinâmicas securitárias regionais no pós-Guerra Fria.
Utilizando a América do Sul como breve amostra empírica, destacamos análises que apontam para o crescente enraizamento institucional na região. A região sul-americana forma um complexo securitário que abrange dois subcomplexos, o Cone Sul e o Norte-Andino, e ainda que seja classificada como um CRS do tipo padrão, salientamos o papel central do Brasil na dinâmica regional. Contrária à tendência que afirma que os CRS tendem a formar comunidades securitárias, no entanto, ressaltamos que este ainda não é o caso da América do Sul, devido aos problemas internos da região.
Os estudos securitários após 1991 também foram estimulados por uma notável expansão da agenda de segurança, decorrente de pressões estruturais inerentes à ordem internacional transitória, quais sejam, a transição demográfica, a transição climática, a transição tecnológica e a transição energética. Paralelamente à variável regional, a ampliação da agenda securitária também está atrelada a outro componente do contexto político internacional: a distribuição de assimétrica de poder. Ao contrário do que anunciavam alguns dos principais teóricos do novo regionalismo, bem como formuladores do establishment norte-americano de política externa, a distribuição de poder vigente desde o fim do conflito bipolar não é exclusivamente centrada nos Estados Unidos. Concluímos, assim, que a tripolaridade assimétrica, fundamentada nas capacidades de segundo ataque, comando do espaço e inexpugnabilidade frente a ataques convencionais, é a mais adequada para descrever o sistema interestatal atual. Essa teoria prevê um sistema tripolar entre Estados Unidos, Rússia e China, no qual apenas os Estados Unidos figura como superpotência.
Os ESI, como foi visto ao longo do trabalho, possuem uma natureza essencialmente anglo-saxã, que se deu a partir da aproximação entre militares e civis nos países Ocidentais durante o pós-guerra. O resultado da pesquisa mostra-se satisfatório posto que a releitura dos estudos produzidos a partir dessa época, além de contribuir para o melhor entendimento sobre a área de segurança internacional, tem potencial para fomentar o surgimento de abordagens nacionais sobre o tema.
A fórmula Ocidental ensina que não há desenvolvimento sem investimento em pesquisa e em defesa, e esses dois pólos, a academia e as forças armadas, precisam estar interligados. O Brasil, portanto, deve seguir conjugando esforços que aliem a defesa, a diplomacia e a academia na promoção do debate sobre a Grande Estratégia do país para o Século XXI, visando garantir a soberania, a segurança e o desenvolvimento nacional e conceder maior autonomia de ação no sistema internacional. Referências ACHARYA, A. The Emerging Regional Architecture of World Politics. World Politics, 59, July, 2007.
______. The End of American World Order. Cambridge: Polity Press, 2014. ______. American Primacy in a Multiplex World. The National Interest, September 26, 2016. Disponível em: <http://nationalinterest.org/feature/american-primacy-multiplex-world-17841?page=2>. Acesso em: 19 de novembro de 2016. AYOOB, M. The Third World Security Predicament: State making, regional conflict, and the International System. Boulder: Lynne Rienner, 1995. BISWAS, S. “Nuclear Apartheid” as Political Position: race as a post-colonial resource? Alternatives, v. 26, n. 4, p. 485-522, 2001. ARRIGHI, G. Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI. São Paulo: Boitempo, 2008. AVILA, F. S.; CEPIK, M; MARTINS, J. M. Q. Armas Estratégicas e Distribuição de Capacidades no Sistema Internacional: o caso das armas de energia direta e a emergência de uma ordem multipolar. Contexto Internacional, v. 31, n. 01, p. 01-31, 2009. BALDWIN, D. A. Security Studies and the End of the Cold War. World Politics, v. 48, n.1, p. 117-41, 1995. BIDDLE, S. Military Power: explaining victory and defeat in modern battle. Princeton: Princeton University Press, 2004. BOOT, M. The New American Way of War. Foreign Affairs, v. 82, n. 4, p. 41-58, 2003. BOOTH, K. Security and Emancipation. Review of International Studies, v. 17, n. 4, 1991. BUZAN, B. People, State and Fear: an agenda for international security studies in the post-Cold War era. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2. ed. 1991. BUZAN, B.; HANSEN, L. A Evolução dos Estudos de Segurança Internacional. São Paulo: UNESP, 2012. BUZAN, B; WAEVER, O. Regions and Powers: the structure of international security. New York: Cambridge University Press, 2003. CARR, E. H. The Twenty Years’ Crisis: an introduction to the study of International Relations. New York: St Martin’s Press, 1939. CEPIK, M. Segurança na América do Sul: traços estruturais e dinâmica conjuntural. Análise de Conjuntura do Observatório Político Sul-Americano (OPSA), n. 9, p. 1-11, ago. 2005. ______. Segurança Internacional: práticas, tendências e conceitos. São Paulo: Hucitec, 2010. ______. A política da cooperação espacial chinesa: contexto estratégico e alcance regional. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 19, nº suplementar, p. 81-104, 2011. ______. Segurança Internacional: da ordem internacional aos desafios para a América do Sul e para a CELAC. In: ECHANDI, Isabel; SORIA, Adrán. (Org.). Desafíos estratégicos del regionalismo contemporáneo: CELAC e Iberoamérica. 1 ed. San Jose: FLACSO, 2013. CLAUSEWITZ, C. Da Guerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003. COHEN, E. A Revolution in Warfare. Foreign Affairs, v. 75, n. 2, p. 37-55, 1996. COX, R. W. Social Forces, States and World Orders: beyond International Relations theory. Millennium, v. 10, n. 2, p. 126–155, 1981. DE OLIVEIRA, A. B. O Fim da Guerra Fria e os Estudos de Segurança Internacional: o conceito de segurança humana. Aurora, ano 3, n. 5, p. 68-79, dez. 2009.
DUQUE, M. G. O Papel de Síntese da Escola de Copenhague nos Estudos de Segurança Internacional. Contexto Internacional, v. 31, n. 3, p. 459-501, dez. 2009. FAWCETT, L.; HURRELL, A. Regionalism in World Politics. Michigan: Clarendon Press, 1995. FREEDMAN, L. International Security: changing targets. Foreign Policy, n. 10, Special Edition, p. 48-63, Spring 1998a. FREEDMAN, L. The Revolution in Strategic Affairs. Adelphi Series 318. Londres: IISS, 1998b. FUCCILE, A.; REZENDE, L. P. Relendo o Complexo Regional de Segurança na América do Sul. I Semana de Pós-Graduação em Ciência Política, Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, 2013. HAAS, E. The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957. Stanford: Stanford University Press, 1958. ______. Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization. Stanford: Stanford University Press, 1964. BULL, H. The Anarchical Society. 2 ed. Basingstoke: Macmillan, 1999. HETTNE, B.; INOTAI, A. The New Regionalism: implications for global development and international security. World Institute for Development Economics Research (WIDER), The United Nations University, 1994. HETTNE, B. Globalization and the New Regionalism: the second great transformation. In: ______. The New Regionalism and the Future of Security and Development. London: Palgrave Macmillan, 2000. HETTNE, B. Beyond the ‘New’ Regionalism. New Political Economy, v. 10, n. 4, December 2005. HUNTINGTON, S. Why International Primacy Matters. International Security, v. 17, n. 4, p. 68-83, 1993. HUNTINGTON, S. The Lonely Superpower. Foreign Affairs, v. 78, n. 2, March/April 1999. HURRELL, A. The Regional Dimension in International Relations Theory. In: FARRELL et. al. Global Politics of Regionalism: Theory and Practice. London: Pluto Press, 2005. KATZENSTEIN, P. The Culture of National Security: norms and identity in world politics. Nova York: Columbia Univeristy Press, 1996. KATZENSTEIN, P. A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium. Ithaca: Cornell University Press, 2005. KELLY, R. Security Theory in the “New Regionalism”. International Studies Review, v. 9, p. 197-229, 2007. KENNEDY, P. The Rise and Fall of the Great Powers: economic change and military conflict from 1500 to 2000. London: Unwin Hyman, 1988. KRAUSE, K. Insecurity and State Formation in the Global Military Order: the Middle Eastern case. European Journal of International Relations, v. 2, n. 3, p. 319-54, 1996. LAKE, D. Regional Security Complexes: a systems approach. In: LAKE, D.; MORGAN, P. (Orgs). Regional Orders: building security in a New World. University Park: Pennsylvania State University Press, 1997.
LAKE, D.; MORGAN, P. (Orgs.). Regional Orders: building security in a New World. University Park: Pennsylvania State University Press, 1997. LASSWELL, H. D. Politics: who gets what, when and how. New York: McGraw-Hill, 1936. LEMKE, D. Regions of War and Peace. New York: Cambridge University Press, 2002. LEVINE, R. Deterrence and the ABM: retreading the old calculus. World Policy Journal, v. 18, n. 3, p. 23-31, 2001. MARES, D. R. Violent Peace: militarized interstate bargaining in Latin America. New York, Columbia University Press, 2001. MARES, D. R.; KACOWICZ, A. M. (Orgs). Routledge Handbook of Latin America Security. New York: Routledge, 2016. MARTINS, J. M. Q. Digitalização e Guerra Local como Fatores do Equilíbrio Internacional. Tese de Doutorado, PPG de Ciência Política, Porto Alegre: UFRGS, 2008. MEARSHEIMER, J. The Tragedy of Great Power Politics. Chicago: University of Chicago, 2001. MILLER, L. Prospects for Order through Regional Security. In: FALK, R.; MENDLOVITZ, S. Regional Politics and World Order. San Francisco: W.H. Freeman, 1973. MORGENTHAU, H. Politics Among Nations: the struggle for power and peace. New York: A.A. Knopf, 1st edn., 1948. NYE, J. S. International Regionalism: readings. Boston: Little, Brown, 1968. NYE, J. S. American Hegemony or American Primacy? Project Syndicate, May 9, 2015. Disponível em: <https://www.project-syndicate.org/commentary/american-hegemony-military-superiority-by-joseph-s--nye-2015-03?barrier=accessreg>. Acesso em: 19 de novembro de 2016. PAGLIARI, G. O Brasil e a Segurança na América do Sul. Curitiba: Juruá, 2009. PAYNE, K. The Case for National Missile Defense. Orbis, v. 44, n. 2, p. 187-96, 2000. POSEN, B. Command of the Commons. International Security, v. 28, n. 1, pp. 5-46, 2003. PROENÇA, D. P.; DUARTE, E. E. Os Estudos Estratégicos como Base Reflexiva da Defesa Nacional. Revista Brasileira de Política Internacional, ano 50, n. 1, pp. 29-46, 2007. RUSSETT, B. International Regions and the International System: a study in political ecology. Chicago: Rand McNally, 1967. SÖDERBAUM, F.; SHAW, T. Theories of New Regionalism. London: Palgrave Macmillan, 2003. TANNO, G. A Contribuição da Escola de Copenhague aos Estudos de Segurança Internacional. Contexto Internacional, v. 25, n. 1, p. 47-80, 2003. THOMPSON, W. The Regional Subsystem: a conceptual explication and propositional inventory. International Studies Quarterly, v. 17, n.1, p. 89-117, 1973. VÄYRYNEN, R. Collective Violence in a Discontinuous World: regional realities and global fallacies. International Social Science Journal, v. 38, n. 4, p. 513-528, 1986. VISENTINI, P. (Org.). BRICS: as potências emergentes. Petrópolis: Vozes, 2013. WEAVER, O. et.al. Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe. Londres: Pinter, 1993.
WEAVER, O. Securitization and Desecuritization. In: LIPSCHUTZ, R. D. On Security. New York: Columbia University Press, 1995. WALTZ, K. N. Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill, 1979. WALTZ, K. N. The Emerging Structure of International Politics. International Security, v.18, n.2, p.44-79, 1973. WENDT, A. Teoria Social da Política Internacional. Rio de Janeiro: Apicuri, 2014. WILLIAMS, Paul. Security Studies. New York: Routledge, 2008. WOHLFORT, W. C. The Stability of a Unipolar World. International Security, v. 24, n. 1, p. 5-41, 1999.