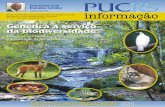ORIGENS DO ENSINO - pucrs.br · Nada mais natural que, no ano do cinqüentenário da Pontifícia...
Transcript of ORIGENS DO ENSINO - pucrs.br · Nada mais natural que, no ano do cinqüentenário da Pontifícia...
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Chanceler:
Dom Altamiro Rossato
Reitor:
Ir. Norberto Francisco Rauch
Conselho Editorial:
Antoninho Muza Naime
Antonio Mario Pascual Bianchi
Délcia Enricone
Jayme Paviani
Luiz Antônio de Assis Brasil
Regina Zilberman
Telmo Berthold
Urbano Zilles (presidente)
Vera Lúcia Strube de Lima
Diretor da EDIPUCRS:
Antoninho Muza Naime
Margaret Marchiori Bakos leda Bandeira Castro
Letícia de Andrade Pires (organizadoras)
ORIGENS DO ENSINO
Porto Alegre, 2000
© EDIPUCRS 1ª edição: 2000
Capa: Carolina W. Campos e Samir Machado de Machado
Preparação de originais: Eurico Saldanha de Lemos
Revisão: das organizadoras
Diagramação da versão digital: Laura Guerra
Editoração e composição: Suliani Editografia
Impressão e acabamento: Gráfica EPECÊ
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
O69 Origens do ensino / Organizado por Margaret Marchiori Bakos, leda
Bandeira Castro e Letícia de Andrade Pires. – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. 225 p.
ISBN: 85-7430-166-3
Palestras proferidas na IV Jornada de Estudos do Oriente Antigo –
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
1. Ensino na Antiguidade 2. Ciências (Oriente Antigo) – Ensino 3. Sociologia do Conhecimento I. Bakos, Margaret Marchiori II. Castro, leda Bandeira III. Pires, Letícia de Andrade
CDD 370.901
Ficha Catalográfica elaborada pelo
Setor de Processamento Técnico da BC-PUCRS
Proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem autorização expressa da Editora.
EDIPUCRS
Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 33 Caixa Postal 1429
90619-900 – Porto Alegre – RS Brasil
Fone/fax: (51) 320.3523 http://ultra.pucrs.br/edipucrs/ E-mail: [email protected]
SUMÁRIO
Apresentação ................................................................................................... 7 Elvo Clemente
Introdução ...................................................................................................... 11
Margaret Marchiori Bakos
O nascimento da Saúde Pública ..................................................................... 15
Moacyr Scliar
História e História Pessoal: o significado [para nós] do ensino da filosofia na Grécia Antiga ........................................................... 20
Sérgio Sardi
A pedagogia de Deus ..................................................................................... 49
Geraldo Luiz Borges Hackmann
Terra e Espaço:um aprendizado de Astronomia .............................................. 64
Geraldo Rodolfo Hoffmann
O conhecimento geográfico: práticas e teorias .............................................. 106
Ieda Bandeira Castro
Algumas contribuições da Arqueologia para o conhecimento da instrução no Mundo Romano .......................................... 136
Pedro Paulo Funari
A formação do escriba no antigo Egito .......................................................... 148
Margaret Marchiori Bakos
Ensino, escrita e burocracia na Suméria ....................................................... 172
Katia Maria Paim Pozzer
Fazendo educação com uma (re)leitura da Alquimia ..................................... 188
Attico Chassot
A formação do jovem no Mundo Grego ......................................................... 201
Harry Bellomo
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? Algumas considerações ........................................... 208
André Soares
Autores ......................................................................................................... 236
Apresentação: os estudos na antigüidade 7
APRESENTAÇÃO
OS ESTUDOS NA ANTIGÜIDADE
ELVO CLEMENTE*
Na abertura dos trabalhos da IV Jornada de Estudos do Oriente Antigo,
dedicada às origens do ensino na antigüidade, tenho a satisfação de tecer
algumas considerações quanto à equipe organizadora na pessoa da Profª Dra.
Margaret Marchiori Bakos e quanto ao tema escolhido.
A equipe vem enfrentando com denodo e abertura de horizontes os
grandes desafios; selecionar a temática base e fundamento das ciências e
das culturas que vêm atravessando os séculos, as regiões, os continentes e
os oceanos.
Como eram feitos os estudos na antigüidade? Eis a pergunta que
guarda em seu bojo muita curiosidade e muitas respostas. O fato é que desde
que o ser humano se colocou em pé começou a transmissão de conhecimentos.
O que uma geração aprendia transmitia às outras. Pois afirma o Vate da Língua
Portuguesa: “O SABER de experiência feito”. Quem diz experiência diz
transmissão de idéias, de usos, de conquistas às gerações subseqüentes. Era a
comunicação oral, era a observação do que o outro ia fazendo e assim iam
crescendo as ciências e as técnicas.
Não vou mergulhar na noite dos tempos em que encontramos o Oriente
sempre desperto aos primeiros clarões do alvorecer quer no início da jornada,
quer no madrugar do ensino.
* Ex-Presidente da Comissão Organizadora do Cinqüentenário da PUCRS.
Origens do Ensino 8
Giorgio Colli no opúsculo sob o título O nascimento da filosofia,
traduzido por Federico Carotti e publicado pela UNICAMP, defende a tese de
que a filosofia nasceu da poesia.
Apresenta as lides e as lutas das divindades e dos mitos Apolo
versus Dionísio, as figuras de Artêmis e de Ariadne tudo envolto em
símbolos, em metáforas a fim de descobrir o verdadeiro caminho para Teseu
no Labirinto. Tudo isso serve para sentir e para perceber como não foi fácil e
ainda, hoje. Não é fácil vencer o dédalo das ciências. Toda a transmissão
era oral, a escrita foi inventada pelo deus egípcio Thot que a entregou ao
faraó para passá-la aos homens.
Platão, no Fedro, comenta o mito, acusando de ingenuidade quem
pensar transmitir por escrito em conhecimento e uma arte, quase como se os
caracteres da escrita tivessem a capacidade de produzir algo sólido.
Transcrevendo uma citação de Homero feita por Platão: “Toda a pessoa séria
evita escrever as coisas sérias para não expô-las à malevolência e à
incompreensão dos homens” (p. 94).
Os intérpretes modernos não levaram e não levam a sério a
sentença de Platão. Como é difícil a hermenêutica a verdadeira e fiel
penetração dos textos! ...
Giorgio Colli afirma: “Platão é dominado pelo demônio literário, ligado ao filão da retórica, e por uma disposição artística que se sobrepõe ao ideal do sábio. Ele critica a escrita, critica a arte, mas seu instinto mais forte foi o do literato, do dramaturgo. A tradição dialética lhe oferece simplesmente o material a plasmar. E tampouco devemos esquecer suas ambições políticas, coisa que os sábios não conheceram. Da mistura desses dons e instintos surge a nova criatura, a filosofia” (p. 96).
Na mesma Atenas de Platão estava o concorrente e adversário de
notável envergadura, Isócrates. Ambos dão o mesmo nome ao que oferecem –
FILOSOFIA, ambos afirmam visar a um idêntico fim, a PAIDÉIA, ou seja a
educação, a formação intelectual e moral dos jovens atenienses.
Apresentação: os estudos na antigüidade 9
Conclui Colli: “Assim nasce a filosofia, criatura demasiado compósita e mediada para encerrar em si novas possibilidades de vida ascendente. Apagou-as a escrita, essencial para este nascimento.”
Depois veio o Estagirita, Aristóteles, que ensinava aos discípulos no
vaivém nos jardins do Acadmo. Vieram tantos outros filósofos e sofistas que
aprenderam, que ensinaram a tantos discípulos Os caminhos do saber, das
ciências e das artes em todos os povos da Antigüidade, sobressaindo a
Hélade nessa concentração de saber e de conhecimentos para levá-los em
fachos luminosos no suporte sonoro dos dialetos helênicos a outros povos, a
outras geografias.
Na distância de oito séculos, na era cristã surgiu Agostinho, (nascido
em Tagaste, 354 – falecido em Hipona, 430) continuador de Platão, nas
principais teses da Filosofia. É do consenso geral de historiadores e filósofos
que o bispo de Hipona foi a maior e mais brilhante inteligência que nasceu
no Ocidente.
Vale a pena ver como foi a sua educação, como escreve Marcos
Roberto Nunes Costa:
“Em Tagaste recebeu os primeiros ensinamentos de gramática, aritmética, latim e um pouco de grego que nunca chegou a dominar.” O autor cita texto das Confissões I, 14: “Aprendi sem a pressão correcional dos investigadores,
impelido só pelo meu coração desejoso de dar a luz os meus sentimentos. Disso ressalta com evidência que para aprender, é mais eficaz uma curiosidade espontânea do que um constrangimento ameaçador.”
Giovanni Papini acredita que Agostinho se encantou com a
FILOSOFIA já nos primeiros anos de estudos em Madaura sob a influência
das obras de Lúcio Apuleio. Em contato com os autores latinos como
Virgílio, Cícero e outros foi-se estruturando a grande bagagem filosófico-
literária de quem viria a ser o grande bispo de África, luz para os cristãos e
força impávida contra Maniqueu e Pelágio.
Origens do Ensino 10
Vencendo os percalços, dominando as paixões, abraçando o ideal
de Jesus Cristo que sua mãe Mônica lhe indicava, Agostinho tornou-se o
grande intérprete da filosofia de Platão e Plotino que se conservam vivas ate
nossos dias graças aos estudos sérios feitos e transmitidos aos discípulos
atentos e fiéis.
Os estudos na antigüidade tinham seus métodos e seus conteúdos para
formar as pessoas das sociedades daquelas eras.
A Grécia teve a grande expressão cultural e científica daqueles séculos
por sua posição geopolítica, por seus homens de estudos e de investigações
filosófico-pedagógicas. A expansão do mundo grego com Alexandre da
Macedônia, com a adoção da koiné grega nos países civilizados tudo isso
facilitou que os pedagogos gregos, prisioneiros dos romanos se dedicassem a
educar os nobres do Lácio e dos outros pontos importantes do Império Romano.
A própria língua latina sofreu a helenização pela qual tornou-se língua adaptada
à poesia, à filosofia e às belas artes.
Vale a pena mergulhar nos segredos e labirintos da antigüidade com o
fio de Ariadne da Verdade e do verdadeiro Amor.
Referências bibliográficas
COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. Campinas. SP: Ed. UNICAMP, 1988.
COSTA, Marcos Roberto Nunes. Santo Agostinho. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.
Introdução 11
INTRODUÇÃO
MARGARET MARCHIORI BAKOS
Nada mais natural que, no ano do cinqüentenário da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a Jornada de Estudos do Oriente
Antigo, em sua quarta edição, escolhesse como temática As origens do ensino.
Este volume contém as palestras que foram proferidas naquela ocasião.
A exemplo das anteriores, a organização da IV Jornada não levou ao pé
da letra o título oriente antigo. Ela buscou trazer a discussão enfoques e
preocupações universais, que ultrapassam as balizas cronológicas tradicionais
para a antigüidade e que consideram o oriente como um conceito referencial,
apenas. De fato, a partir da proposta restrita das duas primeiras jornadas: o
estudo do Egito na antigüidade, esses encontros buscaram enfoques mais
abrangentes. Ao sinalizar tais modificações, o objetivo era valorizar,
principalmente junto ao público jovem, a historicidade das vivências humanas.
Em outras palavras, colocar em discussão a possibilidade de conhecer e de
entender o oriente não mais pelo seu lado exótico, hilariante, peculiar, mas pelo
seu modo de viver organizado em coletividade e pelos seus princípios. Alguns
deles, por exemplo, estão nas origens de nossas práticas na atualidade, como é
o caso da escrita.
A III Jornada anterior estudou como o homem buscou reter e registrar a
palavra que é, por essência, fugaz. Investigou a história da escrita, que remonta
à Suméria e nos chegou pelos fenícios, gregos e latinos. Inventada, em tempos
imemoriais, a escrita veio para ficar. O registro escrito é dos melhores exemplos
da necessidade do amadurecimento lento de problemática, em diferentes locais
deste planeta, até a criação de sua solução, que nesse caso foi de uma
Origens do Ensino 12
magnitude excepcional. Dos registros manuais em tabuinhas de barro ao papel,
digitado pelos computadores, a escrita orgulha os seus copistas, dá aos
humanos a sensação “mágica” de imortalizar pelo registro, alguém, alguma
coisa e/ou principalmente, sentimentos.
Na IV Jornada, a preocupação girou em torno das Origens do
ensino, quando profissionais de diferentes áreas apresentaram suas
reflexões sobre a temática.
Ilustrando a exposição com diapositivos, Moacyr Scliar encantou a
audiência com sua reflexão, aqui sintetizada, sobre as origens do ensino da
medicina. Ele mostrou como o temor a doença e o desejo de evitá-la é algo
profundamente arraigado no ser humano, capaz de gerar e de evocar fantasias
que persistem ao longo do tempo, coexistindo numa mesma época, numa
mesma sociedade e, às vezes, numa mesma pessoa.
Sérgio Sardi convidou-nos a refletir sobre o sentido que o filosofar pode
ter no processo de criação e de desenvolvimento da nossa visão-de-mundo, na
instauração de uma significação mais profunda às nossas existências.
Geraldo Luiz B. Hackmann analisou a maneira como Deus se relaciona
com o seu povo, ou seja, a pedagogia ou o modo utilizado por Ele para revelar-
se. O estudioso partiu da etimologia do termo pedagogia, para, após,
caracterizar as maneiras diversas como Deus foi-se comunicando com os
homens, ao longo da história.
Geraldo Hoffmann, reforçando o pensamento de que a história da
humanidade apenas arbitrariamente pode ser balizada por épocas e espaços,
demonstrou que as orientações são relativas e sempre referidas a um
determinado local ou indivíduo, o qual também designamos “observador”.
Ieda Bandeira Castro ensinou que a Geografia, apesar de ser uma
ciência relativamente nova, se comparada com outros ramos do conhecimento
humano, sua prática já aparece na pré-história, quando os grupos começaram a
Introdução 13
migrar para diferentes regiões, deixando marcas de sua presença e assimilando
novos traços culturais.
Pedro Paulo Funari, através de fontes pouco conhecidas neste País,
mostrou que havia diversos níveis e gradações de instrução na Roma antiga e
que a educação não se restringia à elite. O aprendizado dos humiles
diferenciava-se da erudição escolar, mas não deixava de permitir que, por meio
também da escrita, esses populares pudessem participar ativamente da vida
social, toda ela dependente das letras.
Margaret Marchiori Bakos ao historiar as origens do ensino no antigo
Egito, valorizou a severidade da rotina dos estudos daqueles que procuravam a
formação de escribas, tão rígida que sequer lhes permitia folgar nos dias
festivos. Nesse contexto, os estudantes eram obrigados a copiar longos textos,
alguns ainda atuais pelos conselhos e advertências que continham.
Katia Paim Pozzer privilegiou as questões da escrita e da burocracia ao
refletir sobre as origens do ensino na Suméria. Ela explicou que podemos
reconstituir uma certa orientação pedagógica nas escolas. A educação não era
nem universal, nem obrigatória, e, tal como hoje, os antigos professores
dependiam de seus salários para viver.
Attico Chassot refletiu sobre as exigências aos professores, nestes
novos tempos, em que devem deixar de ser informadores para se tornarem
formadores, o que implica uma preocupação com um ensino que se enraíza na
história da construção do conhecimento. Nesse sentido, avaliou a importância
de conhecermos a história da alquimia e, principalmente, a do seu apagamento,
pois a química do final do século XX não parece muito diferente, em seus
objetivos maiores e mais imediatos, que daqueles medievos.
Harry Bellomo falou sobre a educação do jovem no mundo grego.
Explicou que a educação em Atenas partiu de três pontos básicos: artes para
desenvolver a sensibilidade e a imaginação, ginástica para conseguir um corpo
perfeito e filosofia para interpretar o mundo e organizar o pensamento. Este
Origens do Ensino 14
modelo era exclusivo dos rapazes das classes superiores, abrangendo todas as
áreas da personalidade humana.
Pode parecer estranho para muitos que em uma Jornada sobre história
antiga tenha sido dado espaço para uma reflexão sobre os Índios americanos.
Entretanto, ela se impõe ao sublinhar o caráter arbitrário das periodizações
universais e suscitar um debate sobre o significado de antigüidade para este
continente. André Soares refletiu sobre a educação indígena, seus objetivos e
como ela se constrói, através do olhar do ocidental, desde o século XVI até os
dias de hoje. Ele questionou a função da educação para os habitantes pré-
cabralinos e como a cultura se perpetua em um grupo específico, os Guarani.
Procurou demonstrar que a educação posta à disposição dos Índios deveria ter
a seguinte proposta: não educar os Índios mas educar para os índios.
Além do fio temático que une as apresentações deste volume: as
origens do ensino, está o interesse de lembrar como é importante o
conhecimento do outro e de suas histórias, para repensarmos preconceitos e
resgatarmos afetos. Mostra ainda que as balizas tradicionais de tempo e de
espaço podem ser utilizadas como referenciais para apontar diferenças de um
grupo humano para outro, mas que a forma como os seres humanos viveram e
vivem tem elos comuns atemporais. Ao refletir sobre a história do ensino,
podemos concluir que, se por um lado somos eternos aprendizes, de outro, as
pedagogias mantêm raízes longínquas e alguns conhecimentos esquecidos,
merecem ser revalorizados.
Entre as muitas pessoas que colaboraram na organização desta IV
Jornada, destaco Claudia Musa Fay (PUCRS) e Katia Pozzer (ULBRA). Graças
a elas, aos conferencistas que nos cederam seus textos e ao estímulo da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na pessoa de seu Pró-
Reitor de Pós-Graduação, Prof. Dr. Monsenhor Urbano Zilles, foi possível a
publicação deste volume.
O nascimento da saúde pública 15
O NASCIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA
MOACYR SCLIAR
Saúde pública pode ser concebida como a prevenção e o controle das
enfermidades que afetam o corpo social. E, assim como o conceito de corpo
social tem variado ao longo do tempo, também a saúde pública evoluiu de
acordo com múltiplas variáveis, sociais, econômicas, culturais, que determinam
a organização de uma sociedade. Podemos falar dos vários paradigmas de
saúde pública, semelhante aos paradigmas que Kuhn1 descreveu para a ciência
em geral. Tais paradigmas sintetizaram a forma de olhar o corpo social: a visão
de saúde pública, que apresenta dois característicos principais; evolutiva e
“telescopada”. Isto é, o surgimento de uma nova concepção do fenômeno
saúde-enfermidade não implica necessariamente o desaparecimento de
concepções anteriores. O temor à doença e o desejo de evitá-la é algo
profundamente arraigado no ser humano, gerando idéias e evocando fantasias
que persistem ao longo do tempo, coexistindo numa mesma época, numa
mesma sociedade e às vezes numa mesma pessoa.
Para Michel Foucault2, a história do pensamento médico se estrutura
em discursos, separados por bruscos cortes epistemológicos estreitamente
vinculados a realidade socioeconômica. Quais são estes paradigmas, estes
discursos, estas formas de olhar o corpo social?
No pensamento científico, de forma geral, existem, segundo Gaston
Bachelard3 três períodos: pré-científico, compreendendo a antigüidade clássica
e o Renascimento, chegando ao século XVIII; científico, dos fins do século XVIII
1 KUHN, T.S. A estrutura das revoluções científicas . 3. Ed. São Paulo: Perspectiva, 1978.
2 FOUCAULT, M. The birth of the clinic. New York: Parthenon, 1973.
3 BACHELARD, G. O novo espírito científico. Rio de Janeiro: Tempo Brasiliense, 1968.
Origens do Ensino 16
até começo do século XX; e o novo espírito científico, que se inicia com a
relatividade. Para uma história de saúde pública, estas fases têm de ser
desdobradas, de acordo com os “olhares” lançados sobre o corpo social: 1)
mágico; 2) empírico; 3) autoridade; 4) científico; 5) social.
O período pré-científico empreende duas fases: uma fase mágica, em que
as doenças são atribuídas a demônios, e a cura vêm da divindade: o intermediário
entre o doente e as formas do bem e do mal é o feiticeiro, o “Shaman”.
Na fase pré-científica, propriamente dita, da antigüidade clássica a
crença nos poderes curativos da divindade persiste, mas já na época grega
aparece uma fissura no pensamento mágico.
Os gregos cultuavam, além da divindade da medicina, Asclepius, duas
outras deusas – Hygieia (saúde) e Panacea (cura). Hygieia era uma das
manifestações de Athena, a deusa da razão; simbolizava o princípio de que a
manutenção da saúde depende de medidas racionais. Panacea representa a
crença de que modo pode ser curado – mas esta cura, para os gregos, era
obtida pelo uso de plantas e outros recursos naturais, e não apenas por
procedimentos ritualísticos.
Ao reafirmar estes princípios em suas obras, Hipócrates foi mais
longe no combate as idéias místicas da ciência. A respeito da epilepsia,
conhecida a época por “doença sagrada”, escreveu: “Se os aspectos
peculiares de uma doença fossem evidência de presença divina, haveriam
muitas doenças sagradas”.
Na visão grega do fenômeno-enfermidades, mesclavam-se, pois,
elementos mágicos e elementos empíricos. Não havia um método científico; o
apoio tecnológico era praticamente nulo. É um fenômeno característico das
sociedades escravistas: a tecnologia não se desenvolve, porque a
industrialização não o exige; e a industrialização não se desenvolve porque a
utilização da mão-de-obra escrava a torna dispensável. Os gregos já conheciam
O nascimento da saúde pública 17
uma forma rudimentar de máquina a vapor, mas esta era utilizada como
brinquedo para crianças.
O escravagismo é um obstáculo à constituição de um corpo social, e
portanto às medidas de saúde. Os magníficos sistemas de abastecimento de
água e esgoto de Roma destinavam-se não a toda a população, mas a uma
reduzida parte dela.
A Idade Média, uma era de pestilências, não trouxe contribuições
apreciáveis para o desenvolvimento da saúde pública. Nesta fase surgiram os
primeiros hospitais, mas esses eram estabelecimentos destinados sobretudo a
caridade e não a cura dos doentes. Também nesta época a farmácia ganhou
impulso, mas graças, sobretudo, a contribuição árabe no uso de plantas e
drogas. As universidades, criadas no fim da Idade Media, pouco tinham, pois, a
ensinar, mas contribuíram para a institucionalização das profissões de saúde.
Com a Revolução Mercantil tem início a Idade Moderna, caracterizada
pelo incremento do comércio e pela urbanização. O surgimento das cidades
gerou problemas de saúde pública, sobretudo em termos de doenças
transmissíveis. A primeira aproximação para o controle de tais doenças foi
autoritária de acordo, aliás, com os princípios do Estado Absolutista. O conceito
de política sanitária foi formulado em 1779 por Johan Peter Frank. Tinha caráter
autoritário e paternalista; quando aplicado em problemas específicos,
preocupava-se com as leis que tinham de ser aprovadas e com detalhes do que
deveria ser feito; tudo baseado em informações empíricas, pois embora o
microscópio existisse desde o século XVII, não havia ainda conhecimentos
suficientes sobre a gênese das doenças, especialmente as transmissíveis. O
que não impediu, diga-se de passagem, que em 1854 John Snow fizesse a
primeira investigação epidemiológica em bases científicas, utilizando dados
referentes à um surto de cólera. A fase científica da saúde pública encontrou
um substrato tecnológico na Revolução Industrial. Graças aos novos recursos
de laboratório nasce, com Pasteur e Hoch, a microbiologia. Pasteur era, aliás,
Origens do Ensino 18
um cientista muito ligado a indústria; suas pesquisas sobre fermentação, por
exemplo, foram feitas a pedido de fabricantes de vinho.
Da mesma forma, os governantes passaram a exigir, das profissões da
saúde, respostas para os grandes problemas surgidos com a industrialização e
urbanização, principalmente ao que se refere à mão-de-obra rígida. A medicina
vincula-se ao processo de produção. O hospital, que até então fora um depósito
de doentes, administrados em moldes caritativos passa a ser visto como
instituição recuperadora de saúde; ao contrário, os loucos, que durante a Idade
Média eram tolerados, têm agora de ser confinados por estarem alienados do
processo de produção. O ensino médico passou a ser regulamentado.
A centralização do poder, à medida que se foram estruturando as
nações modernas, permitiu que a saúde pública fosse se definindo. Importante
para isto foi a adoção de medidas legais de proteção à saúde, sendo de
destacar nesse campo o trabalho pioneiro do advogado inglês Edwin Chadwick,
que em 1842 apresentou um relato intitulado “Condições Sanitárias da
População Obreira da Grã-Bretanha”. A publicação desse relato estimulou o
Parlamento inglês a formular a Lei de Saúde Pública, de 1848.
Em 1883 foi introduzido, na Alemanha, por Bismarck, o seguro doença
obrigatório, como nota Sigerist,4 isso ocorreu contra a vontade dos médicos e
mesmo das classes dominantes: Bismarck porém teve suficiente visão para
verificar que a própria estabilidade da sociedade dependia desta medida.
Recentemente, um outro fator veio tornar mais necessário o controle
social sobre a área de saúde e assistência médica: trata-se da escalada dos
cursos, que nos EUA e na Europa Ocidental, sobem a um ritmo superior ao da
inflação. É uma decorrência do que tem sido chamado “Complexo médico-
industrial”; a associação entre a assistência médica e o interesse de poderosas
indústrias, entre elas a de medicamentos e de equipamentos.
4 SIGERIST, H. E. Civilization and disease. Chicago: The University of Chicago Press, 1943.
O nascimento da saúde pública 19
As sucessivas etapas acima descritas correspondem à evolução
clássica num país desenvolvido, segundo o modelo capitalista. Nada impede
que uma, ou várias dessas etapas possam ser “queimadas”. De outra parte, a
visão da sociedade sobre seu próprio corpo social é, como foi dito, uma visão
“telescopada”. Alguns setores podem ter uma visão social dos assuntos de
saúde, enquanto outros continuam vendo o processo saúde-enfermidade por
uma perspectiva mágica.
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 20
HISTÓRIA E HISTÓRIA PESSOAL:
O SIGNIFICADO [PARA NÓS] DO ENSINO
DA FILOSOFIA NA GRÉCIA ANTIGA
SÉRGIO A. SARDI
Convido-lhes a iniciarmos refletindo sobre o sentido que a Filosofia, ou
melhor, o filosofar, pode ter no processo de criação e desenvolvimento da
nossa visão-de-mundo, na instauração de uma significação mais profunda às
nossas existências, horizonte que estamos cotidiana e continuamente a buscar,
criar e recriar no decurso das nossas histórias pessoais.
Mas qual o sentido de afirmarmos que o filosofar faz parte indissolúvel
da nossa história, o que equivale a dizer, do nosso crescimento?1 Será possível
recuperarmos o como e o quando de nossa apropriação desse gesto? E, ainda,
o que significa filosofar? Dentre os múltiplos caminhos para a reflexão em que
tais perguntas nos situam, quero sugerir aquele que aponta para uma
determinada perspectiva da nossa atenção, o qual cada um poderá encontrar
concentrando-se em si mesmo e nas suas memórias.
No recolhimento do nosso olhar vislumbramos a morada do eu no
tempo, sabendo-nos, para nós mesmos, com base nas camadas superpostas
que expressam a trama, a tessitura da nossa unidade e, simultaneamente,
indicam as rupturas deste ser-outro de nossa condição atual. Observemos,
assim, a nossa própria história, pela atualização – que é continua reconstrução
– de um passado que se tornou dimensão viva do nosso ser.
1 Busco conferir um sentimento amplo ao termo crescimento, o qual não se resume, evidentemente,
ao seu aspecto físico.
Origens do Ensino 21
O sentido de tal recolhimento parece mesmo exigir uma pausa para
que, por alguns momentos, vivenciemos a memória da história única e
irrepetível de nossas vidas. Uma pausa para o silêncio da nossa existência.
Deveremos, com isso, no entanto, correr o risco de nos deparar com
imagens, emoções e significados cujas nuanças nos situam em um universo
ainda não dito... e de lá ecoam, dispondo-nos a uma reflexão a qual,
evidentemente, ultrapassa os limites da nossa expressão, o que nos conduz a
buscar ampliar as possibilidades da mesma.
A perda de significações cristalizadas talvez seja mesmo a medida da
intensidade do nosso envolvimento em uma experiência. Denomino vivência a
uma tal experiência, que é significativa em vista da sua produtividade. Essa
vivência, pela força que emerge de um ato de desprendimento que é, também,
ato cognitivo, gesta em si o desejo da expressão, do encontro do outro, quando
então somos todos potencialmente filósofos e poetas, ao retornar as palavras e
recriar as condições de efetivação da nossa comunicação. Adotamos, com isso,
uma determinada postura com relação à linguagem, dotando-a de novas
significações, as quais emergem de uma experiência vivenciada em uma
integralidade que distende a nossa atual condição cognitiva.
É preciso compreender, pela própria experiência, o sentido de uma
postura filosofante, compreender o sentido de uma disposição que, ao
reelaborar sentidos particulares, tende para a construção de uma concepção
relativamente idiossincrática e unitária ou sistêmica do real, ampliando, com
isso, os processos e os procedimentos pelos quais efetivamos o conhecimento
e a comunicação. Aprendemos a filosofar filosofando, o que consiste, aqui, na
condição primeira para a reflexão sobre a gênese e o sentido de tal postura ou
modo de pensar, tanto em nossas histórias pessoais como na própria história.
Trata-se do modo de realização de uma reflexão sobre a nossa história
pessoal e, portanto, do próprio sentido de falarmos em história pessoal: uma
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 22
reflexão realizada a partir de uma vivência interior,2 quando então a memória
denota um envolvimento no horizonte de um tempo só recuperável na medida
mesma da percepção de nosso ser-outro atual. Isso implica em podermos
reconhecer, no contexto da nossa história particular, camadas de significação
às palavras, as quais, no seu desdobramento, expressam criativamente, a cada
momento, o sentido do nosso ser no tempo. Talvez a unidade mesma da nossa
história só se processe à base de uma retrospectiva que implique uma
perspectiva sempre de novo reposta; isso porque devem ser inseparáveis a
autocriação e a autopercepção.
Talvez surja, com isso, que, ao revisitarmos e recriarmos o nosso
tempo vivido, juntamente com o seu sentido, sejamos alcançados a um duplo e
vertiginoso horizonte, onde o imaginário do nosso próprio futuro reclama o seu
lugar no imaginário que fazemos do futuro da humanidade.3
Observemos, como filósofos e filósofas, poetas e poetisas, adultos e
crianças, as condições de efetivação do nosso próprio crescimento. E, a partir
do gesto admirativo que se dobra sobre as nossas existências, na ativa
contemplação do sentido do tempo que continuamente nos escorre das mãos,
ouçamos, por todos os poros do nosso ser, o sentido profundo de dizer “vida” e
de dizer “história”. Ouçamos, como ouve quem se sente em pertença da “vida” e
da “história”, como quem ouve em profundo silêncio.
Neste instante, neste período de vida, aparecemos a nós mesmos
como suspensos com relação ao tempo de nossas vidas4.
2 A dimensão reflexiva ou interior de uma vivência é um momento de um processo mais amplo, o
qual envolve a ação e a percepção. No entanto, o caso da relação com nossa memória, como em
outros processos auto-relacionais, a reflexividade passa a assumir um papel preponderante. A vivência está, ainda, relacionada à admiração, mas inclui também a vontade, a disposição e seus
efeitos na confirmação da subjetividade. 3 Isso poderia nos sugerir uma reflexão sobre o potencial ético do imaginário do futuro, pois o
respeito e a responsabilidade que possamos assumir pelas gerações futuras nos informa sobre o
sentido que conferimos a vida e ao humano. Retornaremos a essa questão no decorrer do texto. 4
Na alegoria da caverna (República, VII), Platão expressa a condição do conhecimento humano no
interior de um processo no qual a cosmovisão atual, isto é, a visão sintética da realidade, está em suspensão com relação ao tempo vivido. A alegoria expressa, na perspectiva dessa
interpretação, a possibilidade de superação de tal suspensão em função de uma evolução ético-
Origens do Ensino 23
Somos continuamente outros, incognoscíveis a partir de nossa condição
anterior, como incognoscível é o ser-outro de nossa condição futura. É assim
que, simultaneamente de posse e estranhos a nós mesmos, reconstruímos
parcial e aproximadamente a trajetória aparentemente perdida do nosso
crescimento. O mesmo fazemos ao interpretar e reconstruir a história.
Como, pois, compreender a unidade do nosso ser, no tempo? Como
compreender a unidade da história? Como conciliar a percepção da unidade do
eu com a da metamorfose cotidiana, alquimia e sacralidade da vida no mistério
do tempo inscrito na corporeidade? Até que ponto e em que sentido é possível
efetivar este contato da nossa história individual com a história?
A nossa história se constrói em uma teia de relações, distendida no
tempo e no espaço. Essa história, ao mesmo tempo única e irrepetível,
enquanto tece a trama dos seus contornos, não é, pois, apenas a história de
cada um. Trata-se da história de nossas relações, quando se torna, por essa
perspectiva, um momento singular de uma história universal. Ao mesmo
tempo, a universalidade não elimina, como contingência, o que é próprio, o
que é particular, o que caracteriza a id iossincrasia da vida de cada um.
Poderemos perceber, portanto, ao menos aproximadamente, em nós
mesmos, na nossa trajetória, certos processos que denotam características
da história coletiva, da história da espécie. O primeiro deles consiste em nos
percebermos, neste momento, neste período, e por toda a vida, em contínua
e cumulativa transformação, isto é, em crescimento, e nos relacionarmos
cognitiva das almas (psychaí). Vejamos: a cosmovisão dos prisioneiros da caverna é diretamente
relativa suas experiências: enquanto observam as sombras, não podem sequer supor uma
realidade distinta; após saírem da caverna e contemplarem diretamente a luz do sol, deverão
reaprender a condição anterior de seu conhecimento e de seu próprio ser, o que se efetiva com o retorno a caverna. A alegoria da caverna tematiza, nessa interpretação, o problema da unidade
do indivíduo no tempo. Tal questão será tratada, em Platão, por um lado, na referência a um processo que transcende a própria vida, onde se justifica a discussão acerca da imortalidade da
alma, da doutrina da reminiscência e do inatismo; por outro, de uma perspectiva ético político-epistemológica. Devemos considerar, no entanto, que ambas as perspectivas se complementam,
no contexto do platonismo.
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 24
criativamente com nossa própria transformação, exercitando a conexão
entre crescimento e criação.
A Filosofia será, pois, também compreendida como um processo que
participa da contínua reinstauração da nossa unidade, no tempo, como
indivíduos e como espécie; assim como a processo de contínua ruptura com
essa unidade. A Filosofia, compreendida desse modo, nos incita à contínua
e cotidiana percepção do nosso crescimento criativo, coma forma primordial
de intuição.5 Um pensar que configura um compromisso ético entre a nossa
história e a história. Um pensar que revela o espaço primordial da
significação da síntese entre vida e conhecimento. Um pensar que é,
simultaneamente, envolvimento e alteridade, onde o pensar produz o pensar
por um amor que se caracteriza pela busca interminável do ser amado e
pelo contínuo compartilhar de uma realidade fugidia. Um pensar que está a
sempre a se surpreender consigo mesmo e com a potencial infinitude da sua
própria vontade de realidade.
Desprendamo-nos, no entanto, deste processo de recolhimento,
guardando-o na superação de um olhar que se dirige ao outro após transitar a
própria interioridade. E, desde que buscamos a gênese do filosofar na nossa
história e na história da racionalidade ocidental, observemos as crianças. Vou,
aqui, me reportar a um fato concreto, o qual pude vivenciar em minha relação
filosófica com crianças.
A situação decorre de uma série de exercícios cujos processos
cognitivos trabalhados visavam, dentre outras coisas, ao autoconhecimento.
Observemos que, ao proliferar a utilização de metáforas, de novos termos que
pudessem aproximá-la6 daquilo que estava vivenciando, daquilo que ela estava
5
Remeto ao sentido em que a intuição da duração, em H. Bergson, pode assumir relativamente
à autopercepção. 6 A criança chama-se Rúbia Liz Vogt de Oliveira, aluna, na época, da 3ª série primária, no Colégio
Batista de Porto Alegre.
Origens do Ensino 25
sentindo, daquilo que ela estava perguntando, a criança passa, gradual e
autonomamente, a construir uma nova visão de conjunto sobre a realidade7.
Após algumas atividades, a criança em questão, refletindo sobre a sua
própria memória, passou a perceber que a memória não é apenas uma
recuperação de algo. Então, ela se pergunta: – eu trago de volta aquilo que me
aconteceu? E ela mesma responde, e diz: – não, não trago de volta aquilo
mesmo que me aconteceu, mas eu, quando trago de volta e me lembro de algo,
modifico aquilo que lembro. Cada vez me lembro de um modo diferente. Com
isso, ela inventa o termo “memória pensativa” para explicar o que é a memória,
e diz: – não existe “memória”! Existe “memória pensativa”, pois a memória, ao
mesmo tempo, lembra e modifica aquilo que lembra.
Outro dia, após a aula, ela disse: não existe apenas um
“pensamento”... existe também um “pensamento intocável” porque às vezes,
quando eu digo uma palavra, não sei por que a ligo com outra, Por exemplo,
se digo “Guaíba”, penso em “doce”; se digo “Sapucaia”, penso em “salgado”...
e eu não sei por quê.
A formulação dos termos “pensamento intocável” e “memória
pensativa” indicam uma profunda reflexão subjacente, a qual inclui uma
admiração e um estranhamento com a realidade. Compreendemos, então,
por este exemplo, que toda essa criação lingüística que uma criança de
nove anos pode fazer e que, analogamente, e na medida de nossas próprias
vivências, cada um de nós pode realizar, expressa o sentido de um modo de
pensar e uma postura frente à vida.
Imagino que isso possa ser compreendido ao longo de um processo
histórico-cultural. A linguagem estabelece os liames, os nexos a partir dos quais
construímos nossas relações socio-culturais, e o filosofar designa um modo de
nos situarmos na linguagem e, portanto, no contexto de tais relações.
7
Uma visão-de-mundo, ou uma visão de conjunto sobre a realidade não é, no entanto, estruturada ou construída linearmente, mas ao modo de um mosaico, sempre incompleto e de
fragmentos cambiantes.
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 26
Mas o ensino da Filosofia tem se distanciado desse gesto, dessa
postura, a qual podemos vislumbrar no cotidiano a ponto de a encontrar em sua
espontaneidade. No ensino da Filosofia, na Grécia Antiga, na vertente que vai
de Tales a Aristóteles, eram inseparáveis, no entanto, o processo de ensino e o
processo de criação8. Isso, para nós, tanto no contexto universitário quanto no
primeiro e no segundo graus, parece um tanto distante, um tanto remoto.
Uma prática não-dogmática do processo de ensino-criação, fundada em
uma relativa liberdade de pensamento9 resultou, em primeiro lugar, na
articulação de métodos e metodologias e, mais além, em modo de pensar
capaz de delinear as condições de um imenso aprimoramento da linguagem.
Esse processo, efetivado privilegiadamente em um determinado período da
história, está na raiz, na gênese da forma que veio a assumir a racionalidade no
Ocidente. Ao resgatar esse ponto, que também justifica o adendo ao título, bem
como o percurso até aqui realizado, julgo necessário acrescentar que não se
trata apenas de compreendermos o sentido do filosofar ou do ensino da
Filosofia na Grécia Antiga, mas também do seu significado para nós.
A Filosofia, na Grécia Antiga, nascida a partir do discurso mítico, em um
período de transição da oralidade à escrita, dizia respeito a círculos reduzidos,
não consistia em uma prática pública, embora Platão já houvesse
experimentado escrever para um público mais amplo e, do mesmo modo, a
Academia e o Liceu foram experiências que divulgaram a Filosofia a públicos
maiores. A repercussão política, no entanto, de tal ensino, foi imensa. E isso se
deu em função da conexão entre Filosofia e retórica, no contexto da pólis grega.
A construção individual e coletiva dos processos do pensamento e da
linguagem, na Filosofia Grega, está relacionada com o momento histórico-
8
Observemos como os discípulos não se limitavam a reproduzir os ensinamentos de seus mestres,
mas acresciam novas perspectivas de tratamento dos problemas apresentados por estes, rompendo, inclusive, em certos casos, com suas concepções. O exemplo mais claro e o da
relação entre Platão e Aristóteles, seu discípulo durante cerca do vinte anos. 9
A “liberdade do pensamento” é sempre circunscrita a uma determinada condição histérica, política,
cultural e social, base necessária a partir da qual efetiva a sua produtividade.
Origens do Ensino 27
cultural e político de uma experiência de democracia direta, o que consiste em
uma característica distintiva da pólis grega. Acresce considerarmos que este
consistiu em um longo período de lutas e transformações, onde a guerra havia
se tornado um modo de vida. Destaco as grandes guerras contra os Medos e a
guerra do Peloponeso. Pode-se dizer que a segunda consistiu em uma
continuidade, no piano interior da Grécia, da primeira, em resposta a pretensão
imperialista de Atenas, sendo, no entanto, muito mais desastrosa para a
civilização grega. O grego vivia a transformação, a luta, e a própria
transformação que vivia se relacionava com a formulação do problema filosófico
que viria a construir, a partir de Tales: a busca do princípio, do fundamento
(arché10
) capaz de conferir estabilidade ao real, ao contínuo fluxo do devir11
e
unidade à multiplicidade.
No intervalo entre as guerras um espírito de otimismo esteve aliado à
prosperidade econômica, ao desenvolvimento cultural e a uma nova relação
para com a democracia, principalmente em Atenas, o que propicia o surgimento
de um centro cosmopolita e de uma nova forma de conceber a relação do
desenvolvimento político na relação com o desenvolvimento educativo. E,
desde que nós refletimos sobre o significado da Filosofia e do filosofar – o que é
um dos mais difíceis problemas filosóficos –, tendo observado a relação entre a
vivência e a reflexão, busquemos nos situar no âmbito de um problema político-
filosófico que irá surgir no contexto da pólis grega, o da relação entre discurso e
racionalidade, ou, em outros termos, entre retórica e verdade. Esse é um
problema profundamente atual.
Eu tenho um livro aqui, é de Arthur Schopenhauer, e se chama A Arte
de Ter Razão – expresso em 38 estratagemas, ou seja, 38 formas de distorcer
o discurso da outra pessoa para conseguir, por esse meio, ter “razão”, isto é,
vencer o debate. Se alguém se interessa em saber como é possível que,
10
O significado do termo grego arché relaciona-se, também, a poder, autoridade e império. 11
Devir: o vir-a-ser de todas as coisas, as quais estão em contínua transformação.
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 28
mesmo sem ter razão, alguém possa conseguir ter “razão” no discurso basta,
no entanto, apenas observar criticamente certas conversações cotidianas.
Claro, o que está em jogo é o sentido mesmo de razão.
Observemos o que diz Schopenhauer, por exemplo, no primeiro
estratagema: “levar a afirmação do adversário além de seus limites e a tomar
em sentido mais amplo, ou exagerá-la e, tomando essa afirmação no sentido
mais amplo do que a pessoa quis dizer, rebater a afirmação”. E, no segundo,
sugere utilizar uma ironia, quer dizer: você diz uma palavra e o oponente no
discurso a interpreta noutro sentido, distorcendo o sentido da afirmação
anterior. Seguem-se os demais estratagemas...
O que é isso? É um manual de sofística, aquilo que os sofistas, na pólis
grega, deveriam aprender para conseguir, através da retórica, persuadir aos
outros e, com isso, ter eficácia política com o seu discurso. O discurso mais
forte, para o sofista, é simplesmente o discurso que consegue convencer, e nele
reside a “verdade”. Isso deu margem a uma interessante discussão filosófica,
na antigüidade, sobre o sentido de falarmos em “verdade”, ou “erro”, conforme
lemos em Platão e em Aristóteles.
É interessante observarmos que tal questão não é apenas algo que
remonta aos séculos IV e V a.C., mas diz respeito aos nossos dias, ao que
acontece em nosso meio, pois poderemos facilmente observar como
algumas pessoas exercem quase naturalmente o potencial de realizar
estratagemas “racionais”, onde a noção de “verdade” é condicionada ao
âmbito de uma disputa. Desse modo, para os sofistas, tanto poderíamos
afirmar algo como verdadeiro como o seu contrário, conforme a
conveniência. Para Platão, ao inverso, a disputa de argumentos contrários
cede seu lugar ao diálogo, onde os argumentos convergem, por uma
disposição ética, para um consenso que tem por base uma aproximação
crescente da verdade, concebida como única e universal.
Origens do Ensino 29
Esse consiste em um dos problemas centrais da História da Filosofia: o
da conexão entre o ser e a linguagem, isto é, o da dignidade de um discurso
que possa nos conduzir a verdade ou próximo dela. Neste ponto, estão
interligados múltiplos outros problemas, e um deles consiste em saber se a
verdade, assim como a realidade, é uma só e a mesma para todos. Outro
problema consiste no equacionamento da relação entre discurso e liberdade.
Mas não nos detenhamos nos inúmeros subproblemas derivados, os quais
acabam por incidir sobre a própria formulação da questão. Concentremo-nos no
seguinte: até que ponto nós podemos saber se pretendemos que o nosso
discurso se dirija, ou não, a verdade? Tratamos da disposição ética da nossa
participação no discurso.
Há um livro de Platão, denominado Eutidemo, que é exemplar no que
diz respeito à técnica sofística da manipulação do discurso. A passagem que vai
de 275c a 276b pode ser assim resumida: Eutidemo, o primeiro sofista, faz a
seguinte pergunta a Clínias, um jovem: quem são os indivíduos que aprendem,
os que sabem ou os que ignoram? e o adverte de que, tanto se responder de
uma maneira, como de outra, será refutado. Clínias responde, então, que os
que sabem são os que aprendem. Eutidemo, com isso, expressa o seguinte
argumento: se você aprende, não sabia ainda o que aprendia, e era ignorante
ao aprender; logo, os que não sabem são os que aprendem. Clínias concorda.
Mas Dionisodoro, outro sofista, toma a palavra, e pergunta a Clínias: se o
gramatista12
recita, quem são os que aprendem, os sábios ou os ignorantes? Os
sábios, disse Clínias. Então, complementa Dionisodoro, são os sábios que
aprendem. Ora, seria a razão capaz de provar, com igual validade, duas teses
contrárias? O que está em jogo, além do problema da relação entre discurso e
verdade, é também o da educação dos jovens. A resposta de Sócrates aos
sofistas, no livro citado, é expressa pela argumentação de que é necessário
aprender o exato emprego das palavras (277d), sendo a técnica sofistica um
12
Mestre que ensinava a ler e a escrever.
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 30
jogo de manipulação dos diversos sentidos das mesmas (278ab). Platão, no
decorrer da sua obra, ocupa-se em buscar o sentido de uma verdade que
evidenciasse um caminho, um método capaz de relacionar o discurso com a
verdade. Mas seria necessário ainda mais, pois a necessidade da determinação
de um caminho que evitasse um discurso falso e conduzisse a verdade estava
relacionado, em Platão, com a ética, com o processo de desenvolvimento
humano e com a paidéia, relativamente ao processo de educação dos jovens.
Assim, Platão nos apresenta, em suas obras, um Sócrates preocupado em
dialogar com os jovens, motivo do seu julgamento e condenação à morte. Trata-
se da mais eloqüente demonstração de que a educação é um ato
profundamente político.
Quando falo em “desenvolvimento humano” não me refiro ao ensino,
como conjunto de técnicas, mas à educação, como formação integral, como
construção do humano, o que expressa o sentido próprio de paidéia. O sentido
de uma formação integral do ser humano pode bem ser compreendido a partir
de outro texto de Platão, a alegoria da caverna: tratam-se de prisioneiros que,
acorrentados pelo pescoço e pelos pés no fundo de uma caverna, observam,
desde seu nascimento, as sombras que aparecem no fundo da mesma. É
interessante observar, aqui, que eles nem sequer podiam imaginar a existência
de uma outra “realidade”, além daquela das sombras e, para eles, portanto, esta
seria a única e verdadeira realidade.13
Nós podemos observar isso nas nossas
vidas, quando estamos envolvidos em certas situações onde o próprio
envolvimento não nos permite avaliar, com juízo crítico, as situações com as
quais nos deparamos. Reparem como muitas vezes modificamos os nossos
juízos após rompermos com determinadas relações, seja com um círculo social
que compartilha um modo de pensar e agir, o qual pode ou não ser
institucionalizado, seja com uma determinada pessoa; temos dificuldade em
13
Há múltiplos sentidos em aplicarmos o termo realidade ao pensamento platônico, e o mais
elevado é a Idéia.
Origens do Ensino 31
“ver de fora”, em modificar a disposição de nosso olhar para a “realidade”. Mas
a analogia que fizemos é, ainda, superficial: Platão se refere à condição
humana, como veremos a seguir. As “sombras” não dizem respeito apenas ao
piano do ser, mas também a condição de um pensamento que ainda não tomou
consciência mais plena de si mesmo. Na seqüência da alegoria o nosso
personagem da caverna é liberto das suas correntes. A sua primeira
constatação é a de que as sombras são imagens e, como tais, representam um
nível inferior do ser. Em sua ascensão observará que há uma luz que produz as
sombras e que, além dessa luz, fora da caverna, há o Sol, filho do Bem e
condição da existência do ser e do conhecimento. A ascensão é difícil, e a dor
que a luz excessiva causa aos seus olhos o faz pensar que seria melhor
retornar à condição anterior. Seja a interpretação desse momento em analogia
ao romantismo de uma felicidade ingênua, seja uma interpretação de caráter
psicológico, ou outra, julgo fundamental resgatar apenas, para nossos fins, que
a ascensão e, simultaneamente, um processo ético. E isso se evidencia ao final
da alegoria, com o retorno a caverna. A formação integral do humano consiste,
assim, para Platão, em uma ascensão simultaneamente ética e cognitiva.14
Mais ainda, ela se efetiva como ato político, o que implica uma concepção
evolucionista da história.15
E esse é um ponto importante a ser ressaltado, no sentido que os gregos
emprestavam para a educação, como formação da virtude. Nós nos contentamos
com um significado de educação que se restringe exclusivamente ao
aperfeiçoamento cognitivo, condicionado as determinações impostas pela
economia, e desprezamos ou colocamos em segundo plano o desenvolvimento
integral do humano, quando a dimensão ética da relação com o outro e com a
14
Há, também, um sentido místico e religioso de tal ascensão, do qual poderíamos nos ocupar a partir da leitura do Fédon de Platão, e um sentido relativo à pólis que, na República, circunscreve
os demais. 15
Nesse sentido, o papel da utopia, na história, como ideal de futuro, em Platão, é visível não
apenas na República, mas também nas Cartas. Platão, no entanto, se ocupou também com a conformação de estruturas institucionais que garantissem o bom funcionamento da pólis e a
continuidade do debate filosófico, tendo escrito as Leis e fundado a Academia.
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 32
natureza é fator fundamental. Platão afirma, na República, VII, após a exposição
da alegoria da caverna, que os maus possuem uma certa inteligência e que, na
medida mesma de sua inteligência, mais mal poderão praticar. Contextualizando
o problema, eu pergunto: será que Hitler, para citar um único exemplo, era
desprovido de inteligência, já que ordenou o genocídio de milhões de inocentes?
O que é, afinal, “inteligência”? Ou será que Hitler, e tantos outros, seriam apenas
produtos de uma determinada época e condições sócio-histórico-culturais? Mas,
então, qual o sentido em falarmos em liberdade e, conseqüentemente, em
responsabilidade? Observemos que, na história, a inteligência, ou um certo tipo
de inteligência, esteve sempre associada às guerras, à dominação e, hoje, à
própria destruição ecológica. Há alguma relação intrínseca entre razão e
dominação? Qual a relação entre ciência, tecnologia e evolução humana? Qual o
sentido do humano? Eis uma questão que urge responder face aos avanços da
tecnologia e, mormente, da biotecnologia.
Tratamos da história, do sentido do humano na história. E a história
se ergue sobre o passado, avançando criativamente no contínuo presente
na direção de um futuro antecipado no imaginário social. Mas que
perspectiva de futuro orienta a humanidade? Ora, essa projeção do futuro
condiciona e é condicionada pela forma como concebemos a educação.
Retornaremos a essa questão.
A partir do momento em que possamos perceber que a educação deve
envolver não apenas os processos cognitivos instrumentais, mas também os
éticos, passamos a considerar a educação a partir de um duplo olhar, que inclui
não apenas a relação com o outro mas, também, a relação consigo mesmo.
Esses dois processos são inseparáveis, denotando a estrutura do diálogo
platônico: ao mesmo tempo em que eu estou falando com você eu também
estou, mentalmente, dialogando comigo mesmo; veja: você, neste momento,
dialoga consigo mesmo e, ao mesmo tempo, ouve o que eu digo. Um processo
duplo, onde o diálogo com o outro intercruza o diálogo interior, ou seja, não há,
Origens do Ensino 33
aqui, pura intersubjetividade, assim como não há pura subjetividade; tais são
apenas dissecações analíticas que realizamos no âmbito da linguagem. Assim,
a educação consiste, também, em auto-educação.
A inseparabilidade entre fazer Filosofia e ensinar-aprender Filosofia, o
que implica considerar o filosofar como condição para um diálogo crítico com a
História da Filosofia, impõe uma nova forma de considerar o problema. E impõe
reeducar a nossa própria “razão”, como parte indissolúvel de uma educação
que pretende romper com uma determinada crise que se instalou na trajetória
da racionalidade Ocidental. É necessário filosofar, como prática social, para que
possamos travar um diálogo crítico com a nossa própria história.
Mas compreender a nossa própria racionalidade, bem como os seus
limites, requer recuperarmos muito mais o que ela deixou de afirmar ou, talvez,
o que ela tratou de ocultar: a liberdade inscrita na irredutível unicidade do modo
como cada indivíduo concebe e concebeu a vida e a si mesmo; a não-
dominação; a codeterminação entre razão e emoção; as múltiplas dimensões
do conhecimento humano não-redutíveis a uma lógica universalista; o respeito
profundo à alteridade; a inter-relação entre subjetividade e intersubjetividade; os
direitos dos oprimidos e a determinação ética da relação entre ciência,
economia e tecnologia, dentre outros motivos.
Pela perda contemporânea do sentido originário do filosofar e da
admiração, o ensino da Filosofia, bem como de outras disciplinas, incluindo a
História, quase se resumiu à retransmissão acrítica de concepções, métodos e
metodologias, no exercício retórico, na confusão entre erudição e reflexão, na
utilização dos textos clássicos com fins de justificação de idéias
preestabelecidas, na inércia do pensamento reflexivo, em exercícios
interpretativos segundo esquemas padronizados. Mas, aproximando-se da
espontaneidade, o filosofar, como postura frente à vida e processo criativo,
como gesto que caracteriza uma das múltiplas dimensões da transcendência do
humano, a partir da história de cada um, tensiona a própria história. E essa
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 34
tensão é ainda mais profunda no contexto contemporâneo. A história, assim,
parece ter alternativas subterrâneas à própria “razão”.
Outro sintoma de uma perda diz respeito a que o ensino, em nosso
tempo, e considerado apenas enquanto um elemento a mais dos cálculos da
política econômica. Nesse sentido, o objetivo de se fazer um curso determinado
– e, no nosso caso, um curso universitário – consiste, quase exclusivamente, na
profissionalização, sem levar em conta a antecedência de um sentido mais
amplo e profundo à educação.
O ensino da Filosofia, na Grécia Antiga, esteve relacionado com uma
concepção de educação compreendida como formação ou construção do
humano e, mesmo em sua conexão com a política, não abandonou essa
perspectiva. O ensino-criação filosófica, na vertente platônica, resultou no
desenvolvimento e na apropriação dos procedimentos metodológicos relativos
ao ensino, à aprendizagem e à teoria do conhecimento, na gênese de uma
reflexão antropológica de caráter teleológico. Estabeleceu, com isso, uma
epistemologia no contexto da perspectiva da realização de um ideal de homem
e de organização política. O aprimoramento da investigação acerca do
conhecimento humano resultou em uma concepção de ciência (epistémê) como
conhecimento racional da realidade, embora condicionado à sofia, sabedoria, a
que Homero já faz referência, na Odisséia. Era necessário, ainda mais que à
ciência, ser amante da sabedoria, de onde se origina o termo filos+sofia. Isso se
deve a que a filosofia, na Grécia Antiga, designava não uma disciplina
especifica, mas uma forma superior de conhecimento, a qual dava unidade e
sentido a todo o conhecimento humano. O que hoje compreendemos como
disciplinas específicas, que são demarcações relativamente arbitrárias no
campo do conhecimento, encontrariam, na filosofia, sua unidade. Assim é que
se deve compreender os motivos da concepção platônica do rei-filósofo, pois a
própria filosofia convergiria para uma unidade primordial entre ciência, ética e
política. Poderíamos, inclusive, acrescentar a teologia. Em Aristóteles, a ciência
Origens do Ensino 35
do ser enquanto ser é a única realmente livre. Em Platão, a dialética das Idéias
visa a coincidir verdade e liberdade. E, embora a liberdade deva ser concebida,
no mundo grego, a partir de uma certa perspectiva finalística, ou teleológica,
esteve indiscutivelmente relacionada a uma criação que resultou na gênese da
própria racionalidade Ocidental.
Tratamos, ao início, de um processo de construção e reconstrução do
conhecimento, da linguagem e, com isso, das próprias condições de
compreensão, apropriação e ampliação da nossa racionalidade a partir de uma
perspectiva mais ampla do pensar. Dissemos ser necessário passarmos pela
experiência de irmos ao fundo a partir do qual se constitui a significação das
palavras, para reconstruir o significado das mesmas. Dissemos, ainda, ser o
diálogo uma forma privilegiada de construção do conhecimento, o qual se gera
no “entre”, na relação, a qual oferece sempre mais que a disputa de verdades
particulares. E nesse processo reside a gênese da dialética, ciência do ser e do
pensar. Mas, se eu digo “pensar” ou “pensamento” e, de uma perspectiva
interior, me aproprio da significação contida nesta palavra, surge a questão: o
que é pensamento? Convido-vos, pois, ao diálogo:
– Luciano, o que é “pensamento”?
– Reflexão!
– Reflexão é pensamento ou um modo de ser do pensamento, dentre outros?
Essa pasta, aí em frente, é pensamento?
– Enquanto pasta, não!
– Mas de que modo nós a percebemos? Você a sente com o tato, com os
olhos, com todas as sensações do corpo. Senti-la pelo tato, por exemplo, não é um
modo de pensá-la?
– Ao senti-la eu a pensava, sim!
– E vê-la não é, também, um modo de pensá-la?
– Sim!
– Então, o que não é pensamento?
– Há um momento em que eu não interagi com ela e, assim, eu não refleti!
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 36
– Ora, podes supor, então, que ela não é pensamento na medida que ela for
nada relativamente ao seu pensar?
– Aí sim!
– Mas se ela é nada, enquanto não a pensamos, relativamente ao pensar, e se
ela é isso efetivamente, isto é, “nada”, então sua existência, independentemente do
pensar, será impensável.
– Mas, ora, pensamos que ela permaneceu aí e, se nos depararmos novamente
com ela, depois de algum tempo, afirmaremos, então, que ela existiu independentemente
do pensamento.
– E se agora imagino algo como, por exemplo, um Unicórnio, e se, depois de algum
tempo, voltar a imaginá-lo, poderei dizer, com isso, que ele existe independentemente do
meu pensar? Ora, como posso distinguir o pensamento da “realidade”? De algum modo tudo
o que pensamos não é “real”? Mas, se assim é, então a multiplicidade de todas as coisas e
mera ilusão... e tudo é Um, pois tudo é pensamento?
– [...]
– Mas se concordarmos que tudo, tudo ao nosso redor e nós mesmos somos,
de algum modo, pensamento, ficará a suspeita de que tudo não pode ser apenas
“pensamento”. O que é, pois, “pensamento”? O meu próprio corpo, de algum modo,
quando aparece para mim mesmo em interação com o que eu penso, aparece como
pensamento. Então, o que não é pensamento?
Observem este exercício que realizamos, o qual se refere a um
processo de reconstrução do significado de uma palavra, no caso a palavra
“pensamento”. Esse problema, o mesmo que tratamos, em distintas
formulações, está na origem da História da Filosofia, há mais de 2.500 anos.
Parmênides, no Poema, foi o primeiro a se pôr esse problema, o qual, no
decorrer da história, foi retomado sob distintas perspectivas e formulações.
Seria interessante analisarmos a formulação do mesmo em Leibniz, Kant,
Fichte e Berkeley, ou no contexto do existencialismo, por exemplo, apenas para
citar alguns, mas isso foge aos nossos objetivos. Acrescento apenas que, ao
citar o existencialismo, penso no problema da morte, como problema assumido
Origens do Ensino 37
filosoficamente. A morte me situa frente à finitude do pensamento, de uma
perspectiva do próprio pensamento; mas, quando a morte é, disse Epicuro, eu –
ou o pensamento que possa ter disso que denomino “eu”, completo – não sou,
e se eu sou, a morte não é. Meu corpo, de algum modo, nas camadas
subterrâneas da minha carne, não expressa uma Inteligência? E mais, haverá
apenas um modo de conceber o pensar?
O pensar, ao pensar em si mesmo, incorre numa insuficiência que é a
de sempre faltar a si mesmo, enquanto é aquele que pensa. A criança, a qual
citei anteriormente, pode nos ensinar algo acerca daquilo que denominava
“pensamento intocável”: o autoconhecimento talvez resida na fronteira última e
sempre de todo intransponível ao próprio conhecimento. Uma reflexão sobre o
“pensamento intocável” deverá nos conduzir mais além daquilo que a psicologia
compreende por “inconsciente”, desde Freud e Jung. O que poderia significar,
pois, nesse contexto “educar o pensamento”? O problema está relacionado,
ainda, ao da ampliação das condições de efetivação da nossa liberdade. E esse
é também um problema político.
Seja qual for o significado que a Filosofia possa ter, para nós, ele está
inscrito em um processo de instauração de sentido à nossa condição humana,
em todos os níveis, inclusive o que nos relaciona com a vida, o cosmos e a
transcendência. A Filosofia trata da unidade do fenômeno humano.
Retomo, assim, o conceito de “unidade”, como é concebido no âmbito da
Teoria dos Sistemas. Gostaria, com isso, de trazer a nossa discussão o conceito
de autopóiesis, de H. Maturana. A autopóiesis implica uma concepção de unidade
onde o todo, o sistema, contém propriedades emergentes, sendo, com isso, mais
que a mera soma ou justaposição de suas partes constituintes; e mais, uma
unidade em continuo câmbio, um processo onde as microtransformações afetam
as propriedades emergentes do sistema como um todo. No âmbito de tal
concepção, o homem, como ser vivo dotado de autoconsciência, opera sobre si
mesmo e se redescobre de forma sempre inusitada, sempre criativa, sempre
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 38
nova, como forma superior de realização da autonomia que caracteriza todos os
seres vivos. A autonomia, como uma das propriedades da autopóiesis, em
Maturana, é um fenômeno fundamentalmente biológico, sendo que o próprio
sentido de “biológico” é, nesse contexto, ampliado, passando a incorporar os
processos psíquicos, embora sem reduzi-los a um esquema mecanicista. Todo
ato educativo, nesse sentido, diz sempre respeito à integralidade de cada ser
humano e a própria educação deve ser concebida como um fenômeno contínuo.
A liberdade, assim como a racionalidade, é uma construção e uma
conquista histórico-social. Não existe liberdade absoluta, sequer liberdade
exclusivamente individual, embora haja uma dimensão subjetiva da mesma.
Todos podemos constatar isso por nossa própria experiência. Mas a
racionalidade, no modo como se articulou no decorrer da história, carrega, no
entanto, consigo, uma pretensão de absolutidade, embora liberdade e
racionalidade devessem ser concebidas em sua unidade. Nos últimos 2.500
anos da nossa história, e principalmente a partir do Renascimento, produziu-se
uma racionalidade extremamente condicionada pela idéia de desenvolvimento
tecnológico, isto é, pela finalidade de domínio da natureza. Podemos observar
isso desde os primórdios do desenvolvimento da agricultura, quando tal
tecnologia deu início, de um modo ainda incipiente, a um processo milenar de
redução da alteridade da natureza a identidade do humano, pela transformação
da mesma com o objetivo de que esta se adaptasse aos nossos desígnios. A
anexação, domínio e transformação da natureza demarcam a característica
distintiva da ação da espécie humana no planeta, sendo que tal processo
acabará por constituir a história, a qual é, também, história da racionalidade.
Podemos, assim, assumir a seguinte hipótese de interpretação dessa
história: quando o homem nômade emigra para outra região, o faz em função das
transformações do meio, ou do aumento populacional, ou, ainda, por outras
razões; mas o importante é percebermos que ele se adapta sem
necessariamente controlar o meio, tendo a sua atenção voltada para fora, para
Origens do Ensino 39
aquilo que lhe circunda. Ele dirige sua atenção para além e se transforma, adota
uma determinada postura de conhecimento na relação consigo mesmo e com o
mundo. Mas um dia ele pára, torna-se sedentário, dirige a sua atenção para si
mesmo e transforma o seu exterior, adaptando-o a si mesmo. Todo o planeta
passa a ser, aos poucos e gradualmente, uma extensão do corpo do homem, sua
morada, como essa sala em que estamos agora, que é natureza transformada
para se adaptar aos nossos corpos e aos nossos desejos, sendo, com isso, de
algum modo, uma extensão dos nossos próprios corpos e desejos. O homem
visa a reduzir o planeta a sua identidade, visa a reduzir aquilo que é natureza a si
próprio. Assim como observarmos anteriormente que o pensamento contém um
certo grau de autismo, enquanto tende a reduzir todo o pensado a si mesmo, há
também um certo autismo da espécie humana, na medida que ela atua no
sentido de submeter a natureza, não a reconhecendo em sua alteridade. A
Grécia foi, sobremaneira, o palco onde se encenaram os primeiros e decisivos
atos que permitiram que o conhecimento do conhecimento se tornasse
conhecimento dos meios da intervenção científico-tecnológica quando, por outro
lado, esboçou-se também a formulação de um outro problema, ainda maior, o da
possibilidade de uma ética, de uma sabedoria que se instalasse como horizonte
de um sentido mais profundo a condição humana.
Há um projeto utópico da humanidade, cujas bases foram elaboradas há
milhares de anos, e pode ser expressa como uma aproximação entre o humano
e a idéia humana do divino. Essa utopia está expressa na literatura e nos filmes
de ficção científica. O que se observa nesses filmes? O poderio da tecnologia em
um futuro onde o homem se aparta cada vez mais da natureza e, constituindo
seu próprio meio, torna-se um semideus. Ele vive em uma nave espacial ou em
um mundo completamente artificial. Seu próprio corpo, em alguns casos, e
também artificial. A espécie humana, no seu autismo, não se questiona mais, por
exemplo, sobre qual o valor intrínseco de uma planta, de um animal, de um
ecossistema, da vida. Há outros valores, cegos e absolutistas.
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 40
Em termos de Educação Ambiental, o que se ensina na escola? Parte-
se, comumente, de um valor antropocêntrico à natureza. A árvore, por exemplo,
tem valor pelo que representa exclusivamente para a vida humana, e assim toda
a vida do planeta. Mas a Educação Ambiental deveria partir da vivência de um
amor que reconhece um valor intrínseco a vida. O amor é uma forma de
conhecimento. Vivemos, no entanto, em uma cultura que confere a razão o valor
absoluto de verdade. Mas essa razão instrumental não é capaz de perceber nada
mais além de si mesma. Dizer, no mundo contemporâneo, que o amor é uma
forma de conhecimento, poderá, inclusive, soar como algo estranho.
Mas a Filosofia é amor e conhecimento, amor ao conhecimento e
conhecimento com base no amor. É preciso conhecer para amar e amar para
conhecer. Uma forma de conhecimento que cada um aqui talvez já tenha
podido experimentar no seu cotidiano, na relação com as crianças, na relação
com o amigo ou amiga, com seu companheiro ou companheira, com sua família
e consigo mesmo. A auto-estima é uma forma superior de autoconhecimento.
Para finalizar, gostaria de poder resgatar a questão da possibilidade de
um contato com o nosso tempo a partir de um contato com o futuro e observar a
história desse modo. Trata-se de um modo inusitado de conceber nossa relação
com a história, pois buscamos aqui compreender a história através do
imaginário social futuro. Como assim? O imaginário social do futuro, que é o
futuro antecipado na nossa imaginação e expresso na arte da literatura, por
exemplo, está diretamente relacionado com a projeção social do futuro, isto é,
com a forma como o estamos efetivando, dia a dia, minuto a minuto; nós o
construímos numa determinada direção, e isso diz respeito diretamente à forma
como percebemos o desenvolvimento, a educação humana. Há possibilidade
de exercermos uma crítica sobre a direção na qual projetamos o futuro, visto
que o mesmo está fortemente condicionado no nosso imaginário social?
Pergunta: – Um pensador disse, em certa ocasião, que “eu penso, logo
existo”! Outro disse: não, nós somos resultado do meio concreto, e aí se
Origens do Ensino 41
estabeleceram duas visões antagônicas. Como se enquadraria essa tua
colocação de que tudo e resultado do nosso pensamento, como, por exemplo,
que a pasta é o meu pensamento? Dentro dessas duas visões, qual delas se
aproximaria mais desta questão, porque, a partir do momento que alguém diz
“eu penso, logo existo”, existe uma visão de como trabalhar a questão da
educação, e a outra, quando diz que eu sou resultado do meio, também afirma
uma outra concepção do processo educacional.
Resposta: – Quando eu fiz esse exercício de nos relacionarmos com o
pensamento de um outro modo, buscando reconstruir a significação desse
termo a partir de uma vivência, eu não quis afirmar que aquele resultado parcial
que nós obtivemos naquele momento, o qual indicava que tudo é pensamento,
seja a verdade. Há um processo fenomenológico da descoberta na verdade, ou
seja, a partir do aparecer desta realidade eu vou desvelando formas
sucessivamente superiores do seu aparecer. Em grego, “verdade” se diz
alétheia, que pode ser melhor traduzido por desvelar. O termo é derivado do
verbo lantánein, que significa “colocar véus”, e o véu mostra e oculta. Concebo,
assim, a seguinte imagem: se tiro um véu, há outro, e a verdade consiste em
um processo de des-velamento em direção a uma realidade superior. Disso
podemos inferir um sentido à dialética e, desde que a dialética seja um modo
não apenas relativo às operações lógicas, mas também diga respeito à
construção do próprio sentido da lógica, então nós teremos uma concepção de
educação para a qual o problema não se restringe ao inatismo ou a experiência
empírica. Para a Física, a Psicologia, a Biologia ou qualquer ciência só é
possível avançar produzindo novas questões e, muitas vezes, rompendo com
paradigmas preestabelecidos. O perguntar é um momento fundamental do
processo de aperfeiçoamento cognitivo, assim como do aprendizado de novos
processos cognitivos. Que outras perguntas poderíamos nos fazer sobre o
educar, sobre o ensinar? Eu coloquei uma outra questão: é possível que a
educação seja livre, no sentido em que deveria se referir não apenas ao que
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 42
fazemos ou ao que construímos, como prédios e naves espaciais, mas no
sentido de atuar sobre nosso ser integral? Ora, ao indicarmos um operar sobre
nós mesmos e sobre nossas relações, surge o problema da liberdade. Assim,
aquela questão anterior, isto é, a de saber se o conhecimento e adquirido ou se
e inato, ela entra no bojo da questão que apresentei, como um aspecto de um
problema maior. Veja-se ainda que há, na História da Filosofia, outras
alternativas à relação principal posta pela sua pergunta. Para Platão, por
exemplo, há um conhecimento inato e há, também, um conhecimento adquirido.
O que, afinal, queremos dizer com “inato” ou com “adquirido”, em relação ao
conhecimento? Observe que nossas perguntas nos apontam novos caminhos,
dirigem nossa investigação. É claro, devemos também encontrar respostas que,
embora sejam provisórias, formam a base para o nosso operar. Mas o exercício
consciente da crítica impõe aprendermos a trabalhar com a formulação de
questões, criando e recriando novas questões, o que se efetiva, no meu
entender, pela articulação entre processos lógicos e vivências e, desse modo,
pela distensão dos próprios procedimentos lógicos e das condições de
realização da linguagem. Incluo aí a matemática, como uma forma especial de
linguagem. Assim, eu propus que cada um realizasse um exercício, operando a
partir do seu próprio interior. A noção de “trabalho interior”, como processo de
auto-educação, é exatamente o fundo de onde o professor tira a sustentação do
processo de ensino, de modo que ele suscita uma descoberta e uma criação,
cuja significação remete a uma vivência do próprio indivíduo. A partir desse
processo é que compreendo que se pode realmente ensinar, o que não consiste
meramente em transmitir conteúdos, mas em motivar a reflexão, orientar a
pesquisa e propor desafios. A partir disso, os conteúdos poderão ser
criticamente trabalhados.
Pergunta: – Eu acho tão rico esse trabalho que você faz com as
crianças e me interesso demais por essa parte do ensino, até por causa da
minha profissão. Se você pudesse falar algumas palavras que me dessem
Origens do Ensino 43
idéias de como motivar... por que acho que, para o ensino da História, a
principal tarefa nossa é fazer com que todo mundo goste de História (no fundo,
vamos dizer assim), mas o principal é dizer para as pessoas que a História não
é só uma coisa do passado, é do presente, é da vida delas. Então, como
motivar, como encantar, como seduzir?
Resposta: – Como motivar? Eu suponho que toda motivação diga
respeito a uma emoção. À medida que nós tratamos de um determinado tema
de uma forma puramente lógico-racional, descritiva e classificatória nós
tendemos a desmotivar... e é isso que muitas vezes se faz, não só em História,
como também em Filosofia e em todas as disciplinas. Os professores põem a
matéria no quadro e o quadro no caderno e o caderno na cabeça. Isso está
relacionado com a emoção. Mas o significado de “emoção” é difícil de ser
acessada de modo exclusivamente racional; no entanto, ela tem algumas
características. Vejamos: você se lembra de acontecimentos da sua infância,
certamente, mas você se recorda de todos os fatos?
– Não, apenas alguns.
– Por que apenas alguns?
– Lembro os que foram mais marcantes.
Ora, por que recordamos de alguns fatos e não de outros? No meu
entender, trata-se de que eles continham uma emoção que fazia parte
indissolúvel da significação da experiência e, assim, marcaram a sua história
pessoal. Eu observo fatos da minha infância que fazem parte do meu processo
de desenvolvimento; são marcas, são referenciais do meu crescimento, quando
pude me emocionar por vivenciar novas relações com o mundo e com meu
próprio pensamento. Podemos observar isso no nosso cotidiano, quando certas
relações vão se desgastando pela rotina, isto é, pela perda da emoção, e a
perda da emoção se dá pela repetição de gestos, repetição de atos, repetição
de costumes, em tornar mecânico o ato de viver. Não será apenas na medida
em que podemos descobrir algo novo no outro e com o outro que nos
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 44
emocionamos? Nesse sentido, o trabalho interior do professor, a pesquisa e a
criação com relação àquilo que ensina, são indissociáveis do processo de
ensino, pois somente a partir da sua relação com o seu próprio processo
criativo ele poderá despertar formas novas de ver e de imaginar, porque ele
sabe o que isso significa. Eu propus que pudéssemos ver algo como se fosse a
primeira vez, que nos admirássemos com as coisas e o mundo, para que
pudéssemos ter interesse. Na medida que o professor realiza isso, ele sabe em
que consiste e vai, assim, proporcionar que o aluno descubra isso por sua
própria experiência. Eu creio que todos podemos nos interessar pela História,
pela Matemática, pela ciência, enfim, sempre que possamos nos emocionar por
admirar a realidade. Por isso, o amor é uma forma de conhecer. Mas a
disposição de vermos qualquer coisa como se fosse a primeira vez, de nos
admirarmos, está muito mais próxima das crianças. Para nós, a água, por
exemplo, é somente água; para uma criança não, ela põe o dedo na água e
pergunta: como e que isso aqui não fura? Para nós essa pergunta poderia não
fazer sentido. Mas talvez haja um modo adulto e um modo infantil de
admiração. Observemos, então, que isto aqui, sobre a mesa, consiste em um
agregado monstruosamente grande de átomos; mas como podem estar assim,
unidos? Como podemos conceber que uma única e minúscula parte deste
objeto tenha mais átomos do que o número de pessoas que residem em toda a
cidade de Porto Alegre? O que é o mínimo e o máximo absolutos? O que é o
vazio que “existe” nos interstícios desse átomos e que é muito maior que a
parte “cheia” da matéria? Ora, se pudéssemos fazer um átomo crescer até
atingir o tamanho de todo o campus da Universidade, o elétron ainda seria
muito pequeno, em comparação; o resto é “vazio” e a matéria é muito mais
“vazia” do que “cheia”... como é, afinal que tudo se sustenta? como é que “tudo
não cai de tudo”, poderia perguntar uma criança? O que, afinal, é “matéria”?
Eu sei o que significa a rotina na medida que eu passo por ela e eu sei
o que significa uma emoção ou uma questão determinada, na medida que eu
Origens do Ensino 45
possa vivenciá-la. E se eu puder rememorá-la com a “memória pensativa”, eu a
irei revivenciar. Assim, a admiração consiste em um manancial inesgotável.
Poderíamos trabalhar sobre o problema do “tempo” ou do “determinismo”, por
exemplo, por via de uma explicação. Nesse caso, diria que o problema do
determinismo está relacionado com a noção de causa/efeito e que, supondo-se
que todos os efeitos já estão contidos em uma causa primeira, não podendo
existir efeitos que não estivessem presentes na causa, então, é lógico, há
conseqüentemente uma determinação do tempo e da história. Pois, se o efeito
está todo na causa, e essa causa é o efeito de uma outra causa, e assim por
diante até o princípio, então tudo está determinado, num desdobramento da
causa primeiro. Ora, o que são leis? Leis são estruturas regulares do
movimento, regularidades observáveis, isto é, dadas as mesmas condições, os
mesmos fenômenos devem se repetir. Isso nos possibilita a previsibilidade, a
ciência e a técnica. Mas, se as leis regem tudo no universo, que espaço sobra
para a liberdade, ao nível da materialidade? A Física estabelece teorias
expressas em relações matemáticas, regularidades que expressam,
matematicamente, a estrutura do universo, a qual consiste em processos
necessitários, e isso repercute na compreensão que possamos fazer da história.
Tudo isso é tão lógico, que nos paira a suspeita de se realmente,
exclusivamente pela lógica, podermos conhecer a liberdade. Mas, afinal, o que
é conhecimento? Bem, se esquecêssemos isso tudo por um momento, para
trilharmos um outro caminho, e eu simplesmente lhe perguntasse: você nunca
pensou se não estava marcado que você ia estar sentado neste lugar
exatamente agora?... com a perna cruzada deste jeito?... e rir exatamente neste
momento?... e, exatamente neste instante, você iria pensar o que está
pensando agora, embora sem saber que isso tudo estava marcado para
acontecer?... Eu não estou afirmando que tudo já estava marcado, que você ia
fazer exatamente isso... exatamente agora. Estou apenas propondo que você
sinta isso, que vivencie este problema, que o relacione com a sua presença no
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 46
mundo, que o problema não consista apenas em um jogo de palavras e, muito
mais, que o conheça emocional e racionalmente, conheça o problema por
vivenciá-lo. Isso consiste em um conhecimento sintético, enquanto a lógica é
uma forma de conhecimento analítico. Se eu posso vivenciar os problemas eu
sei o que ele significa, porque sei o que ele significa para mim.
Pergunta: – Eu gostaria de perguntar o seguinte: se o senhor definir o
filosofar como falou antes, e se hoje nós estudamos em busca de uma
profissão, o que, no seu entender, os filósofos faziam então, já que não se
tratava da busca de uma profissão?
Resposta: – Para os sofistas, a Filosofia, compreendida como arte
retórica, foi uma profissão, e esse foi um dos motivos das críticas de Sócrates
aos sofistas, a de que eles tornaram a Filosofia uma mercadoria, lhe deram
um valor monetário. Sócrates queria resgatar este outro aspecto da Filosofia,
que é o seu aspecto mais fundamental, já que ela remete a outros valores,
enquanto faz parte do modo de vida, quando ela e um modo de olhar a vida e
é um modo de viver. Claro, não se trata de uma crítica à Filosofia, ou à
História, ou qualquer disciplina, concebidas como profissão: o problema é que
sejam apenas isso.
Pergunta: – É o seguinte: não sou filósofa, mas se a gente seguisse
mais a intuição, não a lógica, não parece que está tudo “aqui dentro”, inclusive
esses pensamentos todos? A Filosofia toda é uma intuição, ela vem de dentro?
Resposta: – Quando utilizamos termos como “intuição”, “vir de dentro”,
ou outras do gênero, a gente sempre suspeita que falta algo para que elas
realmente adquiram a força que a gente gostaria que elas tivessem para
poderem atingir aquilo que queremos expressar. Ao dizer que algo “vem de
dentro”, pressupomos um “fora”, do qual não podemos estar completamente
apartados, ou sequer poderíamos pressupô-lo. Mas qual o sentido que damos a
uma separação entre “dentro” e “fora”? “Vir de dentro” e “vir de fora”, “vir da
relação com o outro” e “vir de mim mesmo” podem ser compreendidos como um
Origens do Ensino 47
processo único: ouço tuas palavras enquanto, simultaneamente, dialogo comigo
mesmo e, só por isso, posso compreendê-las. Então, eu pergunto: o que você
quer dizer exatamente quando diz “intuição”? Quero dizer: como conceber a
relação entre um processo interior e a relação com o outro?
Tratamos do problema da educação. Preocupo-me, assim, não com a
busca de um ideal de “perfeição”, mas com o desvelamento de um caminho,
cujo horizonte só pode ser compreendido eticamente. E esse caminho se
processa em nossas relações, sendo simultaneamente um modo de perceber a
mim mesmo e a pessoas que me cercam, e são dois lados de um único
processo. Então, eu vejo o filosofar como uma forma de me relacionar com a
vida e com os outros, com o mundo e comigo mesmo. É por isso que eu
sustentava, antes, a necessidade política, social, histórica e humana de nos
colocarmos uma questão, que é a seguinte: qual é o nosso imaginário social do
futuro? E outra: podemos atuar criativamente com relação ao imaginário social
futuro? Essas são questões realmente fundamentais.
Pergunta: – Sabemos, então, que a partir deste princípio, a gente
poderia dizer que a Filosofia está dentro de tudo, que ela faz parte da nossa
vida como um todo. Então, se isso acontece, eu gostaria de saber por que e a
partir de quando a filosofia se distanciou da realidade do aluno dentro da sala
de aula?
Resposta: – A gente sempre se distancia dos outros na medida em que
opera formalmente com as pessoas. Então, agora posso lhe encontrar noutro
local e dizer “bom-dia!”, apertamos as mãos, vamos embora... e permanecemos
distantes, apesar de termos nos falado e de termos apertado a mão. Enquanto
nós nos mantivermos formais, e eu lhe tratar como Sra. e você me tratar como
Sr. (os europeus fazem isso muito mais do que nós mesmos, o que, a meu ver,
denota uma interessante característica da nossa cultura nacional), vamos
continuar distantes, pois a formalidade substitui a emoção. O mesmo acontece
com o ensino, pois tratar de forma exclusivamente lógica aquilo que se está
História e história pessoal: o significado [para nós] do ensino da Filosofia na Grécia... 48
aprendendo nos torna distantes da vida, distanciando-nos das emoções que
dão sentido ao nosso agir. Mas no império do “cientificamente correto”, a
própria ciência se desmente, enquanto não reconhece seus próprios limites.
Julgo, assim, ser necessário que o ensino deixe de ser apenas lógico-
instrumental ou transmissão de conteúdos, que passe a ser emoção e criação,
porque assim ela deixa de ser “humano”. O filosofar sempre esteve presente na
história, na vida de cada um, mas creio que, desde que o ensino esteve
dependente de determinações políticas e econômicas e daquelas impostas pela
própria história da nossa racionalidade Ocidental, ele tende a sufocar este
processo vivo que, no entanto, tensiona com tais determinações.
Pergunta: – Se ela não filosofar, ela não dá um passo à frente? Ela tem
que filosofar para poder chegar Iá, não é isso?
Resposta: – É necessário reconstruir as formas de conceber e formular
nossas questões: você não pergunta quais são as leis que regem determinado
fenômeno num espaço de tempo, mas pergunta o que é o próprio espaço e o
próprio tempo, por exemplo. Daí emergem múltiplas subquestões, como: vemos
as coisas se moverem e vemos as coisas correrem para lá e para cá, no espaço
e no tempo, mas não nos perguntamos: o que é velocidade? Há uma
velocidade do próprio tempo? Que outras questões poderíamos elaborar?
Como, então, podemos dar “um passo à frente”? Observo, para finalizar, que o
sentido do filosofar remete a constituição da nossa própria personalidade e que
o seu significado e dado pela intensidade com que possamos “escutar” este
nosso momento vivido, o que nos ensina que participamos de um contexto mais
amplo, quando olhamos profundamente para nós mesmos ao encontro do outro
e da natureza e nos dirigimos ao outro e a natureza ao encontro de nós
mesmos, respeitando-os, contudo, em sua alteridade.
Agradeço as questões formuladas: elas me ajudaram a compreender
um pouco melhor o que eu mesmo penso e, sobretudo, a observar mais de
perto aquilo que eu não compreendo.
A pedagogia de Deus 49
A PEDAGOGIA DE DEUS
GERALDO LUIZ BORGES HACKMANN
O objetivo deste artigo é analisar a maneira como Deus se relaciona
com o seu povo, ou seja, a pedagogia ou o modo utilizado por Ele para revelar-
se. Partir-se-á do estudo da etimologia do termo pedagogia, para, após,
caracterizar as maneiras diversas com que Deus foi se comunicando com o seu
povo, ao longo da história.
A etimologia da palavra
A palavra pedagogia, do original grego, é composta, por sua vez, por
outras duas palavras: a) paîs, dós, que significa “menino, criança”, e mais ágein,
com o sentido de “conduzir, levar”. Daí se origina o termo grego paidagôgía,
traduzido para a língua portuguesa por pedagogia. Por essa razão, pedagogia
pode ser definida como a “arte de conduzir o menino, levar a criança”.
Reinhold Mühlbauer diz que há muitas significações para o termo
“pedagogia”, adotando dois conceitos: a “totalidade do pensar, falar e escrever
sobre temas de educação em sentido mais lato e em todas as formas” e
“ciência teórica, independente e pura, cujo objeto é a totalidade dos fenômenos
da educação, que ela fixa, descreve e separa dos outros fenômenos da vida, e
os estuda em sua peculiaridade e trata de entendê-los e interpretá-los”.1
Diante dessas duas definições, entender-se-á por “pedagogia de Deus”,
de modo amplo, tudo o que Deus faz para se comunicar com os seres
humanos, e, de modo particular, a comunicação de sua Revelação.2 No
1 Cf. R. MUHLBAUER. Pedagogía. In: Sacramentum Mundi. Barcelona: Herder. 1977, col. 361.
2 Sobre o conceito cristão de Revelação, ver LATOURELLE. Rivelazione. In: LATOURELLE e
FISICHELLA. Dizionario de Teologia Fondamentale. Assisi: Cittadela, 1990. p. 1013-1066.
Origens do Ensino 50
entanto, pode-se unir as duas concepções expostas acima, resultando na
abordagem do tema a partir da Revelação de Deus. E a tarefa será, portanto,
examinar como esta acontece ao longo da história, que se deu, particularmente,
quando Deus elegeu um povo, o povo de Israel, ou, como vem denominado
posteriormente. Povo de Deus,3 enquanto povo eleito e com o qual Deus
estabeleceu uma aliança. Isto significa que a tarefa e examinar o fenômeno da
Revelação de Deus ao Povo de Israel, em todos os seus acontecimentos,
procurando entendê-los e interpretá-los. Do ponto de vista da etimologia, a
pedagogia de Deus é a arte de Deus conduzir o Povo de Israel, para que O
conheça, O ame e O siga. Para tal, é necessário estabelecer algumas
premissas, que ajudarão a estabelecer a forma como Deus se comunicou com o
Povo de Israel.
Premissas
O ponto de partida é a afirmação do Diretório Catequético Geral, que
mostra como deve ser entendida a pedagogia de Deus, quando diz o seguinte:
“Na história da revelação, Deus usou a seguinte pedagogia: anunciou o seu plano salvífico, na Antiga Aliança, mediante profetas e figuras, e desta forma preparou a vinda de seu Filho, autor da Nova Aliança, e consumador da fé (cf. Hb 12,2)” (Diretório Catequético Geral 33).
Tal afirmação entende a pedagogia de Deus como o seu plano de
salvação, iniciado já no Antigo Testamento como preparação para o advento do
Messias, Jesus Cristo. A partir desta, é necessário esclarecer duas premissas,
que nortearão a caracterização da abordagem do tema, ajudando a
compreendê-lo melhor:
3
Sobre o conceito de povo de Deus, seja no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ver SCHARBERT. Povo (de Deus). In: BAUER, J. Dicionário de Teologia Bíblica. São Paulo: Loyola,
1983. p. 880-889. 2 v.
Origens do Ensino 51
A primeira premissa: Não se trata de simplesmente transmitir um
conhecimento ou um saber humano, mesmo o mais elevado que se queira
pensar. Trata-se, sim, de comunicar, na sua integridade, a Revelação de Deus.
A segunda premissa: A Revelação de Deus encontra-se na história
sagrada, ou seja, na Bíblia, particularmente nos Evangelhos.
Características da pedagogia de Deus
Podemos estabelecer as seguintes características da pedagogia que
Deus usou para revelar o seu plano de salvação para o Povo de Israel, e, como
conseqüência, a todos os povos e pessoas, válido até os dias de hoje:
Deus é amor
Essa é a base da pedagogia divina. O evangelista João assim define Deus:
“Deus é amor” (1Jo 4,8.16). Não é uma especulação metafísica, mas a forma como
a escola joanina argumenta, de forma histórico-salvífica. O amor de Deus pelo
mundo e pela história se manifesta através do envio de seu Filho: “Pois Deus amou
tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16). O Pai e o Filho se unem na comunhão
de amor, no qual todas as pessoas podem estar inseridas (cf. Jo 17,21), que, pela
vinda do Espírito Santo, estão presentes no mundo.4 E, como tal, o amor fraterno
torna-se o meio decisivo de conhecimento de Deus:
“Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós: Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados” (1Jo 4,7-10).
4 Cf. D. SATTLER/T. SCHNEIDER, Dottrina su Dio. In: T. SCHNEIDER (ed). Nuovo Corso di
Dogmatica. Brescia: Queriniana, 1995. p. 99. 1 v.
Origens do Ensino 52
O mistério se esconde na história
Deus evita todo o alarde e triunfalismo, preferindo alternar manifestação
e ocultamento, daí a dificuldade de encontrá-lo na história. Ele antepõe o
segredo de sua divindade e de seu poder, impedindo o uso ideológico de sua
mensagem, ao se esconder, e chamando à conversão e à fé, ao manifestar-se
abertamente. A tantos Jesus Cristo se revelou durante a sua vida pública, mas
poucos responderam positivamente ao seu convite: o fariseu Nicodemos:
“Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um judeu
importante” (Jo 3,1; 7,50; 19,39); o saduceu José de Arimatéia:
“Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimatéia, chamado José, que era também discípulo de Jesus” (Mt 27,57); o publicano Levi: “Quando ia passando, viu Levi filho de Alfeu, sentado junto ao balcão da coletoria e lhe disse: „Segue-me‟. Levi levantou-se e o seguiu (Mc 2,41); o rico Zaqueu: “Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores do imposto” (Lc 19,2-10).
5
Esta maneira de Deus agir respeita a liberdade pessoal, enquanto ele
espera pacientemente uma resposta consciente e livre por parte de seu interlocutor.
Deus se revela progressivamente
A história da salvação mostra Deus agindo de forma progressiva, e
sempre respeitando os passos que o Povo de Deus podia dar. Inicialmente,
elegeu um povo, formando-o paulatinamente. Chamou Abraão, denominado
“pai da fé”, por ter sido o primeiro a crer e obedecer a Deus. Depois foi
chamando outros, até chegar aos profetas, verdadeiros mensageiros de
Deus e interlocutores da vontade e dos desígnios de Deus para com o seu
povo. Até chegar a Jesus Cristo, que leva a revelação à plenitude, ao
cumprir as promessas salvíficas e anunciar a vinda do Espírito Santo. O
seguinte texto exemplifica o respeito de Deus pelas fases de
amadurecimento do povo:
5 V. G. FELLER. O Deus da Revelação. A dialética entre Revelação e Libertação na Teologia Latino-
americana, da “Evangelii Nuntiandi” à “Libertatis Conscientia “. São Paulo: Loyola, 1988. p. 149-151.
Origens do Ensino 53
“Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas desde o princípio não era assim” (Mt 19,8).
Deus fala de forma compreensível
Deus quer ser claramente compreendido, apesar de usar também a
linguagem indireta dos sinais, que servem como um aviso indicador de sua
vontade. É o caso da sarça ardente:
“Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça ardia mas não se consumia, e disse consigo: „Vou achegar-me para ver este maravilhoso fenômeno: como é que a sarça não pára de queimar‟. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e Deus o chamou do meio da sarça: „Moisés! Moisés!‟ Ele respondeu: „Aqui estou!‟ Deus lhe disse: „Não te aproximes daqui! Tira as sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é chão sagrado‟. E acrescentou: „Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó‟. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus” (Ex 3,2).
Exemplar é o encontro de Deus com o profeta Elias no monte Horeb: “Lá entrou numa caverna e passou a noite. De repente a palavra do Senhor lhe foi dirigida neste teor: „O que estás fazendo aqui, Elias?‟ Ele respondeu: „Estou apaixonado pelo Senhor Deus Todo-poderoso. Pois os israelitas abandonaram a tua aliança, demoliram os teus altares, mataram a espada os teus profetas e sobrei apenas eu. Mas também a mim procuram tirar-me a vida‟. O Senhor respondeu: „Sai e põe-te de pé no monte, diante do Senhor! Eis que ele vai passar‟. Houve então um grande furacão, tão violento que dilacerava os montes e despedaçava os rochedos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor tampouco estava no fogo. Finalmente, passado o fogo, percebeu-se uma brisa suave e amena. Quando Elias a percebeu, encobriu o rosto com o manto e saiu, colocando-se na entrada da caverna. Então uma voz lhe falou: O que estás fazendo aqui, Elias?‟ Ele respondeu: „Estou apaixonado pelo Senhor Deus Todo-poderoso, pois os israelitas abandonaram a tua aliança, demoliram os teus altares, mataram à espada os teus profetas; apenas fiquei eu. Mas também a mim procuram tirar-me a vida‟. Mas o Senhor lhe disse: „Vai e toma o caminho de volta em direção à estepe de Damasco. Chegando lá, unge a Hazael como rei dos arameus. Unge também a Jeú filho de Namsi como rei de Israel, e a Eliseu filho de Safat, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, será morto por Jeú, e quem escapar à espada de Jeú, será morto por Eliseu. Eu deixarei como resto em Israel sete mil homens, isto é,
Origens do Ensino 54
todos os que não dobraram os joelhos diante de Baal e cuja boca não o beijou‟.” (1Rs 19,9-18).
Deus tem uma palavra eficaz
A Palavra de Deus sempre acontece e a seu tempo. Ele cumpre o que
promete, pois a sua palavra não é vazia. Como exemplo, pode-se citar o
episódio das dez pragas do Egito (a água transformada em sangue, as rãs, os
mosquitos, as moscas, a peste dos animais, as úlceras, a chuva de pedras, os
gafanhotos, as trevas, a morte dos primogênitos – Ex 7,14-11,34), que
conseguiram demover o faraó. Também o caso de Elias e dos sacerdotes de
Baal, que vem descrito a seguir:
“Então Elias se dirigiu a todo o povo e disse: „Por quanto tempo ainda andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a ele!‟ Mas o povo não respondeu uma palavra. Elias continuou falando ao povo: „Eu fiquei como único profeta do Senhor, ao passo que os profetas de Baal são 450. Dêem-nos dois tourinhos; escolham eles um tourinho e o cortem em pedaços e depois o coloquem sobre a lenha, mas sem pôr fogo. Em seguida eu prepararei o outro tourinho e o colocarei sobre a lenha e tampouco lhe porei fogo. Invocai o nome de vosso deus, ao passo que eu invocarei o nome do Senhor. E valerá: o Deus que responder com o fogo, este é o Deus verdadeiro‟. Todo o povo respondeu: „Apoiado!‟ Então Elias disse aos profetas de Baal: „Escolhei o vosso tourinho e começai, pois sois maioria. Depois invocai o nome de vosso deus, mas não metais fogo!‟ Eles tomaram o tourinho que lhes deu e o prepararam; a seguir invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio dia, exclamando: „Baal, responde-nos!‟ Mas não se ouvia nem voz nem resposta, apesar de eles dançarem com o joelho dobrado ao redor do altar que tinham feito. Quando se fez meio-dia, Elias começou a zombar deles: „Gritai mais forte, pois ele é deus, tem suas preocupações; teve de se ausentar ou está de viagem; talvez esteja dormindo e precisa acordar‟. Eles gritaram mais alto e, segundo o costume, se faziam incisões com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passado meio-dia, eles entraram em delírio até a hora da oblação, mas não se fez ouvir nenhuma voz nem resposta alguma; não houve qualquer reação. Então Elias disse a todo o povo: “Aproximai-vos de mim!” E todo o povo veio para perto dele. Ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou doze pedras – uma para cada tribo dos filhos de Jacó a quem o Senhor tinha dirigido a palavra neste teor: „Teu nome será Israel‟. Com as pedras levantou um altar em honra do Senhor, e ao redor do altar abriu um aceiro com a superfície para duas arrobas de semente. Em seguida empilhou a lenha, esquartejou o tourinho e o colocou sobre a lenha. Feito isto, ordenou: „Enchei de água quatro baldes e derramai-os sobre o holocausto e a lenha!‟ Eles o fizeram. Ele repetiu: „Mais uma vez!‟ E eles o fizeram uma segunda vez.
Origens do Ensino 55
Acrescentou ainda: „Uma terceira vez!‟ E assim foi feito. A água se espalhou ao redor do altar, e também o aceiro ficou impregnado de água. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias se aproximou e rezou: „Senhor Deus de Abraão, Isaac e Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e por tua ordem fiz tudo isto. Escuta-me, Senhor, escuta-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e fizeste voltar seu coração‟. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto e a lenha, as pedras e a poeira, e secou até a água do aceiro. À vista do espetáculo, todo o povo se prostrou, exclamando: „O Senhor é Deus, o Senhor é que é Deus!‟ Então Elias Ihes ordenou: „Agarrai os profetas de Baal. Que nenhum deles escape!‟ E eles os agarraram. Elias os fez descer até o riacho de Quison, onde os mandou degolar” (1Rs 18,21-40).
O nível de relacionamento de Deus com o seu povo é o da confiança A confiança é um elemento indispensável para haver uma verdadeira
relação com Deus. É o que demonstra o relato do sacrifício do filho de Abraão:
“Depois destes acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova. Chamando-o, disse: „Abraão‟, e ele respondeu: „Aqui estou‟. E Deus disse: „Toma teu único filho Isaac a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que te indicar‟. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo dois criados e o filho Isaac. Rachou lenha para o holocausto e se pôs a caminho para o lugar do qual Deus lhe havia falado. Ao terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Disse então aos criados: „Ficai aqui com o jumento enquanto eu e o menino vamos até Iá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós‟. Abraão tomou a lenha para o holocausto e pôs às costas do filho Isaac, enquanto levava o fogo e a faca. E os dois continuaram caminhando juntos. Isaac disse ao pai Abraão: „Pai!‟ – „O que queres, meu filho?‟ respondeu. E o menino disse: „Temos o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto?‟ E Abraão respondeu: „Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho‟. E os dois continuaram caminhando juntos. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a mão empunhando a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe dos céus, dizendo: „Abraão! Abraão!‟ Ele respondeu: „Aqui estou!‟ E o anjo disse: „Não estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho‟. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres num espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: „O Senhor providenciará‟. Hoje se diz: „No monte em que o Senhor aparece‟. O anjo do Senhor chamou Abraão pela Segunda vez Ia dos céus e lhe falou: „Juro por mim mesmo – oráculo do Senhor – uma vez que agiste deste modo e não recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes
Origens do Ensino 56
conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste‟. Abraão retornou até aos criados e juntos puseram-se a caminho de Bersabéia, onde Abraão passou a residir” (Gn 22,1-19).
O relato deixa claro que Abraão teve uma confiança inabalável em
Deus, pois ele sabia que Deus não faltaria com a promessa que Ihe havia feito.
Confiou na providência de Deus e não se enganou. O mesmo transparece
quando Moisés se encontra no Monte Horeb:
“Mas toma cuidado! Cuida com grande desvelo de nunca esqueceres tudo que viste com os olhos e de não deixares escapar do coração por todos os dias da vida. Antes ensina-o a teus filhos e netos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus, no Horeb, quando o Senhor me disse: „Convoca-me o povo para que lhe faça ouvir minhas palavras e eles aprendam a temer-me todos os dias que viverem sobre a terra, e o ensinem a seus filhos‟. Então buscareis o Senhor vosso Deus e o achareis, se o procurardes com todo o coração e com toda a alma. Quando todas as angústias tiverem caído sobre ti, nos últimos tempos, voltarás para o Senhor teu Deus e lhe ouvirás a voz. Pois o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Não te pretende abandonar nem destruir totalmente, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais” (Dt 4, 9-10;29-31).
O acontecimento do bezerro de ouro é demonstração contrária,
porque o povo se cansou de esperar por Moisés e perdeu a confiança em
Deus e na sua promessa, caindo no pecado da idolatria:
“Vendo que Moisés demorava a descer do monte, o povo reuniu-se em torno de Aarão e lhe disse: „Vamos! Faze-nos deuses que caminhem à nossa frente. Pois quanto a um tal de Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu‟. Aarão lhes disse: „Tirai os brincos de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-os a mim‟. Todo o povo arrancou os brincos de ouro que usava, e os trouxe para Abraão. Recebendo o ouro, ele o moldou com o cinzel e fez um bezerro fundido. Então eles disseram: „Aí tens, Israel, os deuses que te fizeram sair do Egito!‟. Ao ver isto, Aarão construiu um altar diante da imagem e proclamou: „Amanhã haverá festa em honra do Senhor‟. Levantando-se na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e apresentaram sacrifícios pacíficos. O povo sentou-se para comer e beber, e depois levantou-se para se divertir” (Ex 32,1-6).
Deus exige fidelidade
Origens do Ensino 57
O decálogo é a manifestação da vontade de Deus, escrita nas tábuas
da lei. Por essa razão, a observância dos mandamentos significa a observância
da fidelidade por parte do povo de Israel:
“Deus pronunciou todas as palavras que seguem: „Eu sou o Senhor teu Deus,
que te libertou do Egito, do antro de escravidão.
Não terás outros deuses além de mim.
Não farás para ti ídolos, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus,
nem embaixo, na terra, nem do que existe nas águas, debaixo da terra.
Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor
teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até à terceira e quarta
geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por mil gerações para com os que
me amam e guardam meus mandamentos.
Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não
deixará impune quem pronunciar seu nome em vão.
Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante seis dias e
farás todos os trabalhos, mas o sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor teu Deus.
Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo,
nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Pois
em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no sétimo
dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou.
Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu
Deus te dá.
Não matarás.
Não cometerás adultério.
Não furtarás.
Não levantarás falso testemunho contra o próximo.
Não cobiçarás a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem o escravo,
nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do que lhe pertence‟.
O povo todo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e a
montanha fumegando. À vista disso, o povo permaneceu ao longe, tremendo de pavor.
Disseram a Moisés: „Fala-nos tu, e te escutaremos. Mas que não nos fale Deus, do
Origens do Ensino 58
contrário morreremos‟. Moisés respondeu: „Não temais, pois Deus veio para vos provar,
para que o seu temor vos esteja sempre presente, e não pequeis‟. O povo manteve-se a
distância, enquanto Moisés aproximou-se da nuvem onde Deus estava” (Ex 20,1-21).
Outro exemplo característico é a intercessão de Abraão pelos
habitantes de Sodoma, que haviam sido condenados por causa de seus muitos
pecados, e não queriam corrigir-se. De forma plástica, o texto descreve a
reação de Deus ao pedido de Abraão:
“Partindo dali, os homens se dirigiram a Sodoma. Abraão, porém, ficou ali na presença do Senhor. Abraão aproximou-se e falou: „Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse cinqüenta justos na cidade, acaso os exterminarias? Não perdoarias o lugar por causa dos cinqüenta justos que ali vivem? Longe de ti, proceder assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse ímpio! Longe de ti! O juiz de toda a terra não faria justiça?‟ O Senhor respondeu: „Se eu encontrasse em Sodoma cinqüenta justos, perdoaria por causa deles a cidade inteira‟. Abraão prosseguiu e disse: „Sou bem atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos cinqüenta justos faltassem cinco, destruirias por causa dos cinco a cidade inteira?‟ O Senhor respondeu-lhe: „Não destruiria se achasse ali quarenta e cinco justos‟. Insistiu ainda Abraão e disse: „E se houvesse quarenta?‟ Ele respondeu: „Por causa dos quarenta, não o faria‟. Abraão tornou a insistir: „Não te irrites, meu Senhor, se ainda falo. E se não houvesse mais do que trinta justos? ‟ Ele respondeu: „Tampouco o faria se encontrasse trinta‟. Tornou Abraão a insistir: „Já que me atrevi a falar a meu Senhor: e se houver vinte justos?‟ Ele respondeu: „Não a destruiria por causa dos vinte‟. E Abraão disse: „Que meu Senhor não se irrite, se falar só mais uma vez: e se não houvesse mais que dez?‟ E ele respondeu: „Pelos dez, não a destruiria‟. Terminando de falar a Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para seu lugar” (Gn 18,22-33).
Deus é, ao mesmo tempo, misericordioso e justo Novamente, Abraão exerce um papel de intercessão, pois Deus salva
Ló da destruição de Sodoma ao lembrar-se dele: “Assim, quando Deus destruiu
as cidades da Planície, ele se lembrou de Abraão e retirou Ló de meio da
catástrofe, na destruição das cidades em que Ló habitava” (Gn 19,29). É uma
referência explícita à justiça e à bondade de Deus, que usa de misericórdia para
com Ló ao recordar-se do pedido feito por Abraão em favor dos habitantes das
cidades de Sodoma e Gomorra. Outro exemplo é a oração feita por Moisés,
Origens do Ensino 59
intercedendo pelo povo, após o episódio do bezerro de ouro, que consegue
fazer com que Deus desista do castigar o povo pelo pecado de idolatria:
“Moisés aplacou o Senhor seu Deus e disse: „Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo que libertaste do Egito com grande poder e mão forte?‟ Por que deveriam os egípcios comentar: „Foi com propósitos sinistros que os libertou do Egito, para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra‟? Renuncia ao furor da tua ira e desiste de fazer mal a teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e Jacó, com os quais te comprometeste por juramento, prometendo-Ihes: „Tomarei a vossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como posse perpetua‟. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo” (Ex 32,11-14).
Outro exemplo clássico, agora extraído do Novo Testamento, é a parábola
dos trabalhadores da vinha, na qual fica clara a misericórdia e a justiça de Deus:
“O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu para contratar trabalhadores para sua vinha. Acertado com eles o preço da diária, mandou-os para sua vinha. Saiu pelas nove horas da manhã e viu outros na praça sem fazer nada. E Ihes disse: „Ide também vós para a vinha e eu vos darei o que for justo‟. E eles foram. Saiu de novo, por volta do meio-dia e das três horas da tarde, e fez o mesmo. E, ao sair por volta das cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes disse: „Como é que estais aqui sem fazer nada o dia todo?‟ Eles lhe responderam: „Porque ninguém nos contratou‟. Ele lhes disse: „Ide também vós para a vinha‟. Pelo fim do dia, o dono da vinha disse ao seu feitor: „Chama os trabalhadores e paga os salários, a começar dos últimos até os primeiros contratados‟. Chegando os das cinco horas da tarde, cada um recebeu uma diária. E quando chegaram os primeiros, pensaram que iam receber mais. No entanto, receberam também uma diária. Ao receberem, reclamavam contra o dono, dizendo: „Os últimos trabalharam somente uma hora e Ihes deste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e o calor‟. E ele respondeu a um deles: „Amigo, não te faço injustiça. Não foi esta a diária que acertaste comigo? Toma pois o que é teu e vai embora. Quero dar também ao último o mesmo que a ti. Não posso fazer com os meus bens o que eu quero? Ou me olhas com inveja por eu ser bom?‟ Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos” (Mt 20,1-16).
Deus põe à prova
Mas Deus também põe seus escolhidos à prova, como fez com Abraão,
conforme relata o texto seguinte, já citado anteriormente:
Origens do Ensino 60
“Depois destes acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova. Chamando-o, disse: „Abraão‟, e ele respondeu: „Aqui estou‟. E Deus disse: „Toma teu único filho Isaac a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um monte que te indicar‟.” (Gn 22,1).
Isso porque a fé é um risco. E os seres humanos são alunos difíceis,
mas porque se trata de um caminho difícil, como o é de viver a fé, a esperança
e o amor. É necessário entregar-se a Deus, que se torna presente na
consciência das pessoas que nele passam a acreditar. A prova é crer em Deus
e na sua presença.6
Jesus Cristo tem uma pedagogia própria Analisando a obra de Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai para
proclamar o Reino de Deus, nota-se que Ele realiza essa sua missão através
das parábolas, dos milagres e do perdão dos pecados, que servem como sinais
da chegada deste Reino. E assim se manifesta a pedagogia de Jesus.
As parábolas Jesus explica a sua mensagem através de parábolas, utilizando
exemplos concretos da vida do povo. Ele faz isso porque os anos vividos na
obscuridade deram-lhe o conhecimento da vida do povo.
As parábolas têm três momentos:
1. a surpresa da descoberta, que abre uma perspectiva para o futuro e
se apresenta como revelação;
2. a tomada de consciência do acontecimento, que modifica a relação
com o passado, trazendo uma avaliação nova dos valores,
provocando, por isso mesmo, uma revolução;
3. a decisão operativa, que modifica de forma radical a situação
presente, levando a uma resolução. A parábola “reproduz um
6 CARRETO, C. O Deus que vem. São Paulo: Paulinas, 1976. p. 42-45.
Origens do Ensino 61
processo de transformação total com relação ao tempo histórico em
que se desenvolve a existência do homem”.7
Os milagres A imagem de Jesus está ligada a milagres, expulsão dos demônios,
prodígios e sinais, conforme Pedro apresenta Jesus aos judeus,
demonstrando inseparabilidade desse aspecto do Jesus histórico (cf. At
2,22). De modo geral, os Evangelhos apresentam os milagres como sinais
de que o Reino de Deus chegou.8
Os milagres caracterizam-se pelos seguintes traços:
1. relação explícita com a fé, pois esse deve levar à fé ao provocar a
pergunta “quem é este?” (Mc 1,27). Da parte dos espectadores e da
pessoa beneficiada, W. Kasper diz “que o milagre deve suscitar a
reação originariamente humana de surpresa”, abrindo a pessoa, ao
inquietá-la e sacudi-la. Mas o conhecimento e o reconhecimento do
milagre como milagre supõe a fé, isto é, enquanto obra de Deus,
supõe a fé. Como sinais, só à luz da fé podem ser bem interpretados;9
2. manifestação do “poder” de Jesus nos vários ambientes e situações;
3. manifestação de autoridade-poder que age com força libertadora e
benéfica em favor das pessoas desamparadas.10
Do ponto de vista teológico, os milagres são um evento sensível em que se
verifica a irrupção de Deus, enquanto revelam a presença e a ação de Deus.
7 Cf. FABRIS, R. Jesus de Nazaré, História e interpretação. São Paulo: Loyola, 1988. p. 174.
8 Id., p. 141.
9 KASPER, W. Jesús, el Cristo. Salamanca: Sígueme, 1986. p. 120.
10 FABRIS, R., op. cit., p. 146-150.
Origens do Ensino 62
A expulsão dos demônios A expulsão dos demônios representa a vitória de Jesus sobre o
maligno, ou seja, a luta e o triunfo sobre o anti-reino. A escravidão da pessoa ao
diabo não e o último destino do ser humano, porque ele não tem a última
palavra sobre o humano, pois esta pertence a Deus. Jesus, quando acolhe os
pecadores, perdoa seus pecados e expulsa o demônio, está mostrando e
efetivando a vinda do Reino de Deus e a necessidade de lutar contra as
potências demoníacas, sempre antagônicas ao Reino anunciado por Ele.11
A narração dos “discípulos de Emaús” A narração dos “discípulos de Emaús” (Lc 24,13-35) é paradigmática,
pois demonstram muito bem a pedagogia de Jesus para mostrar aos dois
discípulos o que aconteceu, enquanto cura a decepção sentida por eles diante
da sua morte na cruz.
“Nesse mesmo dia, dois dos discípulos estavam a caminho de um povoado, chamado Emaús, distante uns doze quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam sobre todos estes acontecimentos. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e pôs-se a acompanhá-los. Seus olhos, porém, estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: „Que conversa é essa que tendes entre vós pelo caminho?‟ Tristes eles pararam. Tomando a palavra um deles, de nome Cléofas, respondeu: „Tu és o único peregrino em Jerusalém que ainda não sabe o que aconteceu lá nestes dias?‟ Ele perguntou: „O que foi?‟ Eles disseram: A respeito de Jesus de Nazaré que tornou-se um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado a morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem iria libertar Israel. Agora, porém, além de tudo, já passaram três dias desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas de nossas mulheres nos assustaram. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram dizendo que tinham tido uma aparição de anjos e que estes afirmaram estar ele vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, acharam tudo como as mulheres tinham dito; mas não o viram‟. E Jesus lhes disse: „Ó homens sem inteligência e de coração lento para crer o que os Profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para
11
SOBRINO, J. Jesucristo libertador. Lectura histórico-teológica de Jesus de Nazaret. Madrid: Ed. Trotta,
1991. p. 128-141.
Origens do Ensino 63
entrar na sua glória?‟ E, começando por Moisés e por todos os Profetas, foi explicando tudo que a ele se referia em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde iam, Jesus fez menção de seguir adiante. Mas eles o obrigaram a parar: „Fica conosco, pois é tarde e o dia já está terminando‟. Ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estava com eles à mesa, tomou o pão, rezou a bênção, partiu-o e Ihes deu. Então, abriram-se os olhos deles e o reconheceram, mas ele desapareceu. Disseram então um para o outro: „Não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava e explicava as Escrituras?‟ Na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. Lá encontraram reunidos os Onze e seus companheiros, que lhes disseram: „O Senhor ressuscitou de verdade e apareceu a Simão‟. Eles também começaram a contar o que tinha acontecido no caminho e como o reconheceram ao partir o pão” (Lc 24,13-35).
Esta narração apresenta alguns elementos interessantes e que
mostram, muito bem, a pedagogia usada por Jesus Cristo:
1. a decepção era o estado de espírito dos dois discípulos;
2. Jesus compartilha, ao caminhar ao lado deles e perguntar o
que acontecia;
3. Jesus escuta, compreende e fala, explicando as Escrituras;
4. os discípulos o reconhecem pelo sinal do “abençoar, partir e
distribuir o pão”;
5. os discípulos sentiam o “coração arder” quando Ele lhes explicava
as Escrituras;
6. as Escrituras é o instrumento utilizado pela comunidade apostólica
para reconhecer a morte e a ressurreição de Jesus como
acontecimentos salvíficos;
7. a missão de anunciar a ressurreição aos outros (discípulos).
Eis, portanto, uma explanação da pedagogia de Deus feita a partir da
Sagrada Escritura, pois, como foi explicitado no início deste trabalho, e neste livro
que se encontra relatada a revelação de Deus para com o povo de Israel,
possibilitando caracterizá-la como amor, histórica, compreensível, eficaz,
misericordiosa, justa e baseada na confiança e na fidelidade.
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 64
TERRA E ESPAÇO:
UM APRENDIZADO DE ASTRONOMIA
GERALDO RODOLFO HOFFMANN
Introdução: duas reflexões essenciais
A relatividade das orientações e da cronologia
A própria temática referencial, “Oriente Antigo”, traz em si um certo
impasse. O que representam efetivamente, na acepção de cada indivíduo ou
grupo, as designações oriente e antigo?
Um primeiro passo, nesta decifração, pode ser o significado de duas
palavras de emprego bastante freqüente: nortear e orientar. Ambas sugerem
um rumo, ou até mesmo um preceito a ser seguido.
Nortear, etimologicamente encaminhar-se para (ou simplesmente
procurar) o Norte, define o direcionamento em função deste ponto cardeal. O
mesmo ocorre com o termo orientar que, numa variante geométrica de 90°,
refere o rumo do assim chamado Oriente.
O Oriente (e com ele o próprio direcionamento oriental) representa o
Leste ou, simplificando, o lado do “Sol nascente”. Este evento tão trivial do
surgimento solar, com o qual convivemos todas as manhãs, é a conseqüência
mais marcante da rotação terrestre: o planeta “gira para Leste”. Portanto Oriente,
oriental, horizonte do levante ou lado do Sol nascente, são de signações que
subentendem o Leste relativamente ao observador. Convém não esquecer que,
em oposição, usamos as designações Ocidente, ocidental, horizonte do ocaso ou
lado do Sol poente, para referir o Oeste em função do observador.
Origens do Ensino 65
Uma nomenclatura similar, de orientações, é empregada em função dos
posicionamentos polares: boreal ou setentrional para o Norte e austral ou
meridional para o Sul.
O que foi relatado ressalta algo muito importante: as orientações são
relativas e sempre referidas a um determinado local ou indivíduo, o qual
também designamos “observador”.
Para o morador de Porto Alegre (sede desses encontros sobre o
Oriente antigo), Tramandaí e Uruguaiana seriam (respectivamente) de
localização oriental e ocidental, enquanto Vacaria e Pelotas seriam (no mesmo
enfoque relativo) uma localidade boreal e uma austral. Conseqüentemente
Porto Alegre é ocidental para o morador de Tramandaí e oriental para o de
Uruguaiana. Além disto a capital do Estado é de posicionamento austral em
relação a Vacaria porém acusa disposição boreal em função de Pelotas.
Já numa uniformização geográfica global as orientações
fundamentais são estabelecidas em função do Equador e do meridiano de
Greenwich. O desdobramento natural da Terra em hemisférios Austral (Sul)
e Boreal (Norte) é feito em função do Equador. De modo similar o meridiano
de Greenwich, seqüenciado pelo seu antípoda (o antimeridiano), divide o
planeta convencionalmente nos hemisférios Ocidental (para Oeste de
Greenwich até o antimeridiano) e Oriental (para Leste de Greenwich,
também até o antimeridiano).
O que vem a ser então o Mundo oriental se para nós (americanos lato
sensu) os europeus, africanos, asiáticos e australianos estão em
posicionamento relativo oriental; e o estão, em sua maior parte, face ao próprio
meridiano de Greenwich?
Tomemos inicialmente a Bíblia como fonte de duas curiosas referências:
o segundo capítulo do Genesis e o segundo de Mateus.
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 66
Lemos em Gn 2.8:
– E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, que fica no Oriente, e
colocou nele o homem que havia formado.
E em Mt 2.1:
– Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do Rei Herodes,
eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém.
Onde procurar, geograficamente, tais referências?
O Jardim do Éden estaria em algum lugar da Mesopotâmia, equivalente
ao atual Iraque, enquanto Jerusalém situa-se em Israel, junto à divisa com a
Jordânia. Em função do Meridiano de Greenwich ambos estão no hemisfério
oriental e, inclusive, orientalmente em função da própria Europa. Além disto
Israel pertence ao que usualmente é designado Oriente Próximo e o Iraque ao
Oriente Médio. Entretanto, de acordo com as citações anteriores, tanto o Jardim
do Éden como a procedência dos Reis Magos são referidos ao “Oriente”.
Estaríamos diante de “localidades” ao “Oriente do Oriente do Oriente”? Assim
seria apropriado esclarecer o que, tradicionalmente, nos foi imposto como
sendo Oriente; apesar de não haver, sequer, uma uniformidade.
Existe uma tendência para considerar três regiões fundamentais: o
Oriente Próximo, o Médio e o Extremo Oriente. Em obras como o The
Eyewitness Atlas of the World o Oriente Próximo compreende apenas a Síria, a
Jordânia, o Líbano e Israel. O Oriente Médio inclui o Irã (Pérsia), o Iraque, a
Arábia Saudita, o Yemen, Oman e os Emirados Árabes. Conseqüentemente o
Extremo Oriente abrangeria regiões ao Leste das antes referidas. Em outras
fontes encontramos a aglutinação da Turquia, sudeste asiático e Norte da África
(incluindo por vezes Afeganistão, Irã e Iraque) como constituindo o Oriente
Médio, o qual passaria a ser confundido ou sinonimizado com Oriente Próximo.
O Oriente Extremo (Extremo Oriente) compreenderia então os países do Leste
asiático (China, Japão, Coréia, Mongólia, Manchúria e parte sudeste da
Origens do Ensino 67
Sibéria), incluindo usualmente outras regiões do Sul e sudeste do continente,
bem como os arquipélagos da Indonésia e Filipinas. Nestas abrangências não
costumam constar duas importantes áreas físicas do hemisfério oriental: a
maior parte da Sibéria (possivelmente por seu posicionamento nórdico) e o
subcontinente indiano. Este último seria um conveniente divisor de áreas para
uma eventual simplificação.
Surge pois a conveniência de estabelecer, para fins didáticos, um
desdobramento elementar mas de cunho prático; sobretudo se levarmos em
conta o “bairrismo europeu” propriamente dito, em séculos passados,
superimposto a realidade física das massas continentais. Para tanto
tracemos uma linha curva sinuosa, iniciando no Mediterrâneo e culminando
no oceano Ártico.
Avançando por um dos ramos do Mediterrâneo, o mar Egeu, situado
entre a Grécia e a Turquia, seguimos a Oeste de Istambul (previamente
Constantinopla e na “antigüidade” Bizâncio) alcançando o mar Negro e
passando deste, ao longo do Cáucaso, para o mar Cáspio. Então
acompanhamos, para noroeste, o trecho final do rio Volga, próximo à foz,
arqueando depois para Leste e seguindo os montes Urais até o mar de Kara.
Ao Sul do Mediterrâneo esta linha avança pela África dissociando a Líbia
(Oeste) do Egito (Leste) (Vide Prancha I).
Tal linha divisória separa a Europa propriamente dita (bem como
grande parte da África) – na condição de Ocidente clássico – da Ásia (à qual
está vinculado o nordeste africano em termos de evolução histórico-cultural).
Finalmente o Oriente tradicional, configurado pela Ásia e pelo já citado nordeste
africano, pode ser submetido a um desdobramento complementar. Tendo a
Índia (considerada uma unidade independente) como região referencial, todos
os territórios além dela configuram o Extremo Oriente. As regiões entre a
Europa e a Índia passam a ser enfocadas de duas maneiras distintas, conforme
a conveniência ou a perspectiva de um determinado autor. Se tomadas em
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 68
caráter unitário compõe, num bloco único, o Oriente Próximo lato sensu; se
submetidas a uma dicotomia desdobram em Oriente Próximo propriamente dito
e em Oriente Médio. No Caso deste desdobramento, relativamente à Europa, a
primeira região será proximal e a segunda distal.
E tão complexa quanto à relatividade convencional das orientações, é
também a problemática cronológica. Enquanto a primeira diz respeito ao onde
estou, a segunda trata do quando algo ocorreu (ou ocorrerá).
De entremeio um lembrete: “o que digo, leio ou escrevo, já não e mais
presente; pertence ao passado no instante seguinte ao ocorrido”. Presente, no
sentido mais rigoroso, seria o instante de transição do passado ao futuro.
Assim como locais são definidos por seu posicionamento relativo, o que
implica em referir orientações e distâncias, os acontecimentos são vinculados
as unidades específicas do tempo. Se dispomos de unidades de mensuração
linear, para uma gama que vai de dimensões astronômicas para valores
atômicos e subatômicos, também dispomos de unidades para tratar de lapsos
temporais de grande amplitude até ocorrências de uma rapidez que escapa a
nossa percepção rotineira. Então falar de anos luz, quilômetros e angstroms é
tão natural quanto citar eons, séculos ou nanossegundos.
Portanto chegamos ao problema “Oriente ANTIGO”.
Se já temos uma boa noção do que é Oriente, conforme o enfoque pelo
qual optarmos, resta decifrar o que é “ANTIGO”.
Os zigurates, os menires, as pirâmides e as estátuas da Ilha da Páscoa
são considerados antigos; o que não é novidade para ninguém. Mas um rádio
de válvulas, uma vitrola, um fogão a lenha, uma “caneta-tinteiro” e até uma
“máquina de escrever” também são considerados antigos. Enquanto afirmarmos
que a múmia de um faraó, dada sua relativa antigüidade, é velha, não podemos
ignorar a criança que volta da escola dizendo:
– “A professora é uma velha chata, já deve ter uns trinta anos...”.
Origens do Ensino 69
Mais uma vez deparamos com os inevitáveis enfoques relativos e a
necessidade do estabelecimento de parâmetros apropriados a cada circunstância.
A Terra, bem como o Sistema Solar ao qual pertence, tem uma idade
avaliada em pelo menos 4.700.000.000 de anos. Tanto a história registrada da
humanidade, como a própria duração de uma vida humana, são ínfimas se
comparadas ao tempo de existência do nosso planeta. Na mesma proporção o
tempo de detonação de um explosivo é minúsculo em relação ao transcurso da
vida de uma pessoa.
A lentidão relativa da evolução terrestre, desde sua origem, é
referida em grandes blocos temporais: os eons, as eras e os períodos. O
mesmo desdobramento do tempo é empregado quando se fala em evolução
biológica. Já os eventos da história humana são associados a milênios,
séculos e décadas. Os tempos do estilhaçar de um copo que cai, ou da
progressão de um projétil recém-disparado, não podem ser avaliados
através das unidades de tempo antes referidas; estamos ingressando no
âmbito dos segundos e suas frações.
Assim como longe e perto, alto e baixo, fundo e raso, largo e estreito,
longo e curto (ou tantos outros pares), representam conceitos vagos, o mesmo
e válido para antigo e recente ou para novo e velho.
Em termos geológicos a definição do protocontinente de Ur, ocorrida há
3.000.000.000 de anos, é um evento “antigo”, enquanto os derrames basálticos
que formaram a Serra Geral, estimados em 120.000.000 de anos, são
acontecimentos “recentes”.
Em contrapartida o domínio de Akhenaton e Nefertiti, iniciado por volta
de 1530 a.C., é incondicionalmente aceito como um fato histórico “antigo”; mas
pouco representa comparado aos “recentes” derrames basálticos.
A Segunda Guerra Mundial, tida como um evento “recente”, ocorreu
quando a maioria das pessoas, atualmente vivas, ainda não tinha nascido.
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 70
Seria “antigo” o que vem antes e “recente” o que vem depois do início da
contagem do calendário convencional? A própria noção de Idade Media é um tanto
vaga. É por estas razões que a própria temática do “Oriente Antigo” flutua, como
um barco desgovernado e sem estabilidade, ora jogado para diante, ora lançado
para trás, ora adernando ao sabor das ondas, no nosso caso nada mais que os
enfoques relativos humanos. As próprias culturas grega, romana e ameríndia (esta
em condição especial) participaram do elenco de temas abordados por ocasião da
“IV Jornada de Estudos do Oriente Antigo: As Origens do Ensino”, ocorrida na
PUCRS nos dias 21 a 23 de maio do ano de 1998.
Como em todas as outras áreas do conhecimento humano, também na
História são estabelecidas convenções. Em termos práticos a História antiga diz
respeito a épocas anteriores ao ano 476, data da queda do Império Romano no
Ocidente. O “Oriente Antigo”, portanto, deveria abranger não só as culturas que
surgiram, evoluíram e eventualmente extinguiram, na área física inicialmente
delimitada, como os eventos pertinentes que tenham precedido o último quarto
do quinto século do calendário convencional.
Nossa herança cultural Os diversificados conhecimentos que compõem o acervo científico-
cultural sul-americano pouco têm de autóctones. Provêm do acúmulo de
elementos, efetivado com parcialidade ao longo de cinco séculos, como
decorrência da intromissão dos povos boreais e outras influências posteriores.
Assim a colonização sul-americana pelos europeus, oriundos do hemisfério
Norte, à semelhança do também ocorrido em grande parte da África, ocasionou
diversos aspectos negativos. Embora só o Sul da África seja efetivamente
meridional, os povos africanos eram tratados, cultural e geograficamente, como
“inferiores”; talvez apenas por não serem europeus (“brancos”). A riqueza
cultural dos povos ameríndios foi censurada, ou aniquilada, para favorecer a
implantação de uma imposição cultural européia.
Origens do Ensino 71
Não podemos esquecer, por outro lado, o fato de ter havido uma
diferença acentuada nos graus de aculturações ao compararmos a América do
Norte com a Central e a do Sul. Isto se deve aos distintos países europeus que
assumiram o “dever” (segundo sua própria visão e conveniência) da
colonização do “Novo Mundo”. Na América do Sul, na Central e no sul da
América do Norte ocorreram as influências portuguesa e espanhola,
distintamente do verificado na maior parte da América do Norte. A chegada dos
escravos negros, às Américas, aumentou a miscigenação, não só física como
também cultural. Por outro lado não pode ser esquecida uma nova aculturação,
de caráter intra-americano, induzida pela grande força político-econômica
representada pelos Estados Unidos da América do Norte. Basta lembrar, a título
de curiosidade, que graças aos tão divulgados filmes de “faroeste”
(efetivamente Far West: o Oeste distante ou longínquo Oeste), os brasileiros
conhecem mais nomes tribais de índios norte-americanos – e seus costumes –
do que dos próprios índios brasileiros.
Mas algo fundamental em todo este panorama é o fato dos
navegadores que detonaram tal processo terem partido, sobretudo inicialmente,
da península Ibérica. Nas embarcações vinham poucos elementos eruditos
mas, tanto eles como o restante das tripulações, portadores das culturas de
suas terras de origem; culturas mescladas de componentes circumediterrâneos,
isto é, tanto europeus como norte-africanos. Esta cultura amalgamada, já por si
bastante complexa, tinha suas próprias raízes históricas no mundo greco-
romano. E estas raízes, por sua vez, ancoram-se em outras ainda mais
remotas, particularmente mesopotâmicas.
O fato é que tudo o que sabemos sobre o mais remoto passado provém
de documentação efetiva, quando a mesma existe, ou de reconstituições
calcadas em dados falhos e suposições, e portanto passíveis de serem fictícias.
E pairando, acima de tudo, a célebre citação de que a história foi (e
naturalmente continua sendo) escrita pelos vencedores.
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 72
Contudo ainda existe, em tudo isto, uma implicação muito peculiar.
Embora para os gregos de dois milênios passados, e até mesmo para
alguns eruditos de cinco séculos atrás, a Terra fosse um corpo globóide, no
âmbito popular era considerada plana. Portanto os marinheiros portugueses,
espanhóis ou outros tantos (bem como o povo em geral), viviam num mundo
plano e com receio constante de que as embarcações despencassem
quando – e se – chegassem aos limites do “mar-oceano”. Foi necessário
redemonstrar a esfericidade terrestre pela circunavegacão. Afinal, as teorias
não devem ser “demonstradas”?
O fato é que viajaram e vieram para o Sul (a bússola já era conhecida
de muito tempo antes), chegando ao que julgavam ser o lado oposto da Terra.
Portanto saíram de seu mundo original e vieram para outro que ficava
“embaixo”: sob as suas pátrias. E tantas palavras surgiram ou reacenderam seu
primitivo significado: submundo, subordinado, subalterno, subdesenvolvido,
subnutrido, submisso e assim por diante!
Não herdamos apenas a cultura circumediterrânea, mas também um
“condicionamento progressivo de inferioridade” o qual, lamentavelmente,
permanece numa condição de inconsciente espontaneidade. Ouvimos
constantemente frases ressaltando nossa “posição inferior”, ditas sobretudo por
nossos conterrâneos;
– “O Canadá fica lá em cima”.
– “Na próxima semana vou subir até os Estados Unidos”.
– “Que inveja dos europeus, lá em cima agora está nevando”.
E por que não considerar o próprio contexto em termos nacionais?
É tão freqüente ouvir um gaúcho ou um catarinense afirmando:
– “Os deputados e senadores, lá em cima em Brasília...”
– “Tenho um vôo agora no fim da manhã; vou subir até São Paulo”.
– “Quando estive Iá em cima, na Amazônia...”
etc., etc., etc.
Origens do Ensino 73
Será que estamos realmente “embaixo”?
Basta sair à noite para olhar um céu repleto de estrelas. Ao levantarmos
os olhos não veremos os Estados Unidos, a França ou a Itália, nem tampouco
São Paulo ou Brasília; veremos apenas o panorama celeste.
Abaixo de qualquer habitante do planeta está a Crosta da Terra, depois
o Manto e, finalmente, o Núcleo terrestre. Estamos ligados à Terra por sua força
gravitativa e o verdadeiro “embaixo”, para qualquer ser vivo existente no
planeta, é o centro da própria Terra.
Independentemente do grau de dependência que tivemos, e ainda temos
relativamente aos habitantes do hemisfério Norte, os tempos ditos modernos
trouxeram uma incomensurável acessibilidade aos conhecimentos das mais
diversas fontes e as descobertas relevantes dos múltiplos campos do saber
humano. Estamos, pois, capacitados a recuar no espaço e no tempo para tentar
reconstituir as origens, no presente caso, do conhecimento e transmissão daquilo
que nossos ancestrais mais remotos decifraram em relação ao Universo.
A Terra no contexto espacial Onde está a “Nave Gaia”? Dentre os mais célebres mitos gregos encontramos o de Hércules,
renomado por sua força e pelos trabalhos com os quais foi confrontado.
Filho de Zeus, com a mortal Alcmene, foi levado ao Olimpo, logo após
seu nascimento, para ser amamentado por Hera. Extraordinariamente robusto,
mesmo quando ainda um bebê, apertou e sugou os seios divinos com tanta
força que grande parte do leite escorreu para o céu manchando-o com uma
faixa de nódoas brancas.
Surgiu ali uma trilha leitosa, a Via Láctea, a nossa galáxia!
Em termos astronômicos, porém, qualquer galáxia é um aglomerado,
usualmente regular, formado por dezenas a centenas de bilhões de estrelas.
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 74
O Sol, apenas uma modesta dentre as muitas estrelas da Galáxia, está
localizado numa região de baixa densidade estelar, no espaço entre dois ramos
oriundos da bifurcação de um dos braços. Estes, em número provável de três,
emergem do núcleo galáctico circundando-o em disposição espiralada. E o Sol
está distanciado cerca de 30.000 AL (anos luz) do centro daquele núcleo (Vide
Prancha II: figura 1).
Orbitando o Sol encontramos planetas e muitos corpos menores, como por
exemplo os asteróides. Na terceira órbita encontra-se um binário: o sistema
planetário duplo integrado pela Lua e pela Terra, esta com um diâmetro
praticamente quatro vezes maior que o lunar. O termo latino terra equivale ao grego
gea (eventualmente gaia). Diante de seu movimento orbitando o Sol, e juntamente
com ele na sua viagem em torno do centro do núcleo galáctico (além de portar vida
em sua superfície), a Terra é por vezes designada “Nave Gaia”.
Plutão, o planeta mais afastado do Sol, está numa distância média de
seis bilhões de quilômetros. O mais próximo vizinho estelar, o sistema ternário
(tríplice) da Alfa do Centauro, está a 4,3 AL (anos luz), portanto num
afastamento (relativo ao Sol) 6.800 vezes maior que o de Plutão. Isto, numa
escala mais acessível, significa: se um ponto representando Plutão estivesse a
um metro do Sol (também um ponto), a Alfa do Centauro estaria numa distância
de 6.800 metros (6,8 km). Portanto as distâncias dos planetas ao Sol são
desprezíveis se comparadas às distâncias entre as estrelas. Na prática,
conseqüentemente, tanto faz referirmos a distância de determinada estrela ao
Sol ou a Terra.
As estrelas, aparentando pontos luminosos no céu noturno, podem ser
vistas em todos os sentidos no espaço. Em algumas destas orientações a
quantidade das estrelas visíveis (e inclusive detectáveis por instrumentos) é
menor, noutras maior, dependendo de sua concentração relativa.
Se olharmos na orientação do ramo externo (região de Touro e Gêmeos)
ou do ramo interno (região do Escorpião e do Sagitário), do braço galáctico ao qual
Origens do Ensino 75
pertencemos, a concentração de estrelas é tão grande que aparenta uma faixa
branca irregular: a Via Láctea propriamente dita. Esta faixa por nós observável
representa, portanto, apenas a parte efetivamente visível da nossa galáxia.
Zonas do céu noturno com poucas estrelas são um indicativo de
estarmos olhando para fora do plano principal do corpo galáctico.
Um primeiro contato com o céu Na observação do céu noturno atual, como naquelas efetuadas em
décadas, séculos ou milênios passados, algo não mudou. Com o gradual
obscurecimento do céu, após o entardecer, surgem progressivamente pontos
luminosos, sendo mais brilhantes os primeiros. Isto naturalmente subentende
um céu sem nuvens ou com poucas delas.
Não só algumas estrelas brilham mais que outras, como a concentração
estelar é maior em algumas regiões do que noutras. Embora se constate que
umas em relação às outras mantenham seu posicionamento relativo inalterado, o
conjunto de estrelas – como um todo – sofre um progressivo deslocamento. Isto é
mais notório junto aos horizontes Leste e Oeste. As estrelas próximas ao
horizonte Oeste desaparecem gradualmente enquanto as do Leste
aparentemente sobem, surgindo outras em seu lugar. A Terra, girando para Leste
em seu movimento de rotação, possibilita a ascensão, no céu noturno, das
estrelas antes abaixo do horizonte Oriental. Assim uma estrela, que no início da
noite está logo acima do horizonte Leste, parece percorrer o céu e ir ao encontro
do horizonte Oeste antes do amanhecer.
Todos os povos atuais constatam isto, e os do passado constataram
também. E algo mais pode ser observado, como igualmente o foi em tempos
passados. Se determinada estrela, ou constelação de referência, está acima do
horizonte Leste no início de uma noite de verão, a mesma estará “descendo”
para o horizonte Oeste, no mesmo horário, em uma noite de inverno.
E tudo isto os “antigos” também já sabiam.
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 76
E enquanto davam nomes às estrelas, e aos grupamentos que as
mesmas formavam, nasciam as constelações.
Nossos ancestrais também reconheceram que algumas estavam
dispostas numa faixa peculiar que ficou conhecida como o “Círculo dos
animais”, o clássico Zodíaco. E igualmente perceberam que, no decurso dos
meses e dos anos, tanto a Lua como também o Sol percorriam o céu ao longo
daquela faixa. E, mais curiosamente ainda, constataram que havia certos
pontos luminosos que não mantinham suas posições fixas em relação aos
outros pontos brilhantes de uma constelação. Percorriam o Zodíaco indo,
inclusive, de uma constelação a outra: as “estrelas errantes”, “peregrinas”,
“andarilhas”, “vagabundas”; mais precisamente, os planetas.
Percebido o posicionamento de certas zodiacais no horizonte, ao “nascer”
e “pôr” do Sol (e conseqüentemente no seu alinhamento), tudo isto coincidindo com
épocas especiais do ano, os homens relacionaram estes fatos com as épocas
sazonais: podiam prever as estações, os tempos de seca e os de muitas chuvas.
Assim surgia o primeiro elo utilitário da observação do céu, possibilitando prever
acontecimentos fundamentais para a sobrevivência humana.
Outro procedimento muito importante para o avanço desta ciência, então
ainda por nascer, foi o de classificar e posicionar as estrelas e constelações: o
“primeiro passo” para o mapeamento do céu. Fazer isto com exatidão requer
coordenadas e algumas, naturais, sobressaem logo: o Equador e os pólos celestes
são simples projeções, no céu, do Equador e dos pólos da Terra.
Outras duas constatações feitas por nossos antepassados, que
continuam fundamentais em tempos modernos, são as dos solstícios e dos
equinócios. Cumpre lembrar que, em função das posições solsticiais, são
determinados os trópicos de Câncer e de Capricórnio.
Por que “vemos o que vemos”? É chegada a hora de devolver a atenção ao nosso planeta.
Origens do Ensino 77
A Terra orbita o Sol seguindo uma elipse de baixa excentricidade,
isto é, quase circular. No periélio, a posição de maior proximidade da Terra
ao Sol, a distância é de 147.250.000 km, enquanto no afélio, a posição de
major afastamento, o valor passa de 152.078.000 km. A distância media,
convencionada como Unidade Astronômica propriamente dita (UA), equivale
a 149.675.000 km.
O movimento orbital da Terra, circulando em torno do Sol, constitui
sua translação e requer um tempo de 365 dias e um quarto. A órbita da
Terra costuma ser, para fins práticos, reduzida a um plano conhecido pelo
nome de Eclíptica.
Em todas as orientações, relativamente ao Sistema Solar, estão as
estrelas e, segundo a interpretação humana, as constelações por elas
formadas. Das oitenta e oito (88) constelações, oficialmente reconhecidas, parte
é própria do hemisfério Norte e parte do hemisfério Sul. Doze, entretanto, estão
alinhadas segundo a Eclíptica e compõe o Zodíaco. Mas só podemos observá-
las à noite, em decorrência de uma circunstância óbvia.
O Sol emite energia (e as partículas do “vento solar”) radialmente, isto
é, em todos os sentidos no espaço. Devido ao seu afastamento a Terra recebe
apenas uma diminuta fração da emissão solar. Convém lembrar que, de toda a
emissão solar em como das estrelas em geral, a de interesse prático imediato é
apenas a da luz visível. A luz solar é emitida radialmente mas, devido a grande
distância (150.000.000 km), atinge a Terra em condição praticamente paralela.
A figura 2 da Prancha II ressalta que a face iluminada do planeta,
portanto, e aquela metade da “esfera terrestre” voltada para o Sol. Devido à
rotação do planeta o ponto md (no posicionamento do “meio-dia”) estará, 12
horas mais tarde, na condição de “meia-noite” (mn).
Agora consideremos a Terra posicionada em A (vide figura 3 da
Prancha II) por exemplo em determinado dia do mês de janeiro. O lado voltado
para o Sol estará iluminado e, portanto, em fase diurna, com o “meio-dia” no
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 78
alinhamento solar. O lado oposto, não iluminado e, portanto, correspondente a
face escura, representa o estágio noturno. Mas diante da rotação terrestre, num
período referencial de 24 horas, um ponto superficial diretamente voltado para o
Sol (“meio-dia”) estará, seis horas depois, em fase crepuscular, mais seis horas
a “meia-noite”, outras seis horas no alvorecer e, finalmente, em novo estágio de
“meio-dia”. Durante o dia, dado o ofuscamento solar e a difração atmosférica da
luz, não podemos ver as estrelas; à noite sim.
Com a Terra em A, como referido antes, enxergamos estrelas no céu
noturno (orientação geral I, inclusive acima e abaixo), mas não no sentido do
próprio Sol. Meio ano depois (julho) a Terra estará em C, com o Sol brilhando
em seu lado diurno na orientação I. Durante a noite serão visíveis estrelas na
orientação geral II, as quais não podiam ser vistas da Terra quando na posição
A, pois então encontravam-se mascaradas pelo Sol.
Se a Terra fosse uma pequena bola, de algumas dezenas ou centenas
de metros de diâmetro apenas (e pudesse sustentar nossa vida), veríamos sua
curvatura efetiva e talvez até fossem possíveis observações como as antes
citadas. Mas a Terra tem um diâmetro superior a 12 mil quilômetros (diâmetro
equatorial referencial de 12.756 km por arredondamento para menos) e assim a
abrangência visual celeste, por parte de cada indivíduo, é limitada por seu
horizonte. Somos tão pequenos em relação ao planeta, que sua curvatura
efetiva desaparece e fica reduzida, localmente, a um simples plano delimitador
do nosso horizonte (Vide Prancha III: figura 1).
Observando a Terra pelo pólo Norte constatamos uma série de eventos
entre o anoitecer e o amanhecer. No início da noite o observador (por exemplo em
posicionamento equatorial) verá estrelas nas orientações possíveis da abóbada
celeste então visível (alinhamentos a até f no exemplo da figura 2A da Prancha III),
portanto numa abrangência – horizonte a horizonte – de 180°. Nas horas seguintes
a, depois b, e assim por diante, desaparecem no horizonte do poente, enquanto a
região f será acrescida de estrelas em novas orientações: g, h, etc., até o
Origens do Ensino 79
amanhecer (conferir as figuras 2B e 2C da Prancha III). Isto, em realidade, só nos
impede de ver as estrelas posicionadas no alinhamento do Sol.
Como no prolongamento do plano da Eclíptica estão as 12 zodiacais
torna-se óbvio que, durante a noite, podemos observar sucessivamente 11
delas, menos a décima segunda que está além do Sol.
Este é o significado horoscópico de frases como, por exemplo:
– “Deoclécia Ermengarda é taurina porque, na ocasião de seu
nascimento, o Sol estava na casa de Touro”; isto é, alinhado com a constelação
em questão. Portanto no final de abril e início de maio, época referencial para
os taurinos, o Sol deveria estar diante das estrelas de Touro e ofuscar a
constelação. Mas basta observar o horizonte Oeste ao anoitecer, em tal época,
e constataremos que o Touro ainda está acima dele. O Sol, na verdade,
“ofusca” Áries, o Carneiro. Devido a um movimento conhecido como “precessão
equinocial”, a cada 2.160 anos ocorre um deslocamento relativo de uma casa
zodiacal. Portanto o Sol realmente já esteve diante do Touro, em tal período do
ano, mas na época de Cristo.
Nas quatro semanas seguintes, com a Terra avançando gradualmente
trinta graus em sua órbita, o Sol prossegue percorrendo outra zodiacal.
Mas existem estrelas (e conseqüentemente constelações) que não
podemos ver, a não ser viajando pelos dois hemisférios: o Austral e o Boreal.
Alguém em posição literalmente equatorial, dispondo de um horizonte
completamente desimpedido (um oceano, no caso), poderia – teoricamente –
observar todas, mas as polares confundiriam com a linha do horizonte.
Como nossa visão é limitada pelo horizonte local, o panorama celeste
abrange um circuito de 180 graus (180°), enquanto o outro hemisfério celeste,
na mesma ocasião, estará abaixo do referido horizonte.
Face à rotação terrestre podemos ver, durante a noite, o céu noturno
mudar como se girasse no alinhamento Leste-Oeste. Contudo as estrelas
circumpolares boreais estarão sempre fora do nosso campo de visão.
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 80
Porto Alegre está na latitude austral de trinta graus (30° S). Assim a
projeção celeste do pólo Sul da Terra, definindo o pólo Sul celeste, também
estará trinta graus acima do horizonte (vide figura 1 da Prancha IV). No sentido
contrário, o boreal, estarmos limitados aos sessenta graus (60° N) e não
podemos ver estrelas além deste limite. Isto impede a observação, em nossas
latitudes, de algumas constelações famosas, tais como a Ursa Menor e Cefeu.
Do mesmo modo os europeus, norte-americanos e canadenses, não
podem ver o Cruzeiro do Sul e o Triângulo Austral. Para facilitar a compreensão
deste fato é conveniente comparar a figura referida com sua simétrica, a de
número 2 na Prancha IV.
Na observação celeste noturna podemos ver estrelas e constelações,
com trinta graus de declinação austral, passarem pelo zênite, isto é, na vertical
do observador. A declinação representa o afastamento angular em função do
Equador celeste. Estrelas e constelações de declinação boreal equivalente (30°
N) estariam em igual elevação acima do horizonte Norte (também 30°) para o
observador porto-alegrense. Por esta razão a estrela Fomalhaut (declinação 30°
S), do Peixe Austral, passa praticamente sobre Porto Alegre; assim como as
constelações do Cão Maior, do Escorpião e do Sagitário.
Já a estrela Alpheratz (atualmente Alfa de Andrômeda), situada no
limite desta constelação com Pégasso (cujo quadrilátero integrava
antigamente), e praticamente comum às duas e apresenta uma declinação de
29° N. As duas constelações citadas estão dispostas obliquamente sobre o
paralelo celeste boreal de 30°, alinhamento no qual também estão constelações
como o Boiadeiro, a Coroa Boreal e Gêmeos. Nesta última a estrela Pollux
possui a declinação de 28° N.
Assim como nós vemos Alpheratz (na época e horários compatíveis),
cerca de 30º acima do horizonte Norte, os habitantes da Mesopotâmia viam –
como ainda vêem – Fomalhaut em elevação similar no horizonte austral. O que
para nós representa o Cruzeiro do Sul, em posicionamento celeste, a Ursa
Origens do Ensino 81
Maior e Cassiopéia representam para os povos boreais. A razão de tudo isto é a
latitude geográfica.
Porto Alegre, trinta graus ao Sul do Equador, está na mesma faixa
meridional da Austrália (a linha mediana deste continente está sobre os 25°).
Nahr-Dijlah e Nahr al Furãt, respectivamente os rios Tigre e Eufrates,
confluem num trecho final comum (Shatt al Arab) cuja foz está junto ao Golfo
Pérsico. A latitude local é de 30° N. A cidade do Cairo, próxima ao delta do Nilo,
igualmente detém tal latitude. A Pérsia, por exemplo, estende-se
aproximadamente de 25° N a 35° N, enquanto a Grécia abrange latitudes gerais
de 36° N a 41° N. O equivalente austral desta última iria de Buenos Aires e
Montevidéu até a Península Valdés.
Isto mostra que só teremos uma melhor compreensão do “Oriente
antigo” boreal (pois a Austrália e a Nova Zelândia costumam ser ignoradas
como Oriente por serem austrais), no que diz respeito ao conhecimento do céu,
fazendo o necessário paralelo com o como e o que pode ser observado do
hemisfério Sul.
A questão solstício-equinocial Eis que surge um detalhe astronômico capaz de afetar e complementar
aquelas condições ideais de observação do céu: a inclinação axial terrestre. O
que foi até aqui exposto seria perfeito para uma Terra com o eixo perpendicular
ao plano da Eclíptica. Contudo o eixo terrestre está inclinado de 23°27‟ em
relação a uma normal (linha de referência ortogonal) ao plano da Eclíptica (Vide
figura 1 da Prancha V).
Como o Equador é perpendicular ao meio do eixo terrestre, assim como
a normal também o é relativamente à Eclíptica, todos cruzados num ponto
representado pelo centro da Terra, aquele mesmo ângulo (23°27‟) também é
subtendido entre o Equador e a Eclíptica. Pela mesma figura podemos
constatar que o alinhamento da Eclíptica intercepta o planeta em dois pontos (m
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 82
e n). É a propagação superficial destes pontos, diante da rotação terrestre, que
gera os trópicos de Câncer e de Capricórnio.
No seu bailado em torno do Sol a Terra conserva a inclinação axial, não
só constante, como sempre voltada para o mesmo lado. Por esta razão a
Eclíptica não coincide com o Equador, mas forma, em sua projeção durante a
translação anual, uma longa linha sinuosa em relação ao mesmo. Junto a esta
linha sinuosa desenhamos, nos mapas celestes, as constelações zodiacais.
Observando a figura 3 da Prancha IV constatamos que, se numa dada
ocasião a Terra estiver na posição A, em relação ao Sol, meio ano depois
estará na posição B. Em cada uma destas ocasiões um dos hemisférios recebe
mais energia que o outro: num hemisfério será verão e no outro inverno.
O momento extremo do verão de um hemisfério decorre da incidência
da energia solar diretamente (verticalmente) sobre o trópico correspondente,
definindo o solstício de verão. No outro hemisfério ocorre o solstício de inverno.
Meio ano depois, diante da translação terrestre (mas da inclinação axial
inalterada) a situação inverte.
Nos termos médios de dois solstícios consecutivos a Terra acusa
incidência máxima de energia solar diretamente sobre o Equador. Nestas posições
terrestres, que caracterizam os equinócios (de outono num hemisfério e de
primavera no outro), ocorre uma partilha igual de energia para os dois hemisférios.
Assim, no decurso de cada ano, a latitude de incidência solar
máxima (perpendicularmente a superfície terrestre) varia, gradualmente, de
um trópico a outro, passando pelo Equador; depois inverte o sentido
retornando ao “estágio” original.
Um importante detalhe é o fato de, em dois momentos no decurso de
cada ano, a incidência de energia solar ocorrer verticalmente sobre o Equador:
os instantes dos equinócios. Geometricamente estes dois eventos anuais
ocorrem no cruzamento da linha equatorial com a linha da Eclíptica.
Origens do Ensino 83
Os dias dos equinócios de outono e primavera, bem como dos
solstícios de verão e inverno, já constavam dos calendários dos povos da
“antigüidade”; mais de seis milênios antes dos dias atuais. Eram datas
marcantes e usualmente festivas. E muitos simbolismos nasceram, para a
história da humanidade, pelo fato de certas constelações zodiacais estarem
exatamente em tais orientações solares.
Tecnicamente cada solstício de verão corresponde (como já referido
anteriormente) à data da incidência vertical de energia solar sobre um dos
trópicos, portanto o auge do verão; enquanto no hemisfério oposto teremos o
ponto máximo do inverno. Nos equinócios a incidência vertical (direta) de
energia solar é constatada exatamente sobre o Equador. Embora os solstícios e
os equinócios constituam os momentos sazonais máximos (seus auges),
estamos acostumados a considerar convencionalmente, e isto não deixa de ser
uma continuidade da herança cultural dos “antigos”, cada uma destas quatro
datas como o início da estação em questão.
Constelações Embora para um astrônomo cada constelação seja uma região celeste
poligonal, delimitada por coordenadas e portanto compreendendo tantas
estrelas quantas os recursos técnicos de observação permitam detectar, na
prática – e para o assim chamado “leigo” – a constelação clássica é apenas
uma figura formada por algumas estrelas mais representativas.
Dada a nossa “subserviência austral”, o aparato didático-pedagógico
nos chegou – e ainda chega – do hemisfério Norte: não só métodos mas, acima
de tudo, livros e outros recursos equivalentes (mais recentemente filmes, vídeos
e o universo computacional).
Até poucos anos passados estudava-se zoologia, tanto no Rio Grande
do Sul como no Brasil em geral, através da anatomia e modo de vida dos
animais europeus (e eventualmente africanos). Na abordagem botânica eram
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 84
mostradas árvores européias e norte-americanas. Livros destinados ao ensino
fundamental e ao ensino médio (primeiro e segundo graus) estavam repletos
disso e alguns ainda trazem reminiscências.
Com a astronomia não era diferente. Quando os alunos de Ciências e
de Geografia eram confrontados com referências às constelações, livros (bem
como os próprios professores) lhes apresentavam um belo e clássico exemplo:
a Ursa Menor com Polaris, a estrela polar. E as crianças pegavam os livros,
com eventuais figuras (que eram raras), e ficavam noites olhando o céu e
procurando. E isto é verídico! Naturalmente não encontravam nem a
constelação nem a estrela polar, pois esqueceram (sic) de lhes dizer que elas
não podiam ser vistas de nossas latitudes. E os ressentimentos contra as
matérias e os professores, para não falar na própria obrigatoriedade daquele
estudo, cresciam revoltando as crianças.
Em compensação sabiam apenas que o Cruzeiro do Sul estava
desenhado em viaturas (jipes, caminhões, tanques) do Exército – e em outros
equipamentos das forças armadas – e também na bandeira nacional (em geral
nem ali sabiam encontrá-lo). Localizá-lo no céu, então, era uma incógnita. E é
tão simples quando sabemos para onde (e quando) olhar, pois o Cruzeiro do
Sul representa uma constelação muito apropriada para fins de exemplificação; e
é um grupamento austral.
Embora integrado por grande número de estrelas, as fundamentais são
em número de cinco. Estas cinco estrelas fundamentais estão a diferentes
distâncias da Terra e também possuem distintas luminosidades. Os brilhos
aparentes resultam do efeito do afastamento sobre a luminosidade real, a
semelhança de uma lâmpada muito forte (intensa), que com o aumento da
distância fica cada vez mais fraca (menos luminosa) para o observador (Vide
figura 2 da Prancha V).
Sua localização, no céu noturno, depende de três fatores: época do
ano, horário e orientação. E o próprio nome já ajuda bastante: Cruzeiro do Sul.
Origens do Ensino 85
Se for março, por exemplo, estará pouco acima do horizonte sudeste,
no início da noite, em posição quase horizontal (“deitada”). Em junho seu
posicionamento é praticamente vertical, e bastante elevado, no alinhamento
Sul. Já em setembro, no mesmo horário, estará acima do horizonte sudoeste.
No mês de dezembro estaria em condição “rasante”, no Sul, só visível (e nem
em sua totalidade) com um horizonte completamente desobstruído. As posições
citadas são sempre para o início da noite, na época referida., ,.
Entre o anoitecer e a madrugada a constelação percorre um arco, em
sentido horário devido à rotação terrestre (esta anti-horária), assumindo
algumas das posições citadas no decurso de uma mesma noite. Assim, em
marco, estará acima do horizonte sudeste no início da noite, verticalmente a
“meia-noite” e em deslocamento para sudoeste durante a madrugada.
A estrela Alfa (Acrux, estrela de Magalhães), situada numa extremidade
do braço maior do Cruzeiro do Sul, representa um recurso clássico de
orientação. Uma extensão equivalente a quatro vezes e meia o comprimento do
braço maior, direcionada pela referida estrela, praticamente define o pólo Sul
celeste. A projeção deste, no horizonte, indica o Sul geográfico. Já Polaris, a
estrela mais brilhante da Ursa Menor, quase coincide com o pólo celeste Norte
(Vide Prancha V: figura 3).
Mas também podemos ver numerosas outras constelações.
Muitas delas os mesopotâmicos, os chineses, os indianos, os gregos e
os egípcios (entre tantos povos) também viam.
Curiosamente tantos nomes de constelações vêm do grego e tantas
estrelas têm nomes de origem árabe. Aqui, naturalmente, cabe a clássica
pergunta: – “Por quê”?
Nossa herança cultural não é apenas o somatório das contribuições de
muitas culturas, mas também o resultado da filtragem seletiva sofrida pela
influência de cada uma sobre as anteriores.
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 86
Graças à continuidade das buscas dos estudiosos surgem novas
descobertas e, com elas, é ampliado o conhecimento do passado. Assim são
redescobertos nomes de constelações (e estrelas) que possibilitam reconstituir
uma linhagem seqüencial dos mesmos através de diferentes povos.
Na prática, entretanto, são mantidas as designações convencionais
para as 88 constelações oficiais (e para um grande número de estrelas mais
representativas) com ênfases greco-romanas e árabes, salvo para
constelações austrais externas.
Fossem quais fossem os nomes dados, pelos diversos povos da
antigüidade, o que eles viam no céu não era essencialmente diferente do que
vemos hoje, em regiões equivalentes do planeta; naturalmente se consideradas
observações não-instrumentais (sem recursos ópticos).
E isto também requer alguns esclarecimentos.
Instrumentos e técnicas cada vez mais sofisticados permitem um
conhecimento igualmente crescente do universo detectável.
Sabemos que existem estrelas mais próximas e outras mais afastadas,
e possuímos recursos para determinar as medidas correspondentes.
Só que isto não vale para o observador comum. Todos os pontos
luminosos que vemos no céu parecem igualmente longínquos.
Somos tão impotentes quanto nossos ancestrais para determinar as
distâncias das estrelas simplesmente olhando para elas. E se, numa primeira
impressão, julgássemos as estrelas menos luminosas como as mais afastadas,
estaríamos incorrendo num grande erro; nem todas têm o mesmo brilho real.
Qualquer indivíduo, de capacidade visual regular, pode avaliar
distâncias, ao menos aproximadamente. Isto se o objeto em questão não estiver
muito longe, pois existe um limite; e as estrelas são demasiado remotas.
Para corpos razoavelmente próximos recorremos aos princípios mais
elementares da perspectiva, dentre os quais sobressaem três critérios práticos:
cor, tamanho e ângulo de observação.
Origens do Ensino 87
Árvores próximas usualmente apresentam um verde intenso, mas quando
afastadas, como por exemplo a vegetação de um morro, tendem – com ele – para
tonalidades azuis. Tudo porque a transparência do ar é uma questão de grau; maior
distância, no caso, implica numa maior quantidade de ar interposto.
Por outro lado estamos acostumados a constatar que se um objeto,
por estar próximo e “grande” (dentro de determinado parâmetro), parecerá
pequeno quando distante.
Mas mais eficiente que estes dois métodos é a nossa visão binocular:
graças a posição frontal dos olhos, e ao seu afastamento, vemos cada objeto –
simultaneamente – de duas orientações. Assim tomamos conhecimento tanto
da sua tridimensionalidade como de sua distância. Mas isto também traz um
sério inconveniente: quanto major for o afastamento de um determinado corpo
(objeto), menos acurada será a precisão de avaliação da medida da distância.
As estrelas estão tão distanciadas que escapam à nossa capacidade
ordinária de reconhecer seu afastamento efetivo. Parecem todas pontos igualmente
distantes e, conseqüentemente, pontos presos à superfície de uma calota contínua:
a abóbada celeste. E esta ilusão que temos, ao olhar o céu noturno, não é nada
diferente daquela de nossos ancestrais: “o céu real dos antigos”.
Com sua incomensurável diversidade as nuvens podem sugerir formas
identificáveis com coisas que conhecemos e imaginamos. Por que não fazer o
mesmo com grupos de estrelas?
É natural que, ao longo da história da humanidade, os grupos de
estrelas sugerissem as mais variadas coletâneas de imagens: de animais a
objetos inanimados, de homens a heróis e a deuses.
Se por um lado os navegadores, que vieram para o Sul, viram no céu o
clássico símbolo cristão (uma cruz), seu reconhecimento e divulgação com a
constelação ocorreu em 1604 graças à Uranometrie de Johannes Bayer.
Entretanto as quatro estrelas que formam as extremidades dos braços
da cruz já eram conhecidas bem antes disto. Cláudio Ptolomeu, que viveu entre
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 88
os anos 90 e 160 da “nossa era” (d.C.), já as incluíra em seu catálogo de
estrelas do ALMAGESTO. Ali constavam como fazendo parte da constelação do
Centauro. Para os romanos de dois milênios passados constituíam a “Trono de
César”. Sua observação, nas épocas referidas, era possível desde a latitude de
Alexandria, embora numa posição muito próxima ao horizonte e par pouco
tempo durante o decurso da noite. A precessão equinocial não mais permite vê,
em tais regiões, mas houve épocas passadas em que isto foi possível.
Trono para uns, uma parte do Centauro para outros, uma cruz na
interpretação convencional atual, esta constelação também foi vista configurada
em outras imagens. Neste enfoque as constelações clássicas nada mais são
que figuras, usualmente imaginárias e propostas ao longo da história da
humanidade, as quais aceitamos convencionalmente.
Uma típica exemplificação é encontrada nas zodiacais, a seguir
relacionadas através de alguns grupos comparativos.
Bastante curiosa torna-se a comparação se acrescentarmos a visão
suméria do “UL.HE” (o “Brilhante Rebanho”), demonstrativo não só do elevado
Origens do Ensino 89
grau de afinidade como – sobretudo – do caráter alicerçante da herança
mesopotâmica perpetuada.
No confronto da constelação como abrangência de uma determinada
região celeste, com o conceito clássico da figura formada por estrelas, surgem
componentes que os assim chamados “antigos” desconheciam, salvo no caso de
poucas exceções (e sem a identificação da sua natureza): os “corpos nebulares”.
Com o advento dos primeiros telescópios foi constatado um fato notável:
o número das estrelas – aqueles pontos luminosos no céu – era efetivamente
muito maior. Quanto mais sofisticados os instrumentos, maior a quantidade de
astros descobertos.
Além de pontos luminosos também foram detectadas pequenas manchas,
de diversas configurações, as nebulosas e galáxias. Para os primeiros
observadores instrumentais do céu não havia diferenças em suas constituições;
aquelas minúsculas manchas pareciam todas iguais. As resoluções crescentes, de
telescópios cada vez mais potentes, acabaram mostrando que havia diferenças
marcantes. Algumas daquelas manchas representavam concentrações de gases e
foram especificamente designadas nébulas ou nebulosas. Os imensos aglomerados
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 90
de estrelas, ao contrário, passaram a receber uma atenção especial; tratava-se das
galáxias propriamente ditas.
Por outro lado foi constatado que, em torno de alguns planetas, circulavam
corpos menores, os quais passaram a ser conhecidos por satélites.
O Universo se afigurava muito mais amplo e sobretudo complexo.
Só que nada disto os “antigos” sabiam (ou supõe-se que não soubessem).
Sua visão do Universo, bem mais restrita, não era maior que a de qualquer
“humano” que hoje olha o céu com seus únicos recursos naturais: os olhos. Mas
aquilo que viam, e tentavam explicar, deixaram em seus registros.
O legado e sua transmissão
Um vínculo do passado ao presente
O conhecimento da origem e evolução das estrelas, da natureza das
galáxias e nebulosas, das distâncias dos astros, das características planetárias
e tantos outros tópicos astronômicos, são o fruto de descobertas ocorridas no
século XX, sobretudo nas suas últimas décadas.
Mas aquilo que podemos observar no céu visualmente, isto é, sem os
recursos ópticos da telescopia, era conhecido em séculos e milênios passados
por todos os povos do planeta.
As estrelas, alguns planetas (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno),
cometas, meteoros e – sobretudo – a Lua e o Sol, eram tão ou mais familiares para
os povos da antigüidade quanto para as pessoas nos dias atuais.
Uma atmosfera menos poluída, em especial pela luz, não afetava tanto
a observação do céu em épocas mais remotas. Só condições atmosféricas
adversas, tal como um céu encoberto por nuvens, dificultavam, mas isto
obviamente não mudou.
Cada grupo humano, independentemente da sua dita “primitividade”,
observou o céu visível da região que habitava. Deu nomes a algumas estrelas,
criou constelações, viu que a Lua e o Sol, bem como alguns pontos luminosos em
Origens do Ensino 91
particular (os planetas) tinham peculiaridades, aprendeu a associar a configuração
do céu com as estações do ano e tantas outras coisas mais. Muito diferente do
homem dito moderno, que só raramente – se alguma vez – olha o céu.
Dependendo do grau de propensão mística de cada povo, e
particularmente do poder inerente a certas castas sacerdotais (ou eventuais
“gurus”), o conhecimento dos astros foi vinculado – em maior ou menor grau –
com enfoques religiosos. O quanto tal conhecimento era conveniente, do ponto
de vista político, dependia do grau de intimidade – e benefícios mútuos – dos
governantes e religiosos. Afinal o conhecimento da previsão das estações e da
periodicidade lunar, por exemplo, possibilitava a confecção de calendários com
épocas de plantio, colheitas e outras atividades; com a conseqüência óbvia das
coletas de impostos correspondentes.
E se isto ocorreu na Mesopotâmia e em toda a Europa, igualmente
ocorreu no Japão, na Índia, na África (da qual apenas a parte representada pelo
Egito esteve diretamente vinculada a “nossa” herança cultural), na Austrália,
nas Américas e em quaisquer formações insulares habitadas.
Apesar de sabermos algumas coisas das tradições e dos padrões
culturais de certos povos geograficamente mais “distantes”, como os chineses
ainda os conservam, até eles aderiram (em grande escala) a uniformização
decorrente da recente “imposição ocidental”.
É curioso lembrar que, sob a égide da Igreja Católica Apostólica
Romana foram propostas, numa carta celeste específica, as constelações
cristãs: hoje elas pertencem à História.
Eventualmente chegamos a conhecer constelações criadas e
denominadas por povos afastados da “nossa” linha de evolução cultural
tradicional. A relevância destes povos, igualmente participantes dos primórdios
da escalada cultural, não é expressiva; suas contribuições originais foram
ignoradas a favor de outras e portanto não chegaram a influir no contexto
global. Constituem meras “temáticas de pesquisas” para ampliação da erudição
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 92
repousando, após concluídas e caso o sejam, na inglória solidão das
prateleiras. Ocasionalmente chegam a ser consultadas para o deleite de uns
poucos intelectuais – ou curiosos – interessados.
O que permanece representa apenas uma fração do conhecimento
humano antigo, uma versão delineada pela sucessão dos legados da
Mesopotâmia e do Egito, através dos gregos (ou eventuais outros povos
vizinhos) e romanos, até nossos dias.
Contudo tal legado do passado, embora fragmentado, chegou até nós.
E chegou pelos registros em pergaminhos, papiros, pinturas, esculturas
e, sobretudo, em um material que resistiu particularmente à ação cronológica:
as placas de argila.
Para nossa satisfação, sem querer desmerecer as sofisticações da
moderna tecnologia, as documentações mais antigas feitas em placas de argila
são, invariavelmente, as mais conservadas, e isto por milênios.
Que fita magnética duraria tanto?
Necessidade a procedimentos de registros No cotidiano deste final de século, bem como do próprio milênio,
convivemos com livros, revistas, jornais e tantos outros recursos de divulgação.
Por falar em séculos e milênios, o que também é válido para décadas,
um pequeno aparte.
Apesar do que é propalado por apressados antecipadores, alardeando
que a última década, o último século e também o presente milênio do qual
fazem parte, terminarão no dia 31 de dezembro de 1999 (31-12-1999), isto não
é matematicamente correto.
Uma década é concluída ao final de dez anos, um século aos cem anos
e um milênio em mil anos. Assim como um cento de laranjas não é formado por
99 frutos, o século não é composto por 99 anos.
Origens do Ensino 93
O novo milênio, efetivamente, começará no primeiro dia do primeiro mês
do ano 2001, e não do ano dois mil. Este último, na verdade, seria um término e
não um começo. Afinal a primeira década, o primeiro século e o primeiro milênio (do
calendário convencional) começaram no primeiro dia e no primeiro mês do primeiro
ano: O ANO UM. Nosso século (o século atual) começou na data de primeiro de
janeiro de 1901 (1º-1-1901), pois 31 de dezembro de 1900 (31-12-1900) – e NÃO
1899 – foi o último dia do século anterior.
Mas como a temática não é esta, voltemos ao assunto original.
A familiaridade com letras, sílabas, palavras e frases, torna a leitura um
procedimento condicionado e corriqueiro; obviamente para um indiví-
duo alfabetizado.
Mas nem todos os povos usam, ou usaram no passado, palavras
compostas por letras. As primeiras tentativas para o registro inteligível de
dados, que depois poderiam ser compreendidos pelo próprio indivíduo ou por
outros, constaram de simples símbolos representativos de seres vivos, de
objetos ou de eventos.
Talvez não nos apercebamos da amplitude e do significado deste tipo
de representação mas, mesmo na atualidade, ela é extremamente difundida.
Embora não constituam um procedimento regular de “escrita e leitura”, tais
símbolos gráficos povoam um mundo praticamente independente; uma espécie
de “universo paralelo da comunicação”. Alguns destes símbolos nos são
ensinados, enquanto outros – fora do nosso âmbito social, profissional ou de
simples familiaridade – acabam sendo interpretados através da consulta a
referências específicas –, por intuição ou pela simples associação com coisas
ou idéias do cotidiano. Incessantemente deparamos com sinais de trânsito,
placas alertando para alta voltagem ou existência de cães, conclamações para
respeito a gramados, indicadores de sanitários masculinos e femininos,
orientações para setores especializados em lojas de departamentos e
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 94
supermercados, bem como um número infindável (pois continua aumentando)
de outros. E isto sem esquecer o fantástico universo das siglas.
Foi com meros símbolos, muitas vezes estilizados, que nossos
antepassados mais remotos deram início a trilha de seus registros e, com eles,
a elaboração de um fantástico acervo documental; o qual não deixou de ser
uma “mensagem para o futuro”. Gradualmente vieram as palavras propriamente
ditas, as simplificações de caráter silábico e, finalmente, os alfabetos
propriamente ditos.
Reconstruir a abrangência global dos acontecimentos, num
seqüenciamento procedente das remotas fontes mesopotâmicas, até o mundo
atual, seria uma tarefa praticamente impossível. Através de uma trilha
simplificada, ressaltando apenas os fatos mais marcantes, será apresentado um
sumário dos eventos em questão.
Partindo da “escrita sintética”, ou de “pictogramas”, chegamos à “escrita
analítica”. Esta, representada por figurações de palavras isoladas, finalmente dá
lugar à codificação escrita de sons, inicialmente sílabas e, por último, um
alfabeto propriamente dito. A primeira categoria, subentendida como a da
“escrita sintética”, compreende figuras representando fatos ou idéias. Inclui
pinturas espeleológicas (em paredes de cavernas), pinturas sobre couros ou,
até mesmo, gravações em ossos, marfim e outros materiais rígidos. Tais
representações geralmente envolvem acontecimentos, mostrados como se
fossem verdadeiras estórias: um “relato” de caca, de uma batalha, de um
sacrifício ou outros. Equivalem perfeitamente aos pictogramas atuais de
estórias em quadrinhos (ou “tirinhas”) mudas, isto é, sem palavras.
Na Suméria, no Egito e na China, como exemplos bem
representativos, encontramos os casos clássicos da “escrita analítica” e suas
representações figuradas de objetos, corpos, órgãos ou até simbolismos
restritos de idéias abstratas.
Origens do Ensino 95
Os dois passos seguintes consistiram na busca de símbolos
abreviados para sons ou grupos de sons (a “escrita fonética” propriamente
dita) e o alfabeto com letras individualizadas, oriundas da decomposição dos
elementos silábicos. Para chegar a esta sofisticação foi necessário
decompor as palavras, antes representadas inteiras por figuras específicas,
em sílabas e estas, finalmente, em letras.
Divergiam os métodos e os materiais empregados, para portarem os
registros, mas o objetivo persistia.
Os sumérios, como os mesopotâmios por extensão, usavam pequenas
placas de argila imprimindo nelas séries de marcas com o auxílio de hastes de
juncos. Para aumentar a precisão destas impressões os juncos eram cortados
de um modo peculiar, em cunha, o que motivou a designação de cuneiforme
para o tipo de marca deixada na placa de argila ainda mole. A secagem,
primordialmente natural e depois por “cozimento”, assegurava o endurecimento
responsável pela grande longevidade desse material. Já na mesma época
surgiram os “selos cilíndricos”, pequenas peças (freqüentemente de natureza
pétrea) com aproximadamente 1,5 cm de diâmetro e 2,5 cm de comprimento,
dotadas de uma perfuração longitudinal para alojar um eixo. Sua superfície,
esculpida em baixo relevo, equivale aos nossos atuais carimbos, porém com
caráter rotativo. Ao ser rolado sobre uma placa de argila, ainda mole, imprimia
nela seu desenho em relevo. O uso de tais “selos” era prerrogativa dos
poderosos, usualmente reis ou dirigentes de escalão equivalente. Também
eram usados outros tipos de “selos”, menos sofisticados, de formato piram idal e
em formato de telhado de “duas águas”.
Os egípcios, por seu lado, chegaram à sofisticação do desenvolvimento
de três escritas fundamentais, conforme sua destinação: a demótica ou popular,
a hierática ou hieroglífica cursiva (para textos religiosos) e a monumental ou
hieroglífica pictórica.
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 96
A introdução do alfabeto fonético é atribuída, com maior probabilidade,
aos cananeus, o que teria ocorrido por volta do 1600 a.C. Na sua
representação, baseada em hieróglifos, cada símbolo indicava o som da
consoante referencial. A introdução das vogais chega, sobretudo com os
gregos, no primeiro milênio antes de Cristo.
Em termos cronológicos mais específicos, temos a origem da “escrita”
propriamente dita datando de quase seis milênios passados, isto é, cerca de
3300 a 3500 a.C. para os sumérios e seguramente também – conforme dados
mais recentes – para os egípcios. Aliás é a assim chamada “invenção da
escrita” que define o início da história das civilizações.
Na cultura egípcia, convém salientar, a alfabetização era restrita mas a
“nobreza” era instruída: todos tinham a obrigação de saber “ler e escrever”.
Conseqüentemente os nobres, ao menos em certa etapa da sua vida, tinham
alguma função de escriba. A escrita egípcia, também é interessante lembrar,
era efetivada em colunas verticais e da direita para a esquerda; do mesmo
modo que a cuneiforme mesopotâmica original.
Mas a criação e o aprimoramento progressivo da escrita, bem como seu
aprendizado pelas sucessivas gerações, não ocorreu em função da astronomia
que, na época, era de um caráter astrológico bem mais marcante; não
subordinada à dicotomia atual. O termo astrologia, hoje empregado num sentido
mais “místico” seria, na verdade e por sua própria natureza etimológica, o
estudo dos astros numa abrangência global, portanto a palavra certa para
designar a ciência em questão.
Foi a preocupação dos governantes com seu futuro, julgando estar o
mesmo associado a uma predestinação inscrita nos astros e seu comportamento,
que levou a alguns dos registros.
A própria associação dos eventos celestes com possíveis “divindades”
mereceu especial destaque nos registros mesopotâmicos, como é o caso da
divisão do céu em vias: a Via de Anu correspondente à faixa zodiacal, a Via de
Origens do Ensino 97
Ea representada pelo céu austral e a Via de Enlil que seria o céu boreal. Algo
similar é encontrado nas lutas envolvendo Marduk, Tiamat e Kingu, possíveis
alegorias de um estágio da evolução do Sistema Solar.
As controvérsias de interpretações atingem um verdadeiro clímax com a
gravação oriunda de um selo cilíndrico com 4.500 anos, registrada como VA
243 e depositada no acervo do Museu Estatal de “Berlim Oriental”. Mostra os
planetas Urano, Neptuno e Plutão (desconhecidos na época pela
impossibilidade – ? – de observação instrumental).
Como alguns eventos celestes são cíclicos (por exemplo as fases da
Lua) e outros praticamente imprevisíveis (ao menos naquelas épocas) como um
meteoro ou o aparecimento de um cometa, e estando subjacente a tudo isto a
incansável busca do homem em antecipar seu futuro, o enfoque astrológico
ganhou mais e mais poder; o que persiste até nossos dias. Também a definição
das estações e da duração efetiva do ano, importantes para controle de tributações,
mereceram um grande destaque. Assim os registros correspondentes não foram
motivados pelo puro interesse astronômico mas sim pelo seu uso prático e sua
possível importância transcendental. Portanto é natural que a ocorrência de
eventuais dados de caráter astronômico seja simplesmente entremeada a toda uma
avalanche de registros “administrativos”. Independentemente do enfoque sob o qual
os astros eram estudados, algo muito importante não pode ser ignorado. A
observação do céu, e sobretudo a procura de um significado para toda aquela
magnificência, parece ter sido uma das fascinações mais antigas da humanidade.
Os materiais sobre os quais foram feitos os registros variavam de
acordo com as regiões e seus recursos naturais. Na Mesopotâmia a opção mais
prática foi a das placas de argila e as informações de caráter astronômico nelas
contidas são de caráter mais técnico. No Egito a escolha recaiu sobre o papiro,
porém os sacerdotes mostravam pouco interesse pelo lado técnico do estudo
do céu; apenas o mínimo necessário para definir calendários, o interesse maior
estava voltado para o destino do homem após a morte.
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 98
O conteúdo temático dos registros é o mais diversificado possível, mas
a finalidade primária da escrita era de caráter eminentemente burocrático.
Um fato que sobressai, em toda a documentação de placas e papiros, é
a existência de numerosos registros (sobretudo nas placas de argila)
representados por meras listagens. Tais relações, compreendendo diferentes
categorias de palavras, como por exemplo listagens de ensaio com nomes de
cidades, de profissões ou de pássaros (entre tantas outras), possivelmente
eram empregadas como recurso de ensino e de aprendizado. Os “estudantes”,
se assim chamarmos os escribas aprendizes, usavam tais listas para exercícios
de cópias. Outras listagens, como de grãos, gado, cerveja e diferentes outros
produtos, inclusive escravos, já representavam registros de propriedade, de
estoques ou ainda “notas” de transações comerciais. Em ambos os casos, seja
nas listagens para aprendizado seja nos registros de posse ou comércio, havia
uma incipiente atividade que poderíamos considerar como sendo científica,
ainda que preliminar, denotada na preocupação e no critério de ordenação: uma
típica atividade classificatória. Há realmente um predomínio efetivo em termos
de arquivamentos propriamente ditos, pouco relativamente as tecnologias da
época ou relatos de “estórias”. Só ocorrem eventuais informes sobre as
pessoas mais importantes: como, aliás, ao longo de toda a história da
humanidade. Também é apropriado destacar que para estrelas e outras
“formações” celestes, visíveis pelos antigos, sempre foram mais práticas as
representações mediante figuras, em lugar de textos descritivos ou explicativos.
Estes, entretanto, existem em grande quantidade, sobretudo na forma de listas
de estrelas e constelações, incluindo seus posicionamentos.
Outro fato documentado com muita antigüidade, para os sumérios em
especial, é seu conhecimento matemático; aliás de grande importância para a
arquitetura (por exemplo a dos zigurates – as pirâmides mesopotâmicas), para
cálculos astronômicos e para tantos outros fins. De uma época que remonta a pelo
menos dois mil anos antes de Cristo ficaram documentos incluíndo tabelas de
Origens do Ensino 99
multiplicação, cálculos potenciais de quadrados e cubos, raízes quadradas
praticamente perfeitas, logaritmos em bases dois e dez e o uso de um valor pi (π)
bastante correto. Além disto dispunham de equações lineares e equações de
segundo grau, bem como cálculos de áreas e volumes para figuras geométricas.
Também fundamentavam sua matemática numa base sexagesimal, o que ainda
hoje empregamos em dois casos muito importantes da vida cotidiana: a divisão
horária em minutos e segundos e os desdobramentos de ângulos também em
minutos e segundos, porém angulares.
A astronomia surgiu com o próprio despertar da humanidade. As primeiras
criaturas humanas, pelo simples fato de olharem o mundo circundante, também
depararam com as belas e intrigantes luzes do panorama celeste.
Começaram simplesmente desenhando e pintando o que viam. Depois,
tentando descrever e explicar, criaram estórias e plantaram as sementes de
tantas e belas lendas. Interpretaram eventos e deixaram as provas documentais
do que descobriram.
Muitas coisas foram apagadas, na longa jornada da humanidade, por
povos ou indivíduos levados a ocultar ou destruir o que outros fizeram; mas
muitas também foram redescobertas, recuperadas e continuadas pela teimosia
de outros que almejavam o conhecimento.
Novas civilizações, novas mentes, novas maneiras de encarar o
universo, incorporação dos benefícios de uma matemática de sofisticação
crescente (e bem recentemente a tecnologia instrumental), expandiram a
ciência dos conhecimentos do céu; embora surgida de uma forma originalmente
intuitiva diante da impressão causada por aquela estonteante beleza percebida
através dos olhos. Um esplendor visual para o leigo e para o profissional o qual
associa, ao seu prazer de usufruir as belezas do céu, sua contribuição individual
ao somatório do conhecimento acumulado no decurso dos milênios.
Terra e Espaço: um Aprendizado de Astronomia 100
Referências bibliográficas
AS GRANDES civilizações desaparecidas. Seleções do Reader‟s Digest.
Lisboa, 1981.
BOLIVAR, A. Padilla. Atlas de arqueologia. Rio de Janeiro: Livro Ibero-Americano.
BRONSART, Huberta von. Kleine Lebensbeschreibung der Sternbilder Kosmos
Gesellschaft der Naturfreunde. Stuttgard: Franckh‟sche Verlagshandlung, W.
Keller & Co., 1963.
COMPLETE ATLAS of the world. New York: Mallard Press, 1989.
DUNLOP, Storm (Editor), TIRION, Will (mapas). Atlas of the night sky. England:
Newnes Books, 1994.
HOFFMANN, Geraldo Rodolfo. A longa jornada do caos ao âmbar (um
enlace da mitologia com a paleontologia). Veritas, Porto Alegre, v. 35,
p.450-486, 1990.
HOFFMANN, Geraldo Rodolfo et al. Rio Grande do Sul: aspectos os da
geografia. Harry Rodrigues Bellomo (org.). 4. ed. Porto Alegre: Editor Martins
Livreiro, 1997.
MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. Dicionário enciclopédico de astronomia
e astronáutica. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1987.
RONAN, Colin. Los amantes de la astronomia. Barcelona: Editorial Blume, 1982.
SITCHIN, Zecharia. Gênesis revisitado. 3. ed. São Paulo (copyright do Genesis
Revisited): Editora Best Seller, 1990.
______. O 12º Planeta. 6. ed. São Paulo (copyright do The 12th Planet): Editora
Best Seller, 1976.
THE DORLING Kindersley. History of the world. London: Dorling Kindersley, 1994.
THE EYEWITNESS. London: Dorling Kindersley, 1994.
THE TIMES Atlas of the world. London: Times Books, 1990.
THOMAS, Oswald. Atlas der sternbilder. Salzburg: Verlag “das Bergland-
Buch”, 1945.
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 106
O CONHECIMENTO GEOGRÁFICO:
PRÁTICAS E TEORIAS
IEDA BANDEIRA CASTRO
Tratar sobre a aplicação do conhecimento geográfico e suas diferentes
teorias na IV Jornada de Estudos do Oriente Antigo: Origens do Ensino é, sem
dúvida, um assunto delicado e instigante, pois todas as investigações sobre a
origem da Geografia nos levaram a Grécia Antiga, portanto, nos conduzem a
uma sociedade do “mundo ocidental”.
Por outro lado, para visualizar as informações geográficas que esses
povos possuíam teremos que analisar a sua práxis, fazendo uma relação com
os diferentes fatos do cotidiano.
Iniciaremos esta apresentação, com um pequeno resumo da evolução
do pensamento geográfico, objetivando demonstrar que, desde os primórdios, o
“fazer geográfico” constituiu uma realidade constante na vida das populações,
mesmo que o homem não tivesse consciência disso.
O conhecimento geográfico:
evolução de suas práticas e teorias
Apesar da Geografia ser uma ciência relativamente nova, se
comparada com outros ramos do conhecimento humano, sua prática já aparece
na pré-história, quando os grupos começaram a migrar para diferentes regiões,
deixando marcas de sua presença e assimilando novos traços culturais.
Partindo do centro de origem – provavelmente da África – o homem ultrapassou
os grandes obstáculos da natureza, inclusive montanhas e mares, e ocupou
Origens do Ensino 107
terras nas mais variadas latitudes, povoando, no decorrer dos milênios, as
áreas ecumênicas do Ártico até o extremo sul da América.
Conforme Emile Bréhier, entre 12.000 a 3.000 a.C. ocorreu um
povoamento relativamente rápido do Antigo Mundo (terras da Ásia, da África e
da Europa), de tal maneira que no decurso do Mesolítico e do Neolítico, a
população humana se decuplicou ou, talvez, tenha se centuplicado.
Ao mesmo tempo, os homens despertaram para os fenômenos que
ocorriam a sua volta, olhando-os, primeiramente, com curiosidade e, depois,
utilizando as plantas e os animais, não sé como alimentos, mas também, como
abrigo, transporte, instrumentos e medicamentos.
Figura 1 – Agricultura neolítica.
Homens e mulheres, em território que é hoje alemão, usando arados, enxadas e esterroadores de ponta de pedra. (De H. F. Cleveland,
“Our Prehistoric Ancestors”; segundo K. Schumacher).
Fonte: Burns, 1989, p.18.
Desta maneira, foram se estruturando e organizando seus espaços que,
apesar de serem diferenciados e apresentarem aspectos culturais próprios, não
dispensavam a prática diária dos conhecimentos empíricos.
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 108
Dos povos primitivos às grandes sociedades, do ocidente ao oriente,
todos exerciam a práxis geográfica, conforme evidências deixadas em seus
legados. Porém, até os gregos não encontramos nenhuma teoria geográfica.
A observação do sol, da lua, das estrelas é um exemplo dessa afirmativa.
Desde a época mais antiga, o céu sempre seduziu o homem, pois sua
aparência, além de ser fonte para o imaginário, também servia de meio de
orientação nos grandes deslocamentos. Foi descrito por vários sábios do
Oriente Antigo, sem que fizessem interrogações sobre as causas dos
fenômenos observados, colocando-os entre lendas, deuses e mitos.
Os gregos foram os primeiros a estudar “os conhecimentos sobre a
superfície da Terra”, criando o vocábulo Geografia para designá-los.
Na Grécia Antiga foram construídos inúmeros trabalhos, alguns
contendo idéias que, até hoje, nos surpreendem por suas deduções, tendo em
vista as condições materiais e as tecnologias existentes na época.
Mas, apesar disso, a geografia não se desvinculou das outras
ciências, embora tenha deixado marcas em todos os estudos do espaço
terrestre e de cosmologia.
E esse andar continuou, século após século, passando por diferentes
períodos da história da humanidade e por ciclos de evolução e de declínio do
pensar geográfico.
Mesmo conhecendo a forma da Terra e estudando suas dimensões, o
homem demorou muito tempo para se afastar do Mar Mediterrâneo, o que só foi
efetivamente acontecer no período das grandes navegações. Assim, em contato
com outras regiões, o europeu começou a se interessar pela constituição do
seu planeta e, mais tarde, a estudar a origem e formação do mesmo, apesar de
autores árabes já discutirem o assunto desde o século X e existirem teorias
sobre a formação dos continentes a partir do século XII.
Só no final da Idade Moderna é que os conhecimentos geográficos
começaram a apresentar condições de se emanciparem, tendo em vista, entre
Origens do Ensino 109
outros fatores, o momento histórico, com as transformações decorrentes da 1ª
Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo.
Os precursores da geografia científica foram dois autores prussianos.
Alexandre von Humboldt (1769-1859) e Karl Ritter (1779-1859), professores da
universidade alemã, cujas obras bastante divulgadas, além de constituírem a
base da Geografia Tradicional, estão nas formulações geográficas posteriores.
Porém, a disciplina só surgiu como ciência no século seguinte, na
Prússia, antes da Proclamação do Império Alemão em 1871, num contexto em
que as questões do espaço eram discutidas e de fundamental importância para
a ordem mundial que estava se formando.
Também esse país foi o primeiro a instituir o ensino público obrigatório
extensivo a todos cidadãos e a adotar a geografia escolar produzida nos
centros universitários, que logo se expandiu para outras nações européias,
como a França, a Inglaterra e a Itália, onde seu ensino “auxiliava” na
constituição e no fortalecimento dos Estados.
Na França começou a fazer parte de todas as séries do ensino básico,
onde foram criadas, mais tarde, as cátedras e os Instituto de Geografia.
Ainda no século XIX, surgiram a Escola Geográfica Alemã e a Francesa
– baseadas, respectivamente, nas formulações de Frederico Ratzel e Paul Vidal
de La Blache – cujos princípios atendiam aos interesses do país de origem e
que, junto com seus desdobramentos, influenciariam inúmeros geógrafos nas
diferentes partes do mundo.
Como vemos, apesar de sua prática ser milenar, a Geografia só
alcançará o status de ciência a partir de 1850.
A partir daí, o pensamento geográfico começa a alçar vôos: primeiramente,
apresenta conceitos prontos e descrições e, depois, parte para outras reflexões,
com discussões que contestam, inclusive, o seu objeto de estudo.
Nesse ínterim surge um movimento de renovação que dá origem à
Geografia Moderna que, a partir de 1970, rompe definitivamente com a Tradicional.
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 110
Em conseqüência, ocorrem várias mudanças no pensamento vigente
que, além de abrirem novas perspectivas de análise e reflexão, oportunizam
outras correntes mais sociais e atuantes, como a Crítica ou Radical que possui
um conteúdo explícito, claramente identificado na afirmativa de Yves Lacoste: “a
Geografia é uma prática social em relação à superfície terrestre.”
E nesta superfície terrestre aparecem, inter-relacionados, os elementos
da natureza e os aspectos sócioeconômicos, formando um todo único, o espaço
geográfico, que constitui o espaço de existência do homem.
Por sua vez, o conhecimento geográfico faz parte das atividades
cotidianas das pessoas, estando presente, inclusive, no seu deslocamento
diário, como da casa para o trabalho; do trabalho para a Universidade; da casa
para o sítio ou para a praia. É o empirismo coexistindo com as reflexões e
teorizações sobre a superfície da Terra, matriz dos estudos geográficos.
Partindo dessas realidades, será possível demonstrar que os povos
do Oriente Antigo e da Grécia possuíam e utilizavam, sob diferentes formas,
o saber geográfico.
Oriente Antigo e as práticas geográficas Onde estava localizado o Oriente Antigo? Como os povos da
Antigüidade utilizavam os conhecimentos geográficos? Elaboravam teorias
sobre eles?
Essas são algumas perguntas orientadoras que nos possibilitarão uma
melhor procura dos fatos geográficos entre os povos do Oriente Antigo.
Examinando as relações que o lugar mantém, procuraremos desvendar
as práticas geográficas realizadas na Antigüidade Oriental, sempre levando em
conta que a “Geografia ainda não existia”.
É necessário salientar que há muitas discordâncias entre os estudiosos
sobre a exata localização geográfica e os limites territoriais do Oriente Antigo,
também denominado, por alguns, de Oriente Próximo e Oriente Médio. (Esta
Origens do Ensino 111
última expressão começou a ser usada com maior freqüência a partir da década
de 1940, tendo um caráter mais geopolítico e militar e uma concepção cujo
ponto de referência é a visão européia).
O Oriente Médio atual, com uma área de quase 7,2 quilômetros
quadrados, engloba países da porção ocidental da Ásia, do nordeste da África e
a parte européia da Turquia, além de outros que estão diretamente envolvidos
com a região, como o Egito, aí incluído por suas características culturais e
raízes históricas. Portanto, se estende por terras de três continentes,
pertencendo tanto ao mundo árabe quanto ao muçulmano.
A posição geográfica tornou o Oriente Próximo, desde a Antigüidade,
um local de passagem, o que propiciou influências de diferentes culturas e um
verdadeiro mosaico de povos, sendo que alguns praticamente desapareceram,
como os babilônios e os assírios.
Mas, retornando à pergunta inicial.
Mário Giordani escreve sobre a localização do Oriente Antigo:
“Em nosso estudo daremos um sentido amplo à expressão «Próximo Oriente», compreendendo sob tal designação a extensa área que se enquadra, de um modo geral, entre os seguintes limites: o vale do Nilo, o Mediterrâneo Oriental, o Mar Negro, o Cáucaso, o Mar Cáspio, os rios do Turquestão, as montanhas do Afeganistão, o vale do Indo, o Golfo de Oman, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Dentro desses vastos limites podemos distinguir várias zonas distintas que foram cenários de importantes acontecimentos relacionados com as origens de nossa civilização: ao forte, uma zona de planaltos e de montanhas a qual abrange a Anatólia (Ásia Menor), a Armênia e o Irã; mais para o sul, encontramos o chamado „crescente fértil‟, constituído por uma faixa de terras produtivas que acompanha o litoral mediterrâneo desde a península de Suez e, descrevendo um semicírculo, dirige-se pelos vales dos rios Eufrates e Tigre até o Golfo Pérsico. As estepes da Síria, o deserto da Arábia e, finalmente, o vale do Nilo a perder-se no interior africano, completam o cenário geográfico” (Giordani, 1997, p. 48).
Nessa região, entre 5000 e 3000 a.C., surgiram duas grandes sociedades:
a Egípcia que, com ressalvas para alguns períodos, sempre se constituiu no centro
das atividades políticas e culturais do Oriente Antigo, e a Mesopotâmia, “região
entre rios”, banhada pelos Tigre e Eufrates.
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 112
O meio físico influenciou sobremaneira o modo de vida das populações
dessas regiões, manifestando-se nas atividades socioeconômicas, assim como
nos aspectos religioso, artístico e intelectual. Mesmo não se preocupando em
conhecer as ciências da natureza por elas mesmas, possuíam noções de
Astronomia, sendo que os egípcios observavam os astros de maneira menos
sistemática e eficaz que os macedônios.
O Egito Antigo tinha no Nilo sua “fonte de vida”.
O rio propiciava a pesca, a agricultura e a pecuária; era meio de
comunicação e de relações comerciais, assim como estava presente nas
manifestações culturais do povo.
Desde muito cedo, os sacerdotes-astrônomos perceberam que o
nascimento helíaco da estrela Sírio (Sothis) coincidia com as cheias que
abençoavam suas terras. Todo ano, em julho, quando apareciam as “águas da
renovação”, Sírio “levantava-se no horizonte ao mesmo tempo que o sol”, sendo
que entre um acontecimento e outro semelhante passavam 365 dias.
Essa constatação propiciou a criação de um calendário, com o ano
dividido em 12 meses de trinta dias cada um, a que agregavam mais cinco dias
intercalados, num total de 365 dias. Os meses eram divididos em três semanas
de dez dias e estes eram divididos em dois tempos de 12 horas, um para o dia
e outro para a noite.
O ano, normalmente, era dividido em três períodos agrícolas, de quatro
meses cada um: inverno, verão e outono, época em que ocorria a inundação que
deveria ser controlada para que trouxesse os benefícios esperados, pois a terra,
preparada pelas cheias, propiciava trabalho e abundância de rendimentos.
Porém, essa mesma água poderia recobrir a região, transformando cada aldeia
numa ilhota, com prejuízos para o camponês.
Desta forma, empregando diferentes sistemas para conduzir a água do
Nilo ou dos canais mais próximos para suas terras, os agricultores começaram
Origens do Ensino 113
a drenar as áreas alagadiças e a desenvolver técnicas de irrigação e de
construção de diques e canais, bem como habilidades para repará-los.
Figura 2 – Colheita de papiro. Fonte: Giordani, 1997, p. 24.
Além de terem noções de agrimensura, também exploravam o ouro, a
prata, cobre, esmeraldas, turquesas, lápis-lazúli, topázios, recursos minerais
existentes principalmente nos desertos (Arábia e da Núbia), no Sinai e no
entorno. Essas matérias primas exigiam árduos esforços para a escavação de
poços ou para a extração dos enormes blocos de minérios, portanto, exigiam
conhecimento do solo e do relevo a serem trabalhados.
Os arquitetos e engenheiros deveriam conhecer o espaço físico onde
seriam edificadas as casas, templos e pirâmides, sendo que os egípcios já se
preocupavam com o tempo meteorológico, medindo, inclusive, a velocidade dos
ventos para prever os furacões.
Isto significa para nós que, além de observarem as formas do relevo e
os tipos de solo, também consideravam outros elementos estudados pela
Geografia, como a direção dos ventos, a incidência solar e o senso de
orientação. Entretanto, é difícil elaborar uma idéia completa e precisa dos
conhecimentos geográficos no Egito, pela escassez de dados sobre o assunto.
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 114
Otto Neubert descrevendo a pirâmide tumular de Quéops tece o
seguinte comentário:
“A planta da pirâmide representa um quadrado cujos lados estão exatamente sobre os eixos leste-oeste e norte-sul. É digno de atenção também a sua localização em relação aos graus de longitude e latitude que cortam o monumento, os quais, segundo o mapa, abrangem maior área do que quaisquer outros ângulos. Foi por acaso ou intencionalmente que se determinou aquele ponto como o „Meio‟ da superfície terrestre? Não o sabemos e deixamos o julgamento às suposições. Mas, se for verdadeira a tese de que Quéops tinha conhecimento da situação geográfica, então pode-se supor que os egípcios eram, há mais de 5.000 anos, melhores geógrafos do que os homens da época de Colombo!” (Neubert, 1962, p. 89).
As pirâmides, voltadas para o norte, mesmo apresentando um erro
insignificante de orientação, demonstram que os egípcios conheciam o norte
verdadeiro, apesar da bússola ter sido inventada pelos chineses bem mais tarde.
Todos os seus conhecimentos estavam impregnados de fatos religiosos
e de muito misticismo, o que contribuiu para que não avançassem na
compreensão do Universo.
Apesar de possuírem um dos mais avançados calendários da
Antigüidade e uma bagagem de práticas geográficas, tinham uma visão mais
voltada para a religião do que para a ciência. Assim, o céu era uma imensa
deusa, Nut, que cobria a Terra; a estrela Sothis identificava a Ísis; o Sol (deus
Rá) cruzava o céu num barco a remo, enquanto que na agricultura apareciam o
deus-Nilo e o deus-grão.
Os pensadores da Grécia, apoiados nessas interpretações, não
consideravam os trabalhos como “científicos”, pois viam neles a necessidade da
coleta e do exame atento, para que pudessem descobrir o que era
verdadeiramente real.
Contudo, a sabedoria do Oriente Antigo, principalmente do mundo egípcio,
fascinava os gregos. Conta a tradição, que o filósofo Platão, os matemáticos Tales
e Pitágoras, o legislador Sólon, assim como outros notáveis, estiveram no Egito,
Origens do Ensino 115
colhendo ensinamentos dos sacerdotes, apesar do empirismo e da forma que
apresentavam os fatos, não diferenciando o real da fantasia.
No séc. V a.C., Heródoto, nos Livros II e III da obra História, apresenta
inúmeras descrições do espaço físico e da cultura do Egito que, durante muito
tempo, se constituíram na principal fonte de informações sobre essa região.
Denominado o “Pai da História”, muitos o consideraram também o “Pai
da Geografia” por ter colocado os acontecimentos históricos dentro de um
contexto geográfico.
Uma de suas contribuições ao conhecimento da região se refere ao
Nilo: observando atentamente o solo negro existente ao longo do rio, associou-o
aos sedimentos depositados por suas águas. Também constatou que a planície
inundável com seu solo característico se prolongava até o mar, concluindo que
este fato decorria do deposito de material fluvial.
Além disso, as águas ao desembocarem no Mediterrâneo
apresentavam um aspecto diferente dos demais rios conhecidos, pois o terreno
aluviônico tinha uma configuração triangular que lembrava a quarta letra do
alfabeto grego (delta).
Assim, a denominação dada ao tipo Nilo se estendeu a todo rio que tem
a foz semelhante à dele. É o caso de outros deltas famosos como o do Ganges,
o do Ródano e o do Zambeze, além de dois brasileiros, o do Paraíba do Sul e
do Parnaíba.
Heródoto também escreveu sobre outros povos da Antigüidade,
inclusive sobre os babilônios e a influência que tiveram sobre os gregos.
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 116
Figura 3 – Delta do rio Nilo. Fonte: Dicionário de Geografia – Globo, 1970.
Na obra O Vale dos Reis, Otto Neubert transcreve um relato de Heródoto: “Muitos egípcios ganhavam do rei um pedaço de terra e pagavam impostos. Mas, se as enchentes do Nilo retiravam todos os anos um pouco de terra de sua borda, vinham outras pessoas para inspecionar e fazer medições, a fim de acertar os impostos. Parece-me que os egípcios inventaram a agrimensura, que depois passou para a Grécia. Porém foi dos babilônios que os gregos aprenderam a conhecer o passar das estações do ano, o relógio de sob e as doze partes do dia” (Neubert, 1962, p. 176).
Como se verifica, a Babilônia forneceu elementos para a ciência em seu
estado nascente, onde vários povos como os sumérios, semitas, hititas e
cassitas deixaram suas contribuições, algumas relacionadas com o geográfico.
Os mesopotâmios ultrapassaram os egípcios em muitos setores,
apresentando originalidades nos campos religioso, intelectual e artístico.
Entretanto, seu maior interesse estava ligado à prática da astrologia que, de
uma maneira ou outra, os aproximava da astronomia.
Estudavam as estrelas, seu movimento aparente, o nascer e pôr-do-sol,
determinando eclípticas e um calendário lunar, que fazia coincidir o início do
mês com o aparecimento da lua nova.
Há dois mil anos antes de Cristo, em Nínive e na Babilônia – regiões do
atual Iraque – existiam monges que se dedicavam à observação dos astros.
Origens do Ensino 117
Contemplavam o firmamento instalados nos zigurates, templos em forma de
pirâmide escalonada, cujas torres funcionavam como observatórios.
A agricultura desempenhava importante papel na coletividade:
possuíam um cadastro da terra e suas divisões, assim como usavam canais de
irrigação ou de drenagem, o que demonstra que conheciam seu meio ambiente.
Tinham intensas atividades econômicas que deram origem a diferentes
organizações do setor terciário, como a comercial e a bancária.
Os rios, principalmente o Eufrates, permitiam que alcançassem
regiões além de suas fronteiras. Assim, mantinham relações com lugares
longínquos, como o Vale do Indo, o Cáucaso ou o ocidente da Ásia Menor,
pois não eram fechados em si mesmos.
Os sumérios preparavam listas geográficas para os seus escribas e
utilizavam informações com os nomes dos lugares com os quais mantinham
comércio. Também anotavam criteriosamente os itinerários e as distâncias,
além de terem plantas dos monumentos, dos canais e das cidades.
Tais conhecimentos propiciaram a elaboração de mapas, dois dos
quais chegaram até nossa época: um do mundo e outro da cidade de Nipur,
cuja precisão auxiliou os arqueólogos na escavação da região, no século XIX.
O mapa-múndi, com descrição em escrita cuneiforme, contém a
Babilônia e alguns territórios que são representados por uma área circular
envolvida pelo Golfo Pérsico constituindo um dos primeiros “mapas circulares”
que, mais tarde, foram copiados pelos árabes e europeus da Idade Média.
Para Ronan, os mesopotâmios, ao representarem o próprio país e seus
vizinhos mais próximos, demonstravam uma visão da Terra plana com os
oceanos em suas extremidades, descrevendo o homem sob a cúpula celeste.
Porém, o mapa mais antigo que se conhece, com idade calculada
entre 2.500 e 3.000 anos a.C., foi feito numa placa de barro cozido onde
consta o vale de um rio, provavelmente o Eufrates, entre os montes Zagros e
o Líbano. O norte, o leste e o oeste estão indicados por círculos com
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 118
descrições, o que demonstra que utilizavam os pontos cardeais, como os
mapas atuais. Encontrado nas ruínas da cidade de Ga-Sur, a uns 300
quilômetros ao norte da Babilônia, atualmente encontra-se no Museu
Semítico da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
Figura 4 – Mapa mais antigo do mundo.
Fonte: Raisz, 1969, p. 14.
A Mesopotâmia também exerceu influência sobre os trabalhos
científicos de outras partes do mundo, sendo que as denominações dadas pelos
gregos aos metais, as constelações, aos instrumentos musicais, aos pesos e
medidas são traduções, às vezes transcrições, de nomes babilônios.
Entretanto, parece que não ultrapassaram o estágio do empirismo, pois
não investigavam as causas dos fatos minuciosamente observados; sua
“ciência” não apresentava grandes abstrações e organização lógica.
Outros povos do Oriente Antigo, como os da Fenícia e da Lídia, só para
citar mais dois, também possuíam vida econômica própria, inclusive com
comércio externo; dependiam dos rios e do clima local para realizarem suas
Origens do Ensino 119
atividades básicas; viviam em áreas rurais ou em cidades estruturadas;
utilizavam os astros como orientação; empregavam diferentes elementos da
paisagem natural nas suas lides; portanto, tinham um conhecimento geográfico
adquirido na prática da vida.
Porém, não teorizavam sobre eles, assim como não relacionavam os
procedimentos relativos aos sistemas naturais ou sócioeconômicos com um
novo campo específico de estudo, no caso, a Geografia.
O mesmo não aconteceu entre os gregos.
Evolução do pensamento geográfico
entre os gregos da Antigüidade
A Grécia, diferentemente do Oriente Antigo, propiciou o aparecimento de
um pensamento filosófico que procurava explicar o mundo sem utilizar mitos. Mas
isto não ocorreu de repente, houve todo um processo de transformação das
concepções mitológicas e religiosas. A própria visão da cosmologia foi se
modificando entre os gregos.
Na antiga visão, a Terra (deusa Gaia ou Géia) era uma superfície plana
semelhante a um prato ou disco, com exceção dos lugares que apresentavam
irregularidades como as elevações montanhosas, enquanto que o céu era a
metade de uma esfera oca. Entre eles existiam duas regiões: a mais baixa era a
região do ar e das brumas; a segunda, a do ar superior e brilhante, azul, que é visto
de dia (Éter). Embaixo da Terra havia uma região sem luz (Tartaros) e, em volta
dela, três camadas da noite (Nyx). Também continha todas as regiões áridas,
cercadas por uma espécie de rio circular, o oceano, que ia até a orla onde o céu e a
Terra se encontram.
Aristóteles de Estagira, no séc. IV a.C., expôs vários argumentos para
demonstrar que a Terra era redonda, como o representado na figura 5.
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 120
Porém, entre os séculos IX e VI a.C. ocorreram profundas mudanças
socioculturais na Grécia, transformações que originaram outras concepções
políticas, religiosas, filosóficas e científicas, com novos valores e uma sociedade
mais aberta.
Os mitos são criticados, aparecendo descrições intermediárias entre o
imaginário e as idéias filosóficas, como a Teogenia, de Hesíodo (sec. VIII a.C.) que,
em alguns pontos, utiliza uma concepção semelhante à dos babilônios.
Figura 5 – Um dos argumentos de Aristóteles
para mostrar que a Terra é redonda. Se a Terra fosse plana (A), um navio que se afastasse no mar seria visto
inteiro, cada vez menor, aproximando-se sempre do horizonte (B); mas, por causa da curvatura da Terra (C), a parte debaixo do navio deixa de ser vista
primeiro e parece que ele já passou para o outro lado do horizonte (D). Fonte: Martins, 1994, p. 75.
Os trabalhos científicos relacionados com o nosso planeta surgiram, no
século VI a.C., na costa oeste da Turquia, em Mileto, berço de uma linha de
pensamento que teve inúmeros seguidores, mesmo após a cidade ter sido
destruída por invasores. Tales de Mileto e considerado um dos primeiros a
Origens do Ensino 121
tentar responder com explicações científicas, sem utilizar o sobrenatural, à
pergunta: “De que é feito o Universo?”.
Como os demais filósofos pré-socráticos, ensinava que todas as coisas
teriam sua origem numa única matéria comum, o “princípio” (arche). Tales
afirmava que a água seria o princípio de todas as coisas materiais, tendo por
base dois fatos: todos os seres vivos necessitam de umidade para viver; todos
os seres vivos têm sua origem na umidade (inclusive o sêmen e as plantas).
Dentro desse raciocínio, imaginava a Terra plana, como se fosse uma
imensa bolacha, flutuando sobre a água.
Pitágoras, em torno de 530 a.C., apresentou seus estudos sobre a
forma da Terra, concluindo que a mesma seria redonda como uma bola.
Não muito tempo depois, Parmênides, por volta do ano de 490 a.C.,
divulgava uma tese que, além de reforçar a idéia da Terra esférica, apresentava
algumas explicações inéditas para a sua época. Expunha, entre outras, duas
concepções que transformaram o pensamento grego;
– o Sol seria como uma “grande bola de fogo” que iluminava uma fase
da Lua, tornando-a brilhante somente do lado que recebia luz. (Esta
formulação tentava explicar o fenômeno das diferentes formas que a
Lua apresenta em suas fases).
– toda a luz que originava o dia era proveniente do Sol.
De Tales de Mileto a Parmênides transcorreu mais de um século de
observações e estudos, o que permitiu que o segundo chegasse a seguinte
idéia: a Terra, um corpo esférico solto no espaço, tem uma face iluminada pelo
Sol (como ocorre com a Lua) e outra escura, não atingida pela luz solar.
Aos poucos, vão surgindo novas informações sobre o Universo, grande
fonte de observações e descobertas.
Sabiam da existência de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno,
sendo que denominaram de planetas as estrelas que estavam sempre variando
de lugares. Também sabiam que a Lua estava mais próxima da Terra do que o
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 122
Sol, assim como identificaram batizando 48 constelações, sendo que algumas
conservam os nomes originais gregos, como Andrômeda, Perseu, Pégaso,
Hércules, Órion e outras.
Procurando compreender o mundo em que o homem vive, teve início a
história da Geografia, não como ciência autônoma, mas como um conhecimento
sistematizado que se fazia presente nos trabalhos de filosofia, de história,
matemática e astronomia, bem como na literatura e nos registros dos viajantes
e dos navegadores da época.
A geografia aparecia de forma secundária nos estudos realizados por
outras áreas do conhecimento que, de uma forma ou outra, poderiam tratar
dela. Ainda não havia Geografia, portanto, nem geógrafos, na acepção que
utilizamos atualmente.
Enquanto isso, os gregos iam ampliando seus conhecimentos através
do intenso comércio que realizavam com outros povos e das expedições
colonizadoras que empreendiam.
Sobre a posição da Grécia no Mundo Antigo, Nelson W. Sodré escreve:
“[...] a Grécia se situava em posição privilegiada no extremo da Europa, às portas da Ásia, em face da África, entre o Mediterrâneo e o Mar Negro, ponto para os contatos e confrontos entre Ocidente e Oriente, fundindo culturas diversas e assimilando-as. [...] Dominando o Mediterrâneo, eles conhecem o litoral sul da Europa e o litoral norte da África como o estreito litoral oeste da Ásia; conhecem o Mar Vermelho como o Mar Negro, a Mesopotâmia e o Golfo Pérsico e as terras que estendem até a Índia. Percorreram esses mares e essas terras; em muitos lugares estabeleceram feitorias. Em grande parte os conhecimentos foram registrados nos „périplos‟ (circunavegacão); a „Odisséia‟ é a nítida reminiscência deles. Essa variedade de conhecimentos – e o fato de ser a Grécia o centro de gravidade do mundo de então – é que permite passar da coleta à sistematização e desta aos primeiros ensaios de teorização” (Sodré, 1987, p. 14).
Dentro deste contexto, passaram da prática do conhecimento
geográfico para a descrição escrita dos lugares, levantando problemas e
desenvolvendo teorias para explicar a Terra.
Origens do Ensino 123
Surge a Geografia Descritiva e Regional, que tem em Heródoto um de
seus mais notáveis expoentes, e a Geografia Matemática e Geral, provavelmente
fundada por Anaximandro e Tales de Mileto, nos séculos VII e VI a.C.
O determinismo geográfico aparece em várias descrições deixadas
pelos gregos, sendo que suas origens são anteriores a esse tempo. Um dos
representantes desta visão geográfica foi Hipócrates (sec. V a.C.) que em sua
obra. Dos Ares, das Águas e dos Lugares, apresenta as diferenças existentes
entre os habitantes da montanha e os da planície, relacionando-as com a
influência exercida pelo meio. Apesar de ter uma preocupação maior com o
homem do que com o meio, aceita a supremacia deste.
Portanto, para conhecer o mundo do qual faziam parte era necessário,
além de estudar o Universo, observar e descrever a superfície terrestre, o que
propiciou inúmeros trabalhos de cunho geográfico.
Na época helenística, muitos desses estudos eram transmitidos e
ensinados nas escolas, onde os aspectos ligados à Astronomia despertavam
grande interesse entre os alunos das classes mais adiantadas. Certamente nas
escolas primárias não estudavam os conteúdos relacionados com os
conhecimentos geográficos, pois a educação dava muita ênfase à
aprendizagem da leitura e da escrita, só ensinando, na matemática, os
conhecimentos rudimentares de aritmética.
Possuíam, desde muito tempo, itinerários das principais rotas do
Mediterrâneo oriental, incluindo mapas da região, sendo que Anaximandro e
Hecateu de Mileto, em meados do século VI, elaboraram os primeiros esboços
de um mapa do mundo.
Sabedores que a duração do dia e a altura do Sol acima do horizonte
diferiam de um lugar para outro, criaram uma divisão da Terra tendo por base
as faixas de calor que correspondiam às zonas de latitude (klimata), dando
origem aos conceitos de zonas tórridas, temperadas e frígidas, separadas por
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 124
determinados paralelos. Essa idéia, apesar de não ser uma realidade climática,
constitui um grande feito para a época.
Os cientistas da Grécia Antiga deixaram pesquisas sobre vários
fenômenos da natureza, como os relacionados com as temperaturas, com os
ventos, mares, plantas, rios, vulcanismos, entre outros. Também elaboraram
diversos trabalhos que descreviam o modo de vida e a distribuição da
população no espaço, assim como a polis e sua organização.
É a geografia tomando corpo, embora ainda estudada dentro de outros
ramos do conhecimento humano.
Nesta demonstração, não poderíamos deixar de examinar, mesmo que
rapidamente, as teorias de Aristarco de Samos e Eratóstenes, pela originalidade
de suas idéias e pela contribuição que deram ao pensamento geográfico, assim
como alguns elementos compilados por Ptolomeu e que marcaram o
conhecimento da geografia mundial.
Aristarco de Samos Em torno de 260 a.C., Aristarco de Samos, considerado o mais famoso
astrônomo de seu tempo, apresentou algumas concepções de Universo que
surpreendem pela atualidade, mesmo utilizando basicamente a observação e
instrumentos muito modestos e limitados para os padrões modernos.
Aristarco, ao mesmo tempo que aceitava a hipótese de Heraclides
(388-315 a.C.) de que a Terra girava em torno de seu próprio eixo em 24
horas (movimento de rotação), fazia avaliações dos diâmetros do Sol e da
Lua e das distâncias dos mesmos em relação à Terra, utilizando rigorosos
métodos geométricos.
Verificando que o Sol era muito maior que a Terra e que a Lua era menor,
concluiu que o Sol seria mais importante e que, portanto, não poderia ficar girando
em torno da Terra. O planeta, além de não ser o centro do Universo, descreveria
círculos em torno do Sol imóvel (movimento de translação).
Origens do Ensino 125
É o heliocentrismo aparecendo pela primeira vez, motivo pelo qual
Aristarco é, atualmente, chamado de Copérnico Helenístico.
Essas concepções fizeram com que passasse a estudar as estrelas
pois, segundo ele, também deveriam se apresentar alterando sua posição
relativa. Como não conseguiu observar este fato, apesar dos esforços
realizados, concluiu que as estrelas não são fixas no céu, que essa idéia
decorria da enorme distância existente entre elas e a Terra, afirmando que a
“imobilidade das estrelas é aparente”. (Na realidade, essa aparência se deve ao
movimento da Terra.)
Suas formulações colidiam com os ensinamentos de Aristóteles e com
o pensamento da maioria dos astrônomos gregos, defensores do geocentrismo.
Portanto, foram consideradas totalmente improváveis e não aplicáveis ao
Universo, sendo rejeitadas por seus contemporâneos.
Continuaram acreditando em modelos em que o Universo era
constituído por esferas celestes, com a Terra no centro. Muitos esquemas foram
propostos dentro dessa crença. Ptolomeu, no século II, além de defender um
complexo modelo de Universo com esferas concêntricas que giravam em torno
da Terra, apresentava um resumo do pensamento astronômico e geográfico
existente na época.
A Astronomia ficou mais ou menos estática depois disso, entrando com
as mesmas idéias sobre o Universo na Idade Média.
As formulações de Aristarco só foram revividas 17 séculos mais tarde,
com o polonês Nicolau Copérnico (1473-1543), num período em que a atenção
dos cientistas estava mais voltada para a ordenação do Cosmos do que para a
superfície do planeta.
Coincidência ou não, essa teoria, mesmo não sendo totalmente igual à
de Eratóstenes, não foi bem recebida. Vários motivos contribuíram para isso,
como a tradição cultural e religiosa e os conhecimentos que a ciência de então
aceitava como sendo verdadeiros.
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 126
Copérnico propôs um modelo heliocêntrico, onde a Terra girava em
torno do Sol, como os demais planetas, numa visão não completamente
diferente dos modelos gregos, pois adaptou-os em muitos sentidos. “Ele ainda
acreditava em orbes transparentes, encaixados e girando uns dentro dos
outros. A diferença é que eles estariam girando em torno do Sol e não da Terra”
(Martins, 1994, p. 79).
O seu heliocêntrico – posteriormente defendido por outros cientistas –
foi considerado improvável e inverossímil para o Universo, situação que já havia
ocorrido com Eratóstenes.
Afinal, todos acreditavam, há milhares de anos, no Sistema Geocêntrico
que tinha como base a obra de Ptolomeu, pois “sabiam” que a Terra, imóvel,
estava situada no centro de um Universo relativamente pequeno, que ia até
onde os seus olhos alcançassem. No centro desse sistema estariam a Terra e o
homem, pois para ele tudo tinha sido criado.
Desta forma, é fácil entender porque a hipótese de Copérnico não foi
compreendida, inclusive nos meios científicos de sua época.
Eratóstenes de Cirenia Os gregos, já sabendo que a Terra era esférica, começaram a se
preocupar com a dimensão do planeta, utilizando muita observação e seus
conhecimentos matemáticos e de astronomia. Entre os vários trabalhos que
chegaram até nós, merece destaque o de Eratóstenes pelo método utilizado e pela
precisão dos resultados, tendo em vista que foi realizado há mais de 2.000 anos.
Eratóstenes, entre 235 a 195 a.C., ocupou o cargo mais importante na
direção do conjunto que continha o Museu e a Biblioteca de Alexandria, o de
bibliotecário. Além desse posto, tinha a responsabilidade de orientar os estudos
de Ptolomeu IV.
Reconhecido por seus notáveis conhecimentos de matemática,
astronomia, história, geografia, gramática e poesia, sendo um grande filólogo,
Origens do Ensino 127
foi quem escreveu a primeira obra com o título de Geografia, em três volumes,
onde apresentava vários estudos sobre a Terra e uma história dos
conhecimentos geográficos.
Como cientista, Eratóstenes começou a se preocupar com o método
que poderia utilizar para medir a circunferência do planeta visto não ser possível
medi-la a passos, como era comum para as distâncias.
Assim, surgiu a idéia de calcular a circunferência terrestre medindo
apenas um determinado trecho, isto é, o comprimento de um arco de círculo
entre dois pontos.
A respeito das idéias de Eratóstenes, escreve Samuel Branco: “Partiu ele do princípio de que a distância entre dois pontos mede o ângulo entre as suas verticais, ou seja, entre dois raios da esfera. Tratava-se, pois, de medir o ângulo formado por dois fios de prumo colocados em dois pontos ou duas cidades distantes, o que era impossível fazer diretamente” (Branco, 1995, p. 10).
Sabendo que em Siena, ao sul do Egito – no local onde hoje está a
Barragem de Assuã – ao meio-dia do dia 21 de junho (solstício de verão) o Sol
iluminava diretamente a água dos fundos dos poços e que varetas retas e
verticais não produziam sombras, enquanto que em Alexandria isso não ocorria,
começou a questionar o fato.
Eratóstenes acreditava que as duas cidades estivessem no mesmo
meridiano: se soubesse a distância existente entre elas, no verão seguinte
poderia calcular que ângulo o Sol fazia com as varetas verticais que seriam
colocadas em Alexandria.
Os relatos informam que contratou um homem para medir a passos a
distância existente entre as duas cidades, utilizando o estádio egípcio, medida
da época, que equivalia a 157,5 metros. Verificou que estavam 5.000 estádios
uma longe da outra, o que hoje daria aproximadamente 800 quilômetros.
Por outro lado, varetas que foram colocadas no percurso e em ângulos
diferentes em relação aos raios solares, lançavam sombras de comprimentos
diferentes. Analisou os diferentes comprimentos das sombras, imaginando que
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 128
se fossem colocadas varetas em linha até o centro da Terra elas se
interceptariam em um ângulo de sete graus. Esses sete graus correspondiam a,
mais ou menos, um qüinquagésimo de 360 graus, o que significava que a
distância entre os dois centros corresponderia a qüinquagésima parte do
meridiano. Multiplicou a distância existente entre as cidades por cinqüenta,
deduzindo que a circunferência terrestre seria de 250.000 estádios, ou seja,
39,4 mil quilômetros, medida muito próxima da realidade hoje conhecida.
Esse trabalho, apesar de alguns erros, como o de situar as duas
cidades no mesmo meridiano, merece toda nossa admiração, pois as falhas não
devem superar o valor do feito, principalmente se levarmos em conta a
precariedade dos instrumentos que Eratóstenes tinha a sua disposição.
Elaborou o mapa do mundo mais exato de sua época, com a superfície
terrestre dividida em graus de latitude e longitude, o que constituiu um grande
progresso em relação ao sistema visto desde o século anterior.
Ainda, expôs a teoria de que todos os oceanos seriam um único e foi o
primeiro a levantar a possibilidade de alcançar as Índias navegando pelo ocidente.
Os trabalhos deste sábio e de outros notáveis da Grécia Antiga
conseguiram chegar até os navegadores dos séculos XV e XVI, através de dois
compiladores da era romana: Estrabão (64 a.C. – 20 d.C.) e Ptolomeu, que
viveu entre 90 e 160 d.C. Enquanto o primeiro demonstra em sua obra uma
grande preocupação em fazer uma geografia descritiva do espaço conhecido e
habitado, do ecumene, Ptolomeu tem maior interesse nos aspectos ligados a
matemática, à elaboração de mapas e plantas.
Origens do Ensino 129
Figura 6 – O mundo segundo Eratóstenes. Fonte: Enciclopédia Delta Larousse, tomo I, p. 2.
Ptolomeu
Cláudio Ptolomeu de Alexandria reuniu os conhecimentos de seus
predecessores – principalmente os relacionados com a geografia, matemática e
astronomia – no Almageste, oportunizando que o mundo conhecesse as
diferentes idéias e teorias dos gregos sobre a Terra.
Pouco se sabe sobre sua pessoa, mas sua obra marca um ponto
culminante na cartografia do mundo antigo. Após ele, seguiu -se uma época
de decadência nos estudos geográficos, que praticamente desapareceram
na Europa Ocidental.
Na Idade Média, ainda dependiam dos conhecimentos geográficos da
tradição cartográfica dos romanos, fonte inferior a dos gregos.
Seus oito livros só foram traduzidos para o latim no século XV, quando
causaram um grande impacto no pensamento clássico durante o Renascimento
pois, além de descreverem várias regiões do mundo e apresentarem inúmeras
informações sobre a Terra, acrescentavam muitos dados que não eram
conhecidos nessa época, especialmente os relacionados com a Astronomia e a
Cartografia, anexando 27 cartas geográficas e uma relação de 8.000 nomes de
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 130
lugares com as respectivas latitudes e longitudes. (Não se sabe se esses
mapas foram preparados pelo próprio Ptolomeu mas, certamente, constituem o
primeiro Atlas universal que se tem conhecimento.)
Entretanto, Ptolomeu cometeu alguns erros, como o de acreditar que a
África e a Ásia fossem unidas ao sul, sem passagem marítima para o Oceano
Índico, e o de não aceitar a dimensão da circunferência terrestre de
Eratóstenes, tendo preferido os cálculos de Possidônio que afirmava que a
mesma teria cerca de 29.000 quilômetros, o que distorceu a localização de
todos os pontos geográficos.
Defendia a idéia de Aristóteles sobre a estrutura do universo, tendo
elaborado uma detalhada teoria dos movimentos dos planetas que permitia
prever, com muita precisão, as suas posições. Esse sistema, com a Terra no
centro de tudo, foi ensinado até o fim da Idade Média.
Desde o século VIII, esse farto material já era analisado por professores
das Universidades Muçulmanas que iam acrescentando nos mapas as
informações trazidas pelos viajantes e comerciantes árabes, merecendo
destaque o geógrafo Al Idrisi ou Edrisi (1099-1166) que, “compreendendo que o
conceito de cinco zonas climáticas não correspondia perfeitamente à realidade”,
apresentou um sistema muito mais aperfeiçoado que o dos gregos.
Na Europa, durante o período das grandes navegações, a obra de
Ptolomeu tornou-se famosa, principalmente após a invenção da imprensa
(1455, Gutenberg), quando foi amplamente divulgada. A par disso, os
portulanos – mapas náuticos que existiam desde o início do século XIV – e as
outras cartas geográficas deixavam muito a desejar.
Um pouco antes, em 1454, o florentino Paolo del Pozzo Toscanelli
tinha defendido a idéia da possibilidade de atingir a Índia viajando para oeste
pois, segundo ele, a extensão do oceano não seria muito grande, sendo essa
rota bem menor do que a utilizada pelos portugueses em suas navegações.
(O grego Eratóstenes de Cirenia, conforme vimos anteriormente, já havia
Origens do Ensino 131
afirmado que era possível chegar às Índias pelo ocidente, visto todos os
oceanos constituírem um só.)
Figura 7 – Estrutura do Universo, segundo Aristóteles e Ptolomeu.
Fonte: Martins, 1994, p.76
Assim, a obra de Ptolomeu vai sendo revista e reformulada. Em
conseqüência, surgem trabalhos mais atualizados, como o do navegador e
“geógrafo” Martim Behaim que, em 1492, concluiu seu globo terrestre com a
representação dos lugares conhecidos antes da descoberta do Novo Mundo.
Consta que Cristóvão Colombo, influenciado pela obra de Cláudio
Ptolomeu e pelas idéias de Toscanelli, pretendia chegar até o Japão, a
China e a Índia viajando para o oeste sem contornar a África, utilizando,
portanto, uma medida da circunferência da Terra que não permitia a exata
localização dos pontos geográficos.
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 132
Figura 8 – Oceano Atlântico segundo o globo de Martim Behaim
(antes de outubro de 1492). A América, que figura em retícula, foi descoberta logo após a publicação
deste mapa. A Ásia estava muito estendida para leste. Assim, o Japão aparece na longitude da Califórnia. Fonte: Enciclopédia Delta-Larousse, tomo I, p. 3.
Colombo, saindo da Espanha pelo ocidente, aportou em ilhas localizadas a
oeste do continente africano e que não constavam nas cartas geográficas da
época. Dessa forma, o mundo passou a conhecer “novas terras” que, como produto
da história dos homens, receberam, mais tarde, o nome de América.
Esse acontecimento – sem entrar nas controvérsias que envolvem a
conquista do continente americano – reitera, mais uma vez, a influência
exercida pelos gregos no campo dos conhecimentos geográficos, influência que
se prolongou até o século XVIII.
Considerações finais
O conhecimento geográfico, no decorrer dos milênios, passou por várias
abordagens até ser reconhecido como ciência e oficialmente ensinado nas Escolas.
Origens do Ensino 133
As mudanças começaram a ser sentidas com mais intensidade no
século XIX, quando a disciplina, ao se emancipar das demais, possibilitou o
surgimento de diferentes concepções teóricas dentro das correntes
geográficas tradicionais.
Em 1812, foi criada a primeira “cadeira de Geografia” no ensino
universitário, em Sorbonne, cujo titular era um historiador. Tal situação
continuou por muito tempo pois, em 1877, após 65 anos, só existiam quatro
faculdades com essa matéria, todas dirigidas por historiadores, o que explica o
enfoque dado aos conteúdos geográficos ensinados à época.
Sob pressão das Sociedades de Geografia foram criadas novas
cadeiras da disciplina, ao mesmo tempo que começava a batalha pela reforma
do ensino, tentando substituir a Geografia histórica por uma que fosse mais útil
à compreensão do mundo e sua valorização.
Essa reforma só foi levada a termo tempos depois, graças ao empenho
de alguns professores de História e Geografia – que lecionavam em escolas
que corresponderiam ao nosso Ensino Médio atual –, apoiados por membros
das sociedades geográficas.
Porém, as grandes e profundas alterações na ciência geográfica só
ocorreram após a Segunda Guerra Mundial, com mudanças que alcançaram os
aspectos filosóficos e metodológicos da disciplina e uma renovação científica
que se acentuou a partir de 1960-1970, período de intenso trabalho intelectual.
O profissional da área, professor ou geógrafo, foi conquistando espaço
e mudando sua visão de interpretar os conhecimentos geográficos. Estudando e
refletindo, passou da descrição da Terra, conforme a gênese da palavra
Geografia, aos questionamentos sobre a própria disciplina e a formulação de
perguntas (Para que serve a Geografia? O que é Geografia? Onde se aplica a
Geografia?) que propiciaram múltiplas discussões e a formação de um novo
espírito geográfico.
O conhecimento geográfico: práticas e teorias 134
Hoje, a Geografia não pode ser estudada somente nos gabinetes
fechados e nas salas de aula, com os conteúdos dissociados da sociedade
como ocorreu no passado, pois existe a consciência da sua presença nos mais
diferentes aspectos do cotidiano. No ensino é necessário associar prática-
teoria, relacionar sociedade-natureza, procurando compreender o espaço
geográfico, espaço que o homem constrói, destrói e (re)organiza, pois é o lugar
onde se processa a sua história.
Como vimos, para chegar aos paradigmas atuais, a Geografia teve que
percorrer um longo trajeto, tendo trilhado sinuosos caminhos que passaram por
diferentes sociedades do Ocidente e do Oriente Antigo e pelos povos que as
antecederam, pois a prática do conhecimento geográfico ocorreu desde sempre.
Referências bibliográficas
ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia econômica. 7. ed. São Paulo: Atlas,
1981, 288 p.
BRANCO, Samuel Murgel, BRANCO, Fábio Cardinale. A deriva dos
continentes. 7. ed. São Paulo: Moderna, 1995, 79 p. (Coleção Polêmica)
BROECK, Jan O. M. Iniciação ao estudo da geografia. 3. ed. Rio de Janeiro:
Zahar Editores, 1976, 155 p.
BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidente. 2. ed. Porto Alegre:
Globo, 1989, 401 p.
CASTRO, leda Bandeira. Geografia – uma ciência desconhecida. Veritas, Porto
Alegre, v. 35, n. 139, p. 440-449, set. 1990.
CERAM, C. W. Deuses, túmulos e sábios. 6. ed. São Paulo: Melhoramentos,
1995, 390 p.
______. O segredo dos hititas – a descoberta de uma antiga civilização. Rio de
Janeiro: Record, 1995, 247 p.
CHRISTOFOLETTI, Antonio. Geografia para o mundo atual. São Paulo:
Nacional, s.d. 270 p.
Origens do Ensino 135
______. Perspectivas da Geografia. 2. ed. São Paulo: Difel, 1985, 318 p.
CROUZET, Maurice (direção). História geral das civilizações. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1993, v. 1 e 2.
FREIGNIER, Michel. Guerra e paz no Oriente Médio. São Paulo: Ática, 1994, 63p.
GIORDANI, Mário Curtis. História da antigüidade oriental. 10. ed. Petrópolis:
Vozes, 1997, 369 p.
______. História da Grécia. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1984, 518 p.
MARTINS, Roberto de Andrade. O universo – teorias sobre sua origem e
evolução. 2. ed. São Paulo: Moderna. 1994, 183 p. (Coleção Polêmica)
MORAES, Antonio Carlos R. Geografia – pequena história crítica. São Paulo:
Hucitec, 1994, 138 p.
MOREIRA, Ruy. O que é Geografia, 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985, 48 p.
(Coleção Primeiros Passos)
NEUBERT, Otto. O vale dos reis. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962, 322 p.
OLIC, Nelson Bacic. Oriente Médio: uma região de conflitos. 6. ed. São Paulo:
Moderna, 1991, 79 p. (Coleção Polêmica)
RAISZ, Erwin. Cartografia geral. Rio de Janeiro: Científica, 1969.
RONAN, Colin. História ilustrada da ciência. São Paulo: Zahar, 1987. v. 1
(Círculo do Livro)
SAGAN, Carl. Cosmos. 3. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1985, 364 p.
SODRÉ, Nelson W. Introdução à Geografia (Geografia e ideologia). 6. ed.
Petrópolis: Vozes, 1987, 135 p.
VESENTINI, José William (org.). Geografia e ensino – textos críticos. Campinas:
Papirus, 1989, 201 p.
Algumas contribuições da Arqueologia para o conhecimento da instrução... 136
ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA ARQUEOLOGIA
PARA O CONHECIMENTO DA INSTRUÇÃO
NO MUNDO ROMANO
PEDRO PAULO FUNARI
Gostaria de começar agradecendo, aos organizadores desta Jornada, o
convite para participar deste evento com um trabalho que tratasse do tema
geral do encontro, “o ensino no mundo antigo”. Desde o início, minha intenção
era mostrar como a Arqueologia tem contribuições próprias a respeito também
da questão do ensino no mundo antigo. Rosella Frasca, professora de História
da Educação da Universidade de Chieti, na Itália, que já nos havia oferecido
diversas obras sobre a questão (Frasca 1991a; 1991b; 1994; 1995), acaba de
lançar um volumoso tomo sobre Educazione e formazione a Roma, Storia, testi,
immagini, em cujas mais de seiscentas páginas recolhem-se inúmeras
referências da tradição literária. Frasca compulsou e reproduziu, ainda, muitas
imagens ligadas ao tema. Contudo, a cultura material, em suas múltiplas
manifestações, não se encontra explorada, assim como as imagens aparecem
apenas sob a forma de ilustração. Este silêncio, na verdade, não se restringe a
Frasca mas, ao contrário, pode afirmar-se que se toma, muitas vezes, a
evidência da tradição textual, descontextualizando-a de seu entorno cultural
mais amplo. Meu objetivo primeiro, portanto, consiste em mostrar como as
evidências materiais, contextualizadas, naturalmente, podem fornecer-nos
dados importantes sobre o aprendizado no mundo romano.
Antes de adentrarmos no cerne do tema, convém perscrutarmos o
sentido mesmo daquilo que estamos a tratar: instrução, instructio, “um empilhar
de conhecimentos”, tomado aqui em sentido amplo, não restrito ao ludus primi
Origens do Ensino 137
magistri, ao ludus grammatici e ao aprendizado superior com o rhetor (Frasca,
1996, p. 255- 314) e abrangendo, pois, tudo que se refira à posse cognitiva do
mundo, por parte de ricos e pobres, livres e escravos. Para tanto, toma-se a
cultura como capacidade de reflexão que não é apanágio de classe e, menos
ainda, de um grupo étnico (cf. Gramsci, 1979, p. 133). Diferenças não são
tomadas como sinal de superioridade e inferioridade, mas como características
próprias que só adquirem sentido em seu contexto. Assim, o domínio da
métrica, mais do que sinal de qualquer superioridade da cultura erudita,
representa uma forma de discurso que tem seu sentido dado pelo ambiente
social apropriado: as classes altas. A poesia popular (Funari, 1991a), que
prescinde da métrica e que se utiliza de outros recursos, como a aliteração ou a
representação visual, apenas adquire sentido no campo discursivo próprios das
classes populares (sobre o conceito de classe, veja-se Saitta, 1994). A
contextualização é, portanto, essencial, pois, do contrário, caímos em juízos de
valor não apenas sem fundamento como perigosos: se há superiores, há
inferiores, e estes devem amoldar-se àqueles. Assim, quando Ramsay
MacMullen (1990, p. 54) propõe que a cultural superiority <was> sufficient to
Romanize whole provinces (friso acrescentado), pouco se explica (superior a
que, em que, desde que ponto de vista? o que seria “Romanizar”?), mas se
abre as portas a outras generalizações tão pouco fundamentadas.
Naturalmente, tratando-se de um sábio ianque, logo se conclui que “o mundo se
americaniza, por que há uma superioridade cultural americana”, silogismo que,
além de ser uma bobagem, novamente não dá conta do contexto em que as
trocas culturais acontecem. Como lembra o arqueólogo Brian L. Molyneaux
(1994, p. 3), esta descontextualização encobre opressões, pois the past that is
presented may be that of a single, dominant group in a society.
O arqueólogo, talvez por lidar com contextos materiais sempre
ineludíveis, está em posição particularmente privilegiada para atentar para a
necessária contextualização, até mesmo do próprio estudioso (cf. Shanks,
A formação do escriba no antigo Egito 138
1994, p. 21). Um exemplo parece-me paradigmático, a esse respeito e, de
forma indireta, já nos conduz para o tema da instrução romana. O renomado
historiador britânico, C. R. Whittaker (1989, p. 303), autor de inúmeros trabalhos
da mais alta relevância, produziu um capítulo sobre o “o pobre”, para o livro
organizado por Andrea Giardina, L‟uomo romano. Desenvolvendo seu
argumento sobre a pouco estima gozada pelos pobres, Whittaker afirma que:
“Sentiamo risuonare la disapprovazione morale della porvertà in un graffito
pompeiano: „Odio i poveri‟. Se qualcuno vuole qualcosa per niente, è pazzo”
(CIL 4, 9839b). No entanto, não se trata de grafite, mas de inscrição pintada em
vermelho, um anúncio, cuja função era bem outra, visava publicizar,
oficialmente, algo, era visível a distância, era obra de especialistas, os pictores.
Em Seguida, encontra-se na parede de uma loja, junto a outros cartazes
mandados colocar pelo dono do estabelecimento, junto à janela, para
esclarecimento aos clientes: informa-se que aí se vendem ferramentas e
instrumentos de madeira, que o dono se chama M. Epídio e... que não se vende
fiado! Este o sentido da frase: abomino paupero(s). Quisqui(s) quid gratis,
fatu(u)s est; aes det et accipiat rem, literalmente, “abomino os pobre, quem quer
algo grátis, é louco; dê o dinheiro e terá a mercadoria”. Trata-se, portanto de
uma proscriptio, ou anúncio, assim já assinalado no próprio Corpus
Inscriptionum Latinarum, tendo sido publicado não com os grafites, mas com
outros tituli picti. O contexto arqueológico, tanto no que se refere ao local exato
da inscrição, como sua forma, estão a indicar que ela pouco tem a ver com uma
“desaprovação moral”, como propunha o historiador britânico.
E, no entanto, estas inscrições já nos dizem muito sobre a instrução,
tanto do dono do estabelecimento, quanto dos leitores, passantes pelo local, na
Regio I, Insula XII, bem em rua que desemboca em grande rua movimentada,
Via dell‟Abondanza, a caminho da Porta do Sarno, local ideal para uma loja
desse tipo. A advertência foi pintada em letras vermelhas que são bem visíveis
e pode notar-se, pela forma do cartaz, que se tomou o cuidado de separar as
Origens do Ensino 139
palavras, até mesmo, quando há certa ameaça de uma scriptio continua (escrita
sem separação de palavras), ao acrescentar um ponto após a palavra aes.
Assim, esperava-se que o passante pudesse ler, com facilidade, o aviso. Em
seguida, há coloquialismos que podem ser atribuídos tanto ao autor da frase
como ao pictor, não o sabemos, mas, de todo modo, o dono da loja, autor
intelectual da diatribe, não se preocupou em corrigi-la. Esses coloquialismos,
como paupero ou quisqui, sem o s final, assim como fatus com apenas um u,
estão a indicar a reprodução da fala e indicam, também, que os passantes
leitores entenderiam a mensagem, em especial esses paupere (como os
próprios pobres deviam pronunciar o plural da palavra).
A instrução da elite, objeto central da atenção dos estudiosos do tema,
é bastante bem conhecida, seja pelas referências na tradição literária, seja pelo
fato de que historiadores, literatos, filólogos e educadores já se debruçaram, há
séculos, sobre essas mesmas referências. Não me estenderei a este respeito,
mas apenas alertaria para que não tornássemos a educação e a cultura
eruditas como parâmetros para a instrução popular. Reconhecendo que
eruditos e populares conviviam e, necessariamente, estavam em constante
interação, não se pode supor que o treinamento para o otium fosse semelhante
àquele para o negotium. Assim, o bilingüismo da elite romana, que, ao que
parece, fazia com que esses docti, desde a mais tenra idade, fossem versados
no grego koiné, antes que na língua do povo, o latim, e que se sentissem mais
ligados emocionalmente ao grego do que ao latim (pace Dubuisson, 1992,
passim). Seria algo como aquela experiência por que passam hoje os membros
das elites em países como a Índia, para os quais o inglês possui valor
semelhante, enquanto os vernáculos, aprendidos mais tarde, servem de meio
de comunicação com a massa. Ora, neste contexto, não se pode imaginar que,
fora deste restrito grupo social, a instrução tivesse os mesmos objetivos e,
menos ainda, os mesmos métodos.
A formação do escriba no antigo Egito 140
A documentação arqueológica produziu, nos últimos dois séculos, um
enorme manancial de documentos que refletem os resultados da instrução de
camadas que não se confinam àquela elite retratada na tradição textual:
grafites, parietais ou no instrumentum domesticum, cartas, imprecações,
inscrições em geral. Não importa, nesta ocasião, discutir o grau de
“popularidade” destes escritos, pois, na ausência de estatísticas, pode-se
afirmar que “não podemos saber nada sobre nove décimos, ou mais, da
população... nada sabemos sobre o que faziam” (MacMullen, 1990, p. 87),
enquanto outros estudiosos, dedicados ao estudo desses documentos
epigráficos, descartados por MacMullen (I also discount the graffiti of
Pompeii...), preferem ressaltar a origem popular dos autores desses
testemunhos (Tomlin, 1988; Jordan 1990, p. 438; Beard, 1991; Bowman, 1991,
p. 123; Franklin, 1991, p. 81; 37; Hopkins, 1991, p. 152, Menella 1992, p. 7; cf.
discussão em Funari, 1995a, p. 9-11). Naturalmente, entre os documentos
materiais, há também importantes testemunhos referentes à educação erudita
(Hochschule, nas palavras de Herzog, 1935), como é o caso do edito de
Vespasiano, cuja cópia foi encontrada em epigrafe grega, em Pérgamo,
publicada originalmente em 1935 ( Herzog, 1935; cf. texto e comentário recente
em Cortés, 1995). A imensa maioria, no entanto, compõe-se de inscrições não-
oficiais e, a partir destas, podemos tecer algumas considerações sobre a
instrução das não-elites.
Poucas são as evidências materiais diretas que nos possam referir a
existência de escolas para as classes baixas, duas delas resultam do achado
arqueológico de inscrições, no Fórum de Júlio César, em Roma, e no Fórum de
Pompéia, estudas por Matteo della Corte (1933; 1959), ainda que, em ambos os
casos, não possamos saber a condição social dos alunos (outro exemplo de
escola, em Fabre, Mayer e Rodà, 1997, p.120-121). Possuímos, no entanto,
uma infinidade de exemplos de escritos que refletem um aprendizado que não
sabemos, exatamente, como se deu. Em primeiro lugar, deve-se notar que
Origens do Ensino 141
havia escribas que deviam freqüentar alguma escola que desse conta do
domínio da língua latina e da sua ortografia. Assim, enquanto o letreiro de aviso
aos compradores de Pompéia, que citei antes, apresenta incorreções quanto a
norma culta, como assinalado, uma inscrição da mesma época, porém
monumental, encontrada em Barcelona, embora se refira a gente simples,
apresenta não apenas correção formal como estudada estética, resultado de
um aprendizado especialista: “para Quinto Júlio... Nigélio, edil, duúmviro (duas
vezes?), flâmen, Properato, seu irmão, Máxima, sua mãe, Pompeia Glene,
liberta de Gnaeu, e para ela mesma”. Pompeia Glene, cuja mãe e irmão ainda
eram escravos, era uma liberta e, no entanto, o monumento executado segundo
a estética erudita, dominada pelo executor.
Um outro escriba, ao que parece, transcreveu uma maldição de um
tal Rufus, tendo sido encontrada uma tableta de metal em Uley, na
Inglaterra, com os seguintes dizeres: “Mintla Rufus para o deus Mercúrio.
Dei-os (sc. os ladrões), seja mulher, seja <homem>... o material de um
manto. Dei”. Neste caso, embora o editor da epígrafe (Tomlin 1995) esteja
convencido que se trata de obra de um escriba, pela segurança da grafia e
por que parece copiar, com erros, parte da imprecação, é notável como, à
diferença da inscrição proveniente de Barcelona, estejam preservados
diversos coloquialismos. A começar do nome do dedicante, Mintla, que
parece estar por uma alcunha de Rufus, sendo Mintla a forma popular de
mentula (pênis), assim como o uso de materia para designar “material”,
prenunciando o uso neolatino da palavra. Ainda da mão de escribas provêm
as cartas de Vindolanda, também na Inglaterra, como é o caso do convite de
Cláudia Severa para que a amiga Lepidina venha à sua festa de aniversário
(Bowman, 1994, p. 127; Funari, 1994), cuja correção e elegância permitem
supor uma instrução formal muito acurada. O mesmo pode ser afirmado das
inscrições, feitas por funcionários administrativos, escravos provavelmente,
em diferentes suportes, como as ânforas, que estão a demonstrar domínio
A formação do escriba no antigo Egito 142
não apenas da ortografia como da estenografia, utilizando-se mesmo de
abreviaturas especializadas, como é o caso de aaaa, por arca (“arca”, uma
caixa administrativa; cf. Funari, 1991b; Funari, 1996).
Outra categoria de documentos que revela a instrução profissional
consiste nas tabulae cerate, muitas delas encontradas em Pompéia e
publicadas no CIL IV, já no século passado, em volume próprio. Esses registros
semi-oficiais apresentam um grau elevado de respeito às regras da norma culta,
em especial aqueles a cargo de Secundus e Privatus, escravos da colônia de
Pompéia. Pode concluir-se que haviam seguido uma instrução formal erudita,
por oposição às tabuas escritas por outros, como um tal Blaesius Fructio (n.
XXVI) que, ademais de escrever seu nome com grafia errada (Blesius), fazia
pouco caso do acusativo e escrevia as palavras como pronunciava. Assim,
auctionem, no acusativo, escrevia autione, facta, escrevia fata, e assim por
diante. Outro caso interessante é a tábua de Nouellius Fortunatus (n. XXXVIII),
que, como ironizou Zangemeister no CIL, itaque nulum unum vocabulum recte
scripsit (não escreveu sequer um vocábulo corretamente!). Como teria
aprendido a escrever? Novamente, não sabemos, mas é notável o fato que,
embora distante da norma culta, se tenha permitido que escrevesse de próprio
punho (chirographum) um documento, de certa forma legal, ainda que um
“homem alheio tanto à arte de escrever como da gramática”, ainda nas palavras
de Zangemeister (CIL IV, Tab. Cer. p.449).
Os tituli graphi exarati, ou grafites, constituem, no entanto, a melhor
evidência do grau de instrução das classes populares. Não se tem dúvidas
quanto ao grande número de pessoas que escreviam com estilete, bastando,
para tanto, consultar o CIL IV, referentes a inscrições das cidades vesuvianas,
para se dar conta não apenas do seu grande número (mais de dez mil), como
da variedade de mãos que escrevem. Teriam os autores destas intervenções
freqüentado a escola primária? Não se pode saber, naturalmente, mas não
cabe dúvida que, se passaram pelo ludus primi magistri, aprenderam ou
Origens do Ensino 143
assimilaram bem pouco não apenas das regras ortográficas, como da norma
culta latina, em geral. Os autores que se debruçaram e estudaram essas
inscrições chamam essa língua, para diferenciá-la da erudita, aprendida e
reproduzida em outros meios de comunicação, como a literatura mas, também,
como vimos, nas inscrições monumentais, de “latim vulgar”, sermo humilis,
“latim popular”, “proto-românico ou neolatino” (Battisti, 1949; Väänänen, 1937;
Väänänen 1974, p. 41). Não há dúvida que muitas dessas inscrições ecoam a
cultura erudita, por exemplo ao citarem autores eruditos (cf. Funari, 1991b
passim) ou ao escreverem poesia com métrica clássica (exemplos em Funari,
1995b). Além disso, mesmo inscrições simples comportam um jogo com o
domínio da norma culta, como é o caso, por exemplo de CIL IV 5085: rusticus,
que encontra uma provável resposta em CIL 5086: anumrub, urbanum, escrito
com as letras fora do lugar. O uso do m, ao final, indicando um suposto
acusativo (“veja, aqui, um urbano”) indica trato com a gramática escolar, pois,
como vimos acima, não se falava mais desse modo. O mesmo pode se dizer de
accepi epistulam tuam (“recebi tua carta”), escrito em perfeita grafia e com o
acusativo marcado; a referência a uma carta já estaria a indicar tratar-se de
alguém com formação escolar. Outros muitos, no entanto, apresentam desvios
quanto a norma culta, como uma inscrição de um arquiteto, cujo próprio nome
escreve erradamente: Cresces architectus (CIL IV 4755). Ou ainda, G. Hadius
Ventrio eques natus romanus inter beta(m) et brassica(m) (CIL IV 4533).
Pode concluir-se, desde breve exame, que havia diversos níveis e
gradações de instrução e que a educação não se restringia à elite. O domínio da
norma culta não era generalizada entre os letrados mas, tampouco devemos nos
surpreender com isso, pois o sentido do seu domínio era diverso daquele que
seria no mundo moderno. Provavelmente, os melhores scriptores, ou seja aqueles
que efetivamente escreviam, os escribas, eram escravos, assim como talvez os
grandes professores. A elite fazia uso, regularmente, destes serviçais que, no
entanto, dominavam a norma culta. Por outro lado, as classes populares, os
A formação do escriba no antigo Egito 144
pobres, os escravos e libertos comuns, não possuíam o treinamento dos escribas,
nem a erudição e aisance com o grego que os senhores, mas nem por isso
deixavam de dominar aspectos importantes do mundo da escrita. Também aqui, a
explicação deve ligar-se as necessidades práticas do domínio da escrita, em uma
sociedade letrada e tão fortemente marcada pela escrita, como a romana
(Desbordes, 1995). O aprendizado destes humiles não passava pelos mesmos
trâmites, diferenciava-se da erudição escolar, mas não deixava de permitir que,
por meio também da escrita, esses populares pudessem participar ativamente da
vida social, toda ela dependente das letras. De uma forma ou de outra, ricos e
pobres, livres e escravos, uns e outros viviam em sociedade graças à instructio, à
reelaboração constante de conhecimentos.
Agradeço aos seguintes colegas, que me ajudaram de diversas maneiras:
Margaret Bakos, Alan Bowman, Marc Mayer, Brian Molyneaux, José Remesal,
Dean Saitta, Michael Shanks, Peter Stone. Parte deste artigo foi composto quando
de minha estada, como professor visitante, convidado pela Universidade de
Barcelona, Espanha, em janeiro de 1998, com o apoio financeiro, ainda, do FAEP-
UNICAMP. A responsabilidade pelas idéias, naturalmente, restringe-se ao autor.
Referências bibliográficas
BATTISTI, C. Avviamento allo studio del latino volgare. Bari: Leonardo da Vinci
editrice, 1949.
BEARD, M. Writting and religion: ancient literacy and the function of the written
word in Roman religion. Question: what was the role of writting in Graeco-
Roman Paganism? Literacy in the Roman World. Ann Arbor, Journal of Roman
Archaeology. In: J. H. Humphreys (ed.) 1991 supplementary series #3, 35-58.
BOWMAN, A. K Literacy in the Roman Empire: mass and mode. In: J. H.
Humphreys (ed.), 1991, Literacy In the Roman World. Ann Arbor, Journal of
Roman Archaeology supplementary series # 3, 119-131.
______. Life and Letters on the Roman Frontier. Londres: British Museum, 1994.
Origens do Ensino 145
CORBIER, M. L‟écriture en quête des lecteurs. In: J. H. Humphreys: Literacy
and the Roman World. Ann Arbor, Journal of Roman Archaeology, 1991,
supplementary series # 3, 99-118.
CORTÉS, J. M. Notas sobre Ia política educativa de los flavios y antoninos.
Habis, 1995, p. 165-175.
DELLA CORTE, M. Le iscrizioni graffite della „Basilica degli Argentari‟ sul Foro di
Giulio Cesare, BCACR, 1933, p. 61, 111-130.
______. Scuole e maestri in Pompei Antica. Studi Romani. 1959. p. 7, 621-634.
DESBORDES, F. Concepções sobre a Escrita na Roma Antiga. Trad. de F. M.
L. Moreto & G. M. Machado. São Paulo: Ática, 1995.
DUBUISSON, M. Le Grec à Rome a I‟époque de Cicerón. Extension e qualitè du
bilinguisme, Annales. ESC, 1992, p. 187-206.
FABRE, G., MAYER, M., & RODÀ, J. Inscriptions Romaines de Catalogne, IV.
Barcino. Paris: De Boccard, 1997.
FRANKLIN, J. L. Literacy and the parietal inscriptions of Pompeii. In: J. H.
Humphreys (ed.), Literacy in the Roman World. Ann Arbor, Journal of Roman
Archaeology supplementary series. p. 3, 77-88, 1991.
FRASCA, R. L‟agonale nell‟educazione della donna greca. Iaia e Ie altre. Roma:
Patron, 1991a.
______. Donne e uomini nell‟educazione a Roma. Roma: La Nuova Italia, 1991b.
______. Una Storia dell‟Educazione. Roma: La Nuova Italia, 1994.
______. L‟uomo e il numinoso. L„educazione religiosa a Roma. Roma: Argo, 1995.
______. Educazione e formazione a Roma, Storia, testi, immagini. Bari: Dedalo, 1996.
FUNARI, P. P. A. La Cultura Popular en Ia Antigüedad Clásica. Écija: Editorial Sol,
1991a.
______. Dressel 20 amphora inscriptions found at Vindolanda: reading of the
unpublished evidence. In: V. A. Maxfield & M. J. Dobson (eds.). Roman
Frontier Studies. Exeter: Exter University Press, 1991b, p. 65-72.
______. Roma, vida pública e vida privada. São Paulo: Atual, 1994.
A formação do escriba no antigo Egito 146
______. Aprotropaic symbolism at Pompeii: a reading of the graffiti evidence.
Revista de História, p. 132, 9-17, 1995a.
______. Romanas por elas mesmas. Cadernos de Pagu, p. 5, 179-200, 1995b.
______. Dressel 20 amphora inscriptions from and the consumption of Spanish
olive oil, with a catalogue of stamps. Oxford: Tempus Reparatum, 1996.
GRAMSCI, A. Gil intelletuali. Roma: Riuniti, 1979.
HERZOG, R. Urkunden zur Hochsculpolitik dër römischen Kaiser, Sitz.-Ber. der
presuss. Akad. d. Wiss., phil.-hist. KI., 1935, p. 32, 932-989.
HOPKINS, K. Conquest by book. In: J. H. Humphreys (ed.). Literacy in the
Roman World. Ann Arbor, Journal of Roman Archaeology, supplementary,
series 3, 133-158, 1991.
JORDAN, D. R. Curses from the Water os Sulis. Journal of Roman Archaeology
3, 437-441, 1990.
MacMULLEN, R. Changes in the Roman Empire. Essay in the ordinary. New
Jersey: Princeton University Press, 1990.
MENELLA, G. Romanizzazione ed Epigrafia in Liguria. Originalità,
trasformazioni e adattamenti. Coloquio Roma y las primeras culturas
epigráficas del Occidente, Zaragoza, novembro de 1992, manuscrito inédito.
MOLYNEAUX, B. L. Introduction: the represented past. In P. Stone & B.L.
Molyneaux (eds.). The Presented Past, Heritage. museum and education.
Londres: Routledge, 1994, p. 1-13.
SAITTA, D. J. Agency, class, and archaeological interpretation. Journal of
Anthropological Archaeology, 13; 201-227, 1994.
SHANKS, M. Archaeology; theories, themes and experience. In: I. Hodder & M.
MacKenzie (eds.), Archaeological Theory: Progress or posture? Ayebury.
Aldershot, 1994, p. 19-39.
TOMLIN, R. S. O. The curse tablets. ln: B. Cunliffe (ed.). The Temple of Sulis
Minerva at Bath, volume 2, The Finds from the Sacred Spring, Oxford: Oxford
Committe for Archaeology, 1988, p. 59-278.
Origens do Ensino 147
______. Inscription from Uley. Britannia. 1995, p. 26, 370-373.
VÄÄNÄNEN, V. Le latin vulgaire des inscriptions pompéiennes. Helsinki:
Academia Scientiarum Fennica, 1937.
______. Introduzione al latino volgare. Bolonha: Patron, 1974.
WHITTAKER, C.R. II povero. In: A. Giardina (a cura di). L‟uomo romano. Roma:
Laterza, 1989, p. 299-333.
A formação do escriba no antigo Egito 148
A FORMAÇÃO DO ESCRIBA NO ANTIGO EGITO
MARGARET MARCHIORI BAKOS
Minha infância eu passei contigo; tu bateu nos meus dedos: tuas instruções entraram
dentro das minhas orelhas. Eu fui como um cavalo submetido: o sono não pode entrar no
meu coração durante o dia e não houve estio comigo durante a noite.
Esse registro informa sobre a severidade da rotina de estudos daqueles
que buscavam formação de escribas, tão rígida que sequer lhes permitia folgar nos
dias festivos, segundo informa Daressy. Ele obteve esse conhecimento através da
análise de datas marcadas em alguns papiros literários, onde o aluno anotou todos
os dias o trabalho que fazia, na maioria exercícios de caligrafia. Eles estavam
corrigidos pelo professor, sendo que os signos malfeitos e as faltas de ortografia
estavam marcados com tinta vermelha. Daressy informa ainda que a disciplina
corporal era muito severa e os defeitos de atenção podiam ser castigados com
bastonadas, como ilustra essa passagem.
Da paleta de Narmer,1 o mais antigo registro em hieroglifos conhecido, à
conquista do Egito por Alexandre Magno, seguida da imposição das linguagens
escrita e falada gregas, esse texto abrange 27 séculos sobre relações entre
aprendizes/mestres e suas famílias. Procuramos acompanhar o fluxo intenso de
informações que nos chegam sobre a temática, consultando fontes diversas, desde
textos clássicos até modernos, oriundos de transliterações de documentos escritos
nas antigas escritas Egípcias. Recortamos fragmentos desse processo, pois um
inventário completo seria impossível face ao longo marco cronológico escolhido e à
1 A Paleta de Narmer é normalmente referida como tendo sido feita ao redor de 3000 a.C. e a
conquista do Egito por Alexandre Magno ocorreu em 332 a.C.
Origens do Ensino 149
diversidade de comportamentos teóricos e práticos utilizados nos atos de aprender
e/ou ensinar a ler e a escrever no período.
O primeiro objeto que escolhemos – a paleta de Narmer2 – apresenta
procedimentos da comunicação escrita que estão presentes ao longo de toda a
história do Egito, fundamentais quando se tentam entender os princípios
básicos para a transmissão de valores e as habilidades exigidas dos escribas
para isso. A paleta exibe figuras humanas grandiosas feitas para evidenciar
suas posições de comando – no caso referem o Faraó – em relação a outras
imagens, cuja pequenez e postura indicam a submissão dos inimigos vencidos.
Nessa paleta, ocorre pela primeira vez ainda, a escolha de representar o faraó
na sua forma humana, em lugar da animal. Os bichos denotativos do faraó, que
ainda ilustram setores da paleta são o falcão e o touro , apontados
pelas suas características próprias: o primeiro, a rapidez e a agilidade no
ataque; o segundo, a força bruta e a capacidade explícita de reprodutor de sua
espécie. Acompanhando essas imagens, aparecem na paleta os primeiros
registros em hieróglifos de que se tem conhecimento. Assim, esse objeto é
triplamente importante nesta apresentação ao evidenciar as habilidades do
escriba como desenhista, os seus conhecimentos sobre a relação existente
entre o tamanho de uma imagem e o poder que esse Ihe confere no conjunto
das figuras, bem como o domínio e capacidade de utilização, na fase de
gênese, da estrutura „mista‟ dos hieróglifos, constituída de ideogramas e de
fonogramas. Na paleta, o falcão e o touro representam o Faraó, são
ideogramas, e o nome deste governante: – Narmer – também está registrado
foneticamente através de dois hieroglifos: um representado pelo peixe e
o outro pelo cinzel , que certificam os sons nr e mr, respectivamente.
2 No decorrer da I Dinastia as paletas se transformam em objetos semelhantes a escudos, sobre os
quais se esculpiam as vitórias dos reis sobre os inimigos, no centro das quais se reservava um
espaço para moer o verde malaquita.
A formação do escriba no antigo Egito 150
Figura 1 – A Paleta de N3rmer.
Fonte: Lousa de Hierakonpólis, Din. I, Museu do Cairo.
O Faraó Narmer, que em um dos lados da paleta porta a coroa branca do
Alto Egito hdt, enquanto no outro segura uma maça, importante símbolo de
poder, e usa a coroa vermelha do Baixo Egito dšrt, parece ter sido o primeiro
monarca a ostentar ambas. Esse fato confere extraordinária importância histórica
a essa lousa como o mais antigo exemplo de documento com a grafia de
hieroglifos, primeiro a demonstrar a unificação dos dois reinos sob um único
governante e pioneiro ainda a representá-lo na sua forma humana.
Que instrução era necessária para alguém grafar na paleta um conjunto
de sinais capazes de transmitir tão numerosas e importantes informações?
Para entender o processo educativo que conduziu a tais habilidades é
importante inicialmente lembrar que essas imagens e seus significados fizeram
parte do dia-a-dia daquela sociedade até o século IV d.C., quando foram
Origens do Ensino 151
proibidas, pelo fato de serem consideradas práticas pagas. O estudo desse
processo histórico, da cosmovisão daquelas pessoas, são os meios de que
dispomos para rastrear alguns dos princípios de formação e transmissão as
sucessivas gerações dos valores e habilidades para sua reprodução. Alguns
deles, inclusive, perpetuaram-se ao longo dos séculos. O primeiro princípio é a
utilização da escrita para marcar a existência de forte hierarquia social e
consolidar o lugar dos poderosos, o que se configura obviamente pelo tamanho
concedido às imagens. O segundo é o estímulo à imitação, tendo as
representações de obrigatoriamente instigar o respeito à ordem social e
pedagogicamente ensinar a fazer isso, assim os conhecimentos eram transmitidos
de geração em geração. O terceiro é a metodologia no ensino, que consistia na
cópia e na repetição.
Nessa ótica, estudar o processo educativo dos escribas leva a refletir
sobre as suas representações e necessidades, bem como nos procedimentos
técnicos e no universo material presente no seu dia-a-dia e em valorizá-los. Assim,
o estudo das suas práticas didáticas pode revelar aspectos importantes da
cosmovisão dos antigos Egípcios.
Qual o papel e o significado da família na transmissão desses valores e no
processo de educação dos jovens? Difícil responder pontualmente, pois o
processo educativo como um modo pelo qual as sociedades perpetuam seus
valores ainda é atualmente discutido. Neste texto, buscamos rastrear o
aprendizado no Egito antigo, buscando saber como se dava a aquisição de
habilidades para o aprendizado da escrita, mas também, e principalmente, a
valorização desse conhecimento e as vivências sociais que se organizam em
torno dele, especialmente no núcleo familiar.
No Egito antigo, como em outros lugares, nas primeiras etapas do
desenvolvimento da linguagem, a palavra possuía um caráter simpráxico, ou
seja, recebia sua significação somente se inserida na atividade prática. Quando
A formação do escriba no antigo Egito 152
o sujeito realizava algum ato concreto, elementar, juntamente com outros
indivíduos, a palavra entrelaçava-se com esse ato.
É nessa relação que a família desempenha inicialmente um papel
fundamental no processo de ensino/aprendizagem no antigo Egito. Entretanto,
apesar dessa valorização da linguagem falada e da escrita, pouco sabemos do
modo como as pessoas eram ensinadas. Os Janssen entendem que essa
lacuna tem fundamento na característica dos antigos Egípcios de mostrar
apenas aquilo que é permanente, desprezando o transitório; de ressaltar o
resultado de um trabalho e não o modo como ele foi realizado.
Alguns valores e habilidades básicas para a compreensão de seu
mundo eram vividos pelas crianças desde a mais tenra idade. A própria
condição agrária daquele povo, residente as margens de um grande rio,
levou-o a acumular e a transmitir, desde tempos imemoriais, noções sobre a
agrimensura e as ciências que lhes servem de base: a geometria, a
astronomia e a matemática.
Exemplificando, o sol foi um elemento da natureza tão importante no
dia-a-dia do antigo Egito que foi adorado como um dos deuses mais
importantes do seu panteão , R, o deus-sol. Sua imagem está, desde então,
ligada, além das relativas à mitologia, às expressões indicativas do tempo.
Vejamos algumas expressões freqüentes na escrita hieroglífica, em que a figura
do sol era utilizada como determinativo ou como ideograma: , hrw, dia,
, wnwt, hora, e uma das importantes: , (n)hh, eternidade, em
meio a várias outras.
Eram fundamentais, no Egito, as relações entre os homens e as cores
da natureza. Elas denotam as diferenças entre o espaço da vida e o da morte.
O deserto: d‟shret a terra vermelha, que era temido; o Egito, a terra
Origens do Ensino 153
preta: kemet que era amada e abençoada dos deuses com o rio
Nilo: . Além das montanhas rochosas que delimitavam o início do
d‟srhet, viviam populações que os Egípcios julgavam desprezadas pelos
deuses, pois elas obtinham a água de que necessitavam para viver das chuvas:
hyt pouco regulares, se comparadas com as regradas enchentes
anuais do Nilo, as quais tornaram o Egito muito próspero a ponto de ser
conhecido como o celeiro da antigüidade e, nas palavras de Heródoto, uma
dádiva do rio.
Embora não exista nenhuma palavra que designe união estável,
acontecia o fato de um casal „estabelecer uma moradia comum‟. A partir daí, a
denominação da mulher passa a ser a de „a senhora da casa‟ nbt pr, o
que mostra que o matrimônio, para os antigos Egípcios, era mais um ato
individual que uma relação legalizada. O objetivo mais importante dessa união
era ter um filho, especialmente um menino, não somente para continuar a
família, mas também para providenciar um enterramento próprio para seus pais
e assegurar que os rituais funerários corretos seriam feitos (Stead, 1986, p. 18).
Havia, então, uma „família restrita‟: um marido, uma mulher, com uma grande
independência moral e financeira e os filhos emancipados. Para exprimir os
principais laços de parentesco eles criaram seis expressões: pai:
(itf), mãe: (mwt)), irmão (sn), irmã: (snt), filho:
(S3), e filha: (S3t), além de outras compostas como
primo: que é o filho da irmã do seu pai. Nesse âmbito familiar, os rebentos,
desde cedo, eram induzidos a valorizar a importância da palavra: quando no
A formação do escriba no antigo Egito 154
nascimento, eles recebiam uma denominação. Como orienta o pensamento
mítico, era preciso, nomear alguma coisa ou pessoa, para lhe dar vida.
Geralmente cabia à mãe, ou eventualmente a alguém próximo no ato de parto,
a escolha do nome do bebê. Esse apelativo tinha muita importância, pois a
criança o carregaria no futuro e podia relacioná-lo a várias coisas, normalmente
positivas. Exemplificando, o nome podia significar uma qualidade física: Wersu:
Ele é grande; uma origem, Paneshy: o Núbio; ou uma homenagem a um deus,
Dhutmose: Thot vive (Janssen, 1996, p. 14).
Os antigos egípcios parecem ter sido carinhosos com os jovens, o
que se configura no hábito da adoção legalizada, que era prática corriqueira.
Casos particularmente interessantes registrados informam sobre as adoções
feitas pelos escribas de discípulos prediletos, os quais passavam a referir,
nos documentos, seus dois pais. Exemplos clássicos são os de Ramose,
adotado pelo escriba Huy e mulher e o de Kenhirkhopshef, adotado por
Ramose, então já na função de escriba, e a mulher, como filho e herdeiro
(Cerny, apud Bakos, 1996, p.165).
Face a isto, a expressão “minha criança” é muitas vezes de tradução
problemática, pois, embora, na maioria das vezes, refira filhos e filhas genuínos,
a partir do Médio Império é muitas vezes empregada para designar alguém que
age como filho, apenas. Freqüentemente, uma criança é referida como aquela
que mantém a vida, expressão que remete novamente a preocupação dos
antigos Egípcios para com a sua memória.
As crianças de ambos os sexos eram normalmente bem-vindas pelo
casal. Não ter ou perder um filho era um acontecimento muito trágico às
famílias, sendo necessário muitos cuidados devido ao grande número de
enfermidades que ameaçavam os seres naqueles tempos, especialmente os
petizes. Havia um grande número de amuletos para garantir saúde aos filhos e
muitos conjuros para reforçar as magias. Inúmeras cartas funerárias e estelas
testemunharam essas afirmações. O que significa o fato de que você não foi até
Origens do Ensino 155
a mulher adivinha para saber tudo sobre as duas crianças que morreram
quando estavam sob os seus cuidados? Esta é a pergunta inicial de uma carta
que Kenhikhopeshef, operário de Deir el Medina, endereçou a uma mulher
identificada apenas pelo nome de Inerwau. Quem era ela? E qual a relação do
escriba com as crianças cujos destinos o preocupavam? Não sabemos. Em
várias outras missivas, relações familiares aparecem de forma mais explícita,
como na carta em que o trabalhador da mesma vila – Horemwia – enviou para
sua filha, oferecendo-lhe abrigo se o marido a expulsasse de casa: Você é
minha boa filha [...] Ninguém no mundo poderá tirar você daqui, diz
textualmente o atencioso pai (Bakos, 1997, p. 215).
Os escribas registraram como prazeroso, para as mães, o ato de
amamentar, sendo a valorização de seu papel ligada a essa atividade. Ao leite,
eles designavam o „líquido curativo‟ (irtt), que verte dos seios. Pelas
ilustrações, como a que se observa nesta figura , sabemos que as
mulheres, mães ou amas, costumavam segurar o bebê no colo para amamentá-
lo, o que geralmente era feito pelo período de cerca de dois anos. Unânimes
quanto às dificuldades de estabelecer idades para as pessoas do Egito antigo, o
que provavelmente não deve ter preocupado à época, os egiptólogos também
concordam que, entre as expressões mais comuns para designar faixas etárias,
salienta-se uma derivada do verbo desmamar, que também não era nada
precisa ao designar um longo período de tempo, indicando, assim, apenas
vagamente a idade de uma criança: de um ou dois até cinco ou seis anos.
Há indícios de que, desde os três anos de idade, os meninos já eram
ensinados a levar recados e a alimentar os animais. Se, no ano seguinte, eles não
fossem encaminhados para aprender a ler e a escrever, tais responsabilidades
aumentavam paulatinamente até que, aos 12 anos, eles recebiam efetivas tarefas
nas lides do campo. Da mesma forma, as meninas eram cedo levadas a participar
A formação do escriba no antigo Egito 156
das atividades da família. Aos sete anos, elas já ajudavam na feitura do pão e na
coleta de combustível para o forno.
As crianças tinham, pois, uma importância econômica nas famílias
menos abonadas, por executarem tarefas próprias da criadagem. Entre elas,
sem dúvida, a mais comum era cuidar dos irmãos menores, para os quais elas
serviam como modelos a serem imitados.
Não há evidência de escolas no decorrer do Antigo Reino, exceto na
corte, mas nada é sabido sobre quem eram os professores; possivelmente
fossem os pais, que ensinavam os filhos e outros aprendizes privilegiados.
No decorrer do Reino Médio, aparece a expressão Casa de Instrução,
que certamente indica o que denominamos de escola. Somente depois do Novo
Reino, começam a aparecer dados sobre a idade dos alunos, o número deles
em cada classe, currículos e demais fatos didáticos. A partir dessa época (11 e
12 dinastias, cerca de 2133-1786 a.C.), o uso do livro de texto, como já
podemos chamá-lo, torna-se cada vez mais freqüente e generalizado. O texto
clássico de ensinamento usado nas escolas chamou-se KEMIT ou SUMA.3
Trata-se da compilação de ensinamentos que um escriba expõe, provavelmente
um pai para o filho. Se assim for, confirma-se a hipótese de que originariamente
o ensino da escrita era um fato interno à família, como outras habilidades
técnicas, ou que um escriba que está formando seu aprendiz tende a considerá-
lo como filho. O escriba informa o filho que também tinha sido educado pelo pai
e se sentido mais respeitado na medida em que se tornava mais sábio
(Manacord, 1989, p. 20).
Certos textos permitem, segundo Drioton, conhecer um pouco da
organização do ensino, no qual o aluno ingressava com a idade de quatro anos
e de onde saía, com o título simples de escriba apenas, aos 16. O aprendizado
da escrita era lento e servia apenas para expressar uma língua literária, arcaica
3 Kemit é um título que pode ser traduzido como Compêndio e é o único livro escolar que
conhecemos do antigo Egito (Janssen, 1996, p. 80).
Origens do Ensino 157
e diferente da linguagem falada. Sobre os métodos de ensino pouco sabemos.
Drioton informa que eram de um empirismo sofrido e compreendiam dois ciclos
de estudos. O primeiro consistia na memorização através da cópia de listas de
hieroglifos numerados e classificados por categoria, juntamente com os seus
significados (Drioton, 1949, p. 9). Um papiro descoberto por Flinders Petrie, nas
ruínas de Tebas, contém um dos silabários disposto em colunas que, bem
mutilados, apresentam ainda algumas centenas desses signos. Essa era a base
que levava ao conhecimento e à escrita de todas as expressões da língua
literária. Exercícios em ostracas, contêm enumerações de partes do corpo, de
países estrangeiros, de festas religiosas, etc. Essa primeira fase prevê ainda
exercícios de cópia de textos clássicos e sua transcrição para língua vulgar.
Depois, os jovens passavam ao exercício de composição e tinham
acesso a cartas privadas e administrativas, finalmente aos textos religiosos, em
particular o de rezas a Thot, deus da sabedoria, o qual era invocado no início de
cada lição e nas horas de angústia:
“Vem a mim, Thot... o secretário dos grandes deuses de Hermópolis; vem a mim,
ajude-me no meu destino, faça com que eu seja hábil nessa profissão. Teu ofício é o mais
belo entre todos os outros: aqueles que preparam, terão condições de se tornarem
magistrados, de prosperarem... etc.” (Daressy, 1885, p. 335).
No fim de um certo tempo, os estudantes alcançaram a posição de
abordar os textos literários propriamente ditos, os de sabedoria e finalizavam o
ciclo copiando os trabalhos de imaginação pura: os romances e os contos
(Daressy, 1885, p. 357).
Como referimos anteriormente com relação à metodologia, são poucas
as informações sobre as técnicas do ensino. Os escribas escreviam tanto em pé
como sentados, com suas pernas cruzadas na maneira oriental. A posição em
pé podia ser usada somente quando o escriba escrevia em um pequeno pedaço
de papiro, rígido o suficiente para ser segurado na parte inferior pela mão
A formação do escriba no antigo Egito 158
esquerda do escriba; o mais seguro, entretanto, era segurar a folha no topo com
os dedos da mão esquerda e ampará-Ia com a palma e o antebraço.
Quando escreviam em um papiro sob a forma de rolo, os Egípcios
sempre sentavam, e essa é a posição que aparece nas estátuas dos escribas,
das quais a mais conhecida é a do Museu do Louvre. Na posição agachada, o
escriba esticava a tanga para que ela oferecesse um suporte firme para o
papiro. Nessa posição, ele segurava na mão esquerda o rolo do qual ia
puxando um pedaço de comprimento suficiente para escrever, com a mão
direita, da direita para a esquerda. A paleta ficava no chão ao seu lado, ou em
sua frente, e muitas vezes ele guardava seus pincéis atrás da orelha direita.
Tem sido afirmado que a altura máxima de uma folha de papiro e,
portanto, a de um rolo era 47 cm. Entretanto, conforme informa Cerny,
raramente essa grandeza era usada em textos literários, somente em
documentos oficiais ou de negócios. Para contas, esse tamanho era ideal
porque dava espaço suficiente para escrever colunas longas de nomes e de
figuras, cada uma com o total embaixo, sem a necessidade de dividi-las em
diversas outras menores, com os totais na última coluna referindo as diversas
colunas anteriores (Cerny, 1947, p. 15).
Linhas verticais tinham uma desvantagem – uma linha recém-escrita, de
tinta fresca, podia ser facilmente borrada pela mão, enquanto ela escrevia a linha
seguinte. Essa foi provavelmente a razão pela qual, durante a XII Dinastia, uma
mudança da linha vertical para a horizontal aconteceu. Ambas as direções
passaram a ser usadas indiscriminadamente por algum tempo, até no mesmo
manuscrito. Depois da vitória completa da escrita horizontal, a vertical ocorria
excepcionalmente para títulos como era no período da prioridade das verticais, com
as horizontais. Tudo isto se aplica ao hierático; hieroglifos nos manuscritos do Livro
dos Mortos e textos religiosos eram escritos até o fim em linhas verticais em
carreira – por razões desconhecidas – da esquerda para a direita. Quando o rolo
estava escrito nos dois lados, o escriba podia lavar o velho texto em um lado ou nos
Origens do Ensino 159
dois e escrever um novo, produzindo o que se chama de palimpsesto. Quando o
escriba fazia um erro, ele lavava os sinais errados e escrevia os certos no lugar.
Embora parece ter havido um pedaço de pano para isto, ele provavelmente lambia
a tinta, explica Cerny, ao observar que a palavra ftt para apagar (em inscrição) é
determinada pela imagem de uma língua e de um homem com sua mão na boca. A
tinta dos Egípcios consistia somente de carvão com resina, então não podemos
saber o que apagaram, pois os seus vestígios não reagem a nenhuma química,
conclui o egiptólogo (Cerny, 1947, p. 19-24).
Para ter uma escrita em cor parelha e preta o escriba tinha de mergulhar o
seu pincel várias vezes na tinta. Nos textos literários, raramente era usada a tinta de
cor vermelha, ao passo que, nos documentos de negócio, ambas eram usadas para
distinguir tipos de itens, assim medidas de cevada eram escritas em preto, enquanto
as de trigo, em vermelho. Em datas, o mês e o dia eram grafados em vermelho, bem
como os títulos dos textos literários e o começo das novas seções. Esse hábito
persistiu e ainda se reflete no nosso termo „rubrica‟.
Em meio a vários, salientamos como caso exemplo sobre a duração do
período de aprendizado do escriba o relato de Amun Bekenkhons, da XIX dinastia, em
hieroglifos, grafado em sua estátua funerária. Ele informa que Amun estudou quatro
anos em uma escola, em Karnak, junto ao Templo da deusa Mut. Depois, preparou-se
ao longo de 11 anos em estabelecimentos reais, quando, finalmente, pôde iniciar uma
carreira no Templo, onde era, até então, um simples sacerdote. Pelos cálculos dos
Janssens feitos sobre as informações, Bekenkhons foi longevo. Ele iniciou sua
formação com cinco ou seis anos e exerceu-a, como escriba, até cerca de noventa
anos de idade.
As instruções4 de Ptahotep, um Vizir, provavelmente compostas
durante a V dinastia († 2380 a.C.), é a denominação dada a um texto escrito
4 Uma das características marcantes do gênero da literatura Egípcia denominado de Instruções e
que eles expressavam um pensamento tão rígido e dirigido como Se tivessem sido criados dentro de uma moldura. Nesse sentido, tais textos manifestavam uma noção de sociedade regrada e
perfeitamente organizada. Por veicularem essa idéia, certamente cooperaram e muito para
A formação do escriba no antigo Egito 160
pelo funcionário real, em resposta à solicitação do Faraó, quando Ptahotep
pediu-lhe permissão para abandonar o cargo de vizir, pois sentia-se velho e
cansado, indicando o filho para substituí-lo. O rei não se opôs à troca, mas
solicitou a Ptahotep que instruísse o jovem a ser um bom funcionário, pois,
segundo o faraó, ninguém nasce sábio.
Em sociedades, como a do antigo Egito, em que as pessoas não
pontuavam com exatidão suas idades, os critérios para determinar a velhice
giravam mais em torno das atividades das pessoas, do que no período de vida em
que se encontravam. Em outras palavras, envelhecer era diminuir a produtividade
e/ou criar dependência de outras pessoas. Um dos termos que indica a velhice é a
expressão . Observemos, nesse conjunto de sinais, a figura que
determina o significado do grupo, que é a de uma pessoa arqueada e apoiada em
um bastão, visualmente consolidando o significado do estado de velhice naqueles
tempos.
A instrução de Ptahotep para o seu filho inicia com essas palavras:
“Não seja arrogante porque você tem estudo: não seja convencido porque você
é bem informado. Consulte tanto o homem ignorante quanto o sábio”.
Nela, a relação afetiva entre um pai e o filho é primorosamente destacada:
“Se você for um homem de valor E produzir um filho pela graça de Deus, Se ele for honesto, tenha ele perto, Tome cuidado com suas posses Faça para ele tudo de bom, Ele é seu filho, seu ká criou-o, Não afaste seu coração dele” (Lichteim, 1975, p. 66).
A instrução possui cerca de 40 máximas, finalizando com a advertência de
que, se o jovem escriba, na posição de vizir herdada do pai, satisfizer o faraó, terá
uma vida longa. (James, 1989, p. 97). Nesse epílogo, Ptahotep evidenciou um dos
institucionalizar máximas estruturalmente constitutivas do processo formativo da cosmovisão do
antigo Egito (Lichteim, 1975, p. 5).
Origens do Ensino 161
três fatores que facilitavam a promoção social de um jovem: o nascimento, o talento
e os favores de um faraó. Era o governante quem nomeava os funcionários civis,
religiosos e militares. Em princípio, quem possuísse as duas primeiras credenciais
tinha um caminho aberto para uma carreira bem-sucedida, fato que para a maioria
da população conferia o destino de suceder os pais em seus ofícios ou ter a sorte
de participar de uma atividade militar venturosa, que eventualmente poderia atrair
os favores do Faraó para ele.
Os filhos dos companheiros militares do rei e das amas de leite da família
real podiam ser favorecidos pela convivência com os príncipes, receber uma boa
formação e com isso fazer carreiras rápidas, conquistando postos de liderança na
administração do Egito. Muitos deles faziam retratar em suas tumbas as imagens
de suas mães amamentando o Faraó, com vistas a imortalizar a relação de „leite‟,
em lugar da de „sangue‟ que tiveram com a realeza.
No decorrer da décima oitava dinastia, aparece na escrita Egípcia a
expressão kap, referente a uma parte do palácio, a qual poderia funcionar como
uma espécie de escola maternal. Há uma hipótese de que os filhos dos
governantes estrangeiros fossem ali atendidos. Seja como for, enquanto o
termo foi usado, ser uma “criança da kap” era, segundo os Janssen, uma
grande honraria (Janssen, 1996, p. 143).
O ensinamento no Egito não era feito apenas para a formação de
escribas. Eram necessários professores nos palácios reais, para os príncipes e
princesas de sangue real, bem como para os filhos de monarcas estrangeiros
que lá iam estudar. As residências províncias dos governadores, inspiradas
sempre no modelo do Faraó, tinham as mesmas exigências. Os templos, de
outra parte, demandavam os escribas versados nas ciências sagradas, que
pudessem interpretar os velhos livros canônicos, para compor novos, formular
as legendas que deveriam ser gravadas nas muralhas dos santuários
construídos ou no pedestal das estátuas erigidas.
A formação do escriba no antigo Egito 162
Por essas razões, palácios e templos tinham, nas suas dependências, o
que os antigos textos denominam como Casas da vida pr-„nh-pr,
quer dizer, um lugar onde se ensinava a ler, a escrever, além de literatura, e de
ciências. Os estudantes que faziam sua formação nas escolas do Palácio saíam
com o título de escribas do Rei; e os dos templos eram denominados de os
escribas de Deus. A freqüência desses títulos nas estátuas funerárias,
encontradas em vários locais onde não havia escolas, faz pensar que muitos
dos diplomados retornavam aos seus lugares de origem nas vilas e para lá
levavam os princípios e métodos em uso nas grandes escolas do País.
Não havia lugar específico na burocracia para as meninas, o que leva a
cogitar que elas não eram ilustradas. Talvez a grande maioria não fosse
realmente, e, nesse sentido, é muito interessante um texto grafado em um
monumento do rei Djozer, em Saqqara, reclamando das pessoas que escreviam
nos muros: “É como o trabalho de uma mulher estúpida” (Drioton, 1949, p. 8).
Sabidamente o ensino era para os piás, mas algumas meninas sabiam ler e
escrever. Há indícios de que Meritaten e Meketaten, filhas de Akhenaton,
tinham essas habilidades. Também na vasta coleção de ostracas, oriundas da
Vila de Deir el Medina, algumas testemunham que mulheres e familiares dos
trabalhadores eventualmente também aprendiam a ler e a escrever.
Entretanto, esses registros sobre mulheres letradas são menos freqüentes
que os textos, como as Instruções de Any, compostas no Novo Reino, e que
valorizam as mulheres pelo seu papel de mãe. Diz Any textualmente:
“Retribua em dobro a comida que sua mãe lhe deu, Sustente-a como ela sustentou você; Ela teve em você um fardo pesado, mas ela não o abandonou Quando alguns meses depois de você ter nascido Ela ainda o tinha como sua canga Seus seios em sua boca por três anos Como você crescia seu excremento ficava nojento Mas ela não se enojava, dizendo: „O que podemos fazer?‟ Quando ela mandou você à escola
Origens do Ensino 163
E você foi ensinado a ler e a escrever Ela ficou vigiando você diariamente Com pão e cerveja na sua casa Quando você como um jovem tomar uma mulher E você se estabelecer na sua casa Preste atenção no seu produto Faça-o crescer como fez sua mãe Não lhe dê motivo para amaldiçoá-lo Para que ela não tenha que levantar sua mão para Deus E ele tenha que a ouvir chorar” (Lichteim, 1975, p. 141).
Em suas Instruções, Any encerra o texto afirmando que “Feliz é o
homem cuja família é grande; ele é saudado segundo a sua prole”.
A adolescência, momento do processo de crescimento em que as
crianças vão trocando as brincadeiras pelas atividades produtivas, dificilmente é
encerrada por um fato convencionado que indique a entrada do indivíduo na
idade adulta. Vários textos de literatura discutem essa transição afirmando que
ela ocorre quando e se o homem vencer várias ordens de dificuldades, das
financeiras às familiares, adquirindo bens materiais e constituindo um núcleo
afetivo próprio, fatos que lhe dariam qualificação à maturidade plena. Nas
biografias, encontradas em tumbas e estátuas dos mortos, eram comuns os
auto-elogios e a ênfase as dificuldades vencidas pelo esforço próprio.
Hapuneseneb, um dos mais poderosos homens no decorrer do governo da
rainha Hatsepsut, no relato funerário que faz sobre a história meteórica de sua
ascensão ao poder, explicou que ela se devia a excelência de seus projetos
(Breasted, 1988, p. 162).
O escriba era o único profissional que era reconhecido como maduro,
no momento em que assumia seu primeiro trabalho independente, o que lhe
garantia de imediato consideração social, talvez pela capacitação e pela
responsabilidade exigidas a atividade.
O processo de formação de um escriba foi-se tornando mais longo e
complexo, na medida em que eles precisaram aprender, além da hieroglífica, a
escrita hierática, uma forma cursiva de grafar aqueles signos, empregada para a
A formação do escriba no antigo Egito 164
redação em papiros. Os gregos denominaram-na de escrita dos sacerdotes, porque
era muito usada para textos de cunho religioso. A diferença entre elas pode ser
comparada à existente entre a nossa escrita a máquina e o texto manuscrito. Em
cerca de 700 a.C., foi criado ainda um terceiro tipo de escrita, a partir da hierática: a
demótica, através de novas ligações e símbolos. O aprendizado da grafia no antigo
Egito complicou-se ainda mais quando, a partir de 332 a.C., com a conquista do
Egito por Alexandre da Macedônia, a língua grega foi sendo imposta na região. Os
Egípcios continuaram a falar sua própria língua, mas cada vez menos, porque toda
a atividade administrativa e pública passou a ser falada e grafada em caracteres
gregos. Conforme se passaram os séculos e as gerações, a antiga língua egípcia
foi-se modificando. Os falantes, para facilitar o registro lingüístico, adotaram o
alfabeto grego e sete caracteres da escrita demótica, criando, então, sua quarta
escrita e uma nova linguagem: a cóptica.5
Durante esse processo histórico, o aprendizado da escrita no Egito foi-
se tornando uma atividade extremamente complexa, acessível a poucos, o que
tornava o escriba um profissional poderoso e incentivava a prática de tornar a
atividade hereditária. No Egito, como em todo o oriente, o ensino da escrita era
feito pelo escriba. Ele foi, então, o mais acabado “produto” da pedagogia dessas
antigas civilizações, o continuador de seus métodos e o principal responsável
pela perpetuação dos valores de suas épocas, em todos os sentidos: familiar e
de estrutura social.
As informações mais completas sobre o ensino dos escribas vêm de Deir
el Medina, uma vila de trabalhadores, situada no Alto Egito: em um pequeno e
estreito vale, à margem esquerda do Nilo, em frente à cidade de Tebas.6
5 O nome copta é derivado da palavra grega Aiguptos. O termo também designa, atualmente, os
adeptos da religião cristã no Egito. A escrita cóptica foi a última forma de grafia da língua do antigo Egito. Ela sobreviveu aos períodos de dominação grega, romana, bizantina e árabe,
enquanto as outras grafias, a hieroglífica, a hierática e a demótica, foram abandonadas. Essa sobrevivência da escrita e da língua coptas possibilitou a decifração daquelas escritas mortas
(Bakos, 1986, p. 23). 6 Ela foi fundada pelo Faraó Ahmosis I, que iniciou com seu reinado a XVIII dinastia. Deir el Medina foi
cercada por um muro de tijolos, sob o reinado de Tutmés I (1506-1493 a.C.), abrigando os construtores
Origens do Ensino 165
Poucos sítios arqueológicos do Egito Faraônico legaram registros
minuciosos sobre aspectos da vida privada, em épocas longínquas, quanto a vila
de Deir el Medina. Havia escolas nessa região, conforme atestaram as
escavações de um prédio reservado ao ensino dos escribas e de uma pintura de
tumba mostrando uma sala de aula, com a estátua de Thot, deus da escrita e das
ciências. Na mesma cena, estavam pintados bancos para uso dos mestres e
caixas para papiros, os quais provavelmente serviam como material didático.
Entretanto, além dessas informações de cunho material; pouco sabemos sobre
como era conduzido o ensinamento nas escolas, nem sobre o significado da
adoção dos mesmos textos em diversos pontos do Egito para deveres dos alunos,
tampouco como se fazia a uniformidade da escrita e das mudanças na forma dos
signos e da estrutura gramatical, que sofreram de forma quase uniforme e
simultânea no País, ao longo do período faraônico (Drioton, 1949, p. 12).
É bastante conhecida a imagem em hieroglifo de um escriba, porque ele
porta na mão ou no ombro um pedaço de cálamo ou caniço, talhado em ponta,
apincelada ou rachada, usado como instrumento de escrita em papiro, a paleta, as
pastilhas de tinta e o pote de água. Seu título na escrita hieroglífica escreve-se
pela imagem desse material como traçado de seus signos: . O título de
escriba diante do nome de um personagem possivelmente funcionava como um
sinal distintivo, honorífico. Segundo Drioton, os grandes dignitários da corte real
não o dispensavam, o que o leva a concluir que o termo escriba não exprimia
apenas o fato de que ele portava conhecimento, mas era uma denominação oficial
que correspondia a um saber reconhecido como os títulos atuais de bacharel,
licenciado ou doutor (Drioton, 1949, p.9). Os determinativos que iam junto ao título
da tumba desse Faraó, que inaugurou em 1540 a.C., o cemitério dos mortos reais no Vale dos Reis. Deir el Medina durou cerca de 450 anos, o que abarca o período da XIX e XX dinastia. Do período de
Ramsés III, no início da XX dinastia, cerca de 1198 a.C., resta-nos um censo, o qual revelou a presença de 120 lares e de cerca de 1.200 habitantes na vila (Tosi, 1972, p. 11).
O período de maior prosperidade do vilarejo foi no decorrer da XIX dinastia. Já nos inícios do reinado de Ramsés III, na dinastia seguinte, eram visíveis os sinais de decadência indicada
especialmente pela rápida subida do valor dos cereais (Keller, 1971, p. 32).
A formação do escriba no antigo Egito 166
de escriba precisavam a que ramo ou grau de ensinamento eles pertenciam, se
eram apenas escribas ou se escribas do Rei ou de Deus. Uma das titulações mais
importantes que um jovem escriba poderia aspirar era o de
, ou seja, Escriba-sacerdote na Sede da Verdade, o que
significava um alto posto na Necrópolis de Tebas, junto ao Vale dos Reis, das
Rainhas e dos Nobres (Cerny, 1973, p. 42-43).
Com a idéia de ilustrar o objeto desta apresentação, qual seja o de indicar
as relações entre família, escrita e ensino, julgamos fundamental referir a um caso
da passagem dos conhecimentos e dos cargos de escriba de pai para filho. A
história da pesquisa sobre este fato começou com a descoberta de um grafite feito
na rocha de uma montanha de Tebas, no qual o escriba do rei Dhutmose
deixou a valiosa indicação do nome de três de seus ancestrais,
o pai, o de Harshire, seu avô, e o de
Amennakhte, o bisavô. A partir daí, Jaroslav Cerny desenvolveu
paciente pesquisa que lhe permitiu agregar a esse grupo mais dois familiares: o
filho de Dhutmose, denominado: Butehamun e de seu neto:
Ankhefenamun. Jaroslav ainda descobriu que o patriarca da família
era , Escriba da Tumba da Necrópolis de Tebas (Cerny, 1973, p. 339 e
segs.).
Essa passagem do ofício ao longo de seis gerações é surpreendente,
porque é comprovada pela detalhada documentação, exaustivamente recolhida e
analisada. Entretanto, é bem provável que tais casos de hereditariedade dos
cargos de escriba tenham sido freqüentes. Há um texto, conhecido como a Sátira
dos Ofícios, assinado com o nome de Dua-Khety, que parece tratar-se do discurso
ao filho – Pepi – enquanto o conduzia para estudar em uma Escola de Escribas.
Nesse texto, o pai vai enumerando para o jovem todos os problemas das
Origens do Ensino 167
diferentes atividades que ele poderia exercer, exceto o oficio do escriba. Esse,
explicava Dua-Khety, só traz satisfação, pois esse profissional, esteja onde
estiver, terá tudo de que necessitar.
Pela leitura desse texto, ficamos com a certeza de que tornar-se
escriba significava alcançar uma posição cômoda no antigo Egito.
Entretanto, podemos questionar essa vida tão boa face as evidências sobre
o lento e exaustivo processo de formação desse profissional, pelas
dificuldades de aprender tantas escritas diferentes, e pelos tipos de
atividades que Ihe eram exigidas, quando já qualificados.
Retornando ao expressivo número de cartas pessoais que Dhutmose
deixou, além dos registros profissionais, vamos encontrando preocupações
pessoais muito graves, impróprias, em princípio, a um escriba, cuja posição
naquela sociedade era tão valorizada e estimulada. Dhutmose, que
abertamente confessava não gostar de viajar, mas precisava por ofício, para
levar alimentos e armas para a Núbia, costumava rezar, no tempo em que
estava fora de Deir el Medina, e fazer oferendas aos deuses locais para retornar
são e salvo à família. Ainda, a cada saída de Deir el Medina, ele pedia a amigos
que cuidassem de Hemtshere, sua segunda esposa, com quem tivera uma filha,
da esposa de seu filho Butehamun, bem como dos dois netos, por parte dele.
Em missiva direta para o filho, Dhutmose pede-lhe que cuide das
crianças pequenas e especialmente da filha de Hemtshere, sua mãe e ama.
Também rogava que Butehamun cuidasse dos jovens meninos que estavam na
escola, evitando que eles deixassem de estudar.
Tais cartas foram enviadas de lugares diversos, como Heracleópolis,
Hermópolis, Elefantina e Núbia. Felizmente, dispomos também das respostas
que ele recebeu de Butehamun, Hemtshere e Shedmde, a nora. Por elas,
vemos como era extremamente carinhosa a forma como eles se comunicavam
entre si. Dhutmose lamentava-se por não ter Hemtshere junto dele. Seus
queridos também se preocupavam com a segurança dele, especialmente
A formação do escriba no antigo Egito 168
quando estava na Núbia, onde havia lutas e, por isso, aconselhavam-no a ficar
longe dos campos de batalha (Bakos, 1996, p. 153-167).
Uma carta da XIX dinastia dirigida por um escriba no importante posto de
instrutor dos oficiais para a infantaria e cavalaria do faraó, a sua mulher morta,
revela os pensamentos e angústias desse funcionário real. Ele está sofrendo
alguns problemas pessoais e acredita que eles se devam à má vontade da falecida
para com ele. Ele procura, então, relembrar coisas boas e o modo leal com que ele
a tratara, presenteando-a com coisas finas, poupando-a de sofrimentos. Quando
ela adoecera procurou um médico importante que a tratou. O fragmento do texto
mais importante para esta apresentação é o que segue:
“Quando eu fui acompanhar o Faraó na sua jornada para o sul, esta condição (isto é a morte) a derrubou, e eu passei diversos meses sem comer ou beber como uma pessoa normal. Quando eu cheguei em Mênfis, implorei uma licença para o Faraó e fui até onde você estava.”
De forma simples, o escriba informa sobre sua submissão ao Faraó,
mesmo em alto posto, o que implica obrigações cotidianas, onde ele era
impedido de tomar decisões pessoais repentinas (Bakos, 1994/5, p. 18).
Vimos que a educação entre os egípcios era muito severa, o que
começava ainda na infância e, se o objetivo era a formação de escriba, ela
era longa e extenuante. Era difícil atrair jovens, cheios de vida e de
imaginação para copiar e decorar os símbolos e princípios de tantas escritas
e de velhos manuscritos, daí que castigos corporais e textos que
encorajavam o estudo com vistas aos benefícios do exerceu profissional
eram necessários. Entretanto, bem ou mal, os aprendizes, pelas
representações que deixaram, coloridas e sedutoras, de outras profissões,
que ainda nos deleitam, quando observamos as pinturas que deixaram
ilustrando seus textos, informam-nos que suas escolhas profissionais não os
impediam de observar, e quem sabe apreciar, outras atividades.
Quando Alexandre da Macedônia conquistou o Egito, acelerou-se o
processo de transformação da sociedade egípcia pelo contato permanente,
Origens do Ensino 169
a partir de então, com a cultura helênica. Foram levados para a terra nilótica
alguns princípios básicos da educação grega, que agregaram, à forma de
ensino seletiva e discriminatória do antigo Egito, uma justificativa legal, em
lugar da mitológica.
Na longa convivência entre as duas sociedades, que perdurou até a
conquista do Egito, pelos romanos em 30 a.C., paulatinamente foi se
desenvolvendo um novo tipo de linguagem falada – a cóptica, que passou a ser
grafada também. A nova expressão gráfica baseava-se no alfabeto grego,
acrescido de sete símbolos da escrita demótica, importantes para grafar os
sons da nova língua, cuja gênese incluía a antiga linguagem original dos antigos
egípcios, a qual, a partir de então, foi sendo abandonada e terminou por ser
definitivamente esquecida.
Neste ano de 1999, em agosto, comemoramos o bicentenário da
descoberta da pedra de Rosetta na pequena vila de Rashid, no delta ocidental
por Pierre François Bouchard, membro da expedição de Napoleão Bonaparte
no Egito. Desde a chegada da pedra ao Cairo, onde foi depositada no Instituto
Nacional, fundado por Napoleão, ela despertou um interesse enorme no meio
intelectual contemporâneo. Foi graças aos esforços de diversos estudiosos, que
nela identificaram um mesmo texto registrado em três escritas diferentes a
hieroglífica, a hierática e a demótica que, através de um método comparativo,
François Champollion conseguiu decifrar o texto nela contido, compreender os
princípios da escrita hieroglífica e desencadear um extraordinário interesse por
aquela civilização, o qual levou a criação de uma nova ciência: a Egiptologia.
Esse fato nos permite, hoje, conhecer as histórias dos escribas, contadas por
eles mesmos.
Referências bibliográficas
ANDREWS, Carol. The Rosetta Stone. Londres: British Museum, 1989.
A formação do escriba no antigo Egito 170
BAKOS, Margaret M. Relações nem sempre amistosas: o egípcios e os seus
mortos. Rev. Clássica, v. 7/8, p. 15-24, 1994/1995.
______. Relações familiares em Deir el Medina. Rev. Phoînix. Rio de Janeiro, v. 2,
p. 153-167, 1996.
______. O cotidiano dos operários faraônicos. Rev. Phoînix. Rio de Janeiro, v. 3,
p. 211-223, 1997.
BREASTED, James. Ancient Records of Egypt. London: Histories & Mysteries of
Man Ltd., 1988.
CERNY, Jaroslav. Papers & books. In: Ancient Egypt. London: University
College London, 1947, p. 3-36.
______. A community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period. Cairo:
French Institute of Eastern Archaeology, 1973.
DARESSY, George. La pédagogie égyptienne. In: Revue Pédagogique. Paris:
Librairie CH. Delagrave, n. 10, p. 334-37, 1885.
DRIOTON, Etienne. La pédagogie au temps des Pharaons. In: Revue des
Conférences Françaises en Orient, v. 5, p. 7-12, 1949.
GARDINER, Alan. Egypt of the Pharaohs. Oxford: University Press, 1961.
______. Egyptian Grammar. Oxford: Griffith Institute, 1982.
JAMES, T. G. H. An introduction to Ancient Egyptian. London: British
Museum, 1989.
______. Pharaoh‟s people. Oxford: University Press, 1985.
JANSSEN, R. &. J. Growing up in Ancient Egypt. London: The Rubicon
Press, 1996.
KELLER, Cathleen. The painters of Deir el Medina – in the Ramesside period.
Dissertação de Doutorado. Universidade da Califórnia, 1971.
LICHTEIM, Miriam. Ancient Egyptian Literature. Berkeley: University California
Press, 1975.
MANACORD, Mario Aliguiero. História da educação da antigüidade aos nossos
dias. São Paulo: Cortez, 1989.
Origens do Ensino 171
STEAD, Miriam. Egyptian Life. London: British Museum, 1986.
TOSI, M. Stele e altre epigrafi di Deir el Medina. Torino: Ed. Pozzo, 1972.
Ensino, escrita e burocracia na Suméria 172
ENSINO, ESCRITA E BUROCRACIA NA SUMÉRIA
KATIA MARIA PAIM POZZER
Falar sobre as origens do ensino no Mundo Antigo oriental é uma tarefa
tão rica e diversa quanto instigadora. Porém, inicialmente, devemos dizer que, por
mais contemporâneas que possam parecer, muitas das considerações que
tecemos, hoje, sobre educação estão relacionadas à civilização mesopotâmica,
que existiu há cerca de 4.000 anos, no Oriente Próximo. Esse fato vem reforçar
uma antiga máxima que diz: conhecendo melhor o passado, podemos
compreender melhor o presente e, quem sabe, construir um futuro melhor.
Invenção da escrita A descoberta e a difusão da agricultura e da pecuária, durante o período
neolítico (7000-4000 a.C., aproximadamente), favoreceram o processo de
sedentarização das comunidades nômades e de formação de novas organizações
da sociedade. O desenvolvimento da agricultura gerou uma elevação das reservas
alimentares, possibilitando uma maior especialização das atividades artesanais e
técnicas, provocando um aumento da divisão social do trabalho. Esse fenômeno
econômico acompanhou-se de uma aceleração do processo de descobertas e
invenções decisivas, que marcaram essa época. O nascimento da escrita insere-
se, portanto, nesse contexto histórico.
Os documentos mais antigos conhecidos até hoje foram encontrados em
um templo, na cidade de Uruk, com data aproximada de 3200 a.C. São tabletes de
argila em escrita cuneiforme, apresentando sinais pictográficos.
O nome da escrita cuneiforme vem do latim cuneus – canto –, pois ela é o
resultado de uma incisão de um estilete, impresso na argila mole, tendo três
Origens do Ensino 173
dimensões (altura, largura e profundidade). Atualmente, avalia-se que foram
encontrados entre 300 mil e 500 mil desses documentos, mas estima-se que a
produção tenha sido de 1.000 tabletes por dia durante três milênios, o que daria
um total de um milhão! Atrás dessa surpreendente produção desenha-se um
homem especializado: o escriba.
O personagem do escriba Conhecemos os nomes de alguns milhares de escribas que se
sucederam desde a metade do segundo milênio a.C., pois era padronizado o
uso da aposição, no colofão, do nome do redator do texto como garantia de
autenticidade do documento.
O que aparece, claramente, na documentação é que o fato de que se saber
ler e escrever, no Oriente Antigo, era considerado não somente um privilégio, mas,
sobretudo, uma superioridade social. Somente as famílias abastadas podiam
assegurar a instrução de um futuro escriba, pois o custo dessa educação era muito
elevado, e os estudos, bastante longos. Os escribas, geralmente, provinham de
grandes famílias, que abrigavam: funcionários; responsáveis por grandes extensões
de terra; governadores; sacerdotes; ricos mercadores; etc. Outra característica, dessa
profissão, era seu caráter hereditário. Há inúmeros documentos atestando que o ofício
de escriba passava de pai para filho.
Uma questão filológica aparece como um caso intrigante quanto à
(presumida) pronunciação das letras. O logograma sumério para escriba e
DUB.SAR, que, em acádico, é tupšarru e, em hebreu, tiphsar. Em textos mais
recentes, encontra-se o logograma (LÙ).A.BA, também traduzido por tupšarru.
A questão é que, enquanto o tradicional DUB.SAR era utilizado em
tabletes, o sinal (LÚ).A.BA era grafado em relevos assírios ou em pergaminhos e
papiros no mundo semítico. Este sinal (LÚ).A.BA pode ser interpretado como “o
homem do alfabeto”.
Ensino, escrita e burocracia na Suméria 174
Se essa etimologia está correta, os assírios, aparentemente, conheciam
as duas primeiras letras do alfabeto aramaico como o “a” e o “ba”, no início do
primeiro milênio a.C. Estima-se que os assírios tenham começado a utilizar
esse termo a partir do século XI a.C., mas em Ugarit (cidade situada na costa
do Mediterrâneo – antiga Fenícia), desde o século XIII a.C., em listas lexicais,
na forma de AB.BA. É provável que, em ugarítico as duas primeiras letras
podiam ser pronunciadas assim. Todavia, o abecedário bilíngüe de Ugarit
sugere que a segunda letra chamava-se BE.
Podemos fazer uma analogia entre o a-ba, para a palavra alfabeto no
acádico de Ugarit e no neoassírio, com o aleph-beit para a palavra alfabeto em
hebraico, no período intermediário, ou, ainda, para a palavra alfabeto no
português, baseado nas letras gregas. O que fica claro e que não somente a
ordem, mas também os nomes das letras do nosso alfabeto moderno possuem
um antecedente direto na invenção do silabário oeste-semítico do segundo
milênio a.C.
Conhece-se muito pouco sobre as origens da profissão de escriba,
mas, através de textos sumérios tardios, sabemos da importância social desse
personagem. Um fato marcante é que, durante o segundo e o primeiro milênios
a.C., nenhum escriba registrava a sua posição pessoal, suas idéias ou
impressões a respeito do documento que elaborava.
É certo que, com o advento do alfabeto, o prestígio do escriba diminuiu:
a maior facilidade permitiu o acesso às práticas de leitura e de escrita a uma
camada mais ampla da população.
A escola e a formação do escriba O escriba realizava seu processo de aprendizagem dentro das escolas
especializadas, mas é possível que, originalmente, o ensino tenha sido feito
pelos centros administrativos dos palácios ou dos templos; porém, as
Origens do Ensino 175
informações atuais de que dispomos dão ênfase à existência de escolas
privadas, por conseguinte, pagas.
Na segunda metade do terceiro milênio a.C., houve um florescimento
do sistema escolar sumério. A escola suméria era chamada de eduba
(é.dub.ba.), “casa dos tabletes”, em acádico, bît tuppi. Foi criada com a
finalidade de formar os escribas para trabalharem nas tarefas econômicas e
administrativas do país, sobretudo do templo e do palácio. Porém, com o tempo,
ela se tornou um centro de difusão da cultura e do saber. Entretanto, até hoje,
não podemos descrever, com precisão, como seriam essas escolas, pois não
há registros de instalações particulares características. Nessas condições,
subsistem poucos elementos característicos: a argila ou os estiletes indicam um
local de trabalho e não, necessariamente, de aprendizagem. Um único grupo de
objetos, então, é significativo: o dos tabletes escolares. Estes possuem uma
forma circular particular, completamente diversa dos formatos habituais
utilizados para os atos da administração, afastando, assim, a possibilidade de
engano ou dúvida sobre a natureza do documento.
Arqueólogos norte-americanos encontraram, em Nippur, cidade situada
ao sul da Babilônia, três casas contíguas contendo uma grande quantidade de
tabletes escolares. Esse achado arqueológico suscitou a discussão sobre a
estrutura das escolas. Duas hipóteses foram levantadas: a primeira é a de que
tratar-se-ia de três escolas de escribas diferentes, e a segunda, e mais
provável, diz que duas das casas seriam habitadas por professores, que
ensinariam a domicílio, e a terceira casa seria uma escola, pois nela foram
encontrados mais de 1.400 tabletes e fragmentos escolares.
Contudo, devemos considerar que a transmissão do saber poder-se-ia
realizar, também, no espaço doméstico, com o escriba, por exemplo, ensinando
seu próprio filho em casa.
A aprendizagem dava-se de uma maneira bastante simples: através da
cópia de um modelo feito pelo professor: um sinal cuneiforme, um grupo de sinais
Ensino, escrita e burocracia na Suméria 176
ou uma frase escritos sobre uma das faces de um tablete ou em uma linha eram,
em seguida, copiados sobre a outra face ou na linha de baixo do modelo.
O estudante aprendia, inicialmente, a forma dos sinais e seu
significado. Os exercícios complicavam-se à medida em que avançava o
estudo: de sinais simples passava-se a combinações mais complexas, isto é,
das sílabas aos ideogramas, depois, as listas de sinônimos ou categorias de
objetos, sem se esquecer a gramática; dever-se-ia memorizar a pronúncia, isto
é, os valores fonéticos desses sinais; e, em uma etapa posterior, passava-se às
obras literárias, que eram copiadas e memorizadas da mesma maneira.
Segundo a documentação encontrada na Suméria, podemos
reconstituir uma certa orientação pedagógica que havia na escola. Os estudos
iniciavam com exercícios silábicos simples, seguiam com listas de sinais
cuneiformes de cerca de 900 entradas, estudando-se, ao mesmo tempo, a
pronúncia e, depois, listas cada vez mais complexas. Dentre elas, havia listas
com nomes das partes do corpo humano, do corpo de animais, plantas e
minerais, listas com nomes de profissões, de ferramentas e utensílios,
toponímios, etc.
Tal como hoje, os antigos professores dependiam de seus salários para
viver. A escola suméria, que, provavelmente, começou como uma dependência
do templo, tornou-se uma instituição secular e privada. A educação não era
nem universal, nem obrigatória. O ensino iniciava na infância e seguia até o
início da vida adulta.
Sabemos que o professor era chamado de ummia, ou o pai da escola, e os
estudantes eram os filhos da escola. Haviam vários funcionários, como, por
exemplo, o encarregado do desenho, do sumério, da aritmética, da disciplina, etc.
Ainda segundo os textos, sabemos que a disciplina era bastante rígida
e que os castigos corporais eram habituais na tentativa de correção de erros e
insuficiências dos alunos.
Origens do Ensino 177
Alguns desses textos foram conservados, como o do documento
conhecido, somente, através desta tradução, realizada pelo grande sumerólogo
americano Samuel Kramer.
O tablete que contém o texto, hoje conhecido como Os Tempos da
Escola, trata da situação de um aluno, de sua relação com a escola e com o
professor. O texto foi redigido por um professor da escola de escribas, por volta
do ano 2000 a.C., e não se conhece o seu lugar de origem, pois existem várias
cópias com fragmentos.
O texto começa com uma pergunta do professor ao estudante:
“– Estudante, onde tu tens ido desde tua primeira infância?”
E o estudante responde:
“– Tenho ido à escola.”
“– O que tens feito na escola?”
“– Decorei o meu tablete, almocei, preparei o meu novo tablete, escrevi-o,
terminei-o; depois, apresentaram-me os tabletes de recitação: e, à tarde, trouxeram-me
os meus tabletes de exercício. No fim da aula, eu fui para casa, entrei em casa e
encontrei o meu pai. Expliquei os meus tabletes de exercício ao meu pai, recitei-lhe o
meu tablete, e ele ficou deliciado, pois enchi-o de alegria.”
O estudante, então, entra na casa dos criados e diz:
“– Tenho sede, dá-me água para beber; tenho fome, dá-me pão para comer;
lava-me os pés, faz-me a cama, que quero ir deitar-me. Acorda-me de manhã bem cedo,
para eu não chegar atrasado, senão, o professor vai me bater com a vara.”
Então, no outro dia, pela manhã, o estudante fala que:
“– Quando levantei-me de manhãzinha, encarei a minha mãe e disse-Ihe: Dê-
me o meu almoço, quero ir para a escola! A minha mãe deu-me dois pãezinhos e eu fui
para a escola. Na escola, o vigilante encarregado de verificar a pontualidade disse: Por
que chegaste atrasado? Temeroso e com o coração batendo, apresentei-me ao
professor e fiz-lhe respeitosa reverência.”
“O meu professor leu o meu tablete e disse:
Falta aqui qualquer coisa, bateu-me com a vara.
Ensino, escrita e burocracia na Suméria 178
O vigilante encarregado da limpeza disse:
Andaste na rua e não cuidaste das tuas roupas, bateu-me com a vara.
O vigilante encarregado da assembléia disse:
Por que falaste sem autorização?, bateu com a vara.
O vigilante encarregado do bom comportamento disse:
Por que te levantaste sem autorização?, bateu com a vara.
O vigilante encarregado do portão disse:
Por que saíste sem autorização?, bateu com a vara.
O vigilante encarregado do sumério disse:
Por que não falaste sumério?, bateu com a vara.
O meu professor disse:
– A tua ortografia não é satisfatória, bateu com a vara.
E assim eu comecei a odiar a arte de escriba, comecei a negligenciar a
arte de escriba.
O meu professor não teve mais alegrias comigo, deixou de me ensinar a
arte de escriba.”
Desesperado, o estudante voltou-se para o pai e disse-lhe:
“– Dá-lhe algum salário suplementar e que ele fique bondoso [...], que ele me
corrija também.”
Daqui em diante, o próprio autor retoma a narrativa:
“Àquilo que o aluno disse, o pai prestou atenção. Convidou o professor e,
quando este entrou em casa, fizeram-no sentar na cadeira grande.”1
O pai ordenou aos criados:
“Derramem-lhe óleo puro, tragam-no para a mesa. Façam com que o óleo corra
como água sobre o seu ventre e costas; quero que o vistam com boas roupas, que lhe
dêem algum salário extra, lhe ponham um anel no dedo.”
Os criados fazem o que Ihes foi ordenado, e então o professor diz ao estudante:
“Jovem, porque não desprezaste as minhas palavras, completarás a arte de
escriba desde o princípio até o fim Porque deste-me tudo sem poupar, pagaste-me um
salário maior do que mereço e honraste-me, que Nidaba, a rainha dos anjos da guarda,
1 O lugar de honra, na peça principal da casa, segundo os costumes mesopotâmicos.
Origens do Ensino 179
seja teu anjo da guarda; que teu estilete afiado escreva bem; que teus exercícios não
tenham erros. Dos teus irmãos, possas ser o guia; dos teus amigos, possas ser o chefe;
que sejas o maior dos formados. [...]. Realizaste bem as tarefas escolares, és um
homem de saber. Exaltaste Nidaba, a rainha dos estudos!”
O local de trabalho Até os dias de hoje, foram encontrados, pelos arqueólogos, alguns
raros testemunhos do material e do local de trabalho dos escribas.
Devemos, contudo, diferenciar os centros de arquivos, ou as escolas,
do posto de trabalho ocupado pelo escriba. Podemos pensar que ele trabalhava
no mesmo local onde classificava seus arquivos, mas não existe nenhuma
prova que confirme essa hipótese.
Um exemplo é o sítio arqueológico de Tell ed-Der, na Síria,
recentemente escavado por uma missão belga. Nele, foi encontrada e escavada
a casa do sacerdote Ur-Utu, com mais de 2.000 tabletes e um lote de estiletes,
provando que a escrita era ali praticada. Porém, não foi encontrada nenhuma
instalação especial para essa atividade.
Uma situação diferente aconteceu na cidade de Terqa, às margens do
Eufrates, 60 km ao norte de Mari, onde os arqueólogos pretendem ter
encontrado o posto do escriba dentro de uma casa.
Trata-se de modestos meios: um lugar com pavimento coberto com
lajes para se agachar, um pote semi-enterrado no piso para conservar a argila
ao alcance da mão, uma jarra com tabletes e, atrás, um pequeno armário; perto
da porta, há um cesto, que pode ter servido para o transporte dos tabletes.
Sabe-se que, em Mari, o escriba podia escrever um tablete em qualquer
lugar do palácio; onde o rei estivesse, ele o redigiria. Contudo, essa constatação
não deve colocar em dúvida a existência de centros onde os escribas
trabalhassem, pois, para realizarem a contabilidade da gestão do palácio, deveria
haver uma certa centralização nas dependências da própria construção.
Ensino, escrita e burocracia na Suméria 180
O currículo de estudos do escriba De acordo com os documentos até hoje encontrados no Sul da
Mesopotâmia, sabemos que a maioria dos textos escolares eram da prática
administrativa. Os alunos começavam com exercícios básicos, que facilitavam a
aprendizagem dos sinais cuneiformes; depois, procediam a leitura de hinos
divinos e reais, debates, cartas literárias, mitos, épicos e outras composições
literárias – todas em sumério. Há pequenas evidências de modelos de contratos,
de exercícios matemáticos e de cartas em acádico.
As escavações arqueológicas trouxeram à Iuz dois tipos de documentos
bastante instrutivos:
– tabletes que continham apenas o início dos textos literários, jamais o
final: tratava-se de textos copiados pelos estudantes em nível avançado,
como um exercício; quando o professor estimava que os alunos haviam
adquirido a técnica necessária para tal tipo de documento, ele decretava
o fim do trabalho;
– silabários, também chamados vocabulários, que eram listas de sinais
cuneiformes dispostos em estreitas colunas verticais, às vezes,
acompanhadas de palavras (de grupos de sinais), destinadas à
aprendizagem de mnemotécnicas nas séries de sinais. Esses textos
tornaram-se, ainda na Antigüidade, manuais de referência e, após, uma
fonte importante para os assiriólogos, sobretudo quando se trata de listas
bilíngües, com o equivalente acádico de palavras sumérias, por exemplo.
Funções do escriba O escriba precisava, antes de mais nada, dominar as centenas de sinais o
sistema cuneiforme, em todos os seus sentidos, conhecê-los e reproduzi-los.
Depois disso, que era a base de sua atividade, devia estar apto a redigir cartas e
conhecer os formulários dos contratos. Mas ele precisava, também, conhecer as
técnicas contábeis que permitiam gerirem-se os grandes patrimônios, garantir a
Origens do Ensino 181
distribuição dos salários sob forma de quantidades de cereais, de óleo, de
vestimentas, que remuneravam os serviços prestados. Ele devia saber glorificar os
altos feitos do rei, compor as inscrições reais, redigir os tratados e as alianças
entre os Estados, levando em consideração os hábitos de cada reino. A
diversidade de tarefas mostra a importância desse homem na sociedade, sendo
que, quanto mais conhecimentos ele possuísse, em cada um desses domínios,
mais ele seria procurado e mais teria riqueza e prestígio.
As funções do escriba eram diversas. Na maior parte do tempo, ele
trabalhava na administração dos templos e dos palácios. Raramente, o escriba
estava a serviço de um particular, exceto no caso dos mercadores, quando as
principais atividades do letrado eram a produção de mensagens, cartas,
reconhecimento de dívidas (que hoje conhecemos como nota promissória) e
recibos. Por outro lado, os reis, as rainhas, os príncipes e os altos funcionários
possuíam um secretário particular, sobretudo nos períodos babilônico (séculos XIX
e XVIII a.C.) e assírio (séculos VIII e VII a.C.). Outros escribas trabalhavam como
escrivães públicos nas portas das cidades, mas, possivelmente, estes possuíam
apenas rudimentos da ciência cuneiforme, e o seu saber não era comparável ao
dos escribas da corte. Cabe aqui um parêntese para explicarmos o significado das
portas das cidades no urbanismo oriental. Ainda que os conhecimentos no
domínio dos espaços públicos sejam imprecisos, pois a Arqueologia sempre se
interessou mais pelos templos e palácios do que pelas ruas, mercados ou praças
públicas, sabemos que a porta da cidade, em acádico, bâbum, tinha um papel
importante na vida social. A porta, como elemento integrante da cidade oriental,2
era o ponto de encontro entre o interior da vida urbana e o mundo exterior, o lugar
de chegada das caravanas e das feiras. Era um espaço de realizações de
negócios, portanto, um local de trabalho para os escribas.
Devemos ressaltar que, a partir da época do rei Hammurabi de Babilônia
(século XVIII a.C.), as mulheres passaram a ter acesso a essa profissão, como
2 A etimologia da palavra Babilônia é bâb – porta, îlum – deus; tradução literal: a porta de deus.
Ensino, escrita e burocracia na Suméria 182
atestam os documentos provenientes de Mari e Sippar. Um exemplo disso é uma
carta escrita pela princesa Nin-šata-pada, filha do rei Sîn-kâšid de Uruk e
sacerdotisa da divindade Meslamtaea, na cidade de Durum, onde a nobre
identificava-se como escriba (linha 16 no texto). Assinalamos a raridade de textos
provenientes de mulheres-escribas.3 Depois de longas saudações, Nin-šata-pada
implora ao rei Rîm-Sîn que a tenha em consideração e queixa-se do próprio
estado físico4, do fato de que sua família tenha sido dispersa e de que ela mesma
viva no exílio5, na condição de escrava, fora da cidade de Durum. Reproduzimos,
abaixo, um trecho do documento6:
Burocracia
O termo mais comum utilizado para se nomear a burocracia
mesopotâmica é DUB.SAR, tradicionalmente traduzido como escriba. Porém,
vários estudiosos questionam isso, dizendo que escriba é um título, que não se
3
HALLO, W. W., Individual Prayer in Sumerian: the continuity of a tradition. JAOS 88, 1968. p. 78; CHARPIN, D., Le Clergé d‟Ur au siècle d‟Hammu-rabi. Genève-Paris: Droz, 1986. p.203, nota 1.
4 Nota-se um paralelo entre as linhas 37, 38 e 39 desse texto e as linhas 4‟ e 10‟ do reverso da
carta. A.1258+S.16OSN, editada por D. CHARPIN, Les malheurs d‟un scribe ou de l‟inutilité du sumérian loin de Nippur. In: ELLIS, M. Nippur at the centennial-35° R.I.A.Philadelphia, 1992. p.12
e 21, nota 16. 5 Entre as seis cópias dessa carta, existe uma variante, que fala de quatro anos de exílio ao invés
de cinco. 6
HALLO, W.W., The Royal Correspondance of Larsa: III. The Princess and the Plea, In: CHARPIN,
D. et JOANNÈS, F.. Marchands. Diplomates et Empereurs. Paris: ERC, 1991. P. 377-388.
Origens do Ensino 183
refere a uma ocupação específica, simplesmente designando um graduado na
escola de escribas.
No período de Ur III, DUB.SAR era um termo geral para burocratas de
baixo e médio escalão. Isso pode ser demonstrado pelo estudo das impressões de
selos-cilindros em numerosos tabletes administrativos do período. Também foram
encontradas listas de selos oficiais registrando uma função especifica, nos quais o
funcionário era apenas designado como DUB.SAR na inscrição do selo. Alguns
desses títulos incluíam ì-rá-rá, kagur7, kuš7 e sanga (perfumista, superintendente
dos silos, chefe dos barqueiros, administrador do templo, respectivamente).
O número de escribas apurado permite supormos que o título abrangia
uma variedade de ocupações – só para o período de Ur Ill, conhecemos os
nomes de mais de 1.560 escribas DUB.SAR. Sabemos que os futuros
membros dos altos escalões administrativos usavam o título de escriba. Um
bom exemplo disso é o caso de Ilšu-iliya, filho de Ituria, governador de
Ešnunna. Em seu selo, era chamado de escriba, mas ele sucedeu seu pai
como a maior autoridade da cidade-Estado.
Se DUB.SAR era uma palavra geral para burocrata, podemos concluir que
o saber ler e escrever (não podemos falar de alfabetização, pois esse período é
anterior a invenção do alfabeto) era um pré-requisito para se ingressar no serviço
administrativo. Isso pode parecer redundante, mas, de fato, há poucas evidências
que garantam a hipótese de que a maioria dos burocratas pudesse ler e escrever.
O que pode ter ocorrido é que muitos oficiais, não sabendo escrever, tivessem
escribas trabalhando para eles. Esse deve ter sido, muitas vezes, o caso, mas é
importante lembrarmos que os membros do baixo e médio escalão da burocracia
passavam pela eduba, a academia de escribas, antes que pudessem aspirar a
alguma função. As conseqüências desse fato não devem ser subestimadas, pois
muitos estudiosos ainda tratam essas duas palavras – escriba e burocrata – como
sendo distintas, mas, no período de Ur III elas eram indissociáveis.
Ensino, escrita e burocracia na Suméria 184
Ensino e poder A relação entre o ensino, o domínio da escrita e o poder é bastante
discutida entre os historiadores. Um caso exemplar insere-se nas reformas
administrativas realizadas por Naram-Sîn e Šulgi, reis da dinastia Acádica
(2400-2200 a.C.), e por Ur III (2100-2000 a.C.). Antes da dominação sargônica,
a língua acádica era utilizada no forte da Mesopotâmia, enquanto que o sumério
dominava no Sul. Durante o período sargônico, o acádico foi usado
conjuntamente com o sumério, em todo o império, como a linguagem oficial da
administração e da propaganda. Com o ascenso da terceira dinastia de Ur, o
sumério tornou-se a língua mais importante em toda a região.
Cabe aqui explicar, rapidamente, a diferença entre essas duas línguas.
O sumério, língua do povo sumério, cuja origem desconhecemos, possuía,
originalmente, uma base ideogramática. Podemos definir o ideograma como um
sinal (primitivamente, um desenho, tendo-se tornado uma simples convenção
ao longo de seu desenvolvimento) contendo, ao mesmo tempo, um sentido e
um som. A língua suméria é aglutinante, na qual cada idéia básica – nominal ou
verbal – é expressa por uma sílaba estável, ou por várias sílabas.
O acádico, língua do povo amorrita, é uma língua semita, do mesmo
modo que o árabe, o hebreu, o aramaico, etc. É uma língua flexionada, ou seja,
suas palavras modificam-se e variam de sentido com a adição de prefixos,
sufixos, infixos e desinências diversas. O acádico teve três grandes dialetos:
acádico antigo, babilônico e assírio.
O sumério e o acádico são, portanto, línguas diferentes, com origens
étnicas distintas.
Piotr Michalowski7, um importante assiriólogo norte-americano, questiona a
razão pela qual pessoas que dominavam várias línguas e dialetos semitas
7 MICHALOWSKI, P., Charisma and Control: On Continuity and Change in Early Mesopotamian
Bureaucracy Systems. In: GIBSON, M. and BIGGS, R., The Organization of Power: Aspects of
Bureaucracy in the Ancient Near East. Chicago: SAOC 46, 1991. p. 52.
Origens do Ensino 185
deveriam estudar, com tanta profundidade, a língua e a literatura suméria. Para ele,
a resposta é clara. A escola seria “um molde ideológico de consciências e opiniões,
o lugar onde os futuros membros da burocracia seriam sociabilizados, onde
receberiam um fundo comum de idéias e atitudes, que juntos enquanto uma classe,
ou individualmente, teriam o mesmo background original”.
Sob esse ponto de vista, os textos literários adquirem uma significação
ideológica própria, como os hinos reais celebrando a magnificência do soberano
e os mitos perpetuando certos conceitos de eterna ordem cósmica.
Podemos citar como exemplo a obra A Maldição de Akkad, uma descrição
poética, em língua suméria, completamente fictícia, da queda do Estado de Akkad
(2400-2100 a.C.). Ela narra, em vários momentos, a história do julgamento do rei.
Esse texto oferece a imagem do soberano Narâm-Sîn, que reinou em Akkad de
2245 a 2218 a.C., como o único culpado pela dispersão de seus Estados, depois de
ter ofendido a religião e os deuses. Os escribas acádicos (de 2000-1800 a.C.),
prováveis autores da lenda, fizeram, de Narâm-Sîn, o arquétipo do rei mau.
Sabemos que a tentativa de interpretação das peripécias da história humana,
segundo a cólera divina, ela mesma gerada por um ato de impiedade da parte de
um rei humano, não era familiar a literatura suméria. Contudo, ela era notória na
produção literária da língua acádica.
O documento permite-nos entrever outra função da escola – a de
modernizadora da burocracia, a qual podia ser independente da figura do rei.
Akkad já havia passado, mas a história prolongava-se, distorcida e manipulada
pela escrita e pelos escribas.
O ensino podia ser um importante instrumento de poder: o Estado
controlava a disseminação da informação mantendo um forte apoio prático e
ideológico às classes literatas. As tradições alimentadas pela escola
proporcionavam uma continuidade ideológica para a burocracia, independente
dos caprichos de quem estivesse no poder. No contexto de perpetuação de
Ensino, escrita e burocracia na Suméria 186
uma linguagem literária morta, que era o sumério, ser escriba definia uma
função, a de se pertencer a um clube exclusivo o do mundo da burocracia.
Conclusão As escolas de escribas mesopotâmicas conheceram uma expansão em
todo o Mundo Antigo oriental e proporcionaram o desenvolvimento da escrita
das línguas faladas em vastas áreas. Porém, essa escrita, provavelmente,
nunca foi “popular”, no sentido etimológico do termo: ela sempre permaneceu
no domínio de um grupo restrito de especialistas – o dos escribas.
Em nível cultural, podemos dizer que um dos grandes êxitos das
escolas de escribas foi o de terem mantido vivo o ensino do sumério durante
cerca de 2.000 anos depois de seu desaparecimento como língua falada (de
2000 a.C. a 200 d.C.).
Em nível econômico, podemos estabelecer um paralelo entre o tamkâru
e o tupšarru. Sem o tamkâru, homem de negócios, seria impossível
compreender-se por que a Mesopotâmia teria saído do Neolítico e dominado,
por tanto tempo, o Oriente Próximo. Sem o tupšarru, escriba, teria sido
impossível gerir-se o sistema econômico que se instalara a partir daquele
momento. A burocracia que reinou na Mesopotâmia foi a conseqüência de uma
dupla necessidade: a de se assegurar ao país, de maneira regular, o
aprovisionamento de produtos de primeira necessidade, sem os quais a vida
teria sido impossível; e a de se instaurar um Estado suficientemente forte para
se garantir esse aprovisionamento e organizar-se um sistema econômico,
permitindo-se a redistribuição da produção, alimentar sobretudo, em troca de
um trabalho a serviço do poder.
Essa burocracia foi, de certa forma, um freio à evolução, mas,
excetuando-se os períodos de crise, ela permitiu, ao sistema, funcionar durante
três mil anos.
Origens do Ensino 187
Referências bibliográficas
HALLO, W. W. Individual Prayer in Sumerian: the continuity of a tradition. JAOS
88. p. 71-89, 1968.
______. The Royal Correspondance of Larsa: III. The Princess and the Plea. In:
CHARPIN, D. et JOANNÈS, F. Marchands, Diplomates et Empereurs. Paris:
ERC, 1991. p. 377-388.
______. Origins – The Ancient Near Eastern Background of Some Modern
Western Institutions. Leiden-New York-Köln: E. J. Brill, 1996.
CHARPIN, D. Le Clergé d‟Ur au siècle d‟Hammu-rabi. Genève-Paris: Droz,
1986.
______. Un Quartier de Nippur et le Problème des Ècoles à l‟Èpoque Paléo-
Babylonienne. Revue d‟Assyriologie et d‟Archéologie Orientale 83. p. 97-112,
1989.
______. Un Quartier de Nippur et le Problème des Écoles à l‟époque Paléo-
Babylonienne (suite). Revue d‟Assyriologie et d‟Archéologie Orientale 84. p. 1-
16, 1990.
______. Les malheurs d‟un scribe ou de l‟inutilité du sumérien loin de Nippur. In:
ELLIS, M. Nippur at the centennial-35° R.I.A.Philadelphia, 1992. p. 7-27.
MICHALOWSKI, P. Charisma and Control: On Continuity and Change in Early
Mesopotamian Bureaucracy Systems. In: GIBSON, M. and BIGGS, R., The
Organization of Power: Aspects of Bureaucracy in the Ancient Near East.
Chicago: SAOC 46, 1991. p. 45-57.
WALKER, C.B.F. Reading the Past-Cuneiform. London: British Museum Press, 1993.
Fazendo educação com uma (re)leitura da Alquimia 188
FAZENDO EDUCAÇÃO
COM UMA (RE)LEITURA DA ALQUIMIA
ATTICO CHASSOT
Quando pensamos o nosso ser Professor e o associamos com a nossa
especialização, muito provavelmente nos convençamos que usamos este
conhecimento, do qual nos dizemos (ou nos dizem) especialista para fazer
Educação. Não há em nós, usualmente, a pretensão de sermos transmissores
de conhecimento. Em outro texto (Chassot: 1997c) discuto quanto o professor
informador é um profissional superado; quanto hoje há exigência de professores
e professoras formadores. Assim é fácil entender como um professor de
Química fala em uma IV Jornada de Estudos do Oriente Antigo Não sou
historiador. Paradoxalmente, sinto-me cada vez menos Químico. Sinto-me num
continuado fazer-me Professor. Acho que posso dizer que me sinto mais perto
de cada uma e de cada um de vocês que faz Educação.
Nas reflexões e análises de comportamentos deste ocaso bimilenar, o
presenteísmo (Chassot, 1998a; 1998b) é destacado como algo que distingue as
atuais ações, especialmente das gerações mais jovens. Há um viver o
presenteísmo. Eis a análise de Eric Hobsbawm a respeito de um dos grandes
problemas deste final de milênio:
“A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais característicos e Iúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio” (1995, p. 13).
Origens do Ensino 189
Nas exigências às professoras e aos professores, nestes novos
tempos, onde devem deixar de ser informadores para se tornarem formadores,
está presente uma preocupação com um ensino que se enraíza na história da
construção do conhecimento. Esta é uma alternativa para nos opormos ao
presenteísmo. Esta é uma direção que tenho desenvolvido, também, nos
trabalhos envolvendo a formação de Educadores.
Ao se analisar a situação da Educação, uma das características que
avulta como comprometedora de um ensino mais engajado, com propostas
transformadoras, é quanto esse ensino tem uma marca muito forte na a-
historicidade (Chassot, 1996a, p. 51). Essa a-historicidade é creditada pela falta
de formação (ou talvez melhor seria dizer de uma não-familiarização) de
professores e professoras na área da História da Ciência. É preciso registrar
também quanto (o ensino d) a História teve / tem marcas do dogmatismo.
Tenho defendido que as professoras e os professores tem, também, o ofício de
lembrar o que os outros esquecem, e isso os torna mais importantes que nunca,
quando tantas reconfigurações ocorrem no mundo do trabalho (Chassot, 1995;
1996b; 1996c; 1998c).
Nesta minha fala nesta IV Jornada de Estudos do Oriente Antigo, que
tem para mim um título complementar muito atrativo e até sedutor: origens do
ensino, pretendo mostrar quanto se pode(ria) usar a História da Química, ou
ainda numa mirada mais ampla, a História da Ciência não apenas em propostas
interdisciplinares, mas fazer desta um fio condutor não só para entender como
se deu/dá/dará a produção dos diversos saberes, mas até para a facilitação da
construção de novos conhecimentos.
Na formatação que idealizei para esta fala está a apresentação de
alguns exemplos de atividades de ensino formal, e também não-formal, tanto
no ensino fundamental e no ensino médio. Tenho outro texto onde trabalho
uma experiência localizada no ensino superior (Chassot, 1998c). A história
da construção do conhecimento tem sido central, também, em atividades
Fazendo educação com uma (re)leitura da Alquimia 190
envolvendo a formação continuada de Educadores. O estudo da História da
Ciência, ocorre com a ajuda de um texto básico (Chassot, 1997a), destinado
aos que fazem uma primeira leitura do tema. Em A ciência através dos
tempos procuro fazer tessituras com a história da Filosofia, a história da
Educação, a história das religiões, a história das artes, e para a surpresa
daqueles mais ortodoxos, com a história das magias. Também busco inserir
a esquecida história “da história daqueles e daquelas que usualmente não
são considerados como os autores (oficiais) da história”. Aqui cada vez mais
têm lugar propostas que visam privilegiar posturas afinadas com as
vertentes do multiculturalismo (Chassot, 1998c).
Há ainda uma outra dimensão para este inserir a História da Ciência no
fazer Educação. Este fazeres têm sido facilitadores de uma continuada
eliminação de posturas cientificistas, ainda muito presentes no ensino, nos seus
diferentes níveis de escolarização formal. Nesta direção é preciso um despir-se
de posturas eurocêntricas, brancas, cristãs, machistas, assim olhar uma Ciência
despida de alguns rótulos. Isto, evidente não quer privilegiar uma Ciência
asséptica e imaculada. Ao contrário, é preferir vê-la suja, contaminada e
encharcada de realidade. Há uma continuada busca para ver – e o propósito é
pretensioso – a Ciência que está mais próxima de nós.
Nesta dimensão as propostas de Educação estão centradas numa
dimensão de não se fazer um ensino exclusivamente dependente de empréstimos
culturais. Parte-se do pressuposto que nós ajudamos a escrever a História a cada
dia e por isso temos responsabilidades com o nosso passado. Cada um e cada
uma de nós é continuamente convidado a reescrever uma nova História, buscando
um novo marco zero. Precisamos fazer também uma (re)leitura da Ciência como
homens e mulheres latino-americanos que somos. Há algumas propostas
marcadas pela preocupação de se levar para as aulas de Ciências os
conhecimentos produzidos pelos pré-colombianos (Chassot, 1997b). É preciso que
nós falemos, também, como professores e professoras que vivem numa Terra que
Origens do Ensino 191
tem uma História anterior àquela que usualmente nos transmitiram e nós, ainda,
lamentavelmente, continuamos contando e até, ensinando.
Aqui e agora, quero, uma vez mais, fazer um confiteor sobre o quanto
eu fui reducionista e simplista em A Ciência através dos tempos. Em um livro de
quase 200 páginas, onde busco fazer uma mirada panorâmica na História da
Ciência, eu, latino-americano, escrevo apenas um parágrafo, muito pouco
elucidativo, ao referir às civilizações que existiram nas Américas antes da
chegada dos “colonizadores”. Tenho escrito textos e feito palestras para
resgatar esta minha omissão.
Vejam como e por quem nos estão sendo impostas as comemorações
ufanistas dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Observemos que a simples
referência a descobrimento de um povo implica numa leitura a partir da ótica do
dominador. Para aqueles que se fizeram os donos da festa é importante que
desconheçamos, por exemplo, a Educação que se fazia nesta terra antes da
chegada dos “civilizados”, que destruíram uma História. Não importa que
tenhamos que reconhecer que hoje nenhum de nós saiba o nome de um
homem ou de uma mulher que viveu nesta terra antes de 22 de abril de 1500.
É preciso, por isso, denunciarmos, com uma veemência, cada vez
maior, quanto há de fanfarria nestas já agora badaladas comemorações dos
500 anos do descobrimento do Brasil, quando deveríamos nos envergonhar por
nada saber daqueles e daquilo que houve nesta terra antes de 1500. Ao invés
de festas e comemorações, devíamos chorar em funeral. Ao invés de laudações
aos europeus brancos destruidores, façamos dobrar sinos em réquiem aos que
matamos. Precisamos fazer também uma (re)leitura da Ciência e da História
como professores e professoras latino-americanos que somos.
Avancei em meus acenos preambulares. O assunto me seduz. Mas
preciso adentrar na alquimia que está no título de minha fala. A alquimia, mais
uma vez, como em muitos séculos da história da humanidade está muito
presente nas discussões e nas interrogações de muitas pessoas. Há, pelo
Fazendo educação com uma (re)leitura da Alquimia 192
menos três leituras que se pode fazer da alquimia e estas decorrem, até, das
muito diferenciadas representações sociais que as pessoas têm sobre a
alquimia. Vou revisitar rapidamente estas três usuais leituras para a Alquimia e
com duas destas buscarei uma outra – que pretende ser a central. Nesta
compararei as metas da Química neste ocaso bimilenar com aqueles que eram
os propósitos dos alquimistas medievos. As três possíveis leituras são:
(1) uma leitura cética que apresenta a Alquimia como algo apenas eivado
de charlatanismo e destituída de qualquer significado científico, para qual se
concede, não sem desprezo, algumas contribuições acidentais, do tipo “[...] então
um alquimista que buscava transmutar metais menos nobres em ouro, quando
estava mexendo em um caldeirão, descobriu o ácido nítrico ou inventou a retorta”.
Pinta-se os alquimistas como velhos barbudos, com corujas no ombro e caveiras
sobre suas bancadas de trabalho. O alquimista é, em geral, descrito como um
mago que sempre busca vantagens, daí porque sua associação à bruxaria e como
conseqüência com a Inquisição, como veremos na leitura seguinte.
(2) uma leitura histórica que revisita criticamente os períodos mais
distantes da História, principalmente do medievo, contextualizando a alquimia e
os alquimistas nestes períodos, dos quais ainda sabemos tão pouco e que
devem ter sido muito mais férteis em “conhecimentos” do que aqueles que,
muitas vezes, reduzem a Idade Média como uma noite de mil anos, onde
conhecimento pouco avançou. Aqui caberiam comentários mais extensos sobre
a Inquisição e a bruxaria.
(3) uma leitura com um realismo-fantástico, que não é sinônimo
de fantasia, mas que tem muito de quase incrível ou de, ainda inexplicável.
Nesta não só se aceita como possível ter havido transmutações alquímicas,
como se coloca figuras tão singulares como Newton na galeria daqueles que
operaram estes feitos.
Não vou me deter nas duas primeiras. Uma delas, para as minhas
análises pode ser considerada irrelevante e também eivada de erros, mesmo
Origens do Ensino 193
que esta leitura seja o “senso comum” de muitas pessoas. Esta leitura é aquela
que fazem alguns cientistas, inclusive químicos, aos quais falta uma visão
crítica de História da ciência.
Por razões opostas não vou me deter na leitura histórica, que deveria
ser objeto de um detalhamento muito amplo e talvez se pudesse elucidar alguns
fatos e até propor certas correções ou talvez, mais adequadamente,
aproximações. Com a leitura histórica deveria, ou pelo menos poderia,
desaparecer a leitura cética. Mas, aqui e agora, não há espaço para isso.
Vou ampliar um pouco a terceira leitura que nomino como de uma
leitura com um realismo-fantástico. É preciso referir aqui que a terceira
leitura, mesmo que não tenha, ainda, muito trânsito entre os cientistas, também
não se relaciona com livros do gênero do qual Paulo Coelho é hoje o mago-
máximo. A referência aos mesmos é, apenas para referir que os mesmos não
emprestam qualquer contribuição para as considerações que pretendo
apresentar nesta ótica do realismo-fantástico.
Antecipo que, com a leitura histórica (que anunciei que busca um
resgate da Alquimia) e a com esta que faremos em seguida que rotulei de um
realismo-fantástico (que representa um posicionamento pouco ortodoxo na
Academia), pretendo encontrar um sincretismo entre estas duas leituras, não
apenas resgatando a validade da Alquimia, mas mostrando quanto esta foi
importante e está presente na Química Moderna. Assim, com duas das três
leituras antes referidas (a histórica e a de um realismo-fantástico), pretendo
amalgamar um recorte sincrético.1
1 SINCRETISMO é aqui usado no sentido de amálgama de elementos culturais diferentes, ou até
antagônicos, em um só elemento, continuando perceptíveis sinais dos elementos originários. O sentido etimológico do termo – reunião de vários estados na ilha de Creta contra adversário
comum – parece adequado para o que se pretende fazer com as duas leituras mencionadas
Fazendo educação com uma (re)leitura da Alquimia 194
Uma leitura com realismo-fantástico
Quando se contempla um pouco da longa caminhada percorrida pela
Química para ser admitida no rol das ciências e se consideramos a
discriminação (e a perseguição) imposta aos alquimistas e à Alquimia, parece
oportuno que se reconsidere o status atual da Alquimia.
Aqui se poderiam fazer extensos relatos das inúmeras descrições de
transmutações que se encontram em diferentes tempos, inclusive alguns que
nos são muito próximos temporalmente. Vou partir para uma proposta mais
radical. Talvez invoque em minha defesa o anarquismo epistemológico de
Feyerabend que indica que não devo me submeter à obediência a regras fixas e
a padrões imutáveis, estabelecidas em “o” método, concentrado, na sua versão
contemporânea mais fiel, nas seguintes regras: “Só aceitar hipóteses que se
ajustem a teorias confirmadas ou corroboradas; Eliminar hipóteses que não se
ajustem a fatos bem estabelecidos”.
Vou formular uma hipótese apoiado em Feyerabend: os alquimistas
também fizeram transmutações. Como não fiz a descrição de inúmeros estudos
nessa terceira leitura, quero explicar primeiro o também, que coloquei na minha
hipótese feyerabendiana. Poderia estender por várias páginas o relato de
experimento onde se descreve como plantas e animais parecem realizar aquilo
que modernamente classificamos como uma transmutação de elementos e que
ensejou que em moderníssimos laboratórios se sintetizasse, por exemplo, os
elementos que na Tabela Periódica estão depois do urânio. Se aceitarmos a
hipótese que vegetais e animais realizam transmutações, podemos também
reconhecer como válida a hipótese de Soddy, que outros já tenham conhecido
os segredos transmutações que hoje são feitas em alguns poucos centros de
pesquisas nucleares. Aos céticos, que vêem a impossibilidade devido às
grandes exigências energéticas aí envolvidas, apresento uma analogia: um
cofre pode ser aberto de duas maneiras: conhecendo o segredo ou por
arrombamento. Todos sabemos as grandes diferenças de energia envolvidas
Origens do Ensino 195
em uma e outra situação. Hoje, a transmutação nuclear corresponde a uma
violência contra um núcleo – e o arrombamento. Se estiverem corretas as
evidências que plantas e animais fazem transmutações, porque não levantar a
hipótese que tenha havido alquimistas que conheceram o segredo e tenham
realizado as transmutações que se referiu na leitura anterior.
A pergunta que logo se impõem é: Por que, se a ciência tem o
conhecimento cumulativamente adquirido, estes segredos ou práticas dos
alquimistas, não chegaram até nós? Antes de apresentar cinco hipóteses para
que tal não tivesse ocorrido, é preciso questionar preliminarmente, a
cumulatividade dos conhecimentos científicos.
Se aceitarmos que determinadas culturas se desenvolvem orgânica e
separadamente das demais, possuindo uma infância, atingindo depois um
esplendor, numa idade adulta, para sofrer uma decadência, podemos admitir
que os conhecimentos das mesmas, se não foram comunicados para outras
culturas, puderam estar, em diferentes momentos, mais ou menos avançados.
As razões da não-comunicação aparece na primeira das hipóteses que se
menciona a seguir, na busca de uma explicação para que se tivessem “perdido”
os segredos das transmutações alquímicas.
Nesta terceira leitura, na tentativa de responder porque os segredos ou
práticas dos alquimistas não chegaram até nós, apresento cinco hipóteses, que
serão objeto de uma discussão maior:
(1) Dizimação por uma peste: A “peste negra”, por exemplo “devastou
o mundo ocidental, desde 1347 até 1351, matando 25-50% da população da
Europa e causando ou acelerando significativas mudanças políticas,
econômicas, sociais e culturais” (Gottfriend, 1989). Ora, se nos dermos conta
que muitas comunidades de alquimistas viviam em guetos afastados da cidade
para preservarem seus segredos ou para se protegerem de perseguição (ver
hipótese 2), é fácil imaginar como grupos inteiros de alquimistas possam ter
desaparecido e com eles suas práticas, até porque estas, na busca do
Fazendo educação com uma (re)leitura da Alquimia 196
resguardo do segredo, não eram escritas ou eram escritas em códigos. Estes
códigos são, inclusive, uma explicação para a hermética linguagem química.
(2) A forte influência da Igreja: Sabemos que a Igreja “para proteger
seus fiéis dos embusteiros” proibiu as experiências de Alquimia, através de uma
Bula Papal de João XXII, em 1317. Também fez referência à vigilância dos
tribunais inquisitoriais sobre publicações de qualquer natureza, como os
trâmites do Exame de Artilheiro, obra de aritmética, geometria e artilharia.
(3) Destruição pela própria descoberta: A hipótese levantada por
Soddy parece muito provável. Se recordarmos que o mercúrio estava muito
presente nas tentativas de transmutações, envenenamentos por este metal não
podem ser descartados. Se aceitarmos a possibilidade que existiram
civilizações que conheceram a energia nuclear, é muito provável aceitar que
uma má aplicação as pudesse ter destruído. Recordemos dois exemplos: Marie
Slodowska Curie (1867-1934), ao morrer, teve no diagnóstico de sua medula
revelado o verdadeiro criminoso: o elemento Rádio, que ela descobrira em
1898. Manuel de Abreu (1894-1962), médico brasileiro, inventor do registro
radiográfico em filmes de 35 mm, conhecido como Abreugrafia, teve lesões
generalizadas nas mãos devido a radiações.
(4) Poder econômico: É muito provável que fortes pressões econômicas
tenham retardado e impedido a divulgação de muitas descobertas. A afirmação de
Newton, anteriormente transcrita, é taxativa: “a fabricação do ouro não pode ser
comunicada, sem que o mundo corra um imenso perigo [...]”. Basta que
imaginemos o que significaria para os mercados mundiais, se o grama de ouro, que
hoje custa mais de 10 dólares, passasse a valer (devido a sua fácil fabricação) 10
centavos de dólar o grama... Aliás, vale sempre perguntar porque o ouro vale/custa
tanto. Qual o seu valor de fato? Quando apresentarmos a visão sincrética vamos
referir materiais muito valiosos que não são fabricados. Ainda uma interrogação:
Por que, após o anúncio da fusão a frio a mesma foi repetida com anunciado
sucesso em muitos outros laboratórios para, logo a seguir, ser cognominada como
Origens do Ensino 197
uma “fria” fusão a frio? Que interesses passaram a determinar esta reversão? Não
poderia ser apenas porque seus descobridores eram de um Estado pobre e
marginalizado cientificamente ou porque, talvez, o preço do petróleo se reduzisse a
valores insignificantes.
(5) Inveja e o conhecimento “científicos”: Deter o monopólio do
conhecimento sempre foi uma maneira de assegurar o poder. Podemos remontar
aos povos primitivos e verificar o que significava ter o fogo ou verificar, nos dias
atuais, como uns poucos detêm informações privilegiadas, subjugando milhões (e
talvez possamos dizer sem exagero bilhões) de pessoas. Consideremos que cinco
grupos controlam as sementes dos cereais e das oleaginosas cultivados em todo o
mundo. O impacto da biotecnologia no setor de sementes resulta, negativamente,
na criação de mercados cativos (compra de sementes híbridas todo ano), na
uniformização genética, com conseqüente vulnerabilidade as doenças e aos
predadores aumentada (acrescente-se que são as divisões de sementeiras de
firmas globais que, também, vendem os herbicidas “mata-tudo”) e no
desaparecimento de um patrimônio genético diversificado (ver Hathaway, 1992). O
mesmo se pode dizer da dependência quase mundial de alguns poucos (três ou
quatro) produtores de ovos e matrizes de aves para postura e corte. O que
aconteceria a alguém, hoje, que descobrisse o código genético para produzir uma
determinada raça de galinha, que é comercializado por uma destas empresas
globais? O que poderia ter acontecido a alguém que soubesse fazer transmutações
que tornassem o ouro desvalorizado?
Uma tentativa de uma mirada sincrética A Química, deste final do Século XX, não parece muito diferente, em
seus objetivos maiores e mais imediatos que aqueles dos alquimistas medievos.
Hoje, buscamos o elixir da longa vida, que só os remédios que buscam
melhorar a qualidade de vida, e até prolongá-la. O recente sucesso do Viagra
na imprensa é um exemplo. Os resultados de coquetel contra a AIDS são outra
Fazendo educação com uma (re)leitura da Alquimia 198
tradução, assim como as continuadas buscas de remédios contra o câncer. A
pedra filosofal pode ser traduzida pelas continuadas tentativas nos laboratórios
de se criar novos materiais para melhorar o vestuário e habitação.
A busca de novos materiais de vestuário (vejam nomes recentemente
incorporados a nossos costumes: nylon, tergal, acrílico...) ou de construção
(aço, plásticos, fórmica...) se assemelha ao que faziam os alquimistas que, com
a evaporação dos líquidos ou com a recalcinação de sólidos, procuravam
melhorar a qualidade das substâncias. As retortas, os crisóis, os alambiques de
então estão nos modernos laboratórios de hoje, na sofisticada aparelhagem de
vidros especiais e nos diferentes reatores, onde o controle que era feito pelos
alquimistas (como os que se descreveu no início deste texto) é agora realizado
por computadores.
Hoje, como então, há muitos acertos – e aí estão as maravilhas que a
Química cria diariamente – e, como então, há retumbantes fracassos. Entre estes,
há os que catalogam a fria fusão a frio que tanta emoção causou em 1989.
Nos dias atuais, como ocorreu na época de Newton (que alertava para
o perigo de se divulgar certas descobertas que pudessem desestruturar o
sistema monetário), se faz reserva ao uso, ou melhor, ao fabrico em massa de
certos materiais. Os fluorcarbonetos exemplificam bem esta situação.
O Scientific American publicou, já nos anos 50, um texto que até
parece ficção científica:
“Os fluorcarbonetos não se queimam, não se corroem, não se deterioram e nem se desintegram. Os roedores ou os fungos também neles não encontram qualquer alimento. Podem ser usados na fabricação de tintas, plásticos, borrachas, fibras para tecidos, óleos e solventes que desafiam o fogo ou o ataque pelos organismos nocivos. A mobília, as cortinas e outras decorações que transformam uma casa ou um hotel em fulgurante fogueira, quando atingidos pela chama, podem ser completamente incombustíveis quando feita por fluorcarbonetos.
Os futuros produtos de fluorcarbonetos podem, semelhantemente, propiciar melhoramentos para os automóveis. Quando forem preparado fluídos adequados, poder-se-á ter motor com lubrificantes que não necessitam substituição. O líquido do sistema de refrigeração também será de
Origens do Ensino 199
fluorcarboneto. Será também dispensável qualquer anti-congelador e o radiador nunca enferrujará. Os pneus durarão toda a vida do carro. [...]. As coberturas dos assentos serão repelentes ao fogo e à sujeira. O carro será pintado com cores brilhantes, indesbotáveis pela ação da luz” (Scientific American, 1960).
O artigo segue relatando que com fluorcarbonetos se poderiam fabricar
roupas que não sujariam e nem se consumiriam. Se a descoberta destes
maravilhosos fluorcarbonetos houvesse ocorrido no final do ano passado,
estaríamos esperando um futuro maravilhoso. Ocorre que já faz quase meio
século que os fluorcarbonetos foram sintetizados e estudados. Quem hoje, em
larga escala, usufrui de sua aplicação? Ao lado desta pergunta poderíamos
colocar outras, cujas respostas estão na mesma linha: Por que o filamento das
lâmpadas incandescentes queimam? Por que as lâminas de barbear perdem
tão rapidamente o fio? Por que certos programas de computadores se auto-
extinguem em data predeterminada?
Nos dias atuais, como ocorreu na época de Newton (que alertava para o
perigo de se divulgar certas descobertas que pudessem desestruturar o sistema
monetário), se faz reserva ao uso (ou melhor, ao fabrico em massa) de certos
materiais. Os fluorcarbonetos serão usados para exemplificar esta situação.
Com esta leitura, na qual se busca um sincretismo entre a Alquimia
medieva e Química moderna, se propõe uma (re)leitura dos alquimistas, talvez
até se podendo fazer resgates de discriminações que se fez (e ainda se faz) em
nome da Ciência (oficial).
Acredito que aqui estão algumas pistas para se fazer da história da
Ciência uma facilitadora para conseguirmos uma Educação mais comprometida
com a construção de uma cidadania mais crítica.
Referências bibliográficas
CHASSOT, Attico. Buscando um ensino menos a-histórico. Presença
Pedagógica. ano 1, n. 6, nov.-dez., p. 37-40, 1995.
______. Catalisando transformações na Educação. 3. ed. Ijuí: Unijuí, 1996a.
Fazendo educação com uma (re)leitura da Alquimia 200
______. História da construção do conhecimento: Exclusões e privilegiamentos.
Cadernos UNIJUÍ. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1996b. (Série Educação 21)
______. Alternativas para tornar a História da Ciência presente na Educação
Básica. In: STRECK, Danilo (org.). O que é básico na Educação básica. São
Leopoldo/Porto Alegre: UNISINOS/SULINA, 1996c. (Série Limiar).
______. A ciência através dos tempos. 7. ed. São Paulo: Moderna, 1997a.
______. Uma (re)leitura da História da Ciência na América: Outro marco zero. In:
Anais do VI Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia, 1997.
Rio de Janeiro: SBHC, 1997b.
______. Professores e professoras para próximo milênio. Disponível na Internet.
(http://www.moderna.com.br/escola/prof/index.htm), 1997c.
______. Como está a globalização na sua sala de aula? NH na Escola, ano 10, n.
6, p. 2-3, 7, jun. 1998a.
______. Presenteísmo: uma conspiração contra o passado que ameaça o futuro.
Espaço da Escola, ano 4. n. 28, p. 13-19, abr./jun. 1998b.
______. Inserindo a História da Ciência no fazer Educação. In: CHASSOT, Attico e
OLIVEIRA, Renato José (orgs.) Ciência, ética e cultura na educação. São
Leopoldo: Editora UNISINOS, 1998.
FEYERABEND, Paul. Contra o método. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977.
GOTTFRIEND, R. S. La muerte negra – desastres em Ia Europa Medieval.
México: Fundo de Cultura Econômica, 1989.
HATHAWAY, D. Patentes, alimentos, nós mesmos. Tempo e Presença, 14, p.
16-17, nov./dez. 1992.
HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX.1914-1991. São
Paulo: Companhia das Letras, 1995.
SCIENTIFIC AMERICAN. A nova Química. São Paulo: Ibrasa, 1960.
A formação do jovem no mundo grego 201
A FORMAÇÃO DO JOVEM NO MUNDO GREGO
HARRY BELLOMO
A evolução da educação grega
Na Grécia a educação era, sobretudo, uma obrigação e um direito dos
pais. No entanto, a partir de um determinado momento os pais delegavam ao
Estado o direito de educar seus filhos.
Em Creta os meninos ficavam com seus pais até aos 17 anos, quando
passavam para uma escola especial, onde ficavam até os 27 anos, adestrando-
se para as funções de soldados e administradores.
Em Esparta a educação dos rapazes e moças era basicamente
militar, com destaque para os exercícios físicos. A educação intelectual
resumia-se à música, dança e poesia, todas direcionadas para a finalidade
de formar bons militares.
A partir dos 7 anos, o Estado espartano encarregava-se de todas as
etapas da educação.
A educação ateniense Ao contrário da educação espartana, a educação ateniense era feita,
visando à formação do homem integral, tornando-o um cidadão consciente dos
seus direitos e deveres.
A educação em Atenas partiu de três pontos básicos:
Artes: música, dança e poesia para transmitir as tradições do
passado e adestrar o corpo, dentro de um padrão de harmonia e beleza.
Origens do Ensino 202
Exercícios ginásticos e militares: a ginástica visava formar um
corpo belo, correspondente a uma alma bela. “Mente sã em um corpo são” era
o lema citado como sintetizador desta visão educacional. Os exercícios
ginásticos compunham-se de lutas, corridas, natação e exercícios físicos. Os
jovens praticavam os exercícios nus e untados de azeite. Os mestres
acompanhavam de perto, corrigindo os erros com bastonadas ou chicotadas.
O treinamento militar era feito através de marchas, lutas com espadas e
lanças, treinamento estratégicos e exercícios com arco e flecha.
Filosofia: o terceiro tripé da educação ateniense, era a Filosofia,
incluindo nela todas as Ciências, como: Geografia, História, Astronomia,
Biologia, Ética, Estética, Metafísica, etc.
Este modelo educacional era exclusivo dos rapazes das classes
superiores, abrangendo todas as áreas da personalidade humana. Artes para
desenvolver a sensibilidade e a imaginação, ginástica para conseguir um corpo
perfeito e Filosofia para interpretar o mundo e organizar o pensamento.
As moças tinham uma educação voltada para os afazeres do lar,
incluindo também ler, escrever, poesia e música.
A efebia ateniense O jovem ateniense ao chegar aos 15 anos passava a ser um efebo e
deveria começar a preparação para o ingresso na vida adulta.
A efebia natural era simplesmente a idade da adolescência, ou melhor, da
puberdade, a partir dos 15 ou 16 anos. A efebia legal, porém, era o noviciado militar
a que ficavam obrigatoriamente submetidos, entre os 18 e 20 anos, todos os jovens
cidadãos das três classes políticas. A inscrição nos registros efébicos era precedida
de uma dupla docimasia, ou inquérito, feito pela assembléia do demo e pelo
Senado dos Quinhentos. Em seguida, os efebos eram conduzidos ao santuário de
Aglaura, prestavam o juramento cívico, recebiam as suas armas e começavam a
sua educação militar, a qual era ministrada, inicialmente, pelos dez sofronistas,
A formação do jovem no mundo grego 203
eleitos pelo povo, e, mais tarde, por um cometa, nomeado por um ano e chefe
supremo da efebia. Aos exercícios propriamente ditos presidiam dois pedótribas.
Os efebos passavam em Atenas o primeiro ano do noviciado e participavam
oficialmente de diversas festas importantes não se falando das festas particulares
efetuadas na escola. No segundo ano de prática, eram eles enviados para
fortalezas da fronteira e, sob o nome de perípolos, percorriam o país, fazendo
serviços de policiamento. Em tempo de guerra, conservavam-se, geralmente, na
Ática, para a defesa do território, mas, em caso de necessidade, podiam ser
enviados para além das fronteiras. Tal era a efebia primitiva. Esta instituição, toda
militar, começou a sofrer alterações nos fins do século IV a.C. Primeiro deixou de
ser obrigatória; depois, deixou de ser exclusivamente nacional, passando a admitir
também cidadãos estrangeiros. A prática foi reduzida para um ano. Aos exercícios
militares juntaram-se estudos literários e até musicais. Ao mesmo tempo,
desenvolviam-se as festas, os jogos, os concursos. O colégio efébico, no tempo do
Império Romano, não era mais do que uma associação de moços ricos reunidos
por uma educação de luxo, sob a vigilância do Estado. E nesta fase, com breves
alterações, se conservou até ao século III.
O local onde os efebos praticavam os exercícios físicos era chamado
de Efebião. Mais tarde, pela influência romana, o Efebião passou a ser
semelhante a palestra, com alpendres, colunatas, vestiários, salas de repouso,
estátuas de deuses, heróis e atletas, locais de banho e piscinas.
Neste período, além dos exercícios ginásticos comuns, o jovem
praticava o pentatlo e o pancrácio. A recreação era feita através da natação e
jogos de lazer.
Ao terminar a efebia os jovens iam, em grupos e armados, ao
Templo da cidade prestar o juramento solene de respeitar as tradições e
defender a comunidade.
A partir deste momento eram hoplitas.
A educação e os pensadores gregos
Origens do Ensino 204
Os processos educacionais na Grécia eram organizados segundo a
tradição de cada cidade, no entanto, alguns pensadores tentaram teorizar os
modelos de educação, sugerindo novos processos. Analisaremos os três
modelos mais significativos.
O modelo educacional de Platão
(Plato, Patõn) (c. 429-347 a.C.)
Pertencente a uma família aristocrática de Atenas (Crícias era primo de
sua mãe), Platão tornou-se membro do círculo de amigos de Sócrates e seu
seguidor devotado. Depois da morte do mestre, em 399 a.C., refugiou-se junto
de Euclides, em Mégara, e depois viajou durante alguns anos, época em que
conheceu Dionísio I, governante de Siracusa. Visitou essa cidade mais duas
vezes depois da morte do soberano e ajudou Díon na tentativa de transformar o
governo de Dionísio II num exemplo do governo dos “reis-filósofos” discutido na
República. Se a história é verdadeira, a tentativa falhou. Mas Platão pode ter
sido apenas pouco mais que um “filósofo de corte”. Fundou uma “escoIa”, a
Academia, num pequeno bosque do mesmo nome, nos arredores de Atenas. O
âmbito dos estudos desenvolvidos é um pouco incerto, mas incluía matemática
e astronomia. Seu sobrinho Espeusipo sucedeu-lhe como chefe da agremiação,
e a Academia sobreviveu, talvez, com algumas interrupções, até ser fechada
por Justiniano, em 529 d.C.
A Educação no modelo platônico Platão propõe o Estado ideal com um sistema destinado a formar
filósofos-governantes.
A educação deveria ser estatal e atender três aspectos: (1) a área
do desejo (instintos); (2) a área do coração (sentimentos); (3) a área da
razão (inteligência).
A formação do jovem no mundo grego 205
O ensino básico seria composto de literatura, música, dança e
exercícios militares. Os governantes deveriam ter esta instrução básica e
estudar Filosofia e Ciências.
O modelo educacional de Aristóteles
(Aristóteles) (384-322 a.C.)
Era filho de um médico e nasceu em Estagira, na Calcídica. Aos 17
anos foi para Atenas e estudou na Academia de Platão até a morte deste, no
ano 347. Passou então algum tempo em Asso (na costa da Ásia Menor), em
Lesbos e em Pela, na Macedônia, onde foi tutor de Alexandre (mais tarde, “o
Grande”) durante três anos. Em 355 a.C. voltou para Atenas e fundou uma
escola no Liceu, pequeno bosque público. A aléia coberta (peripatos), por onde
costumava caminhar enquanto ensinava, deu nome à escola (Peripatética).
Depois da morte de Alexandre, em 323, a.C., Aristóteles foi acusado de
“impiedade” e afastou-se para a Eubéia, onde morreu no ano seguinte.
Segundo Aristóteles, a educação deveria começar pela educação da
família, fundamental para o desenvolvimento do ser humano.
A educação deve ser progressiva e integral, começando pelo corpo
(instintos) e terminando pelo intelecto.
A educação física garante um corpo saudável e a moral cívica forma
cidadãos aptos a prática da justiça e da virtude.
A ética é uma filosofia prática e seu propósito é determinar que tipo de
vida um homem deve viver. Para Aristóteles, a melhor vida para o homem e
aquela em que ele desempenha bem, ou de acordo com as virtudes, as
atividades que são características dos homens. Ele discute as virtudes
humanas com grandes detalhes: as virtudes do caráter – coragem, liberalidade,
temperança (cada uma das quais está num ponto médio entre dois vícios
extremos) – e as virtudes do intelecto. Estas últimas o envolvem na discussão
Origens do Ensino 206
do raciocínio prático e do problema, a ele ligado, da possibilidade de agir contra
nosso melhor julgamento. Esta é, talvez, a parte mais difícil e impressionante de
seus trabalhos sobre ética. A política é uma parte da ética, pois o homem só
atinge sua forma superior de vida em sociedade e, de fato (supõe Aristóteles),
em uma cidade-Estado no estilo grego (pólis).
O modelo educacional de Xenofonte
(soldado mercenário e escritor, morto depois de 355/4 a.C.)
Xenofonte provinha de família ateniense próspera (o suficiente para
qualificá-Io para servir na cavalaria) e, na juventude, foi companheiro de
Sócrates. As duas circunstâncias teriam encorajado uma visão distorcida da
democracia radical ateniense, e ele não estava entre os que abandonaram a
cidade durante o governo dos Trinta Tiranos (404-403 a.C.; v. Crícias), embora,
como Platão, tenha posteriormente manifestado sua desaprovação a eles. No
período 402/1, a convite do próxeo beócio, deixou Atenas para tentar a fortuna
no exército de Ciro, o Moço.
Dessa maneira, envolveu-se em sua rebelião, e depois de Cunaxa
desempenhou papel fundamental na volta do exército derrotado para o ocidente
da Ásia Menor. No ano 399, o exército de Ciro foi incorporado ao de Tíbron, e
em seguida Xenofonte lutou, como mercenário, por Esparta, tornando-se
admirador e amigo de Agesilau. No início da Guerra de Corinto, em 395 a.C.,
resolveu continuar lutando por Esparta e participou da Batalha de Coronéia (394
a.C.) contra seus conterrâneos atenienses. Isso teria provocado sua
condenação ao exílio, se já não fora exilado antes, como pensam alguns, como
parte das tentativas de Atenas de ganhar a boa vontade de Artaxerxes II.
Xenofonte na sua obra Ciropedia apresenta o seu modelo de educação,
fingindo estar descrevendo a educação do Rei Ciro da Pérsia. Segundo
Xenofonte a educação teria duas etapas:
A formação do jovem no mundo grego 207
1 – a etapa infantil patrocinada pelo Estado. Nesta etapa as crianças
ficariam nas casas de instrução, aprendendo a justiça e as virtudes (não mentir,
não roubar, obediência e sobriedade). Além disto, aprenderiam hábitos sociais e
higiênicos. Esta etapa terminaria aos 15 anos.
2 – a segunda etapa seria dos 16 aos 25 anos, também sob o controle
do Estado. Neste período seria dada especial atenção à caça, aos valores
guerreiros e ao treinamento militar.
Referências bibliográficas
BOWDER, Diana. Quem foi quem na Grécia Antiga. São Paulo: Art, 1982.
FLACELIERE, Robert. A vida quotidiana dos gregos no século de Péricles.
Lisboa: Livros do Brasil, [s.d.]
GIORDANI, Mário. História da Grécia. Petrópolis: Vozes, [s.d.]
MARROU, Henri. História da educação na antigüidade. São Paulo: EPU, 1975.
WICKERT. Historia de la educación. Buenos Aires: Losada, 1950.
ZURETTI. Historia general de la educación. Buenos Aires: Sastre, 1978.
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 208
EDUCAÇÃO INDÍGENA: PARÂMETRO SOCIAL,
NECESSIDADE NATIVA OU INVENÇÃO OCIDENTAL?
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES*
ANDRÉ LUIS R. SOARES
Devo dizer, inicialmente, que minha formação é da graduação em História
e mestre em Arqueologia, portanto, um não-especialista na causa indígena.
Entretanto, através da paciência e da dedicação de um colega, Prof. Ivori Garlet,
tive contato com os índios mbyá-guarani, que me tiraram dos ácaros dos
documentos dos séculos XVI ao XVIII e me colocaram frente a frente com a
realidade das aldeias atuais. Meu conhecimento se deve, em grande parte, aos
livros, conhecimento este limitado mas de grande valor para contrastar com a
persistência de diversos hábitos e costumes dos guarani das calçadas, das
aldeias e da mendicância, malgrado cinco séculos de exploração e espoliação.
Não falo aqui como especialista da sociedade indígena, mas como um interlocutor
que, graças à confiança e as „palavras sagradas‟ dos mbyás, busca uma reflexão
das sociedades indígenas.
Outra questão relevante que deve ser levantada é sobre as ditas
„sociedades indígenas‟. No Brasil, atualmente, são cerca de 300 mil índios que
falam em torno de 170 línguas diferentes, pertencentes a cinco troncos
lingüísticos. Se considerarmos a época dos primeiros contatos, deveriam ser
aproximadamente 5 a 6 milhões de habitantes falando em torno de 300 a 400
línguas distintas e, por extensão, culturas diferenciadas.
O primeiro problema vem daí: nossa visão de „sociedade indígena‟ é um
todo homogeneizante que não distingue uma cultura da outra, embora possa-se
afirmar com certeza que existem atualmente no Brasil grupos que são tão
Origens do Ensino 209
semelhantes como um africano Bantu é parecido com um Nunamiut esquimó.
Estas singularidades nunca foram respeitadas pelo invasor, que a título de
conquista e dominação sempre se referiu aos grupos nativos como „índios‟,
repetindo nem tão inocentemente o erro consagrado de Colombo.
Esta questão é ainda mais pertinente quando, no mundo dito civilizado, as
diferenças são cada vez mais lembradas. Senão sob o aspecto puramente formal,
mas pela diversidade na qual se encontram grupos distintos disputando o mesmo
território, seja na Bósnia, em Kosovo ou na Macedônia. Como estes conflitos
étnicos estão em áreas da Europa civilizada e não mais em tribos africanas, as
explicações buscam ser, a medida do possível, tão complexas como são as
identidades étnicas.
Se, por outro lado, a diversidade dos grupos chamados indígenas no
Brasil não tem repercussão alguma, trata-se de uma política previamente
estabelecida que trata o autóctone como invasor em sua própria terra, deixando-o
na categoria de selvagem para ser civilizado. Esta idéia é inconscientemente
reproduzida por muitos de nós, cada vez que fala de „os índios‟ ou „dos nativos‟,
colocando no mesmo patamar culturas tão diversas.
Apesar de ser inconsciente a repetição, em boa dose, da cultura
dominante, não podemos esquecer que esta cultura está atrelada a dois
paradigmas básicos: primeiro, que o europeu seiscentista vem para o novo mundo
„trazer a luz‟ da civilização moderna aos povos bárbaros e atrasados; desta forma
todos os povos dominados na América serão tratados como índios até pela
necessidade de submissão ideológica na relação dominador-dominado.
Segundo, quando da criação da antropologia como ciência, os povos
„avançados‟ eram, por ordem, os britânicos (fundadores da ciência antropológica),
seguidos dos germânicos e franceses, para depois, sucessivamente, os outros
europeus e finalmente os outros continentes (Ásia e África) fatiados durante o
surto colonizador do final do século XIX e início do séc. XX. Desta forma,
aprendemos desde a mais tenra infância a nos colocarmos como colonizadores
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 210
superiores frente aos autóctones subdesenvolvidos, desconhecendo cada vez
mais as razões que nos afastam tanto de nossas raízes africanas quanto
indígenas, mais ainda quando esquecemos que é totalmente impossível (para não
dizer ridículo) falar em pureza racial num país como o Brasil. Além disso,
„esquecemos‟ a historicidade que cada uma destas culturas possuía antes do
contato com o branco, seja através da história não-escrita, oral e mitológica, seja
pelo patrimônio próprio em forma de cantos, rezas, enfim, desconsiderados
enquanto História a fim de justificar a colonização.
Porém, fazer um arrazoado de cada cultura e sua forma de trabalhar a
educação enquanto processo é um trabalho bem além do que é possível aqui.
Desta maneira, e mesmo com a certeza de estar „homogeneizando‟ culturas
diferentes, tratarei das sociedades indígenas nos seus aspectos semelhantes.
Quando me referir à educação indígena nas suas singularidades, farei
referência direta aos grupos que mais tive contato bibliográfico, os Guarani ou os
Tupinambá do litoral durante o século XVI. Quando não me referir ao grupo, trata-se
de aspectos que podem ser generalizados, salvaguardadas as restrições, a todas ou a
uma boa parte dos grupos indígenas, ressalvando as particularidades expostas.
Tratar da educação na sociedade indígena pode envolver diversos
aspectos, como:
a sociedade indígena anterior ao contato com o europeu e uma possível
reconstrução etno-histórica;
a questão de como é a educação dentro da sociedade indígena e qual
seu objetivo no período pré-contato;
a educação formal proporcionada pelas escolas bilíngües na atualidade;
e os aspectos políticos que envolvem educar os índios ou para os índios.
Neste sentido, um apanhado desta grandeza só pode ocorrer aqui como
apresentação ou reflexão, haja vista a amplitude que tal estudo necessita e as
limitações pessoais.
Origens do Ensino 211
Minha proposta é diferenciar a educação de uma sociedade igualitária –
em seus aspectos gerais – e a forma como a educação é e vem sendo utilizada
como mecanismo de poder e, neste sentido, a educação formal das sociedades
indígenas enfrenta sérias dificuldades de consolidação.
Uma breve história: o período anterior
ao contato com o europeu
Em primeiro lugar deve-se, brevemente, sintetizar como funcionava a
educação e qual seu objetivo nas sociedades indígenas antes da colonização
efetiva do nosso país.
“As sociedades indígenas dispõem de processos tradicionais de socialização e de reprodução de uma ordem social que é, basicamente, igualitária. Tais processos constroem-se a partir de relações entre os homens e seu ambiente; incluem sistemas sociais de classificação e avaliação da Natureza e das relações entre os homens; seu conteúdo exprime noções básicas das quais se constitui a visão de mundo e a identidade própria de cada povo” (Silva, 1981, p. 11).
Neste sentido, é importante ressaltar qual o objetivo desta formação,
qual seja, compartilhar os meios de apreensão de conhecimento que
possibilitam um uso ordenado e não-destrutivo do ambiente. Em sociedades
indígenas como os Tupinambá (Fernandes, 1989) ou os Guarani pré-
históricos (Noelli, 1993), veremos que o objetivo é a reprodução do modo de
viver dos antepassados conforme o exemplo transmitido por estes.
Educação, então,
“São processos vividos pelo conjunto de membros de cada grupo local, onde a inexistência de especialização institucional faz, de cada um, um professor, e isto durante o desenrolar de cada atividade e de cada trabalho, o desempenho de cada ritual, a alegria de cada dança, a narração viva de cada mito” (Silva, 1981, p. 11).
Este educar contínuo e repetido lembra o que Schaden coloca a respeito
da psicologia da educação indígena, na qual o melhor a se alcançar é a
semelhança com os pais. Só desta forma a realização e a educação é completa.
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 212
“Educa-se pela vida – aprende-se vivendo, participando. É uma educação que atinge igualmente a todos e que socializa os conhecimentos essenciais à sobrevivência e ao bem-estar. A oralidade, como elemento crucial destas sociedades, reúne as pessoas e faz com que educar e aprender sejam atividades coletivas, comunitárias” (idem, p. 12).
A educação, assim, longe de ser uma „carga‟ ao qual se deve carregar
com utilidade duvidosa, é a forma de continuidade dos padrões culturais
socialmente vivenciados e reproduzidos.
“[...] por que com seu xeramunha rupi, como eles dizem, que vem a ser a doutrina de seus antepassados, em que estribam todo seu crédito [...] pois estimam eles mais o matarem e terem uma assadura humana em suas festas, visitas de amigos, acampamentos de dó, quando se armam cavaleiros, e em todo o tempo com que se possam presentear uns aos outros, do que quanta fazenda, ouro, nem prata há no mundo.”
1
Acreditamos que esta educação repetia-se, desde os tempos pré-
históricos até os primeiros contatos com os europeus, devido a uma
continuidade no comportamento dos índios no início da ocupação,
comportamento este registrado pelos cronistas e padres que deveriam ser a
seqüência da tradição oral das sociedades ágrafas.
Esta unidade/continuidade dos grupos, Guarani e Tupinambá, no
período pré-contato com o europeu, é reconhecida a partir de algumas
conclusões aceitas para estes grupos:
• A unidade/continuidade da reprodução da cultura material e da
subsistência destas sociedades durante pelo menos 16 séculos
(Brochado, 1984; Noelli, 1993), conforme indicam as datações
radiocarbônicas dos sítios arqueológicos;2
1
América Abreviada. Suas notícias e de seus naturaes, e em particular do Maranhão, títulos,
contendas e instruções a sua conservação e augmento mui úteis pelo Pe. João de Souza Ferreira [Lisboa, 20 de maio de 1693]. Revista Trimestral do Instituto Histórico Geográphico e
Ethnohistórico do Brazil. Tomo XLIX. 3º trimestre de 1886. Rio de Janeiro. p.120. 2 Esta continuidade da cultura material é atestada principalmente pela cerâmica que permanece
sem alterações significativas ao longo do tempo e do espaço.
Origens do Ensino 213
• A unidade lingüística comprovada pelos dicionários ao longo da
conquista e da colonização (Montoya, [1639] 1876; Restivo, [1722]
1892; Gatti, 1985; Cadogan, 1992);
• A unidade da família lingüística Tupi-Guarani anterior ao contato com
o europeu (como sugerida por Rodrigues, 1964; 1984/5);
• A unidade da organização social entre os diferentes grupos de fala
Guarani ao longo do contato e atualmente (Susnik, 1979/80; Melià,
1986, Soares, 1996).
Considero que as características sociais descritas no período dos
primeiros contatos representam uma continuidade do sistema anterior ao
contato, assim como acontece com a cultura material e, possivelmente, com a
subsistência (Noelli, 1993). Esta organização social persiste até a atualidade,
com algumas mudanças3, conforme a bibliografia etnológica.
Para tratar da organização social deve-se também realizar um recorte
temporal, e aqui me refiro a uma continuidade entre o período anterior à
conquista e os primeiros contatos com os europeus. A ligação entre os Guarani
pré-contrato (arqueológico) e os históricos é inegável (Brochado, 1984; Schmitz,
1985, p. 6). Essa ligação é que permite fazer uma analogia histórica direta, ou
seja, demonstrar a continuidade cultural entre o pré-contato e o histórico (Gould,
1971, p. 143-177).
Essa continuidade remete diretamente à importância da língua
enquanto veículo de informação (Root, 1983, p. 193-219) e manutenção da
cultura em uma sociedade ágrafa. Nesta apresentação, seguindo diversos
autores, repito enfaticamente que, para os Guarani, “tudo é palavra” e a
educação, como segmento da organização social, espelha e remete a uma
série de relações sociais que representam o universo imaterial.
3 As diferenças encontradas provavelmente devem-se a historicidade de cada grupo e distintos
eventos que redundaram em mudanças.
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 214
A língua Guarani, desde sua provável derivação e formação a partir do
proto-Tupi-guarani por volta de dois ou três mil anos atrás4 (proposto por Rodrigues,
1964), vem reproduzindo-se sem variações significativas e, com ela, a organização
social e a própria ordem social (Noelli, 1993, p. 16). A língua e a própria sociedade
Guarani pode ser vista como resultante de um processo de „longa duração‟.5 A
palavra, enquanto „alma‟ para os Guarani,6 é detentora de significado,
7 ou seja,
possui uma representação – um signo – que ao mesmo tempo traz seu conteúdo
semântico, que resiste a mudança do seu sentido ao longo do tempo: “a linguagem
é o lugar das tradições, dos hábitos mudos do pensamento”.8
Segundo Noelli (1993, p. 14), essa continuidade cultural poderia ser re-
interpretada através do conceito de habitus, de Bourdieu (1972, p. 175).9 O
conceito de habitus traz em seu bojo uma relação dialética: “o habitus tanto é
determinado pelo mundo social quanto determinante da percepção do mesmo”
(Hunt, 1985, Introdução):
“O habitus não é apenas uma estrutura estruturante que organiza as práticas e a percepção das práticas, mas também uma estrutura estruturada: o princípio da divisão em classes lógicas que organiza a percepção do mundo social é, em si próprio, o produto da internalizarão da divisão em classes sociais” (Bourdieu, 1984, p. xiii).
10
Sendo assim, as estruturas estruturadas funcionam como estruturas
estruturantes, determinando e sendo determinadas pelo mundo social, ou,
simplificando, os Guarani responderiam a um estímulo novo com uma resposta
velha, já conhecida. Este tipo de conceito se enquadraria perfeitamente no
conceito de sociedade prescritiva proposto por Sahlins (1990, p. 17), ou seja,
4
Noelli (1993, p. 12-13) insiste em que se deve reconsiderar as datas, tornando-as mais antigas,
uma vez que os sítios mais antigos no RS alcançam dois mil anos. 5 Segundo Braudel (1978) e Hodder (1987), apud Noelli, 1993, p. 14.
6 Em Guarani, ñe‟e é a palavra-alma. “alma de origem divino; [...] ñe‟e mbyte: médula de Ia palabra, médula del alma [..] ñe‟engai: palabra-alma maligna.” (Cadogan, 1992, p. 125-126).
7 Significante é o signo lingüístico, significado é o conteúdo semântico (Saussure, Cours de linguistique générale. 1966).
8 Foucault, 1985, p. 314 apud Noelli, 1993, p. 14.
9 Apud Ortiz, 1983.
10 Citado em Hunt, 1985, p. 18, nota 34.
Origens do Ensino 215
aquelas sociedades onde a reprodução é a ordem social e o comportamento
segue a tradição.
No caso da sociedade Guarani, quando esta se depara com uma
problemática nova, responde com uma atitude nova, baseada na tradição.
Voltando ao conceito de “estruturas” de Bourdieu, veremos que as estruturas
estruturantes funcionam como uma estrutura estruturada no passado, mas o
presente não é o mesmo que o passado. Dito de outra forma, o Guarani se
comporta de uma forma tradicional, mas o processo histórico pelo qual esta
sociedade passa, ao longo do tempo e do contato com outras sociedades não-
Guarani, levam os Guarani a adequar o comportamento a nova situação, tendo
como exemplo o passado. A historicidade do grupo pode ser encarada como
uma estrutura, pois “organiza a percepção do mundo social [e] é, em si própria,
o produto da internalização” (Bourdieu, 1984, p. xiii). Negar que havia contatos
entre as sociedades pré-hispânicas e negar sua própria historicidade.11
Sendo assim, o comportamento da sociedade se inspirará em um
discurso com tradição no passado, mas não no próprio passado. A historicidade
está sempre presente, como diz Sahlins, “o que os antropólogos chamam de
„estruturas‟ – as relações simbólicas de ordem cultural – é um objeto histórico”
(1990, p. 8). O caso Guarani, logo após os primeiros contatos, assemelha-se ao
retratado por Sahlins (1990), onde a prescritividade vale para o ethos
expansionista e as relações sociais e a performatividade valem para o acesso
aos bens materiais (Sahlins, 1990, p. 87).
Tratando-se do período pré-contato, os Guarani mantiveram-se
reproduzindo com uniformidade a cultura material (atestados por mais de dois
mil anos através das datações de C14, cf. Noelli, 1993) e a organização social,
e, por extensão, a educação.
Esta longa introdução serve para que possamos afirmar com relativa
segurança que a sociedade indígena, em particular os Guarani,
11
Conforme Trigger, 1987; Sahlins, 1990; Lightfoot, 1995.
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 216
reproduziam, até o momento do contato com o europeu, uma visão de
mundo ideologicamente pouco modificada, adequando-se as novas
realidades a partir da tradição.
A educação dentro da sociedade indígena:
reprodução ou manutenção?
Quando observarmos o tema da educação na sociedade indígena, esta
aparece diluída nos hábitos e costumes, às vezes nas categorias de idade, às
vezes no comportamento. O que é importante salientar é que desde a infância as
tarefas são como um reflexo, em pequena escala, da vida adulta. As tarefas são
realizadas por meninos e meninas seguindo, dentro da sua capacidade, as atitudes
dos pais ou avós (Fernandes, 1989, p. 118-120). O menino, quando começa a
caminhar, recebe um arco e flecha, a menina aprende a fiar algodão, trancar
embira. etc. As tarefas são desenvolvidas coletivamente, em mutirão, seguindo a
faixa etária (categoria de idade) e os grupos familiares, para depois, de parentesco.
“A convivência permanente com indivíduos do mesmo sexo e idade, nos grupos infantis e através de atividades subordinadas ao seu funcionamento, tem um significado todo especial na aquisição de experiências e no desenvolvimento da personalidade [...]. Na verdade, aquelas atividades colocavam-nos concretamente em situações reais, copiadas ou extraídas da vida dos adultos” (Fernandes, 1989, p. 247).
Esta divisão, por sexo e idade, ao mesmo tempo que distingue as
atividades cumulativas de cada categoria, também representa o universo
social do grupo, no qual a sociedade se reproduz em escala micro ( família) e
macro (cultura grupal).
Não se deve esquecer, ainda, o aspecto lúdico destes momentos
considerados „de aprendizado‟. O pequeno arco que flecha a perna da avó e o
pequeno balaio que carrega uma porção de produtos da roça são o brincar
trabalhando e trabalhar brincando. Coletivamente reproduzidos ao longo do
tempo, mantém aspectos como a sociabilidade dos personagens do grupo ao
Origens do Ensino 217
mesmo tempo que trazem o lúdico da infância, condicionados a reproduzir a
sociedade tal vivenciada pelos antepassados. Trabalho e lazer não se separam
como na sociedade ocidental.
Atividades coletivas de cunho aparentemente infantil se reproduzirão ao
longo da vida sob a forma de caçadas, pescarias, derrubada da roça ou coleta
de frutos. A sociedade indígena não considera estas atividades lúdicas, mas
coletivas. Se assumem um aspecto aparentemente lúdico, é por que a ruptura
entre infância, adolescência e a maioridade se darão por rituais de passagem,
não por tarefas diferenciadas a serem realizadas.12
De que forma se enquadrariam os superdotados ou os desviantes? Ao
que tudo indica, a flexibilidade destas sociedades permitem, não raro, espaço
de igualdade aos que não se destacam: desta forma, se o ideal de guerreiro,
chefia política ou chefe de família não é alcançado, não existe nenhum tipo de
represália (Fernandes, 1989, p. 247-248). Em outras palavras, não há
competição, no sentido negativo da palavra. Aqueles que se destacam em suas
atividades farão parte, naturalmente, das atividades de guerra, chefia política e,
em casos especiais, da pajelança ou chefia religiosa (idem, p. 258).
Outro detalhe a ser observado diz respeito à reprodução da sociedade
com padrões preestabelecidos. Talvez os maiores indicadores sejam as
„escolas matrimoniais‟, uma instituição na qual cabe aos indivíduos mais velhos
do grupo condicionar e ensinar as obrigações familiares ao indivíduo que
adentra no universo adulto. A princípio não aceita pelos europeus, a „escola
matrimonial‟ consistia em iniciar os jovens, de ambos sexos, por um adulto de
idade avançada do sexo oposto (Soares, 1997, p. 105).
Florestan Fernandes assim coloca para os Tupinambá:
“[...] o grupo tenta explicar o comportamento em termos da participação da cultura. A posição privilegiada das gerações velhas, a este respeito, atribui-lhes obrigações
12
Talvez a única atividade que não é aprendida desde a infância seja o xamanismo, uma vez que, de acordo com a sociedade, o pajé é escolhido pela comunidade de pessoas ou espíritos, de
pessoas ou da natureza.
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 218
especiais, como o adestramento das gerações novas. Como únicos portadores de todos os conhecimentos e das antigas experiências tribais, competia-lhes transmitir aos descendentes a cultura de seus ancestrais” (op. cit., p. 133).
Por isto era tão comum ver-se „casamentos‟ entre velhas e rapazes,
velhos e meninas. A iniciação sexual dos adolescentes pelos mais velhos tinha
dois objetivos: adestrar os iniciados nas obrigações conjugais para
manutenção-reprodução da sociedade; e condicionar os jovens às condições de
obtenção de prestígio dentro da tradição e da manutenção do „modo de ser‟, o
ethos. Neste sentido é importante ressaltar que, mesmo que a sociedade
busque reproduzir, em sua essência, uma série de padrões preestabelecidos,
dentro da sociedade existe uma gama de atividades diferenciadas que, mesmo
que não formem castas ou grupos distintos, são símbolos de ascensão social.
Por exemplo, como a diferença básica entre um homem comum, agregado a um
grupo familiar, e um mburuvichá, chefe político da aldeia. Se o prestígio é
perseguido, é mais por uma característica do ethos indígena do que por
mudança no mesmo (Soares, 1997, p. 214).
Estas questões colocam em pauta, novamente, o cunho da educação
indígena: manutenção ou reprodução? Do meu ponto de vista, acredito que a
palavra reprodução traz em si uma sociedade estática e sem assimilações das
culturas ou contatos externos. Como diria Sahlins (1990), uma sociedade
prescritiva em sua essência. No entanto, vemos nos Guarani, que tem sido meu
objeto de estudo, uma abertura àquelas novidades que reduzem o esforço
físico, e por que não dizer, diminuem o trabalho braçal.
Neste sentido, o contato com o europeu trouxe um sem-número de
novas situações, aos quais os Guarani adaptaram-se parcialmente de forma
receptiva, aceitando o que lhes convinha. Porém, mantiveram-se fiéis as suas
tradições, formas de casamento, ritos, poligamia, etc.
Uma sociedade na qual a dinâmica dos contatos interétnicos se faziam
sentir muito antes do contato com o europeu e, ainda assim, mantinha e
impunha seu ethos bélico e expansionista, é melhor enquadrada como
Origens do Ensino 219
performática, mantendo uma estrutura socioideológica que respalde as
atividades do grupo frente as novas situações. Para os Tupinambá, Fernandes
coloca de seguinte forma:
“O Conselho dos chefes constituía uma poderosa agência de conservantismo cultural e uma fonte permanente de atualização das trad ições tribais” (Fernandes, 1989, p. 283).
Vemos então que, ao invés de conduzir ou comandar às atividades
sociais, o „conselho dos chefes‟ conserva a sociedade dentro da sua
manutenção cultural, através do „modo de ser‟ (ñande reko guarani) específico,
que nada mais é que a continuidade da própria cultura, adequando-se às
novidades, porém, com base na tradição.
Educação formal proporcionada
pelas escolas bilíngües na atualidade
Em primeiro lugar, buscando as origens deste artigo, me referi a uma
reflexão sobre a educação formal entre os índios. Até aqui, pode-se perceber que,
em uma sociedade grosso modo igualitária, a educação está restrita ou restringida
à manutenção de diversos valores que podemos chamar de culturais a fim de
perpetuar a existência desta sociedade tal qual ela e, como frisei no início.
O problema está quando, através de uma ação dita civilizadora, nos,
enquanto brancos, queremos enquadrar, civilizar, „ajudar‟ no pior sentido do
termo, uma sociedade a ser integrada a um sistema produtivo que é
completamente desconhecido da sua realidade. Esta afirmação pode ser
desmembrada em diversas outras, que não custa lembrar:
Qual o objetivo do Estado para o „enquadramento‟ da sociedade
indígena?
Por que buscamos „patrolar‟ uma cultura aos moldes do início do
imperialismo britânico, impondo a nossa cultura como „A Cultura‟?
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 220
Se, levado a cabo tal „enquadramento‟, quais os „benefícios‟
proporcionados às sociedades antes indígenas, agora nacionais?
Tentando responder a uma questão de cada vez, o objetivo imediato do
Estado em enquadrar estas culturas passa imediatamente pelo custo de cada
uma delas. Traduzindo: uma sociedade indígena, para se manter nos moldes
tradicionais, precisa ter um espaço tradicional (primeiro empecilho), cultuando
sua religião tradicional (segundo empecilho) com uma relação produtiva
tradicional (terceiro, mas não último).
Ora, o espaço tradicional das sociedades nativas é cobiçado pelas
européias (não-indígenas), desde a madeira sobre o solo, o potencial da
lavoura no solo e as riquezas minerais do subsolo; a religião que os primeiros
professam é paganismo, em detrimento da religião de origem judaico-cristã, das
pentecostais ou das messiânicas; e para completar, a fonte da cultura indígena
é a mata que mantém o sistema sem excedentes, e é justamente esta mata que
precisa ser derrubada para instituir o capitalismo, a mais-valia, transformar a
natureza em bem de consumo, seja através de ecoturismo (uma forma mais
ecológica, com os índios tratados como animais em jardim zoológico, para
serem vistos na „floresta primitiva‟) ou seja através da exploração dos vegetais e
dos minerais, que é a base da cultura do tipo „praga de gafanhoto‟ que é a
nossa cultura em relação aos ambientes preservados, ou seja, derrubada e
agricultura intensiva ou pecuária extensiva.
Neste quadro de pressão movido pela sociedade envolvente, a Escola
(instituição) aparece como veículo do branco para transformar toda a barbárie
em civilização, todo o sistema „pré-histórico‟ que estava „errado‟ em
„modernidade‟ que está „certa‟ [sic]. Em nenhum momento passa na cabeça dos
ideólogos do ensino „civilizante‟ que estas sociedades estão neste continente
há, pelo mínimo, de dois a vinte mil anos, o que é, na pior hipótese, uma boa
prova que sua cultura funciona e bem, haja vista não terem se extinguido até a
chegada do civilizado.
Origens do Ensino 221
A escola, desde a chegada dos jesuítas no Brasil, traz este objetivo:
levar o modo de vida, hábitos e costumes „corretos‟ em detrimento dos
autóctones. Não é, senão isto, o que faziam os padres seiscentistas ao
catequizarem os jovens e crianças? Pregar o abandono dos velhos costumes
ancestrais em troca das novas verdades? Na atualidade, embora 500 anos
tenham se passado, pouco mudou.
A escola tornou-se o templo do saber na qual as trevas da selvageria
serão rompidas pela luz do conhecimento (branco, naturalmente). Para se
tornarem caboclos, para transformarem-se em bóias frias, para que percam sua
identidade, a escola levou uma cultura branca no objetivo de desestruturar a
organização existente, aparecendo como instrumento de poder, na qual a
passagem é obrigatória para entender o branco ou ser como ele.
“A educação para o índio de orientação oficial (estatal e missionária) historicamente tem servido para a sujeição e destruição das populações tribais” (Grizzi e Silva, 1981, p. 16).
Senão, vejamos: o intento da sociedade envolvente, a brasileira, diz
que todo aquele que se enquadra no conceito de habitante anterior ao branco é
“índio”. Com isso se apagam as diferenças culturais, lingüísticas, étnicas e
tradicionais para um enquadramento puro e simples sob o rótulo de: “índio”.
Qual a conseqüência primeira? Como nos tempos do Serviço de Proteção
ao Índio (SPI), reunia-se em reservas minúsculas grupos tradicionalmente inimigos,
que além de não manterem nenhuma simpatia cultural, disputavam o mesmo
território ou possuíam culturas antagônicas. A política do dividir para governar foi a
„pedra angular‟ da educação para os Índios, quando o Mobral reunia sob sua égide
grupos rurais, camponeses e espoliados urbanos sob o mesmo manto paternalista
do governo. Quando se estendeu a sociedade indígena, o resultado não poderia
ser menos que um desastre.
Uma experiência recente levada a cabo entre os Tapirapé demonstra
bem como, apesar das ótimas intenções, a educação na sociedade indígena, de
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 222
cunho formal ou não-tradicional traz em seu bojo a ruptura e a alienação. As
Irmãzinhas de Jesus relatam desta forma:
“Embora nossa proposição seja de oferecer escola apenas como um
instrumento a mais para os Tapirapé, na prática sabemos que isto não acontece, por ser ela uma instituição tipicamente tori,
13 incidindo diretamente no
processo de educação das pessoas. O fato de sermos professores de fora, com uma cultura diferente da dos Tapirapé, faz com que a escola esteja mesclada de nosso padrão cultural. Podemos detectar sinais de mudança na cultura sobre os quais a escola provavelmente exerceu influência:
Os jovens conduzem a „política externa‟ – são eles que vão a Brasília, falar com a FUNAI, etc., isso modifica a estrutura de poder tradicional, em que o Conselho de velhos detinha o papel preponderante;
A escola tori educa para uma sociedade em mudança, por isso ela se torna um elemento de contradição, principalmente em relação aos mais velhos;
A escola ajuda a introduzir o padrão tori do valor material das coisas, no ensino da matemática, por exemplo, com a quantificação das coisas.” (Paula e Paula, 1981, p. 106).
Neste sentido, é sintomático que, apesar da tentativa de romper com
estes vínculos de dominação, as Irmãzinhas nada puderam fazer, pois esta
idéia, de que o correto é aquilo que é trazido do branco, está calcada,
inconscientemente ou não, nos índios e nos brancos. Aquela sociedade na qual
os valores advém das gerações mais velhas e que detêm a experiência dos
antepassados, é substituída por uma sociedade jovem (como o Brasil se diz
ser!) que busca freneticamente não perder o compasso da velocidade mundial.
Ao mesmo tempo, a contradição está nas novas relações sociais que se
inserem: se antigamente o cacique era somente o „Relações Públicas‟ da aldeia
e possuía um papel de verbalizador dos anseios coletivos, agora os jovens
fazem o contato com os brancos. Mesmo que em algumas sociedades, como é
o caso dos Mbyá-Guarani do Rio Grande do Sul, esta figura mantém o papel de
representante da coletividade, em outras, como os Kaingang, a centralização do
poder nas mãos do cacique se tornou uma arma contra a qual toda a sociedade
reluta. Para os índios, os brancos escolheram seu cacique: para os brancos, o
13
Tori, quer dizer do branco, do civilizado, do não-índio. (Paula e Paula, 1981, p. 100).
Origens do Ensino 223
cacique e dos índios. Entre os Tapirapé, ao que parece, estes jovens adquiriram
mais „distinção‟ na aldeia, mudando a forma tradicional.
Ainda um ponto a ser salientado é o que se ensina. Parece consensual
que muitos grupos desejam aprender para não serem enganados nas relações
comerciais. No entanto, a matemática ensinada adquire todo o ideário das
relações econômicas, pois inicia-se com a noção de preço que rapidamente se
transforma em juro e lucro. Um exemplo disto são os barracões de compra de
borracha na Amazônia. Quando não se pode mais enganar o índio ao ponto de
vê-los sempre devendo, passa-se a „empurrar-lhes‟ artigos sem necessidade.
Visto desta forma, percebe-se então que:
“O problema da educação para o índio é um problema político, que implica, obviamente a existência de vários outros: pedagógicos, antropológicos, lingüísticos, econômicos, etc. A educação para o índio jamais é neutra, e qualquer projeto está sempre orientado por uma postura básica: a crença de que o índio vai/deve desaparecer na sociedade nacional, ou a crença de que ele vai/deve sobreviver” (Grizzi e Silva, 1981, p. 16).
Sob este ângulo, percebe-se que não existe, para estes autores, uma
terceira via. As atitudes frente às comunidades indígenas estão diretamente
relacionadas à postura tomada em relação a elas: vão sobreviver? Vale a
pena investir? Não vão sobreviver? Todo trabalho é só paliativo?
Este binômio está mascarado em todas as iniciativas, institucionais
ou não, pois se observamos as práticas oficiais, como a FUNAI até bem
poucos anos atrás, podemos acompanhar quais as „soluções‟ adotadas nas
áreas indígenas: um paternalismo mesclado com frases do tipo “não adianta,
os índios são assim mesmo, imprevidentes ou indolentes”, uma vez que
todas as aspirações de médio e longo prazo não são atendidas e, cabe
ressaltar, confunde-se dar uma enxada com dar condições de sustento.14
14
Um exemplo pode ser bem colocado aqui. A mendicância atingiu um grau de insustentabilidade
quando, no verão de Porto Alegre, uma jovem mãe guarani esmolava com uma criança de 16 dias de vida em seus braços. Alertado o Conselho Tutelar, a Procuradoria Geral da República
convocou as lideranças indígenas para expor o caso e buscar uma solução. Os índios assim se
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 224
É desta forma que age a educação formal entre os índios, tentando
inseri-lo, mesmo que discretamente, nos padrões considerados adequados à
sociedade nacional.
“Alfabetizar não é uma atividade neutra. Quando é operacionalizada de tal forma que sejam minimizadas as interferências na educação indígena tradicional, pode ser uma arma que ajuda o índio no seu relacionamento com a sociedade envolvente; a medida que substitui a educação tradicional, torna-se uma arma contra o índio, um fator de divisão social na sociedade antes igualitária, um meio de afastar o índio de uma sociedade que de alguma forma ele já recusa” (Grizzi e Silva, 1981, p. 17).
Ora, se ao índio é recusada a história da sociedade branca, as lutas de
classes, as diferenças sociais e de poder (por que são desconhecidas de sua
sociedade) não é normal que, ao defrontar com a „riqueza‟ do homem branco,
seu carro e seu celular, o índio queira entrar nesta “Terra sem Males”? Vendo-
se habitar em uma choupana de barro e caminhando a pé, vendo as benesses
que o dinheiro propicia e conduz, não é normal vermos tantos índios quererem
entrar na “zoociedade” de consumo? Então, qual o caminho mais lógico e
próximo para atingir este nível de vida, não é a escola? Não é dito e repetido
tantas vezes (e até mesmo entre os brancos) que a escola é o acesso ao
conhecimento e a riqueza? A Escola acaba sendo muito mais que isso.
“A escola, instituição estranha às sociedades baseadas na oralidade, é um aparelho ideológico da etnia e das classes dominantes. A instalação de escolas em áreas indígenas não funciona apenas como veículo direto da dominação das populações tribais; serve também para convencer índios e brancos de que índio não aprende, e para legitimar perante a sociedade nacional uma „assistência‟ àquelas populações, confirmando e reforçando a superestrutura” (Grizzi e Silva, 1981, p. 17).
pronunciaram: não havia sementes, e mesmo se houvesse, a terra estava „cansada‟ sendo a
produção insuficiente; ademais, aqueles que plantaram deveriam esperar o desenvolvimento dos cultivos, e comeriam o quê neste período? A mendicância era uma alternativa. Isto mostra a
complexidade que envolve a situação indígena tanto nas cidades como nas aldeias. Isto aconteceu em fevereiro de 1996, na cidade de Porto Alegre, com grupos Guarani advindos de
áreas próximas, como Cantagalo e Águas Claras (Viamão).
Origens do Ensino 225
É assim que, na memória coletiva do agricultor rural ou mesmo entre os
setores urbanos menos avisados, o índio aparece como inculto por vocação
própria ou por preguiça, vadiagem, ou coisa que o valha.15
Frente à dificuldade
de pensar na língua nacional, de compreender os milhares de mecanismos
diferentes que compreendem o mundo civilizado, a sociedade indígena
engatinha em questões básicas como o papel de cada instituição, o que ela
representa e de quem depende. Sendo assim, quando solicita a um órgão
qualquer, religioso ou estatal, e percebe a demora como as coisas são
conduzidas, vê se distanciarem suas reivindicações e aspirações nos meandros
burocráticos totalmente desconhecidos das sociedades pré-estatais.
Neste aspecto burocrático entra a Escola, que depende da
permanência de um professor, da manutenção de uma sala de aula, do
provimento do material escolar, tudo muito lento e muito custoso. Por isso e
mais fácil pensar, para qualquer um que seja, que o índio é vadio e sem
persistência, ao invés de olhar os reveses internos da aplicação de cada
medida paliativa.
As sociedades indígenas, querendo interagir com a sociedade nacional
sem ser explorada, vê na escola uma alternativa que, a princípio, atende seus
desejos imediatos, ao mesmo tempo que atende os anseios da própria
sociedade nacional ao erradicar a barbárie da cultura indígena.
“A ideologização da „escola‟ (alfabetização da língua nacional) é , como frisamos, resultado da relação dialética entre o que o índio pensa a respeito da sociedade nacional e o que o „civilizado‟ pensa do índio. O índio pode ver a „escola‟ como solução mágica para os problemas que enfrenta, como um lugar para as crianças; pode querê-la como meio de deixar de ser índio e ser como branco, procurar status através da alfabetização. O „civilizado‟ pode ver a
escola como fator de progresso nacional e do índio, da erradicação da „selvageria‟, de „salvação‟ moral, espiritual e material, ou seja, vê-la como „aspirina‟, uma panacéia para todos os males: os do índio e de sua própria consciência” (Grizzi e Silva, 1981, p. 19).
15
Em História do Rio Grande do Sul ainda se mantém ensinando como os índios das Missões possuíam capacidade para imitar as obras dos padres, sem, no entanto, terem condições de
criação pela sua própria imaginação.
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 226
É por isso que a imagem que é vendida pela mídia „global‟
descaracteriza o índio como sociedade diferente, como são, por exemplo, um
italiano e um alemão, preferindo incluí-los na ignorância na qual é impossível
enquadrar sem a intervenção do branco com sua cultura superior que civiliza, e
traz, a reboque, seu método civilizatório, a Escola.
A visão que os órgãos oficiais – ou aqueles que direta ou indiretamente
estão a seus serviços, como a televisão – pretendem passar é que, considerando
que andar de pés descalços é sinônimo de atraso cultural, nada melhor que levar a
nossa cultura para resolver este tipo de problema, tudo através do discurso da
professora16
e da Escola (por que na verdade é ela que „sabe‟).
Além de representarem empecilhos em projetos de „desenvolvimento‟
como o Calha Norte, a sociedade indígena deve se render aos cultos dos
brancos, à inteligência dos brancos, à medicina do branco, e assim por diante,
tudo representado de forma concisa e eficiente como a Escola.
O que é uma escola para os Índios? Diferente de uma escola ao índio, que queira transformá-lo para melhor
conduzi-lo à integração perversa da sociedade capitalista, uma escola para o
índio é aquela que pretende atendê-lo em suas reivindicações, ou seja, que
buscará explicar ao índio como se (des)constrói a sociedade branca e como
funciona para melhor atuar sobre ela.
Neste sentido a importância da escola para o índio é: “a) revitalizar a
cultura tradicional; b) munir os índios de conhecimentos úteis ao seu trato com
os brancos e à defesa de seus interesses” (Grizzi e Silva, 1981, p. 15). É
necessário também que a escola não descaracterize os traços culturais
independentes de cada cultura, evitando o erro crasso e seguidamente repetido
16
A „professora‟ dos postos indígenas geralmente é a esposa do chefe do posto, por isso colocamos
no feminino. Ressalvamos que assim as instituições „resolvem‟ dois problemas a um só tempo.
Origens do Ensino 227
que é, mesmo não intencionalmente, tratar o índio como aquele „saco de gatos‟
citado no início do trabalho, um todo idêntico e sem especificidades.
Neste sentido é fundamental que aqueles espaços comunitários de
diálogos e solidariedade se reproduzam conforme a historicidade de cada
grupo. Para isto é preciso que a escola
“[...] seja um espaço privilegiado para a discussão dos problemas fundamentais do grupo, quais sejam: a questão da invasão da terra, a busca de alternativas econômicas para o grupo, explicitação do preconceito racial contra o índio” (Altmann e Zwetsch, 1981, p.44).
Por esta razão não se pode confundir ensino tradicional dos índios com
a forma tradicional do ensino branco, com quadro-negro e cópia de textos,
baseada na idéia que o aprendiz é um recipiente vazio que se enche com o
„conhecimento‟ do professor, processo unilateral que traz uma velha versão da
dominação que representa o ensino branco tradicional.
“A educação indígena é um meio de controle social interno do grupo e foi entendida como o processo pelo qual cada sociedade indígena internaliza em seus membros o próprio modo de ser, garantindo sua sobrevivência e reprodução. A educação para o índio é o processo que „envolve agentes estranhos à cultura e liga-se a realidade do contato‟. O campo da educação é amplo, toda ação indigenista é educativa, mas a expressão educação para o índio é aplicada aqui no seu sentido mais restrito” (Altmann e Zwetsch, 1981, p. 44).
A educação para o índio tem o objetivo que colocá-lo frente às
cotidianidades da sociedade envolvente de forma a que ele possa entrar nesta
nova realidade sem que seja por baixo ou pela porta dos fundos, semelhante às
formas de „enquadramento‟ das outras minorias étnicas ao longo dos séculos.
Parto de uma premissa que é impossível evitar o contato entre os
índios e a sociedade envolvente, pois seja através das epidemias ou da
redução inevitável do espaço ancestral, todas as sociedades nativas entram
ou entrarão em contato com a sociedade envolvente, seja através da Funai,
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 228
do SIL17
ou dos garimpeiros/madeireiros, de modo que sombra da morte e o
perigo já chegou até eles.
Se é inevitavelmente desta forma, como se constrói uma escola para os
índios? Aqui cabe a reflexão de Mota (1981, p. 125-126).
“Mas o que é uma escola realmente indígena? Ao me perguntar isto, vem-me a idéia de uma pedagogia anterior à nossa, uma pedagogia voltada para ensinar os novos membros da sociedade a fazerem parte dela, ou para se socializarem. Visualizo, então, os rituais de iniciação quando membros mais velhos da tribo passam para o iniciante o saber ancestral, a forma de se conduzir e de ver o mundo, de sobreviver. Penso na menina ao pé da mãe aprendendo a moer farinha; depois, já casada, ainda com a mãe, a trançar o cesto da coleta, com as palmas de buriti” (Mota, 1981, p. 125-126).
Nessa pedagogia, as formas de produção e reprodução são outras, as
categorias de pensamento também são outras. Como estabelecer essa escola
“realmente indígena” se não sabemos o que é existir como “indígena” dentro da
nossa sociedade? No momento em que tentamos levar ao índio uma pedagogia
que é nossa, estamos obviamente proporcionando mais uma forma de
penetração do mundo do “civilizado” e da sociedade dominante num universo
que era indígena, mas que passa a ser, desde o momento do contato com vias
a integração indígena na sociedade nacional, ou como os jesuítas os
categorizavam muito habilmente – “índios conversos”, isto é, nem “índio”, nem
“civilizado” (Mota, 1981, p. 125-126).
Ensinar uma pessoa a ler e escrever, enquanto as situações de
exploração socioeconômica e de estrutura social continuam as mesmas, é tão
somente treiná-la para ingressar na sociedade como mão-de-obra
desqualificada, sem grandes perspectivas de desenvolvimento integral como
pessoa humana autêntica e autônoma. Os grupos indígenas brasileiros na sua
maioria estão sendo desculturados e aculturados, tornando-se mão-de-obra
barata e sem-terra, ficando, portanto, à mercê dos interesses dos grupos do
17
Summer Institut of Linguistic.
Origens do Ensino 229
poder que lhes reprime o pensamento, e recebendo uma visão de mundo que
garante a reprodução do sistema capitalista.
Sendo assim, não conseguem desafiar este mundo por que não o
compreendem. O processo educacional, dentro de um contexto de
dominação cultural e econômica, torna-se um “instrumento estratégico” para
garantir a submissão dos grupos dominados. No caso do indígena, esse
instrumento serve também para a sua melhor integração na sociedade
nacional (Mota, 1981, p. 127).
O processo de dominação sub-reptício que a Escola formal branca traz
é, mais que um ensino, um conjunto de valores sociais, morais, éticos e formais,
que conduzem, através de um parâmetro bem definido na figura do professor, a
reprodução de uma cultura exógena à sua, mas ao mesmo tempo
incompreensível em sua totalidade.
“A educação proposta pelas escolas serve não só para transmitir alguns conhecimentos técnicos, como também a ideologia que rege as relações de produção e as reproduz, moldando o caráter e o comportamento dos membros da sociedade para o uso do sistema” (Mota, 1981, p. 128).
A Escola do branco é aquela na qual ainda se ensina uma história a-
histórica, desprovida de qualquer desenvolvimento ou processo que apresente
mudança na condição de seus personagens. Desta forma, aparece idealizada
frente aos olhos de seus aprendizes. Não existem problemas, guerras ou
discussões; não existem as lutas de classes ou os conflitos sociais. A sociedade
do branco reproduz, de forma inalterada, uma falácia de História.
É por esta razão que o índio tem na Escola formal uma estrutura
distorcida e dependente, caótica e desestruturante:
“Ao ser despojado de seu passado, de sua identidade cultural, de sua antiga organização social e lançado a um mundo cujas relações e modo de produção não compreende, não compreendendo, portanto seu papel social neste mundo, o indígena tem na escola um instrumento alienado e alienante. É uma escola que, fundada na maneira de pensar da cultura dominante, proíbe o pensamento crítico, pois „exclui a relação sobre os antagonismos sociais” (ibid., p. 128).
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 230
Ou seja, a educação dada para o índio, em sua forma mais abrangente,
revela uma realidade inexistente e inalterável, pois já se encontra pronta tanto na
prática do professor como no exemplo (formal e informal) que se passa aos alunos.
Analisados criticamente, textos dos livros de educação de adultos que
tenham sido introduzidos nas escolas indígenas apresentam uma realidade a-
histórica, acabada. As leituras, tanto do material para a escola primária como
para os adultos, sugerem aceitação de um mundo já feito e harmonioso, onde
basta ter os documentos necessários para se conseguir um emprego e alcançar
a felicidade, onde ser um bom cidadão é ser obediente às autoridades e às leis
da sociedade, sem questionar nada.
É um mundo onde o trabalhador esforçado recebe sua recompensa, e a
família que faz poupança dificilmente passa por necessidade econômica. Desta
forma, a escola funciona desconectada ao real, alcançando, “facilmente, a
submissão da minoria, pelo inculcamento em seus membros, de situações que
acabam por levar a conclusão da complexidade do mundo dos brancos e a
conseqüente incapacidade do indígena em compreendê-lo” (Mota, 1981, p. 129).
Somando-se o providencialismo religioso, a desestruturação
sociocultural dos 500 anos de contatos malfadados e das iniciativas incompletas
das organizações governamentais e não-governamentais, o que resta àqueles
índios que buscam sair da roda-viva da espoliação e entrar no mundo do branco
via Escola é um paradoxo realmente difícil de entender:
“Depois de um dia de enxada, trabalhando na terra alheia, o índio analfabeto tinha, portanto, duas opções educacionais: ir ao cursinho noturno e responder que o tijolo é feito de barro, ouvir que é necessário comer ovos e verduras todos os dias, ou assistir a programação da TV Globo no aparelho colocado na sala de reuniões comunitárias” (Mota, 1981, p. 129).
É por isso que a Escola como instituição terá sempre a tendência de
colocar o índio em uma situação automática de inferioridade, por que a
realidade não é diferente: o índio trabalha e não consegue nada, se esforça e
Origens do Ensino 231
não consegue mudar sua condição, é bombardeado por toda a espécie de
apelos de consumo e bem-estar e não se possibilita a transformação em suas
condições de habitação, saúde, higiene: o índio está errado! É esta idéia que
alimenta a todos que ousam alcançar a Escola.
Estando basicamente desligada da realidade local, é um sistema
educacional que reforça idéias de que “o mundo dos brancos” é uma espécie de
“terra sem males” a ser alcançada, mas cujo acesso estava cheio de
empecilhos não compreendidos e vistos como muralhas indevassáveis. É uma
educação, como já assinalamos, “desconectada do real” e, portanto, incapaz de
formá-los para enfrentar a realidade. Uma educação para a manutenção de
uma situação sempre a mudar-se, mas, sendo a-histórica, não preparava
ninguém para a história.
A educação, que deveria idealmente funcionar como porta de saída do
beco onde se encontravam, como passagem para uma vida mais segura e
respeitável, não conseguia cumprir tal destino. Além do mais, por ser uma forma
de verdadeira aculturação, não ensinava como pensar mas o que pensar. O
aluno indígena que tivesse conseguido ficar até o quarto ou mesmo quinto ano
escolar, aprendia a ler e escrever alguma coisa, a fazer contas e ter algumas
noções das regras sociais que regem o “mundo civilizado”, mas não aprendia a
entender esse mundo. Nem poderia ser assim, pois se o entendesse teria a
opção de aceitá-lo ou negá-lo conscientemente (Mota, 1981, p. 130).
A política indigenista oficial é parte integrante deste modelo (liberal), e
tem servido, sistematicamente, como instrumento de dominação e destruição
dos povos indígenas. Dentro desse contexto, a educação institucionalizada,
respaldada pelo Estado, é veículo privilegiado da dominação ideológica, pois
desrespeita os povos indígenas, mascarando-a através de um paternalismo
autoritário que aparentemente protege, quando na verdade cerceia e destrói.
A política oficial desconhece a realidade do processo educacional
próprio das sociedades indígenas. Tal processo é a garantia da manutenção
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 232
de uma identidade étnica diferenciada, e sua redução ao ensino oficial não
pode ser admitida por que nega o direito desses povos a autodeterminação
(Silva, 1981, p. 149).
O trabalho que realmente serve as sociedades indígenas é aquele que
respeite suas liberdades individuais e sua existência enquanto coletividade
diferenciada. Não é um modelo na qual se “insiram” os índios na sociedade
nacional como querem os governos atuais. A “incorporação” das sociedades
indígenas é somente um mecanismo de extermínio na qual se justifica o apelo
do progresso e das frentes civilizatórias. Quando a sociedade branca e os
interessados na diversidade cultural e biológica reagirem, os órgãos oficiais
novamente remeterão à condição de “aculturamento”, dispensando assim
maiores atenções.
É contra estas iniciativas que se volta uma educação popular, baseada
no direito da diferença e na possibilidade da convivência entre os diferentes
espaços culturais, procurando conduzir a cidadania através da consciência de
sua condição e das formas de mudá-la:
“O trabalho de educação popular não visa criar subalternos educados: sujeitos limpos, polidos, alfabetizados, bebendo água fervida, comendo farinha de soja e cagando em fossas sépticas. Visa participar do esforço que fazem hoje todas as
categorias de sujeitos subalternos – do índio ao operário do ABC – para a
organização do trabalho político que, passo a passo, abra caminhos para conquista de sua própria liberdade” (Brandão, 1981, p. 159).
A educação popular – como trabalho de educação de crianças
indígenas, de alfabetização de camponeses, de curso supletivo para operário,
de pastoral popular, etc. – é um modo de participação de agentes eruditos
(professores, padres, cientistas sociais e tantos outros) neste trabalho político.
Estejamos conscientes – se não quisermos ser inocentes – de que a
educação popular é um trabalho que tem a ver com questões políticas e,
não apenas, pedagógicas e culturais. Não há trabalho pedagógico neutro ou
Origens do Ensino 233
de pura e simples “promoção humana e social” junto a minorias étnicas e a
maioria dos excluídos.
Toda a prática a que temos dado o nome de educação popular, e
que melhora condições sociais de vida, sem acrescentar nada ao trabalho
político do índio ou do povo, na verdade trabalha contra eles (Brandão,
1981, p. 160-161).
Referências bibliográficas
ALTMANN, Lori, ZWETSCH, Roberto. Projeto de educação para o grupo Suruí,
Rondônia. In: A Questão da Educação Indígena. Comissão Pró-Índio.
Coordenação Aracy Lopes da Silva. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981. p.
44-50.
BRANDÃO, Carlos R. Educação Popular: contribuição ao debate da educação
do índio. In: A Questão da Educação Indígena. Comissão Pró-Índio.
Coordenação Aracy Lopes da Silva. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981. p.
152-161.
BROCHADO, José Proenza. An Ecological Model of the Spread of Pottery and
Agriculture Into Eastern South America. Urbana-Champaign: University of
Ilinois at Urbana-Champaign PhD Tesis, 1984.
CADOGAN, León. Dicionário Mbya-Guarani Castelano. Biblioteca Paraguaya de
Antropologia. v. XVII. Asunción: CEADUC/CEPAG, 1992.
FERNANDES, Florestan. A Organização Social dos Tupinambá. São Paulo:
Hucitec/ UNB, [1949] 1989.
FERREIRA, João de Souza Pe. América Abreviada. Suas notícias e de seus
naturaes, e em particular do Maranhão, títulos, contendas e instruções a sua
conservação e aumento mui úteis pelo Pe. João de Souza Ferreira [Lisboa, 20
de maio de 1693]. Revista Trimestral do Instituto Histórico Geográphico e
Ethnohistórico do Brazil. Rio de Janeiro: Tomo XLIX, p. 120, 3 trimestre. 1886.
Educação indígena: parâmetro social, necessidade nativa ou invenção ocidental? 234
GATTI, Carlos. Enciclopedia Guarani-Castellano de Ciencias Naturales e
Conocimientos Paraguayos. Asunción: Arte Nuevo Editores, 1985.
GOULD, R. The archaeologist as etnographer: a case from the western desert
of Australia. World Archaeology, 3(2), p. 143-177, 1971.
GRIZZI, Dalva C. Sampaio, SILVA, Aracy Lopes. A filosofia e a pedagogia da
educação indígena: um resumo dos debates. In: A Questão da Educação
Indígena. Comissão Pró-Índio. Coordenação Aracy Lopes da Silva. São
Paulo: Editora Brasiliense, p. 15-29, 1981.
HUNT, Lynn. História, Cultura e Texto. In: Hunt, Lynn. A Nova História Cultural,
2. ed. São Paulo: Martins Fontes. 1985, p. 1-29.
LIGHTFOOT, K. Culture Contact Studies: Redefining the Relationship Between
Prehistoric and Historical Archaeology. American Antiquity, p. 199-217, 1995.
MELIÀ, Bartomeu. El Guarani Conquistado y Reducido. Ensayos de
Etnohistória. 2. ed. Biblioteca Paraguaya de Antropología. Asunción: CEPAG.
Univ. Católica, 1988.
MONTOYA, Antônio Ruiz. Arte bocabulário, Tesoro y Catecismo de Ia Lengva
Guarani. Leipzig: B.C. Teubner, 4 v. 1876.
MOTA, Clarice Novaes. Índios do Norte de São Paulo e uma quase experiência
em Educação Indígena. In: A Questão da Educação Indígena. Comissão Pró-
Índio. Coordenação Aracy Lopes da Silva. São Paulo: Editora Brasiliense,
p.123-139, 1981.
NOELLI, Francisco S. Sem tekohá não há teko. (Em busca de um Modelo
Etnoarqueológico da Aldeia e da Subsistência Guarani e sua Aplicação a uma
Área de Domínio no Delta do Jacuí – RS). Porto Alegre: PUCRS, 1993.
Dissertação de mestrado.
ORTIZ, Renato. (org.). Pierre Bourdieu. São Paulo: Ática, 1983.
PAULA, Luiz Gouvêa, PAULA, Eunice Dias de. In: A Questão da Educação
Indígena. Comissão Pró-Índio. Coordenação Aracy Lopes da Silva. São
Paulo: Editora Brasiliense, 1981. p. 96-106.
Origens do Ensino 235
RESTIVO, Paulo. Vocabulário de Ia Lengua Guaraní secundum Vocabularium
Antonii Ruiz de Montoya. Stutgard: [1722]. 1892.
RODRIGUES, Arion D. A Classificação do tronco lingüístico Tupi. Revista de
Antropologia. São Paulo: v. 12, p. 99-104, 1964.
______. Relações Internas na Família Lingüística Tupi-Guarani. Revista de
Antropologia. São Paulo, p. 27-28: 33-53, 1984-85.
ROOT, D. Information Exchange and the Spatial Configurations of
Egalitarian Societes. In: MOORE, J. A. et Keene, A. S. (ed.).
Archaeological Hammers and Theories (Studies in Archaeology). N.Y:
Academic Press, 1983, p. 193-219.
SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
SILVA, Araci Lopes. Por que discutir hoje a educação indígena. In: A Questão
da Educação Indígena. Comissão Pró-Índio. Coordenação Aracy Lopes da
Silva. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981. p. 11-14.
SCHMITZ, Pedro Ignácio. Migrantes da Amazônia: a tradição Tupiguarani. In: Pré-
História do Rio Grande do Sul, Documentos 5. São Leopoldo: UNISINOS, 1985.
SOARES, André L. R. Guarani: Organização Social e Arqueologia. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 1997.( Série Arqueologia, 4).
SUSNIK, B. Los Aborígenes del Paraguay. Etnohistória de los Guaraníes.
Época Colonial. Tomo II. Asunción: Museo Etnográfico „Andrés Barhero‟.
Paraguay. 1979/80.
TRIGGER, Bruce. Etnohistoria: problemas y perspectivas. San Juan:
Universidad Nacional de San Juan. 1987.
Autores 236
AUTORES
André Soares – Mestre em Arqueologia pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul. Professor do Departamento de Metodologia de Ensino e
membro da Comissão Especial para Resgate do Patrimônio Arqueológico e
Paleontológico da Universidade Federal de Santa Maria/RS. Autor de Guarani:
organização social e arqueologia e Breve manual de patrimônio cultural: uma
proposta de educação patrimonial.
Attico Chassot – Doutor em Ciências Humanas e professor titular (aposentado)
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor no Centro de
Ciências Humanas e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Autor de A ciência através
dos tempos e Para que(m) é útil o ensino?
Geraldo Luiz Borges Hackmann – Doutor em Teologia. Diretor e professor do
Instituto de Teologia e Ciências Religiosas da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul e Diretor do Jornal Mundo Jovem. Publicou vários livros,
entre eles Vassula Ryden – impostora, visionária ou mística? e Jesus Cristo,
nosso Redentor.
Geraldo Rodolfo Hoffmann – Doutor em História Natural e Livre-docente em
Geologia. Professor dos cursos de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade
de Biociências da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde
atua também no Museu de Ciência e Tecnologia. Autor de vários trabalhos,
sendo co-autor do livro Rio Grande do Sul: aspectos da Geografia.
Autores 237
Harry Bellomo – Mestre em História do Brasil e especialista em História da
Cultura. Professor do curso de Graduação da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde
também coordena grupos de pesquisa sobre Arte Funerária. Publicou vários
livros, entre eles Estudos de Problemas Brasileiros e Vidas e Costumes.
leda Bandeira Castro – Especialista em Metodologia do Ensino Superior.
Professora do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas e do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade
de Educação, ambos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Autora de vários trabalhos e co-autora do livro Inquietações Geográficas.
Katia Paim Pozzer – Doutora em História pela Université Paris I Panthéon-
Sorbonne. Professora-Adjunta do Departamento de História da Universidade
Luterana do Brasil e professora convidada do Programa de Pós-Graduação em
História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Margaret Marchiori Bakos – Doutora em História pela Universidade de São Paulo.
Pós-Doutorado em Egito Antigo pelo University College London. Professora dos
cursos de Graduação e Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul. Autora de vários trabalhos, destacando-se O que
são os hieroglifos e Fatos e Mitos do Antigo Egito.
Moacyr Scliar – Especialista em Saúde Pública. Professor assistente de
Medicina Preventiva na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de
Porto Alegre. Colaborador em vários órgãos da imprensa, no país e exterior,
sendo autor de 48 obras, entre elas A paixão transformada: uma história da
medicina na literatura.
Autores 238
Pedro Paulo Funari – Doutor em Arqueologia e professor Livre-Docente na
Universidade de Campinas. Publicou diversas obras no Brasil e vários artigos
científicos em revistas especializadas, no país e no exterior. É autor de La
cultura popular en la Antigüedad Clássica e Roma, vida pública e vida privada.
Sérgio Sardi – Doutor em Filosofia pela Universidade de Campinas. Professor
dos cursos de graduação e Pós-Graduação de Filosofia pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ministra cursos de formação de
professores em Filosofia com Crianças, escreve histórias Ilustradas de Filosofia
e trabalha com a História da Educação Ambiental para Crianças. É autor de
obras como Diálogo e Dialética em Platão.