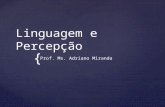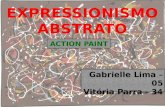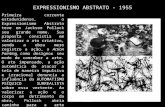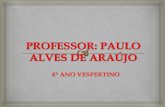OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE NA … · abstrato. Aborda também alguns aspectos da...
-
Upload
duonghuong -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE NA … · abstrato. Aborda também alguns aspectos da...
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSENA PERSPECTIVA DO PROFESSOR PDE
Artigos
Versão Online ISBN 978-85-8015-080-3Cadernos PDE
I
UM NOVO OLHAR SOBRE O ENSINO DAS QUATRO OPERAÇÕES
FUNDAMENTAIS1
Donizete de Fátima Dal Bó2
João Luiz Domingues Ribas3
RESUMO
O presente artigo foi elaborado a partir da implementação de uma proposta de intervenção pedagógica, com alunos do 6º ano do Colégio Estadual Gregório Szeremeta, no município de Reserva-PR, procurando minimizar uma fragilidade na aprendizagem das quatro operações fundamentais. Utilizando como tema “O lixo”, pretendeu-se dar significação às quatro operações fundamentais por meio de situações que envolvessem esse problema ambiental de grande relevância social e que pode ser observado na realidade local, com a intenção de inserir o aluno no contexto de aprendizagem, retirando com isso a ideia de que a matemática é um conhecimento distante e abstrato. Aborda também alguns aspectos da história do ensino da matemática no Brasil, como uma possível justificativa para a deficiência do ensino dessa disciplina em nossas escolas.
Palavras chave: Operações Fundamentais; Estratégias de Ensino; 6º ano.
1 Artigo apresentado na conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional – SEED PR.
2 Professora PDE 2014, área de Matemática – SEED PR.
3 Professor Mestre da UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Métodos e
Técnicas de Ensino.
INTRODUÇÃO
Os dados do Sistema Nacional de Educação Básica (SAEB) em relação à
disciplina de matemática mostram que o aproveitamento é baixo. O ensino da
matemática não está correspondendo às expectativas de uma educação de
qualidade, tão almejada no meio dos profissionais de educação.
A matemática sempre foi vista como “um bicho de sete cabeças”, levando os
alunos a se aterrorizarem com a disciplina e a anteciparem o seu fracasso. Além
disso vemos que a matemática continua sendo ensinada em nossas escolas como
no passado, não se preocupando com as exigências da vida no presente. Isso fica
bem claro no que diz D’AMBROSIO:
A grande expansão da educação a partir do final do século passado e que se manifesta com maior intensidade nos países menos desenvolvidos a partir de meados deste século, leva à universalização da Educação Matemática. Universalização no sentido pleno: ensinar Matemática para todos e, praticamente, a mesma Matemática em todo o mundo. (D’AMBROSIO, 1993)
Junta-se a isso os problemas sociais, a falta de estruturas nas escolas, a
imaturidade dos alunos, falta de incentivo da família, entre outros, logo percebemos
que a razão do fracasso constatado se deve a um complexo conjunto de motivos que
estão intimamente ligados.
Estudos e pesquisas em Educação Matemática nos mostram que o processo
de ensino dessa disciplina precisa ser revisto, é preciso encontrar novas formas de
ensinar e motivar nossos alunos para a aquisição desses saberes, usando situações
que deem sentido aos conteúdos matemáticos, como bem nos esclarecem os
Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática:
O conhecimento matemático formalizado precisa, necessariamente, ser transformado para se tornar passível de ser ensinado/aprendido; ou seja, a obra e o pensamento do matemático teórico não são passíveis de comunicação direta aos alunos. Essa consideração implica rever a ideia, que persiste na escola, de ver nos objetos de ensino cópias fiéis dos objetos da ciência. Esse processo de transformação do saber científico em saber escolar não passa apenas por mudanças de natureza epistemológica, mas é influenciado por condições de ordem social e cultural que resultam na elaboração de saberes intermediários, como aproximações provisórias, necessárias e intelectualmente formadoras. É o que se pode chamar de contextualização do saber. (BRASIL, 1997, p.30)
Percebemos que é de suma importância que nós, professores de
matemática, busquemos formas de, se não superar ao menos minimizar as
fragilidades no ensino da matemática.
Acreditamos que uma forma viável de superação da deficiência na
aprendizagem da matemática escolar, seja trabalhar com situações que envolvam a
realidade do meio social, usando a matemática como instrumento para compreensão
dessa realidade, conforme MAIA (2000) “O que há de concreto não é a matemática,
mas as situações nas quais o homem pode e deve atuar tendo por domínio este
instrumento de mediação cultural que é a matemática”.
Temos observado a crescente dificuldade na aprendizagem da matemática
por parte dos alunos de 6º ano. Eles estão chegando até nós sem o domínio dos
conceitos fundamentais da disciplina inclusive as quatro operações. Diante disso
faz-se necessária uma reflexão acerca do problema detectado e a busca de
possíveis intervenções. Segundo FIORENTINI e MIORIM:
Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um 'aprender' mecânico, repetitivo, de fazer sem saber o que faz e por que faz. Muito menos um 'aprender' que se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo do qual o aluno participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber historicamente produzido e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada e parcial da realidade. (FIORENTINI; MIORIM, 1990)
Diante disso se questionou:
Como tornar significativo o ensino das quatro operações fundamentais para
alunos de 6º ano?
E a partir desse questionamento desenvolvemos uma produção didático-
pedagógica buscando alcançar esse objetivo.
DESENVOLVIMENTO
É importante, num primeiro momento, ressaltar a aprendizagem como algo
dinâmico e permanente em nossa vida, vejamos o que nos diz D’AMBROSIO:
[...] É interessante notar que o fenômeno aprendizagem é reconhecido em todas as espécies e relaciona-se à capacidade de sobrevivência. No homem não é diferente. [...] Não aprendeu a comer, sente fome; não aprendeu a andar, fica no lugar! (D’AMBROSIO, 1996, p.66)
Logo, percebemos que se a aprendizagem é algo tão inerente ao nosso
desenvolvimento, deve haver algo errado em nossas salas de aula, tendo em vista a
dificuldade apresentada pelos alunos, seu desinteresse e consequente fracasso,
citando especificamente a disciplina de matemática.
Há que se levar em conta também que o aluno de hoje tem outras
motivações:
O aluno de hoje é contestador e a relação docente/aluno mudou nas últimas décadas. A insatisfação dos alunos tem sido verbalizada invocando falta de motivação e de interesse: “Para que aprender isso? Onde vou usar?” Sem entender o significado do que está sendo ensinado, o aluno passa a odiar as aulas de matemática, reduzidas a um monte de fórmulas e mecanismos a decorar, e, traumatizado, esse aluno acumula frustrações e falhas de aprendizagem, e isso prejudica o ambiente da sala de aula de matemática. (BURIGO et al, 2012, p. 26)
Isso nos leva a buscar entender como se deu a evolução do ensino da
matemática no Brasil. Segundo GOMES, tínhamos o seguinte panorama no Brasil
Colônia:
Nas escolas elementares, no que diz respeito aos conhecimentos matemáticos, contemplava-se o ensino da escrita dos números no sistema de numeração decimal e o estudo das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Nos colégios, o ensino ministrado era de nível secundário, e privilegiava uma formação em que o lugar principal era destinado às humanidades clássicas. Havia pouco espaço para os conhecimentos matemáticos e grande destaque para o aprendizado do latim. Sobre o ensino desses conhecimentos, conhece-se pouco: por exemplo, sabe-se que a biblioteca do colégio dos jesuítas no Rio de Janeiro possuía muitos livros de Matemática. No entanto, estudos realizados por muitos pesquisadores conduzem à ideia geral de que os estudos matemáticos eram realmente pouco desenvolvidos no ambiente jesuíta. (GOMES, 2012)
Vejamos no Brasil Império, ainda segundo GOMES:
No ensino das primeiras letras, a Matemática estava presente: “primeiras letras” significavam, afinal, “ler, escrever e contar”. É interessante notar que a lei de outubro de 1827 diferenciava a educação para meninos e meninas, prevendo escolas separadas para os dois sexos. O currículo para as escolas de meninos envolvia “ler, escrever, as quatro operações aritméticas, prática de quebrados, decimais e proporções, noções gerais de geometria, gramática da língua nacional, moral cristã e doutrina católica”. As escolas para meninas existiriam nas localidades mais populosas, seriam dirigidas por professoras e em seu currículo eliminava-se a geometria e a prática de quebrados, incluindo-se o ensino de práticas importantes para a economia doméstica. (GOMES, 2012)
Até a Proclamação da República as disciplinas matemáticas, sendo elas:
Aritmética, Álgebra, Geometria e, posteriormente, a Trigonometria não tinham muita
relevância no ensino, que era mais voltado para as áreas humanísticas e literárias. A
partir daí a matemática ganha novos enfoques dentro das várias reformas que
ocorreram na educação brasileira, sendo elas:
Reforma Benjamin Constant (1890): referia-se apenas ao ensino
público primário e secundário no Distrito Federal, então situado no Rio
de Janeiro. Começam receber destaque as disciplinas científicas e
matemáticas.
Reforma Francisco Campos (1931): fusão das disciplinas
matemáticas em uma única disciplina presente em todos os anos do
fundamental; já se questionavam novas formas de se ensinar a
matemática, o desenvolvimento do raciocínio, as finalidades da
disciplina; o principal responsável pela reforma no que diz respeito à
matemática foi o professor Euclides Roxo, catedrático do Colégio
Pedro II; em 1939 criou-se a Faculdade Nacional de Filosofia, na qual,
o bacharel em Matemática após cursar Didática obteria o diploma de
Licenciado em Matemática.
Reforma Gustavo Capanema (1942): criação do Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial) e Senac (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial); ênfase no ensino profissional para o povo;
lista de conteúdos sem indicações metodológicas.
A partir de 1950, o ensino das diferentes disciplinas começa a mudar por
conta da diversidade encontrada nas escolas de ensino primário e secundário, com
o acesso de estudantes advindos das camadas populares, é a democratização da
escola. Com isso aumenta a demanda de professores e consequentemente diminui
as exigências na contratação dos mesmos, o que leva a um despreparo do corpo
docente em muitas escolas.
Na década de 1960 surge no Brasil o Movimento da Matemática Moderna, o
qual se encontra com professores completamente despreparados, sendo
apresentado aos mesmos basicamente através dos livros didáticos como se vê no
comentário de PINTO:
Ainda um tanto nebulosa, no Brasil, a matemática moderna ancora primeiramente nos grandes centros do país e começa, nos anos 60, a ser lentamente difundida nas escolas mais longínquas, a maioria delas recebendo-a de sobressalto, via livro didático. Carregada de simbolismos e enfatizando a precisão de uma nova linguagem, professores e alunos passam a conviver com a teoria dos conjuntos, com as noções de estrutura e de grupo. (PINTO, 2005)
Ainda segundo PINTO, não existe preocupação com a significação dos
conteúdos matemáticos:
A excessiva preocupação com a linguagem matemática e com a simbologia da teoria dos conjuntos deixou marcas profundas, ainda não desveladas, nas práticas pedagógicas daquele período. Ao tratar a matemática como algo neutro, destituída de história, desligada de seus processos de produção, sem nenhuma relação com o social e o político, o ensino de Matemática, nesse período, parece ter se descuidado da possibilidade crítica e criativa dos aprendizes. O moderno dessa matemática apresenta-se, para os alunos, mais como um conjunto de novos dispositivos e nomenclaturas descolados de sentidos e significados conceituais, uma disciplina abstrata e desligada da realidade. (PINTO, 2005)
Ao final da década de 1970, com o Movimento da Matemática Moderna
sendo extinto no Brasil, cresce a preocupação com o ensino da matemática, o qual
passa a ser objeto de estudo de muitos pesquisadores e com isso vai se
modificando as propostas metodológicas para a disciplina.
A Lei nº 9394/1996, que estabelece as diretrizes para a educação nacional
já prevê em seu texto a formação ampla do sujeito, preocupando-se com a
construção de valores, com metodologias diferenciadas para os diferentes grupos
sociais, ou seja, não se condiciona apenas a formalismos.
A partir do exposto é bastante pertinente que busquemos estratégias que
possibilite ao nosso aluno a aquisição de novos saberes, que esses saberes os
transformem em sujeitos mais autônomos. Cabe a nós, professores de matemática,
estarmos comprometidos com o ensino de uma matemática dinâmica, que vá além
do que nos propõe os livros didáticos, que valorize o espaço social, cultural e
geográfico de nossos educandos. Citamos as Diretrizes Curriculares da Educação
Básica da área de matemática:
Pela Educação Matemática, almeja-se um ensino que possibilite aos estudantes análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e formulação de ideias. Aprende-se Matemática não somente por sua beleza ou pela consistência de suas teorias, mas, para que, a partir dela, o homem amplie seu conhecimento e, por conseguinte, contribua para o desenvolvimento da sociedade. (PARANÁ, 2008, p. 48)
Pretendemos com este trabalho dar significação às quatro operações
fundamentais através de situações do ambiente próximo ao nosso aluno, com a
intenção de levá-lo a se inserir no contexto de aprendizagem, retirando com isso a
ideia de que a matemática é um conhecimento distante e abstrato.
A produção didática destinou-se a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental
do Colégio Estadual Gregório Szeremeta, no município de Reserva. Por ocasião dos
questionamentos acerca da aprendizagem das quatro operações fundamentais
desses alunos, percebeu-se a necessidade de uma maior atenção no início do 6º
ano a fim de consolidar esses conhecimentos. Muitas vezes percebemos que essas
operações resumem-se apenas às continhas de “mais”, “menos”, “vezes” e “dividir”,
sem maiores preocupações com os significados dessas operações. O objetivo do
referido material foi tornar significativo o ensino das quatro operações fundamentais
para esses alunos, oportunizando a compreensão dos respectivos algoritmos.
Buscamos também associar um tema ambiental, nesse caso “O lixo”, articulando
assim os conteúdos matemáticos com a Lei 9795/99, que institui a Política Nacional
de Educação Ambiental.
A referida produção didática foi dividida em oito encontros com quatro horas-
aula de duração. No primeiro encontro iniciamos as atividades com a exibição do
filme Wall-E (Stanton, 2008), logo após debatemos sobre: produção exagerada de
lixo, produtos tecnológicos descartáveis, destino do lixo, impactos do lixo no meio
ambiente, e na sequência os alunos responderam um questionário sobre o destino
do lixo em suas moradias (Apêndice 1, Figura 1), onde pudemos perceber que existe
coleta nas residências do grupo, porém ainda não recebem o destino adequado,
sendo depositado no lixão. Percebemos que as atividades desenvolvidas cumpriram
com seus objetivos de despertar o interesse pelos problemas relacionados ao
destino incorreto do lixo e contribuir para mudanças de hábitos, visando a
construção de atitudes ambientalmente corretas.
No segundo encontro apresentamos a quantidade de lixo gerada
diariamente em cada estado brasileiro, assim como, a quantidade que recebe
destinação adequada; os alunos receberam o mapa com a divisão política do Brasil
e com o auxílio de um atlas geográfico pintaram de cores diferentes cada uma das
cinco regiões brasileiras (Apêndice 1, Figuras 2 e 3); na sequência trabalhamos com
vários problemas envolvendo esses dados e definimos a operação da adição.
No terceiro encontro retomamos a produção de lixo nos estados brasileiros,
e a partir da resolução de problemas envolvendo esses dados (Apêndice 1, Figura
4), pudemos fazer a comparação entre os estados e as regiões, definindo a
operação da subtração.
No quarto encontro utilizamos um texto sobre a política dos três Rs (reduzir,
reutilizar, reciclar) e um quadro com o tempo necessário para alguns materiais se
decompor na natureza, a partir dos quais os alunos confeccionaram cartazes
sensibilizando sobre a importância de diminuir a produção de lixo (Apêndice 1,
Figura 5).
No quinto encontro trabalhamos com situações-problema explorando as
ideias relacionadas com a multiplicação e assim definimos a operação. Trabalhamos
também com o dominó da multiplicação, onde primeiramente relembramos as regras
do jogo, para então formarmos as duplas onde cada uma recebeu o dominó
(Apêndice 1, Figuras 6 e 7). Nesse encontro encontramos mais dificuldades, o
grupo quase em sua totalidade não dominava a tabuada, então construímos juntos a
tabuada para que pudessem fazer uso durante as atividades. E no sexto encontro
definimos a operação da divisão também a partir de situações-problema envolvendo
as ideias relacionadas com a mesma.
No sétimo encontro trabalhamos com a resolução de problemas envolvendo
as quatro operações e no oitavo com o bingo das quatro operações (Apêndice 1,
Figuras 8 e 9). Os alunos se envolveram bastante e as dúvidas foram sendo
sanadas no decorrer das atividades.
Notamos no decorrer das discussões do Grupo de Trabalho em Rede, que
os problemas elencados em nosso estudo são comuns em escolas públicas de
outros municípios de nosso Estado, como podemos observar na fala dos
professores cursistas:
Professor 1: “ ... a falta de envolvimento dos pais na educação dos seus filhos está
sendo decisiva para o fracasso escolar de muitos alunos, afinal a educação vem de
casa o que deveríamos fazer é ensinar os alunos, porém devido a falta de educação
dos alunos temos que perder muitas vezes tempo precioso de nossas aulas para
tentar iniciarmos nosso trabalho enquanto docentes, o que prejudica o nosso
trabalho e também a aprendizagem dos demais alunos. ”
Professor 2: “Eu sempre fiz e faço até hoje de tudo para que os alunos dominem as
quatro operações, pois são a base do estudo da matemática essa de falar que
quando ele precisar vai buscar o conhecimento na matemática não cola, pois ela é a
base de todo o estudo da disciplina. ”
Professor 3: “A Matemática realmente precisa ser revista, pois são poucos alunos
que apresentam interesse na disciplina. Por isso temos que mostrar aplicabilidade
da matemática de uma forma mais significativa. Pois hoje até para eles
participarem da OBMEP é difícil, eles não tem interesse algum.Nós urgentemente
precisamos mudar nossa prática , senão logo não aprenderão nem o mínimo.”
Professor 4: “ ... a maioria dos alunos sente grande dificuldade em aprender os
conteúdos desta disciplina. E a matemática, como em qualquer área, deve acontecer
de forma que o aluno sinta a necessidade em aprender algo, este aprendizado deve
ser voltado para o seu dia-a-dia, assim ele sentirá que o aprendizado será de grande
importância para sua vida. Outro ponto que também pode ajudar é a
interdisciplinaridade que torna o aprendizado matemático mais real e prático,
passando a ter um maior significado. Devemos associar os termos matemáticos com
a vida do individuo, de forma que influencie culturalmente, economicamente e
socialmente, buscando assim estimular a sua melhor compreensão.”
Verificamos também no decorrer das discussões, que o anseio por novas
formas de ensinar e motivar nossos alunos é comum entre os professores de
matemática. Todos os envolvidos nas discussões do Grupo de Trabalho em Rede
estão cientes de que precisamos mudar nossa forma de ensinar, precisamos usar
novos recursos, modernizar nossas metodologias, para atender os indivíduos dessa
sociedade em constante evolução.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que este trabalho atingiu sua proposta inicial, tornar significativo
o ensino das quatro operações fundamentais para alunos de sexto ano, buscando
minimizar as dificuldades na aprendizagem das quatro operações básicas. A partir
da experiência adquirida com as atividades desenvolvidas, percebemos que com
pequenas mudanças em nossa metodologia de trabalho podemos criar um ambiente
de estudo bem mais proveitoso. Os alunos se mobilizaram para a resolução das
atividades, as quais foram muito bem aceitas por eles.
Percebemos também que é muito importante abordarmos situações que não
envolvam diretamente a matemática, pois com isso todos se interessam, mesmo
aqueles que dizem “detestar matemática”, e quando o conteúdo matemático se
apresenta os alunos estão mais receptivos à aprendizagem.
Pela interação com professores de outras escolas no Grupo de Trabalho em
Rede, percebe-se que a preocupação com a defasagem de conteúdos dos alunos
de sextos anos é comum entre nós. Todos buscam alternativas metodológicas para
superar essa defasagem, o que gerou inclusive contribuições muito valiosas para
todos. É consenso também, que diante da escassez de recursos naturais, temos que
inserir temas ambientais em nossas aulas, buscando contribuir para a formação de
uma sociedade mais comprometida com o meio ambiente. Vejamos o que diz
TOZONI-REIS:
Na perspectiva da educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória, os temas ambientais não podem ser conteúdos curriculares no sentido que a pedagogia tradicional trata os conteúdos de ensino: conhecimentos pré-estabelecidos que devem ser transmitidos de quem sabe (o educador) para quem não sabe (o educando). A educação crítica e transformadora exige um tratamento mais vivo e dinâmico dos conhecimentos, que não podem ser transmitidos de um pólo a outro do processo, mas apropriados, construídos, de forma dinâmica, coletiva, cooperativa, contínua, interdisciplinar, democrática e participativa, pois somente assim pode contribuir para o processo de conscientização dos sujeitos para uma prática social emancipatória, condição para a construção de sociedades sustentáveis. (TOZONI-REIS, 2006)
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. 142p. BURIGO, Elisabete Zardo (Org.) et al. A Matemática na escola: novos conteúdos, novas abordagens. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2012. 304p. (Educação à Distância). Disponível em: <http://www.ufrgs.br/sead/publicacoes/publicacoes-sead/serie-para-educacao-a-distancia/especializacao/a-matematica-na-escola-novos-conteudos-novas-abordagens-2012>. Acesso em: 26 mai. 2014. D'AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. 20. ed. Campinas: Papirus, 1996. 120 p.
D’AMBROSIO, Ubiratan. Educação Matemática: uma visão do estado da arte. Pro-Posições. Campinas, v. 4, n. 1[10], março 1993. Disponível em: <: http://mail.fae.unicamp.br/~proposicoes/textos/10-artigos-d%5C'ambrosiou.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2014.
FIORENTINI, Dario; MIORIM, Maria Angela. Uma Reflexão sobre o Uso de Materiais Concretos e Jogos no Ensino da Matemática. Boletim SBEM-SP. São Paulo, ano 4, n. 7, p. 5-10, jul./ago. 1990. Disponível em:˂ www.mat.ufmg.br/.../Umareflexao_sobre_o_uso_de_materiais_concretos˃. Acesso em: 21 abr. 2014.
GOMES, Maria Laura Magalhães. História do Ensino da Matemática: uma introdução. Belo Horizonte: CAED-UFMG, 2012. 68 p. Disponível em: <http://www.mat.ufmg.br/ead/acervo/livros/historia%20do%20ensino%20da%20matematica.pdf> . Acesso em: 26 mai. 2014. MAIA, Lícia de Souza Leão. Matemática concreta X Matemática abstrata: mito ou realidade? CD–23a ANPEd (2000). Disponível em: <http://www.ufrrj.br/emanped/paginas/conteudo_producoes/docs_23/matematica_concreta.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2014. PARANA. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Matemática. Curitiba, 2008. 81 p. PINTO, Neuza Bertoni. Marcas Históricas da Matemática Moderna no Brasil. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 5, n. 16, p. 25-38, set./dez. 2005. Disponível em: ˂http://pessoal.utfpr.edu.br/mocrosky/arquivos/marcashistoricasmatematicamoderna_neuzabetoni.pdf˃. Acesso em: 12 abr. 2014. TOZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. Temas ambientais como "temas geradores": contribuições para uma metodologia educativa ambiental crítica, transformadora e emancipatória. Educar em Revista, Curitiba, n. 27, jan./jun. 2006. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-40602006000100007&script=sci_arttext>. Acesso em: 02 nov. 2015.
APÊNDICE 1
Figura 1 - Questionário destino do lixo nas moradias
Fonte: Acervo próprio, 2015
Figura 2 - Atividade com o mapa das regiões brasileiras
Fonte: Acervo próprio, 2015
Figura 3 - Aluna realizando a atividade do mapa
Fonte: Acervo próprio, 2015
Figura 4 - Exemplos de atividades do 3º encontro
Agora calcule: 1.1) De todo o lixo gerado em cada estado da região sul, quanto falta ser coletado? Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul 1.2) Agora pense em nosso estado, o Paraná, todo o lixo coletado recebe destinação adequada? Quantas toneladas/dia ainda não tem destino adequado? 2) Responda: 2.1) Considere os estados do Paraná e Santa Catarina. Qual produz mais lixo? Quanto a mais? 2.2) Agora considere os estados de São Paulo e Minas Gerais. Qual produz mais lixo? Quanto a mais?
Fonte: Acervo próprio, 2015
Figura 5 - Cartaz feito por um aluno
Fonte: Acervo próprio, 2015
Figura 6 - Dominó da multiplicação
Fonte: Acervo próprio, 2015
Figura 7 - Alunos jogando dominó
Fonte: Acervo próprio, 2015
Figura 8 - Operações utilizadas no bingo
5 : 5 6 + 5 3 x 7 20 + 11 20 + 21
8 : 4 4 x 3 11 + 11 8 x 4 6 x 7
10 – 7 13 x 1 25 – 2 35 – 2 20 + 23
2 x 2 7 + 7 8 x 3 15 + 19 22 + 22
10 : 2 3 x 5 50 – 25 70 : 2 5 x 9
18 : 3 4 x 4 13 + 13 6 x 6 60 – 14
4 + 3 20 – 3 35 – 8 40 – 3 20 + 27
10 – 2 9 + 9 7 x 4 50 – 12 6 x 8
7 + 2 15 + 4 30 – 1 30 + 9 7 x 7
5 + 5 40 : 2 60 : 2 8 x 5 100 : 2
Fonte: Acervo próprio, 2015