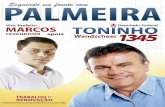Palmeira Filho Et Al., 2003. a Cadeia Farmacêutica No Brasil
-
Upload
isolda-ribeiro-e-silva -
Category
Documents
-
view
8 -
download
2
description
Transcript of Palmeira Filho Et Al., 2003. a Cadeia Farmacêutica No Brasil
-
CADEIA FARMACUTICANO BRASIL: AVALIAOPRELIMINAR E PERSPECTIVASPedro Lins Palmeira FilhoSimon Shi Koo Pan*
* Respectivamente, gerente e engenheiro da Gerncia de Qumicos paraSade do BNDES.Os autores agradecem ao engenheiro Janusz Zaporski pelos comentrioscrticos e pelas sugestes.
-
O presente trabalho tem por objetivo fazer umasntese e uma avaliao dos vrios estudos e diagns-ticos j realizados sobre o tema. Contm um registro dasreflexes e preocupaes preliminares acerca da situa-o do setor frente ao contexto mundial, de suas pers-pectivas e das aes que se fazem necessrias.
Cadeia Farmacutica no Brasil: Avaliao Preliminar e Perspectivas
Resumo
4
-
A sade estado de completo bem-estar fsico, mental esocial, e no apenas ausncia de enfermidade uma das neces-sidades bsicas da espcie humana. Para manter ou restaurar asade, o ser humano utiliza recursos variados, tais como prticascorporais, hbitos de higiene e alimentao, cirurgias etc. O uso demedicamentos integra o conjunto de meios empregados na busca dasade. Dependendo da cultura e da escola mdica prevalecente, osmedicamentos empregados podem ser classificados em diferentesgrupos: alopticos, homeopticos, produtos da medicina tradicionalchinesa, produtos da medicina ayurvdica, fitoterapia ocidental.
Os medicamentos alopticos so aqueles produzidos den-tro da concepo galnica (Galeno de Prgamo, 121-200 d.C.), deutilizao de medicamentos de qualidades opostas s da doena quese pretende curar. J a posio defendida pela escola da homeopa-tia, lanada inicialmente por Theophrastus Bombast von Hohenheim,mais conhecido como Paracelso (1493-1541 d.C.), e consolidada emobra publicada em 1810 por Meissen Samuel Hahnemann, pregavaa convenincia de utilizar medicamentos de qualidades semelhantess da doena contra a qual eram empregados. Os medicamentosalopticos so o objeto principal deste artigo, por serem os de usomais difundido no Ocidente e os que possuem maior expresso eco-nmica no mundo. A expresso medicamento passar a se referira esse grupo de medicamentos.
Um medicamento composto por:
frmaco, tambm chamado de princpio ativo ou base medicamen-tosa e que a substncia ativa que produz o efeito teraputico de-sejado; e
aditivos, que so substncias adicionadas ao frmaco para alterare complementar suas propriedades, tais como as organolpticas,e as formas de administrao, o estado fsico-qumico e a veloci-dade de absoro.
proporo que os frmacos e os aditivos so misturados,constitui-se uma formulao farmacutica. O produto final denomi-nado especialidade farmacutica (EF). Uma EF pode conter mais deum frmaco na sua composio, caso em que denominada as-
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 3-22, set. 2003
CaractersticasBsicas doSetor:Introduo
AspectosTcnicos
5
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
-
sociao medicamentosa. As especialidades farmacuticas podemser comercializadas sob vrias formas: ps, comprimidos, drgeas,cpsulas, lquidos orais, lquidos injetveis, cremes, pomadas, ade-sivos. Um mesmo frmaco pode dar origem a numerosas EFs, que,por sua vez, ainda podem ser comercializadas sob diferentes formase apresentaes. As EFs produzidas com um mesmo frmaco e nasmesmas concentraes por laboratrios diferentes podem no serbioequivalentes, ou seja, apresentar a mesma disponibilidade parao organismo, devido a diferenas na sua formulao.
Os medicamentos podem ser classificados segundo diver-sos critrios: emprego teraputico, estrutura qumica, forma de co-mercializao e ao farmacolgica. A seguir apresentada a clas-sificao segundo a forma de comercializao, pela qual os medicamentosso considerados:
ticos (Rx), que necessitam de prescrio mdica para venda, ou
de venda livre (conhecidos mundialmente como OTC over-the-counter), que podem ser vendidos sem exigncia de prescri-o mdica.
Um critrio adicional classifica os medicamentos em doisgrupos: os protegidos por direitos de patente, de marca, e aquelescujas patentes esto vencidas, os genricos. No Brasil, h umacategoria originada do longo perodo durante o qual o pas noreconheceu o direito a patentes de medicamentos. So os denomi-nados medicamentos similares, cpias de medicamentos inovadorespatenteados no exterior, produzidas no Brasil com insumos importa-dos de pases que tambm no aderiram ao Sistema Internacionalde Patentes e lanadas com a marca da empresa brasileira autorada cpia. Esses produtos no eram obrigados a realizar testes debiodisponibilidade e bioequivalncia1 em relao ao produto com oqual pretendiam ter similaridade, os produtos de referncia.
Com o lanamento dos genricos em 1999, para os quaisera exigida a realizao desses testes para o enquadramento nessaclassificao, os medicamentos similares no puderam mais sercomercializados somente com o nome de seu princpio ativo a partirde 15.9.2001. Os medicamentos genricos so comercializados como nome da substncia ativa e apresentam a mesma quantidade deprincpio ativo, a mesma concentrao, forma farmacutica e via deadministrao do medicamento de referncia, com o qual assegurasua intercambialidade, garantida atravs dos testes de biodisponibi-lidade e bioequivalncia.
Cadeia Farmacutica no Brasil: Avaliao Preliminar e Perspectivas
Classificaesdos
Medicamentos
6
1O teste de bioequivalnciaconsiste na demonstraode que o medicamento ge-nrico e seu respectivo me-dicamento de referncia(aquele para o qual foi efe-tuada pesquisa clnica paracomprovar sua eficcia e se-gurana antes do registro)apresentam a mesma bio-disponibilidade no organis-mo. A bioequivalncia, nagrande maioria dos casos,assegura que o medicamen-to genrico equivalente te-raputico do medicamentode referncia, ou seja, queapresenta a mesma eficciaclnica e a mesma seguran-a em relao ao original.
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
-
A inovao mais importante nesse setor ocorre no desenvol-vimento do produto, para o qual h uma busca permanente, ainda nointeiramente resolvida, por aumento de eficcia, segurana de uso ereduo dos efeitos colaterais. Esse processo sobrevm:
pela mudana das caractersticas do frmaco, para torn-lo maiseficaz e para que provoque menos efeitos adversos ou colaterais; e
por mudanas na composio dos outros componentes da formu-lao, para potencializar a ao do frmaco, tais como mudar avelocidade de liberao no organismo.
As disciplinas principais nas quais a evoluo nos medica-mentos se baseou so a qumica, que permite modificar a estruturaqumica das molculas utilizadas como frmacos, e a farmacologia,atividade que tem por objetivo estudar onde, por que e como atuamas substncias qumicas nos organismos vivos. A capacidade tcnicapara alterar de forma controlada a estrutura qumica das substnciase o aumento do conhecimento sobre a relao entre essa estruturae a sua atividade biolgica pavimentaram a estrada que conduziu revoluo na teraputica com medicamentos. At 1930, os medicamen-tos usados na medicina eram predominantemente de origem natural,enquanto atualmente os frmacos obtidos por sntese qumica cons-tituem a maioria. A partir da dcada de 80, o arsenal de molculas comefeitos teraputicos tem sido enriquecido por produtos obtidos pelaaplicao de processos biotecnolgicos, que utilizam princpios daengenharia gentica, tais como fermentaes com microorganismosgeneticamente modificados e cultura de clulas de mamferos.
Para ser comercializado, o produto inovador precisa obterantes a aprovao das autoridades sanitrias dos pases onde servendido. A FDA (U.S. Food and Drug Administration), autoridaderegulatria americana, exige as seguintes etapas de testes paraaprovar um produto inovador:
testes pr-clnicos, realizados em laboratrio e animais, com du-rao de trs a seis anos;
testes clnicos de fase I, realizados em grupos de 20 a 80 volun-trios saudveis, com durao de um a dois anos;
testes clnicos de fase II, realizados com 100 a 300 pacientesvoluntrios, com durao de dois a trs anos; e
testes clnicos de fase III, realizados com 1.000 a 5.000 pacientesvoluntrios, com durao trs a quantro anos.
Aps a fase III, o produto recebe a aprovao da FDA paracomercializao e passa Fase IV, de acompanhamento clnico natotalidade da populao que ir consumir o medicamento. Essa fasedura de um a dois anos e s ento o produto recebe a aprovaodefinitiva.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 3-22, set. 2003
EvoluoTecnolgica
7
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
-
A cadeia produtiva da indstria farmacutica constitui-seda etapa qumica, em que so sintetizados os frmacos e os aditivos,e da etapa farmacutica, na qual se produz o medicamento final.
A etapa de sntese qumica utiliza como insumos produtosgerados na indstria qumica bsica e realizada geralmente emgrande nmero de etapas intermedirias, que podem ultrapassar 20em alguns casos. Cada uma dessas etapas gera produtos purifica-dos, para os quais h oferta de mercado e que servem como mat-rias-primas nas etapas seguintes da sntese. Portanto, a sntese deum principio ativo pode ser iniciada em qualquer um desses estgios,com a aquisio do produto intermedirio externamente, e tornar-se,conseqentemente, mais ou menos complexa. Os produtos geradosna etapa de sntese recebem as seguintes designaes:
intermedirios de sntese, que so qualquer um dos produtosgerados intermediariamente no processo de sntese do princpioativo; e
intermedirio de uso, que o princpio ativo final, a ser utilizadona produo do medicamento.
As empresas farmacuticas podem ser integradas ou noem toda a cadeia produtiva, terceirizando parte ou a totalidade daproduo qumica, mas possuem em geral a capacitao tcnicapara realizar essas atividades e constituem o elo de comando, poisdeterminam a demanda do tipo e das quantidades de frmacos eaditivos que sero consumidos.
A Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe(Cepal) apresentou, em 1987, proposta de classificao do estgioevolutivo da indstria farmacutica de um pas segundo a suacapacidade para executar um ou mais elos da seguinte cadeia deatividades:
Cadeia Farmacutica no Brasil: Avaliao Preliminar e Perspectivas
Cadeia Produtiva
EstgioEvolutivo
8
Figura 1
Cadeia Farmacutica: Nveis de Capacitao
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
-
Pases no estgio I so as naes desenvolvidas, onde hcapacidade para realizar todas as etapas de atividade da indstria,desde a pesquisa e o desenvolvimento de novas molculas at acomercializao de medicamentos. Pases no estgio IV so aquelesonde at os medicamentos finais so importados, restando s em-presas apenas as atividades de comercializao.
A competio varia de acordo com o tipo de produto. Paraprodutos patenteveis, ela ocorre, em escala mundial, por inovaodo frmaco para uma dada finalidade teraputica e por promoocomercial de marca. As principais barreiras entrada so:
a capacidade gerencial, tcnica e financeira para realizar ativida-des de P&D de novas molculas;
os direitos de exclusividade assegurados por patentes;
o poder das marcas; e
a aprovao da autoridade regulatria.
Para produtos de patente vencida (genricos), a competi-o ocorre por custos de produo (inclusive de insumos) e naestrutura de distribuio. As principais barreiras entrada so:
o acesso aquisio ou produo de frmacos; e
o acesso rede de distribuio de medicamentos.
A produo de frmacos, que viabiliza a produo de gen-ricos em caso de carncia de oferta mundial, encontra as seguintesbarreiras entrada:
o acesso tecnologia de sntese, que no usualmente disponvelpara comercializao e precisa ser desenvolvida pelo interessado,podendo os prazos de desenvolvimento variar de poucos mesesa mais de um ano, a depender da complexidade do produto e daexperincia da empresa envolvida no processo; e
a curva de aprendizado, pois, como em vrios outros setores eco-nmicos, os custos de produo de frmacos se reduzem me-dida que aumenta a produo total acumulada, razo pela qualum produtor novo, mesmo dispondo do conhecimento da rota desntese de um frmaco, obtido em escala laboratorial, ter grandesdificuldades iniciais para produzir a custos equivalentes aos dosprodutores j estabelecidos, a no ser que consiga desenvolveruma inovao de processo.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 3-22, set. 2003
Padro deConcorrncia
9
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
-
A etapa farmacutica da cadeia, de transformao do prin-cpio ativo no medicamento final, no apresenta barreiras de entradasignificativas. As competncias requeridas e os equipamentos utili-zados no processo misturadores, secadores, lavadores, granula-dores, mquinas de embalagem e outros esto disponveis paraaquisio no mercado. A principal diferenciao em relao a outrostipos de indstrias se refere necessidade de adequar as suasinstalaes s normas de Boas Prticas de Fabricao (ou GMP Good Manufacturing Practices) para obter a aprovao do rgo re-gulador.
A cronologia de alguns eventos relevantes ligados for-mao da cadeia farmacutica internacional apresentada a seguir,num breve histrico:
sculo XIX consolidao dos fundamentos cientficos e aperfei-oamento das tcnicas experimentais da qumica e da farmacolo-gia;
1869 primeira utilizao medicinal de uma substncia qumicasinttica: hidrato de cloral como anestsico;
1833, 1899, 1902 anos respectivamente da sntese, utilizaona teraputica e difuso comercial do cido acetilsaliclico comoaspirina;
1910 introduo do primeiro composto qumico, sintetizadointencionalmente por Paul Ehrlich, para combater a sfilis;
1932 sntese do primeiro antibitico da famlia das sulfas;
1934 sntese do progesterona;
1947 sntese do cloranfenicol, primeiro antibitico de largoespectro;
1940-1990 desenvolvimento e consolidao das atuais grandesempresas internacionais;
1953 descoberta dos efeitos anticoncepcionais do progesteronae decifrao da estrutura do DNA;
1980 fundao das primeiras empresas de biotecnologia;
1990-2003 redirecionamento estratgico das grandes empresas.
A moderna indstria farmacutica se ergueu sobre os ali-cerces de duas disciplinas cientficas: a qumica e a farmacologia.Na maior parte da histria da humanidade, a produo de medica-mentos se baseou na utilizao de produtos naturais vegetais, ani-
Cadeia Farmacutica no Brasil: Avaliao Preliminar e Perspectivas
CenrioInternacional
10
isoldaRealce
isoldaRealce
-
mais e minerais. Inicialmente, esses materiais eram utilizados emestado bruto, em geral como extratos de reduzida elaborao. Nosprimrdios da evoluo da qumica como cincia, a partir de princ-pios do sculo passado, foi possvel identificar e extrair os princpiosativos presentes nos extratos dos produtos naturais responsveispelos seus efeitos curativos. O passo seguinte foi a utilizao decompostos sintetizados pelo ser humano, no-existentes na nature-za e que exerciam efeitos mais potentes e inditos em relao aosnaturais.
A primeira sntese metdica e intencional de compostosqumicos para combater uma doena foi realizada em 1910 por PaulEhrlich (Prmio Nobel de Medicina de 1908), com o patrocnio daempresa qumica alem Hoechst. Ehrlich modificou, de forma inten-cional e dirigida, a estrutura de uma srie de substncias utilizadaspara combater a sfilis, os arsenobenzenos, para tentar aumentar suatoxidez contra o parasito, mantendo sua inocuidade para o hos-pedeiro, at chegar ao salvarsan e o neosalvarsan, que se tornaramreferncia no tratamento dessa doena e s deixaram de ser utiliza-dos com a introduo dos antibiticos.
A metodologia de Ehrlich, que fazia metdica e cautelosacomprovao clnica dos efeitos dos produtos que desenvolvia,serviu de base e referncia para o grande desenvolvimento posteriorde frmacos sintticos, que desde 1940 se tornaram a maioria entreos medicamentos consumidos no Ocidente. Um dos mais importan-tes impulsos para esse avano foi a descoberta dos antibiticos, coma sntese dos primeiros, da famlia das sulfas, na dcada de 30.Apesar da descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1929,essa famlia de produtos s passou a ser produzida em grande escalaa partir da dcada de 40 pela Pfizer, para atender s necessidadesda guerra.
As atuais Big Pharma, que j existiam na dcada de 40 mastinham portes bem menores, aproveitaram as oportunidades abertaspelo avano do conhecimento em sntese qumica e sua aplicaopara fins medicinais, para crescer aceleradamente, apoiadas nasseguintes aes:
forte investimento em pesquisa e desenvolvimento de novasmolculas, o que possibilitou o lanamento de grande nmero denovos produtos de sucesso em variadas classes teraputicas;
forte atuao na promoo das qualidades teraputicas dos novosmedicamentos; e
estabelecimento de plantas produtivas para a etapa farmacuticaperto dos mercados de consumo, utilizando os frmacos produzi-dos em instalaes prprias e de forma centralizada.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 3-22, set. 2003 11
-
As Big Pharma foram favorecidas em sua trajetria pelaspossibilidades oferecidas pela proteo patentria, reduzidos contro-les oficiais de preos e aceitao, pelo mercado, dos elevados preoscobrados pelos produtos inovadores, com base na premissa de quesade no tem preo, e um ambiente regulatrio menos exigente.
A partir de 1990, essas condies se alteraram. As BigPharma passaram a sofrer:
questionamentos crescentes sobre os preos cobrados pelos no-vos produtos lanados, deixando de ter a mesma facilidade ante-rior para estabelecer os preos que julgavam justo;
concorrncia de genricos, devido ao vencimento de patentes; e
maiores exigncias regulatrias, que resultaram em aumento dosprazos das pesquisas clnicas requeridas para lanamento de umnovo produto.
Diante da nova conjuntura, essas empresas adotaramnovas estratgias:
fuso, para aumentar o porte e reduzir os riscos decorrentes dosinvestimentos em P&D;
integrao vertical, mediante aquisio de empresas administra-doras de planos de sade, responsveis pelo reembolso de des-pesas com medicamentos de seus associados;
focar em suas competncias especficas, tais como determinadaclasse teraputica, ou em sistemas de liberao controlada; e
aquisio e associao com pequenas empresas de biotecnologiaintensivas em conhecimento.
A descoberta da estrutura do DNA foi o marco inicial parao desenvolvimento de uma nova gerao de frmacos, agora origi-nados de processos biolgicos que utilizam tcnicas de engenhariagentica (biofrmacos). A importncia dessa nova gerao de frmulas crescente, com taxas anuais de crescimento de 20% e 371 produtosem fase de testes pr-clnicos e clnicos nos Estados Unidos.
O mercado mundial de medicamentos estimado em cercade US$ 400 bilhes, dos quais 85% concentrados no eixo das naesdesenvolvidas Estados Unidos, Unio Europia e Japo. A AmricaLatina respondeu por apenas 4% desse total. As cinco maioresempresas farmacuticas respondem por cerca de 28% do faturamen-to da indstria Pfizer, Glaxo SmithKline, Merck, Johnson&Johnsone AstraZeneca. Os 10 medicamentos mais vendidos no mundo
Cadeia Farmacutica no Brasil: Avaliao Preliminar e Perspectivas
EvoluoRecente e
Situao Atual
12
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
-
totalizaram vendas de US$ 44,9 bilhes em 2002, 11% do total,destacando-se o Lipitor, da Pfizer, e o Zocor, da Merck, ambos parahipercolesteremia, como os lderes desse grupo.
No cenrio mundial atual, podemos distinguir dois gruposprincipais de produtores da cadeia:
o grupo das grandes empresas, detentoras da grande maioria daspatentes de frmacos inovadores; e
o grupo das empresas emergentes, especializadas na produodos frmacos com patente vencida.
O primeiro grupo cresceu e se desenvolveu utilizando comomolas propulsoras a pesquisa e o desenvolvimento de novos frma-cos e o marketing. Essas empresas foram ajudadas por uma legis-lao de patentes e uma conjuntura de relativa liberdade de preosque lhes permitiram obter elevada remunerao pelos dispndiosrealizados na pesquisa e na promoo de produtos de efeito tera-putico inovador. A atividade de pesquisa e desenvolvimento ,portanto, uma expressiva barreira de entrada no setor, devendo servista em conjunto com outras duas tambm importantes barreiras:
a existncia de patentes que protegem o resultado da pesquisa; e
a diferenciao atravs da marca, obtida por meio de intensa ati-vidade mercadolgica.
Somente empresas e pases que atuam de forma sistem-tica nesse elo detm algum controle sobre a cadeia. As grandescorporaes multinacionais possuem total poder decisrio sobre aalocao das atividades de P&D, que, normalmente, so realizadasnas prprias matrizes ou em subsidirias instaladas em pases querenam as condies de infra-estrutura necessrias atividade depesquisa e que venham ao encontro de seus interesses globais.
Outra caracterstica nesse grupo a sua elevada interna-cionalizao, que ultrapassa 40% das vendas totais.
Mesmo quando a conjuntura se tornou menos favorvel,com a instituio de controles maiores por parte de rgos pblicose privados, esse grupo de empresas teve condies de manter eainda elevar suas inverses em P&D, que atingiram os recordeshistricos de 18,2% das vendas em 2002 e valores totais, no mesmoano, de US$ 32 bilhes para as empresas sediadas nos EstadosUnidos. Um exame superficial dos valores envolvidos nessa ativida-de indica que provavelmente as remuneraes obtidas so elevadas.Os dispndios no desenvolvimento de um frmaco inovador, segun-do a PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of Ame-rica), associao de produtores americanos, atingiu US$ 800 milhesem 2002. Nenhum produto da lista dos mais vendidos vendeu menos
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 3-22, set. 2003 13
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
-
de US$ 2 bilhes por ano. Considerando prazos de explorao co-mercial de um produto com exclusividade, de cinco a 10 anos, ofaturamento total por produto atinge, no mnimo, de US$ 10 bilhesa US$ 20 bilhes durante o perodo de proteo patentria, indicandoque os custos de desenvolvimento foram facilmente amortizados.
Outro exemplo de quo bem-sucedida essa indstria,apesar do ambiente mais restritivo, est na rentabilidade mdia sobreo patrimnio lquido obtida no perodo de 1988 a 2001 por cinco dasmaiores indstrias farmacuticas americanas Merck, Eli Lilly, Pfi-zer, Pharmacia e Schering-Plough , que foi de 30% a.a., superiorao da Microsoft em 2001 (de 27%) e mdia de 21% das 500empresas integrantes do ndice Standard & Poors.
No segundo grupo de empresas, a opo de se concentrarna produo de medicamentos com patente vencida (genricos) pa-rece ter sido a mais realista, dada a defasagem em que se encontra-vam frente s empresas-lderes tanto em termos de capacitaotcnica como em recursos financeiros. A competncia principal dasempresas desse grupo reside no domnio da tecnologia de sntese deprincpios ativos, o que possibilita a cpia da maioria dos frmacos,patenteados ou no. Foram constitudas principalmente na China, nandia e na Coria do Sul como resultado de uma poltica deliberada deinsero desses pases na produo da cadeia farmacutica, assimcomo ocorreu nas dcadas de 70 e 80 na Itlia e Espanha, res-pectivamente. Essas empresas so em geral integradas produode frmacos e operam em mbito mundial, podendo-se prever quetendero a tentar ingressar nos segmentos mais lucrativos do neg-cio farmacutico, os de novas molculas, medida que cresam ese fortaleam, como j se pode depreender dos relatrios da Ranba-xy, empresa indiana com 8 mil funcionrios, faturamento de US$ 760milhes em 2002 e segunda maior produtora de genricos do mundo.
a seguinte a cronologia de eventos relevantes no Brasil,na formao da cadeia farmacutica:
dcada de 30 formao das primeiras empresas farmacuticasbrasileiras com caractersticas industriais, a partir das boticas;
dcada de 40 e 50 internacionalizao da indstria, com aspolticas de atrao das primeiras empresas multinacionais;
1971 promulgao do Cdigo de Propriedade Industrial pela Lei5.772, de 21.12.1971, que no reconhecia patentes nem de pro-dutos qumicos nem de processos de obteno, e criao da Cen-tral de Medicamentos (Ceme), rgo do Ministrio da Sadeencarregado de definir as polticas e centralizar as compras go-vernamentais de medicamentos;
Cadeia Farmacutica no Brasil: Avaliao Preliminar e Perspectivas
Cenrio Brasil
14
isoldaRealce
isoldaRealce
-
1974 elaborao da primeira Relao Nacional de Medicamen-tos Essenciais (Rename), atualizada em 1999 pela Portaria MS597/99;
1984 Portaria Interministerial n 4, dos Ministrios da Sade eda Indstria e Comrcio, que estabeleceu medidas de incentivo eproteo produo interna de frmacos;
dcada de 80 medidas diversas de controle de preos demedicamentos;
1990 reduo das tarifas de importao de frmacos e medica-mentos e eliminao das restries e proibies importao deinsumos farmacuticos;
1991 a 1999 liberao dos preos de medicamentos;
1996 promulgao da Lei de Patentes no Brasil;
1998 Portaria MS 3.916/98, estabelecendo a Poltica Nacionalde Medicamentos; e
1999 promulgao da Lei de Genricos, criao da AgnciaNacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa) e retomada da polticade administrao de preos de medicamentos.
O estmulo geral instalao de empresas estrangeiras noBrasil, uma das linhas-mestras da poltica econmica adotada nopas nos anos 50, elevou a participao dessas empresas na produ-o farmacutica brasileira de 14% do total em 1930 e 35% em 1940para 73% em 1960. As importaes, que em 1953 foram de 70% doconsumo no Brasil, reduziram-se a nveis residuais no fim da dcada,quando essas empresas passaram a produzir o medicamento finalno pas com insumos importados.
Os aspectos positivos desse movimento foram a elevaodos padres tcnicos e gerenciais da produo brasileira e a reduodrstica das importaes. J o aspecto negativo a cristalizao deuma condio de excessiva concentrao da produo em um grupode empresas cujas estratgias no pas no contemplam a realizaode atividades de inovao e que so governadas por lgicas deaquisio de insumos determinadas por suas matrizes, atravs dasquais podem praticar remessas disfaradas de lucros, por meio dospreos de transferncia desses insumos. Essa constitui praticamenteuma condio estrutural do mercado, pois em 2002, mais de 40 anosdepois, a participao das empresas internacionais no mercadobrasileiro permanece no patamar de 70% do total. Dentre as 20maiores empresas do setor, apenas quatro so de controle nacional.
O no-reconhecimento de patentes pelo Brasil, a partir de1971, estimulou as empresas brasileiras a lanarem cpias dosprodutos patenteados no pas, com a sua prpria marca, dando
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 3-22, set. 2003 15
isoldaRealce
isoldaRealce
isoldaRealce
-
origem ao denominado medicamento similar, que se anunciava comotendo efeitos semelhantes ao produto de marca, mas com custosmais baixos. A no-adeso do Brasil ao Sistema Internacional dePatentes no foi, no entanto, suficiente, per se, para estimular aproduo dos frmacos utilizados nas cpias. Os frmacos utilizadosna produo dos medicamentos similares comercializados no Brasileram importados de pases europeus, que reconheceram as paten-tes tardiamente e desenvolveram a capacitao para sintetizar c-pias dos frmacos patenteados, tais como a Itlia e a Espanha.
O esboo de uma poltica para incentivar a produo e acapacitao interna na produo de frmacos foi acelerado com aedio da Portaria Interministerial n 4, em 1984, pelos Ministriosda Sade e da Indstria e Comrcio. Essa portaria elevou fortementeas tarifas de importao e chegou a estabelecer medidas que atproibiam a importao de alguns insumos, dando origem a grandenmero de projetos de instalao de plantas de produo de frma-cos. Seus objetivos foram, no entanto, abortados nos anos 90, coma liberalizao das importaes de frmacos, e levaram interrupode vrios projetos de produo desses insumos.
Em paralelo ao esforo para incentivar a produo internade frmacos, nos anos 80 foram aplicadas medidas diversas detentativas de controle de preos de medicamentos que levaram auma condio de desabastecimento de alguns produtos considera-dos no-rentveis e a uma estagnao da indstria ao findar adcada.
Nos anos 90, observam-se movimentos paradoxais e con-traditrios cujas motivaes merecem uma anlise mais aprofun-dada. A liberao dos preos de medicamentos resultou na capitali-zao das empresas e na realizao de grandes investimentos paraa ampliao da capacidade na etapa farmacutica. Esse movimentoocorre ao mesmo tempo que as importaes so incentivadas,devido ao cmbio sobrevalorizado e reduo das tarifas de impor-tao de insumos e medicamentos prontos a zero. Outros eventosque afetaram as perspectivas da indstria na dcada de 90 foram apromulgao da Lei de Patentes, em 1996, a criao da Anvisa, em1999, e a promulgao da Lei de Genricos, tambm em 1999.
A constituio da Anvisa criou as bases para uma elevaodos padres sanitrios da produo nacional e as pr-condies paraeventuais incrementos das exportaes. J o incio da vigncia daLei de Patentes colocou um limite ao recurso de lanamento desimilares, amplamente empregado pela indstria nacional, e deverforar essas empresas a buscarem alternativas de negcios, entreas quais possivelmente se incluem atividades de inovao. Por fim,o advento dos medicamentos genricos, a partir da Lei 9.787, de10.2.1999, deve afetar no s o mercado dos medicamentos dereferncia, como tambm o dos medicamentos similares, com os
Cadeia Farmacutica no Brasil: Avaliao Preliminar e Perspectivas16
isoldaRealce
-
quais tambm concorre. provvel que em algumas empresas avenda de genricos tenha apenas deslocado as vendas de seusprprios similares de marca. Com os genricos, foi tambm aumen-tado o poder de barganha das distribuidoras de medicamentos sobrea indstria, com exigncia de descontos que podem contrabalanara reduo dos dispndios com marketing, necessria para a promo-o dos similares.
Em 2002, o mercado farmacutico no Brasil, incluindo omercado hospitalar, registrou um faturamento de US$ 5,2 bilhes,conforme apresentado na Tabela 1.
A tabela demonstra ainda que, em unidades comercializa-das, a indstria farmacutica brasileira tem apresentado, nos ltimosseis anos, persistente e preocupante encolhimento. Essa reduo doquantum vendido agravada por uma elevao substancial dasimportaes de frmacos e medicamentos prontos, observada apartir do incio da dcada de 90, sem um movimento anlogo no ladodas exportaes.
Sob o enfoque da balana comercial, a situao tambmno confortvel. A Tabela 2 mostra que, desde 1998, a cadeiafarmacutica apresenta um dficit anual em torno de US$ 2 bilhes.
Esse expressivo dficit demonstra que, em paralelo com oprprio encolhimento, o setor farmacutico se tornou intensamentedependente de importaes, que foram privilegiadas em detrimentoda produo domstica. Para exemplificar a magnitude do movimen-to, vale mencionar que, em 1990, as importaes de medicamentosprontos totalizaram US$ 212 milhes, passando, em 2002, para
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 3-22, set. 2003
EvoluoRecente eSituao Atual
17
Tabela 1
Brasil: Mercado Farmacutico Vendas Nominais(sem Impostos)
ANO VENDASEM US$ MIL
NDICE-BASE: 1994 = 100
VENDASEM MIL
UNIDADES
VARIAOPERCENTUAL
NDICE-BASE: 1994 = 100
1997 8.537.436 100 1.854.094 100
1998 8.660.434 101,4 1.814.337 -2,10 97,9
1999 6.537.763 76,6 1.778.800 -2,00 95.9
2000 6.705.678 78,5 1.697.822 -4,60 91,6
2001 5.685.430 66,6 1.640.251 -3,40 88,5
2002 5.200.494 60,9 1.614.825 -1,60 87,1
2003* 4.823.758 56,5 1.565.701 -3,00 84,4
*ltimos 12 meses mveis at junho de 2003.Fonte: Sindicato da indstria Farmacutica no Estado de So Paulo (Sindusfarma).
isoldaRealce
-
US$ 1,5 bilho. Com os farmoqumicos, o movimento foi no mesmosentido, embora com menor intensidade. Ao final dos anos 80, aimportao de farmoqumicos montava em US$ 300 milhes, cres-cendo para US$ 863 milhes em 2002.
No perodo analisado, o movimento estratgico predomi-nante nas subsidirias brasileiras das empresas multinacionais foi ode desativar suas produes locais de farmoqumicos, passando aimport-los das matrizes. Assim, salvo algumas raras excees, assubsidirias de multinacionais passaram a operar no pas somenteno terceiro e quarto estgios da cadeia, ou seja, na produo deespecialidades farmacuticas e no seu marketing. Algumas empre-sas passaram mesmo a importar os medicamentos prontos, realizan-do no pas somente a atividade comercial, correspondente ao quartoestgio. Os produtores nacionais de farmoqumicos foram afetadosde forma particularmente severa. De acordo com a AssociaoBrasileira das Indstrias de Qumica Fina, Biotecnologia e suasEspecialidades (Abifina), mais de mil plantas produtoras de produtosda qumica fina foram desativadas na dcada de 90. Desse processorestou apenas um pequeno grupo de aproximadamente 20 empre-sas, em sua maioria, de capital nacional e de portes pequeno e mdio.A Tabela 3 apresenta a estrutura da oferta nacional, a partir deestimativas do valor produzido pelos principais competidores e suasparticipaes de mercado.
No tocante produo de especialidades farmacuticas,em termos de faturamento total, o grau de concentrao baixo. As 10maiores empresas detm 38% do mercado, tendo a maior, a Aventis,6% de participao e a menor do grupo, a Bristol-Myerssquibb, 3%.
Por origem de capital, tem-se atualmente a mesma partici-pao observada desde os anos 50, de cerca de 70% a 80% porempresas internacionais.
Cadeia Farmacutica no Brasil: Avaliao Preliminar e Perspectivas18
Tabela 2
Brasil: Balana Comercial da Cadeia Farmacutica 1998-2002(Em US$ Milhes)
DISCRIMINAO 1998 1999 2000 2001 2002
Importaes 2.410 2.592 2.331 2.469 2.391Farmoqumicos 1.197 1.080 910 947 863
Medicamentos 1.213 1.512 1.421 1.522 1.528
Exportaes 412 453 411 407 432Farmoqumicos 217 221 192 165 178
Medicamentos 195 232 219 242 254
Dficit -1.998 -2.139 -1.920 -2.062 -1.959Crescimento em Relao ao AnoAnterior (%) 7 -10 7 -5
Crescimento em Relao a 1998 (%) 7 -4 3 -2
Fonte: Secex/SDP.
-
Apenas duas empresas de capital nacional se fazem repre-sentar entre os 10 maiores competidores, o Ach Laboratrios Far-macuticos e a EMS-Sigma.
O exemplo das empresas-lderes do setor farmacuticointernacional indica que a inovao em medicamentos pode trazerbenefcios para a empresa e para a sociedade como um todo, seforem tomadas medidas que harmonizem os diversos interessesenvolvidos. As empresas devem ter uma perspectiva de remunera-o pelos investimentos realizados e os governos devem estabelecerpolticas de controle de preo que limitem os ganhos excessivos, masno a ponto de desestimular os investimentos em inovao, uma vezque os medicamentos inovadores podem apresentar uma eficcia epotncia que resultam em prazos e custos totais menores de trata-mento.
Apesar dos riscos, e dos elevados prazos e valores envol-vidos, possvel concluir que o investimento em P&D de medica-mentos tem sido compensador e estratgico do ponto de vistaempresarial, contribuindo para o crescimento e o fortalecimento dasempresas e proporcionando benefcios para os pases onde estosediadas, tais como a gerao de divisas, criao de empregosqualificados e aumento de renda.
No Brasil, o estmulo s empresas nacionais para realizaratividades de P&D sempre foi muito reduzido. A possibilidade deproduzir e comercializar cpias dos produtos patenteados no exterior proporcionada pela no-adeso do pas ao Sistema Internacionalde Patentes desde 1971 at 1996, em conjunto com a inexistnciade uma poltica industrial para o setor, a instabilidade econmicacrnica, as reduzidas exigncias regulatrias de ento e a persistenteadoo de polticas de controle de preos casusticas e sem qualquerbase tcnica levou as empresas brasileiras a no investirem em
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 3-22, set. 2003
Diagnstico,Perspectivase PropostasPreliminares
19
Tabela 3
Produo de Farmoqumicos no Brasil: Mercado eParticipaes das Principais Empresas (2002)
RANKING EMPRESAS FATURAMENTO(US$ Milhes)
PARTICIPAONO MERCADO (%)
1 a 5 ABL, Novartis, Globe, Cristliae Nortec 323 39,6
6 a 12 Formil, Libbs, Microbiolgica,Sintefina, Labogen, PVP e KinMaster 184 22,6
Outros 308 37,8
Total 816 100,0
Fonte: Associao Brasileira da Indstria Farmacutica (Abiquif).
isoldaRealce
-
inovao. Segundo recente estudo realizado pelo Instituto de Pes-quisas Econmicas Aplicadas (Ipea), o gasto em P&D das empresasfarmacuticas paulistas 70% inferior ao gasto mdio das empresasindustriais.
O caminho trilhado pela ndia e China, de especializaona produo da cadeia de genricos, incluindo-se os frmacos, foiuma opo que envolveu menos riscos e requereu menos recursos,condio bem apropriada s condies econmicas desses pasese na qual o Brasil poderia ter se includo. Atualmente, China e ndiaproduzem frmacos a custos to reduzidos que provavelmente noser compensador tentar imit-los.
Quais sero ento as perspectivas para as empresas bra-sileiras? Seu porte e sua experincia so reduzidos para as exign-cias de desenvolvimento de frmacos inovadores. A produo degenricos pode ser uma sada, mas esbarra mais uma vez no portee na grande diversificao do portflio de produtos dessas empresas,o que torna pouco provvel que consigam obter uma insero inter-nacional, mesmo nessa linha de produtos. Seria ainda possvel re-verter a situao atual de drenagem de divisas, empregos e rendaque o setor provoca ao pas? As impresses preliminares que pude-ram ser extradas das leituras dos textos indicados na bibliografia enos contatos com empresas e instituies pblicas e privadas apon-tam para algumas constataes:
o ambiente institucional e econmico da atualidade no Brasil,embora ainda muito difcil, o mais favorvel inovao na reafarmacutica do que o foi em qualquer outra poca;
o pas conta com ncleos com suficiente competncia para seremmobilizados em programas e polticas bem articulados de recupe-rao e desenvolvimento do setor;
a inovao compensa e pode ser um bom negcio para o pas epara as empresas, mas necessrio ter capital, capacidade degerenciamento de projetos de P&D voltados a objetivos comer-ciais e correr os riscos inerentes atividade para colher seusfrutos;
h uma capacitao cientfica de boa qualidade, disponvel nopas, para o desenvolvimento de frmacos, embora essa capaci-tao ainda no tenha se traduzido em bens e servios geradosinternamente;
as empresas de controle nacional possuem porte excessivamentereduzido e experincia insuficiente para as exigncias financeirase tcnicas de desenvolvimento de uma molcula inovadora;
os vrios agentes pblicos e privados envolvidos na cadeiafarmacutica agem, em geral, de maneira isolada e com poucacoordenao e integrao;
Cadeia Farmacutica no Brasil: Avaliao Preliminar e Perspectivas20
-
a etapa farmacutica apresenta uma situao anmala em que seobserva uma combinao de elevada capacidade ociosa comelevadas importaes;
as poucas empresas ainda produtoras de frmacos no pas en-contraram nichos de mercado em que obtiveram elevada compe-titividade e deveriam ser incentivadas e estimuladas a expandir osatuais e a buscar novos nichos nos quais pudessem atingir com-petitividade e escala internacionais;
eventuais medidas de apoio ao setor deveriam atender preferen-cialmente aos itens constantes da Relao Nacional de Medi-camentos Essenciais, para evitar o incentivo ao consumo ex-cessivo e desnecessrio de medicamentos, contribuindo paraotimizar os custos da sua utilizao em tratamentos de sade; e
quaisquer polticas que venham a ser estabelecidas para o setordevem no s levar em considerao as potencialidades e interes-ses de todos os vrios agentes envolvidos, mas tambm estarsubordinadas ao interesse maior do pas, e no apenas ao desegmentos, grupos ou interesses pontuais, evitando, dessa forma,os erros do passado, que conduziram ao atual estado de es-tagnao e fragmentao.
LEE, Steven. Global pharmaceuticals Winning strategies in themajor manufacturing markets. Financial Times Pharmaceuticaland Healthcare Publishing, 1995.
KOROLKOVAS, Andrejus e BURCKHALTER, Joseph H. Qumica farma-cutica. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Dois, 1998.
ENCICLOPDIA FAMILIAR DA SADE. Clube Internacional do Livro, 1996.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO CODETEC. Relat-rio final sobre o setor farmoqumico: estudo, anlise e projeesfuturas. Campinas, 1992.
QUEIROZ, Sergio R. R. O setor farmacutico/farmoqumico brasileiroe as mudanas institucionais dos anos 90. Cepal, 3.8.95.
FRENKEL, Jacob. Estudo da competitividade de cadeias integradasno Brasil: impacto das zonas de livre comrcio Cadeia farma-cutica. Campinas, Unicamp, dezembro de 2002.
MAGALHES, L. G.; SAFATLE, L.; e LEAL, J. Diretrizes para uma polticaindustrial para medicamentos e farmoqumicos. Rio de Janeiro,Ipea, 2003.
A SURVEY OF BIOTECHNOLOGY. The Economist, March, 29th, 2003.
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 18, p. 3-22, set. 2003
RefernciasBibliogrficas
21
-
DRUG PRICES-WHATS FAIR? Business Week, December 10, 2001.
KUSCHINSKY, Gustav e LULLMANN, Heinz. Manual de farmacologa.Barcelona, Editorial Marn.
MEDICI, Andr Cezar; BELTRO, Kaiz Iwakami; e OLIVEIRA, FranciscoEduardo Barreto de. A poltica de medicamentos no Brasil. Rio deJaneiro, Ipea, maro de 1992.
Cadeia Farmacutica no Brasil: Avaliao Preliminar e Perspectivas22