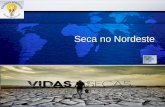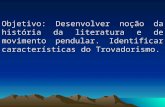Entre o Real e o Imaginário: história, literatura e identidade pensando identidade e alteridade na...
Transcript of Entre o Real e o Imaginário: história, literatura e identidade pensando identidade e alteridade na...
-
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282)
Entre o Real e o Imaginrio: histria, literatura e identidade Elisabete Peiruque
UFRS
A Histria constitui para a sociedade atual um dos fundamentos mais importantes da memria coletiva e, por conseguinte, da identidade.
Jos Mattoso
Resumo: O texto constitui um estudo sobre o romance de Lobo Antunes e a reviso da Histria pela literatura, contrapondo-o brevemente com os romances da primeira fase de Jos Saramago. Atravs da histria de uma famlia, o autor representa a realidade do colonialismo em uma Angola independente, porm destruda pela guerra. Pela memria de quatro personagens, a trama romanesca desenrola-se ao longo de 15 anos, apresentando os horrores da guerra colonial e o regime desumano que a antecedeu bem como os dramas pessoais dos colonizadores que lutam para no perderem seu lugar na sociedade colonizada da frica, ainda que conscientes de viverem da explorao dos nativos. Pela voz de uma das personagens, l-se o mea culpa portugus, uma auto-acusao que desmente de vez qualquer idia que queira resgatar o colonialismo. Abstract: The text is a study about Lobo Antunes romance O esplendor de Portugal and the history revision. The author represents through family story the colonialism reality in Angola, now an independent country but destructed by the war. By the four personages memory, the horror fifteen years war story appears by showing the truth about colonial society. In same time its possible to understand the personal problems of the colonizer and their fight do not loose the power that they know its natives men exploration. There is a Portuguese mea culpa. Palavras-chave: colonialismo, identidade, Histria, literatura. Key-words: colonialism, identity, History, literature. Mots-cls: colonialism, identit, Histoire, littrature Palabra clave: colonialismo, identidad, historia, literatura
Refletir sobre o passado das naes e o que a Histria registrou dele
quase uma necessidade neste nosso tempo de situaes irreversveis na
-
Elisabete Peiruque
descaracterizao das culturas nacionais como resultado do processo de
globalizao da economia. As identidades culturais nacionais em perigo - ou
tendo-o como ameaa no horizonte - acionam nacionalismos e geram imaginrios
que sero representados pela literatura, muito especificamente pelos romances.
Tal fato traz tona as relaes Histria e fico, o que permite pensar romances
contemporneos como textos que reescrevem a Histria dita oficial.
O ttulo do presente texto remete para uma reflexo sobre uma das
vertentes da literatura portuguesa no ps 25 de abril, quando o pas ibrico
emerge para o contexto europeu e mundial - depois de dcadas de isolamento - em
meio ao processo j acelerado da economia globalizada representada na Europa
pela, hoje, Unio Europia. Essa a situao a ser enfrentada por todos os pases,
situao que envolve uma reviso do passado apreendido pela Histria, e que
tambm permite compreender o surgimento ou ressurgimento de movimentos
nacionalistas baseados em etnias ou diferenas de fundo s vezes lendrio. Ao
mesmo tempo, o repensar a identidade leva a repensar a questo da alteridade
ignorada no regime colonial de que Portugal foi o ltimo remanescente. A
realidade do colonialismo, vindo luz cada vez com mais intensidade aps a
descolonizao, ocasiona uma virada no pensamento europeu, porque impera uma
conscincia pesada, segundo Marc Ferro. Para ele, o anticolonialismo agora
ocupa todos os espaos (...) assim, por uma exigncia ltima de orgulho, a
memria histrica europia atribui-se um derradeiro privilgio, este de denegrir
suas prprias atrocidades, de avali-las ela mesma com uma intransigncia
excepcional (1996, p. 11). toda uma maneira de pensar, refletida na teoria e na
fico, diferente daquela que fazia do colonizador um conquistador digno de
admirao, quando no de piedade pelo meritrio sofrimento (idem). Ou do que
se dizia do cidado ingls da passagem do sculo, isto , que vivia euforicamente e
sem constrangimentos a realidade de pertencer a um Imprio em expanso no
qual o sol jamais se punha. Nesse sentido, a nova postura para um passado to
prximo - memria ainda viva para muitos que dele participaram -,
curiosamente, uma conseqncia positiva disso que se afigura como uma
conjuntura da qual no se sabe, com certeza, os rumos. O que se observa o fim
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282)
267
-
Entre o Real e o Imaginrio: histria, literatura e identidade
de uma conspirao de silncio em torno da verdade colonial (Bhabha, 1998,
p.177), no qual a literatura tem papel preponderante. O caos econmico e poltico
que, at hoje, dificilmente, as ex-colnias tm conseguido superar, alm da
destruio das suas tradies culturais, justifica a acusao para os primeiros
conquistadores e para as geraes seguintes de colonizadores. Esses encobriam o
fato de que a frica negra no era o que faziam crer: um territrio de indivduos
animalizados com a finalidade de legitimar os atos de invaso e dominao. As
potncias colonizadoras ignoraram, intencionalmente, o fato de que na frica
havia estados organizados e algumas formaes estatais, para no falar de pases
como Egito e Tunsia aos quais foi imposta a categoria de protetorado. Como, se o
fato de se tratar de sociedades tribais, como eram alguns casos, pudesse
desculpar a desumanidade da explorao.
Como as demais naes europias j vinham vivenciando, Portugal, com o
25 de abril, experimenta a dupla situao que a necessidade de salvaguardar as
suas tradies culturais e o passado que lhe d unidade, bem como a realidade
dos efeitos da descolonizao, j constatados para alm de suas fronteiras. Na
primeira, partilhada de modo geral no mundo globalizado, coloca-se a questo que
Eduardo Loureno define como no a identidade propriamente dita, mas a sua
perturbao, algo que s aparece quando ferido na sua essncia (1994, p. 9).
Quanto segunda, e agora especificamente em relao a Portugal, a
descolonizao surgiu de forma gritante com a grande leva de retornados da
primeira hora, em fuga das colnias independentes, posteriormente acrescida
pela leva dos soldados e dos ex-colonizados. Esses, em busca de uma
sobrevivncia tornada quase impossvel nos seus pases dilacerados pela guerra
interna, passam a integrar o que hoje o panorama de um mundo marcado de
maneira indelvel pelas grandes migraes ps-coloniais. No havia, pois, como
no tomar conhecimento do que havia sido o Imprio portugus. Boa parte da
obra de Lobo Antunes, j a partir de seu primeiro romance, desvela a realidade
que gerou a guerra colonial e as conseqncias da independncia nas colnias.
Pessoas que viveram o tempo da ditadura e do chamado Imprio do seu
depoimento, afirmando no haver entre o povo portugus a conscincia de
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282) 268
-
Elisabete Peiruque
constituir tal Imprio. Essa imagem, veiculada pela propaganda do regime do
Estado Novo, talvez conseguisse ocultar para a grande maioria o que significava
realmente a presena de Portugal na frica, alis, nada diferente da de outros
pases colonizadores. Foi a guerra, enviando milhares de jovens para lutar, que
trouxe luz a realidade da colonizao. O personagem de Versos satnicos reitera
essa idia quando afirma a respeito dos ingleses que o seu problema est em que
a histria para eles se fez no alm-mar, da eles no saberem o que ela significa
(apud Bhabha, 1998, p. 26).
As reflexes a seguir amparam-se, pois, na conjuntura que devolveu a
liberdade a Portugal, suas relaes, a partir da, com a questo
identidade/alteridade - problema gerado pela economia em escala planetria - e
suas representaes literrias. Assim sendo, o estudo far uma abordagem do
romance de Lobo Antunes, O esplendor de Portugal, e pelo fato da obra tratar de um passado recente da histria deste pas, ser mencionado como contraponto o
romance de Jos Saramago intitulado Histria do cerco de Lisboa, j que esse autor tambm usa a Histria na criao ficcional. Ambas as obras constituem,
atravs de um dilogo e do entrelaamento da histria com a literatura, o verso e
o reverso de uma mesma situao, discursos no antagnicos, mas
complementares, representativos de um imaginrio de identidade e seu
contraponto de alteridade, imaginrio esse desencadeado pela nova configurao
do mundo. Os dois escritores, ao falarem metaforicamente da questo candente
da identidade nacional e seu corolrio, extrapolam os limites da questo em
Portugal, e suas obras constituem leituras do que o mundo de nossos dias.
Quanto a Saramago, como se sabe, a escrita de Memorial do Convento tambm recupera o passado histrico de Portugal. E a guerra colonial que, de acordo com
o escritor Joo de Melo, marcou toda uma gerao em Portugal, veio a ser tema
de inmeras obras, das quais possvel lembrar do prprio Joo de Melo,
Autpsia de um mar de runas e o belssimo conto de Jos Cardoso Pires, Por
cima de toda a folha.
de se observar num primeiro momento, a ironia presente nos ttulos,
ainda que com diferentes conotaes. Histria do cerco de Lisboa no Histria,
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282)
269
-
Entre o Real e o Imaginrio: histria, literatura e identidade
mas, sim, a sua ficcionalizao irnica, uma pardia, naquele sentido que lhe
confere Linda Hutcheon, isto , uma repetio que aponta a diferena no mago
da semelhana (1991, p. 47). E a ironia do esplendor aponta para as duas
direes: dominando as colnias, Portugal poderia ter sido economicamente forte,
frente aos demais pases europeus, como o imprio ingls ou o francs, por
exemplo, o que se sabe no ser verdade, por ser exatamente o oposto, ou seja, era
um dos pases mais pobres da Europa, com um ndice absurdo de analfabetismo.
E o que sustentava a falsa idia de Imprio era uma misria cruel, marcada por
atrocidades e explorao.
A temtica da Histria encontra lugar e receptividade conta de um novo
panorama poltico. Jos Mattoso, quando fala da identidade portuguesa, sublinha
os novos horizontes que se abriram com a mudana do regime na sociedade
portuguesa, fato que envolve o final do proclamado Imprio e a realidade dura de
uma economia abalada pela guerra nas colnias. Havia, alm disso, a suposta
poltica atlntica que isolou o pas do resto da Europa como se isso representasse
uma deciso livre e no a conjuntura que se criou. Diz Jos Mattoso: Foi preciso a democratizao da sociedade portuguesa, e a perda das
colnias para que o passado deixasse de ser visto como um tempo glorioso ou como uma idade de ouro. A Histria passou, ento, a poder narrar um passado real, com ganhos e perdas, com avanos e recuos, fidelidades e traies, sucessos e insucessos, unanimidades e contradies; e apesar de tudo como um passado constitutivo da coeso nacional, pelo simples fato de ser um passado comum e de resultar de uma experincia em conjunto ou tornada memria coletiva (2001, p.104).
Em outros termos, esse passado a herana recebida. Para bem ou para
mal.
A necessidade de rever o passado para projetar o futuro implica, pois,
aceitar o passado registrado pela Histria, agora desmitificada de glrias
inventadas ideologicamente. E mais adiante, j sem a censura do regime que
perseguia qualquer ato ou palavra que sugerisse comunismo, foi a aceitao da
verdade do que era a frica portuguesa, talvez veiculada primeiramente pela
literatura em textos, por exemplo, como o conto de Cardoso Pires j mencionado,
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282) 270
-
Elisabete Peiruque
de 1978. A revelao seguir-se- mais tarde atravs dos documentos levantados
para a construo da Histria. Pense-se tambm na literatura dos escritores
angolanos e moambicanos como Pepetela e Mia Couto, por exemplo.
Ainda pensando identidade e alteridade na Histria resgatada pela
literatura, em Saramago, a Histria vista pelo avesso atravs de intervenes
do narrador e falas dos personagens que deixam evidentes os mecanismos
ideolgicos aos quais sempre esteve presa. Saramago faz da Histria uma fico e
introduz-lhe aquilo que intencional inveno para mostrar a subjetividade do
historiador e, assim limpar o passado, neste caso, o portugus, de feitos gloriosos
fabricados. Em Lobo Antunes, a histria brota das malhas da fico, e em suas
narrativas ficcionais ocorre propriamente o resgate da histria - resgate como
denncia -, uma vez que o que est frente do texto, inversamente ao romance de
Saramago, uma histria recente feita de violncia, de guerra pelo poder, de
vinganas pelas humilhaes infinitas, atravs da qual se conhece a verdade do
colonialismo. Ambos do conta do momento de transformao em Portugal - mas
no s - e o que dele se espera.
Os romances de Saramago, construdos para dar uma idia de oralidade,
uma pseudo-oralidade por assim dizer, no teriam passagem durante a ditadura,
pela sua ironia cortante contra a Igreja, sempre associada ao poder. Quanto a
Antnio Lobo Antunes, igualmente seria barrado pela censura conta da
denncia que o romance constitui porque, atravs de suas narrativas
fragmentadas, recupera a memria viva da histria portuguesa prxima, repetida
em alguns dos romances seguintes de maneira quase obsessiva, num registro de
memria que tambm aponta para o papel da Igreja durante a ditadura. Em Lobo
Antunes a memria de fatos muito prximos, sentidos ainda com o calor da
emoo. Saramago rel a histria num momento em que a prpria disciplina
enfocada sob outra tica, no mais aquela positivista, a dos documentos
sacralizados como tais. Aquele cumpre o papel defensor da memria trgica para
que o esquecimento no permita a repetio da histria de cujas conseqncias
tambm Portugal ainda se ressente.
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282)
271
-
Entre o Real e o Imaginrio: histria, literatura e identidade
Um breve passeio pelo romance de Saramago servir para pensar mais
detidamente o outro romance. Com uma crtica para a escrita da Histria, que
ao mesmo tempo um olhar para o passado portugus cuja viso estagnada no
sculo XVI fez o pas parar, Saramago integra-se pela via esttica nova postura
frente ao fazer histrico. Fazendo fico e no Histria, ainda que amparado em
documentos, o autor representa o imaginrio de identidade pelo passado
rememorado. So vrias as passagens do romance em que ele, de maneira
metafrica, solapa a Histria oficial, j que sua narrativa ataca ironicamente a
questo das fontes de que se serve o historiador, o trabalho de seleo que
inegavelmente faz parte do seu ofcio e dos acrscimos - fices - que ele,
necessariamente, faz, ao preencher o discurso por uma lgica que tambm fruto
de sua subjetividade.
Marc Ferro, na sua Histria das colonizaes, fala numa contra-histria
que vem aparecendo como resposta a isso que se pode ver como nivelamento
cultural e que torna o mundo cada vez mais igual, sem que isto signifique uma
real igualdade social. Se, da ideologia do colonialismo resultou a imagem
falsamente construda de um ato civilizatrio que a Europa concedia aos povos
selvagens, o que ocorre com a mundializao imperialista tem efeitos mais ou
menos semelhantes, talvez a mais longo prazo. O que Ferro chama de
uniformizao do conhecimento histrico - com a mdia intervindo no processo -
tambm danoso porque pode terminar por pasteurizar o passado colonial
tornando-o normal, palatvel. (...) hoje h africanos que consideram que os
resultados da tutela colonial no foram to nefastos quanto se pensou, diz Marc
Ferro (1996, p.216). Poder-se-ia acrescentar a palavra j antes do verbo
considerar, para assinalar quo fcil esquecer o passado. Igualmente Edward
Said chama a ateno para alguns intelectuais do Terceiro Mundo - felizmente,
diz ele, muitssimo raros - que, frente ao caos posterior descolonizao,
atribuam aos seus prprios povos as culpas, recordando que a situao pr-
colonial j era pssima e que os nativos haviam retornado a ela. (1995, p. 53).
Tais idias terminam por atenuar carter malfico do colonialismo. Marc Ferro
mostra a contra-histria como a resposta das sociedades destrudas que buscam a
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282) 272
-
Elisabete Peiruque
sua verdade e em relao a algumas em especial diz: Por muito tempo, a tradio
oral e depois o filme foram as formas mais eficazes para divulgar essa contra-
informao. (...) para que se perceba claramente que cada sociedade gera sua
prpria contra-histria, diante da uniformizao do conhecimento histrico,
(1996, p. 402). Certamente a literatura produzida nas ex-colnias portuguesas
coloca-se nesse mesmo nvel, mas tambm, e curiosamente, pode-se dizer o
mesmo daquela produzida fora pelos que tiveram e tm na memria a imagem
real do que era o Imprio. Uma solidariedade, uma conscincia crtica da parte de
quem presenciou o colonialismo faz com que um escritor portugus assuma
ironicamente o ponto de vista do ex-colonizador, para dar conta da posio do ex-
colonizado.
Dessa maneira, o conceito de contra-histria pode ser aplicado ao romance
de Lobo Antunes. Mais especificamente, romances como O e plendor de Portugal so elementos que contribuem para a construo da contra-histria do
colonialismo - e assim a sua Histria -, de forma semelhante quela que fez do
romance histrico de Herculano um dos agentes construtores do nacionalismo
portugus.
s
Em primeiro lugar e de modo amplo, o romance vai destruir a idia de
civilizao que aparecia como a bandeira do colonialismo, substituindo aquela da
evangelizao l no distante sculo XVI. O meu pai costumava explicar que aquilo que tnhamos vindo procurar em frica no era dinheiro nem poder mas pretos sem dinheiro e sem poder algum que nos dessem a iluso do dinheiro e do poder que de fato ainda que o tivssemos no tnhamos por no sermos mais que tolerados, aceites com desprezo em Portugal, olhados como olhvamos os bailundos que trabalhavam para ns e portanto de certo modo ramos os pretos dos outros da mesmo forma que os pretos possuam os seus pretos e estes os seus pretos ainda em degraus sucessivos descendo ao fundo da misria... (p.255)
Essa a voz de Isilda, a mulher branca que decide salvar o patrimnio ou o
resto dele ficando na frica convulsionada pelas guerras internas. Marc Ferro
reitera tal posio representada literariamente, quando se refere aos cidados
que se tornaram colonizadores, os quais no teriam acesso s mesmas vantagens
e no poderiam ter enriquecido da mesma maneira em seus pases de origem
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282)
273
-
Entre o Real e o Imaginrio: histria, literatura e identidade
(1996, p. 96). Quem era o colonizador ou colono? Isilda responde: Quando um dia
lhe perguntei no escritrio a razo de ter vindo para Angola respondeu que se
ficasse em Portugal continuava a bater autos mquina numa esquadra, que em
Malanje comandava o grupo de brancos e de cipaios a que chamavam polcia sem
ningum lhe pedir contas (1996, p.305).
O romance, uma srie de quadros em tempos diversos, narrados como um
entrelaamento do presente com o passado pela via da associao de idias, d
conta do regime e do que o motivou. Relembrar, diz Bhabha, nunca um ato
tranqilo de introspeco ou retrospeco (1998, p. 101). Todo o romance
marcado por uma memria dolorosa, ningum feliz com o que lembra, porque,
na verdade, esse passado foi cruel, a conscincia constantemente - habilmente -
sufocada em relao ao que era o sistema colonialista. Isilda ser a representao
do esboo de arrependimento que se capta quando diz percebe-se perfeitamente
que tm medo de ns na sua inocncia infantil sem orgulho (p. 359)?
Iniciativa das potncias europias em busca de poder, umas contra as
outras, isto proporcionou os desmandos de iniciativas privadas, de tal forma que
se pode pensar quase em um sistema feudal no qual o proprietrio era senhor de
vida e morte dos que estavam sob a sua tutela e mando. A ausncia de um
controle por parte da metrpole, se que houve um dia tal inteno, permitiu
desmandos a que a PIDE, j na guerra colonial, deu toda a fora. Enriquecer
explorando, sem nenhuma punio a atos de abuso de poder, era a lei no escrita.
O governador aconselhava-nos a enterrar os cadveres - sobretudo que no se
saiba nos jornais, sobretudo que no se saiba no estrangeiro (p. 309), l-se em O esplendor de Portugal. Pode-se imaginar que, se havia documentos que pudessem denunciar as arbitrariedades do regime, esses teriam sido destrudos. Da a
importncia da literatura - desse romance - para guardar na memria o que o
tempo poder apagar.
Choca a qualquer um o que se l em textos da poca do incio do
colonialismo. Conforme Hctor Bruit (1994), de um certo padre Muller, em
palavras transcritas por um francs, doutor em filosofia, tomista e defensor do
colonialismo de seu pas: A humanidade no deve, nem pode aceitar mais que a
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282) 274
-
Elisabete Peiruque
incapacidade, a negligncia, a preguia dos povos selvagens deixem
indefinidamente sem emprego as riquezas que Deus lhe confiou com a misso de
utiliz-las para o bem de todos (p. 12). De Albert Sarrault: Em nome do direito
de viver da humanidade, a colonizao, agente da civilizao, dever tomar a seu
encargo a valorizao e a circulao de riquezas que possuidores fracos detenham
sem benefcio para eles prprios e para os demais (p. 11). De Edmond Desmolins:
Quando uma raa se mostra superior a outra nas manifestaes da vida cultural,
de modo inevitvel, termina por dominar a vida poltica e impor, de modo
permanente, sua superioridade (p. 9). No romance, o personagem Rui descreve
uma sala de aula, para brancos obviamente, onde se v um letreiro Somos o
facho da civilizao (p. 216). O que hoje se chama lavagem cerebral pode ser
aplicado ao que se fez ao negro, levando-o a internalizar a inferioridade que lhe
era atribuda pelo colonizador branco. Para Homi Bhabha, a criana negra
afasta-se de si prpria, de sua raa em sua total identificao com a positividade
da brancura que ao mesmo tempo cor e ausncia de cor (1998, p.118).
Percebe-se uma ambigidade que no possvel esconder sob o propsito
dito civilizador. a conscincia falsa da superioridade da raa que aparece para
justificar o que veio a ser efetivamente a explorao total das colnias. A atitude
dos governos, endossada por intelectuais, contribuiu para a explorao em nvel
individual e organizado, que, talvez sem aquela, no tivesse existido. No ter que
dar contas a ningum, como diz o pai de Isilda. E essa, no seu monlogo: (...) a erva das campas contava uma histria muito antiga de gente e bichos e assassnios e guerra que eu no entendia por medo de entender, segredando sem parar a nossa culpa, acusando-nos - que injustia - de termos chegado como gatunos, inclusive os missionrios, os cultivadores, (...) a erva das campas repetindo mentiras que o meu pai aconselhava tapando-me as orelhas no escutes. [Ou] as ervas sobre as campas como se segredassem que a minha famlia e a famlia antes da minha tinham chegado como salteadores e destrudo a frica (p.79).
Hctor Bruit, ao se referir guerra dos boers, deixa evidente a natureza
do colonialismo, onde uma fachada oficial encobria interesses privados: sombra
do imperialismo ficaram os povos e a terra africana cobertos de sangue e misria
(p. 28).
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282)
275
-
Entre o Real e o Imaginrio: histria, literatura e identidade
O suposto interesse de educar que em si seria trazer o ensino
representado numa passagem do romance, mostrando a falsidade do projeto
colonial: o cabinda escrevendo no portugus ensinado na misso numa cubata
(...) o padre a perguntar nomes de cidades que no veria nunca (...) - o teu nome
assim faz as letras do teu nome para o senhor administrador ver (p.87). Marc
Ferro v a questo do ensino das lnguas dos colonizadores e suas conotaes ao
longo do processo colonial:
O estudo das lnguas e sua evoluo so reveladores. Comparemos. Primeira etapa: na colnia, o francs, o ingls ou o espanhol s aprendem a lngua nativa para mandar mais. Segunda etapa: hesitam em ensinar aos indgenas a cultura metropolitana, temendo aguar-lhes demasiado a curiosidade. Terceira etapa: anglo-saxes, franceses, russos e sobretudo soviticos, difundem o ensino de suas prprias lnguas para perpetuar sua superioridade tcnica, poltica e cultural (1996, p. 396).
Portanto, e pelo que se sabe sobre a ignorncia em que os negros foram
mantidos, o ensino era aparncia, quando chegava a isso.
A contra-histria que o romance de Lobo Antunes ajuda a construir
desmistifica a igualdade racial, desmentida pelos acontecimentos de 1961, como
lembra Marc Ferro, agora referindo-se especificamente a Portugal. Em 1967, cita
as palavras de Franco Nogueira, ministro dos Negcios Estrangeiros: S ns, antes de todos os outros levamos frica a idia de diretos humanos e igualdade racial. S ns praticamos o multirracialismo, a expresso mais perfeita da fraternidade entre os povos. Ningum no mundo contesta a validade desse princpio, mas hesita-se um pouco em admitir que uma inveno portuguesa, e reconhec-la faria crescer nossa autoridade no mundo (p. 169).
Discurso salazarista, em plena guerra colonial, infere-se que somente a
censura poderia calar o resto e deixar passar isso que elogio ditadura e uma
mudana do discurso racista que antes aparecia claramente. A citao que est
em Marc Ferro suscita o comentrio sobre a orgulhosa catilinria: no uma
declarao improvisada. A idia que ela transmite est bem arraigada na
conscincia histrica dos governantes portugueses. Como os tempos so outros,
no se invoca a superioridade racial, mas, sim, uma igualdade sempre
inexistente. Bhabha, ao falar dos ingleses na ndia dizia que o que se queria era
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282) 276
-
Elisabete Peiruque
indianos anglicizados, o que sublinhava enfaticamente o no ser ingls (1998,
p.132). Quase o mesmo, mas no brancos (p.135). Lobo Antunes coloca a
situao na trama romanesca: as cabanas dos escravos entre o jardim e o rio,
junto ao mrmore dos crocodilos na areia, os escravos a quem - embora
continuassem escravos - chamvamos portugueses de cor (p. 109). Carlos, um
dos personagens narradores, um mestio bastardo, adotado pela mulher do
engenheiro alcoolizado, seu pai e marido de Isilda. Sua descoberta de que preto,
apesar da pele clara, o desprezo de que alvo por parte da av materna e dos
irmos, aponta para a atitude com que olhavam o negro e os mestios, esses,
resultado do desrespeito mulher negra: meus irmos me desprezam, a minha
mulher que pela primeira vez reconheceu-me a cor e desprezou-me tambm, e
digo que me reconheceu a cor por no cessar de examinar-me... (p. 94). Tu s
preto a idia que no cessa de atormentar Carlos, esse representante de - mais
uma - das conseqncias do colonialismo, que, em Lisboa se torna um traduzido.
Esse o nome que Robins (apud Stuart Hall) d queles que saem de seu pas em
busca da sobrevivncia e no conseguem retornar, no sabendo mais exatamente
quem so, o que so. Carlos no portugus, no africano, odeia Angola, mas
no quer esquec-la. O regime colonial embaralhou as peas e ops brancos e
negros, brancos e brancos e, pior que isso, ope negros contra negros na sua
prpria terra. O negro que trabalhava para o branco de forma menos visvel de
escravido justiado pelos outros. Esse o caso de Fernando, o criado que usava
libr nos jantares dos brancos e a respeito de quem o bispo diz a Isilda: o
trabalho que lhe deve ter dado. Sua morte descrita de modo brutal: o
Fernando de joelhos no terrao golpeado pelas botas das tropas, as coronhadas na
cara (p. 111), esse Fernando que era preto para os brancos e branco para os
pretos. A literatura pe abaixo qualquer mentira sobre igualdade racial. Isilda
recorda o passado quando a madrinha lhe disse. tu e essa preta nojenta e
suspeitei pela primeira vez que a Maria da Boa Morte e eu no ramos iguais por
a minha madrinha no me chamar de preta nojenta, suspeitei que ela era inferior
a mim (p.133). E mais adiante sinceramente ignoro [porque] a minha me (...)
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282)
277
-
Entre o Real e o Imaginrio: histria, literatura e identidade
quando estava a morrer chamou uma bailunda de sandlia de plstico (...)
trocando-me por uma mulherzinha de senzala (p. 227).
A estrutura do romance, para alm de seus muitos narradores em tempos
diversos, tem a ser salientado como marca da inteno de denncia o fato de que
tais narradores so sempre os brancos, brancos nascidos na frica que se
consideram europeus. Carlos, mestio que est no meio das vozes brancas, sofre a
situao de maneira diversa. O interesse que radica nessa escolha de
personagens - europeus, mesmo que nascidos na frica -, prende-se ao fato do
autor, solidrio como j foi dito, aparentemente querer evitar um
sentimentalismo que teria efeitos diversos. Seu romance se acrescenta aos
produzidos por autores africanos. O romance choca - e essa parece ser a inteno
clara, visvel -, por mostrar a - nova? - viso europia, a viso condenatria de um
regime criado pelo europeu em que o Outro, o nativo, foi ignorado em funo de
uma diferena biolgica, cor de pele, cabelos, por exemplo.
Os nativos - e no s os negros, mas tambm os asiticos - so vistos pela
tica do colonizador como desonestos e imbecis, termos que se espalham pelo
romance, dando conta de uma postura de superioridade da raa conquistadora;
um colonizado s serve para roubar ou para faltar o respeito com o branco
colonizador. Homi Bhabha fala na imagem de nativo litigioso, mentiroso que
estava no centro das legislaes coloniais (1998, p.148) e completa em outra
passagem de seu estudo, afirmando que o colonizador fabricava a justificativa
para o poder nas colnias na negao ao colonizado da sua capacidade, entre
outras, de civilizar-se (p. 127). A supremacia cultural produzida apenas no
momento da diferenciao, segundo Bhabha (p. 64), o que permite inferir que
pela palavra proferida do alto de um estgio cultural diverso que se controla, que
se domina. O colonialismo queimou as etapas de desenvolvimento do Outro, do
nativo, atropelando irremediavelmente a sua histria, nas palavras de Sartre
(1961). Diz o pai de Isilda: no entendemos Angola mesmo tendo nascido em
Angola (...) este presente sem passado e sem futuro em que o passado e o futuro
se incluem desprovidos de qualquer relao com as horas, os dias, a medida
aleatria dos calendrios, quando o nico calendrio a chegada e a partida dos
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282) 278
-
Elisabete Peiruque
gansos selvagens (p. 259). O tempo do eterno retorno das culturas arcaicas foi
ignorado.
Marc Ferro faz notar que a grande maioria dos filmes africanos trata da
decadncia dos africanos vtimas do colonialismo depois da descolonizao (1996,
p. 231). esse o centro do romance de Lobo Antunes. Ao contar o caos depois de
vinte anos da independncia de Angola est trazendo luz o que o foi o antes.
Seu mrito, alm da maneira muito prpria com que narra, est em projetar
tambm para o futuro a sua denncia. Falando do passado, mostra que o
presente contm o grmen do que est por vir. E aponta o caminho da
recuperao da identidade dos ex-colonizados, caminho difcil certo. Franz
Fanon reitera esta posio, considerando-a de importncia crucial (apud Bhabha,
p. 29), ainda que advirta sobre os perigos da fixao nos mitos do passado pr-
colonial que podemos imaginar como uma fragilidade em relao ao mundo na
sua nova face. Said, quando fala da guerra do Golfo, atenta sobre aquilo que o
romance faz esteticamente: Duas idias bsicas foram nitidamente retomadas do passado e ainda
exercem influncia. Uma delas era o direito da grande potncia de salvaguardar seus interesses distantes, chegando mesmo invaso militar; a segunda, que os povos das potncias menores eram inferiores, com menos direitos, menos princpios morais, menos reivindicaes (p. 70).
Numa situao em que mesmo entre as grandes potncias h
interdependncia, coloca-se a questo de autonomia e soberania e da fragilidade
dos ex-colonizados. Nas palavras do romance: incendeiem-me a debulhadora por
conta dos americanos, dos russos, dos franceses dos ingleses, dos que mandam
(p.290). E h que pensar que as estruturas implantadas pelo colonialismo esto
fortes e talvez muitas vezes no percebidas pelos ex-colonizados. , no mnimo,
curioso que no Egito a cada ano se faa representar a pera Ada de Verdi que
um smbolo da dominao. Comentando os efeitos do colonialismo, Edward Said
sublinha sua interveno nociva nas vidas pessoais e coletivas em ambos os lados
da divisria colonial. E afirma Fanon: O preto escravizado por sua inferioridade,
o branco escravizado por sua superioridade, ambos se comportam de acordo com
uma orientao neurtica (apud Bhabha, p. 75). Se o que aconteceu durante a
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282)
279
-
Entre o Real e o Imaginrio: histria, literatura e identidade
vigncia do regime foi terrvel, mais terrvel ainda se tornou pelos restos que
deixou, feridas incicatrizveis.
O que se sabe sobre o gnero romance permite ver a obra de Lobo Antunes
como a que revela o seu momento. Ainda que sem o compromisso ou a inteno de
copiar a realidade, o romance uma forma cultural incorporadora, de tipo
enciclopdico, para usar a definio de Said (1995, p. 109). E, se representou o
pensamento imperialista durante a vigncia do regime colonial, tem-se hoje o
romance que representa a sua negatividade. O arrependimento - que se infere do
que Marc Ferro v na atitude da intelectualidade europia hoje - est
representado muito cedo j nos primeiros romances de Lobo Antunes, a literatura
cumprindo o papel de preencher os espaos em branco, pois, como observa Vargas
Llosa no seu ensaio sobre o romance, aquela diz o que o historiador no pode
dizer (1990, p. 18). Mesmo procurando a verdade mais prxima do que aconteceu
no passado, o historiador deve ater-se aos documentos, e sensibilidades so
ignoradas porque no registradas em documentos oficiais.
Ao destacar apenas as vozes dos brancos, o autor refora a sua posio a
favor dos negros humilhados uma vez que o relato desses brancos - indivduos
de uma mesma famlia da qual faz parte um mestio - que mostra a crueldade do
regime em contraposio ao silncio dos africanos colonizados; o silncio da
humilhao que faz Isilda contar a sua atitude. O comandante da polcia erguia
a chibata ou encostava-lhes a pistola ao ouvido e um silncio sem queixas (...) no
protestando, no se revoltando, pedindo-nos desculpa da maada de os
castigarmos (p. 359). Em O esplendor de Portugal, o branco colonizador que se
acusa como ator do processo colonial, que conta as suas atrocidades, essas,
inevitavelmente, geradoras de outras atrocidades na hora da revolta: dezenas e
dezenas de brancos com os testculos, as orelhas, os narizes enfiados na garganta
(p. 210). A posio colonialista mais se refora - para ser condenada - quando a
narrativa chama a ateno para as mortes dos brancos, como se fosse injustia,
enquanto a morte dos negros pelos maus tratos, pela explorao no trabalho
parece fazer parte normal da vida: uma fazenda (...) lavrada por luchazes
comprados mais barato (...) e portanto ainda piores e com mais doenas do que as
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282) 280
-
Elisabete Peiruque
avantesmas que tnhamos, o meu pai vinha (...) espica-los com o basto sem
acreditar em desculpas de paludismo e diarrias (p. 204).
Said comenta certas posies a respeito do colonizador e do regime colonial
que dizem que para entender o sujeito colonizado somente outro colonizado.
Apontando-as como falsas, ele diz que (...) em decorrncia disso, provavelmente
defenderemos a essncia ou a experincia em si, em lugar de promover o
conhecimento dela (...) Por conseguinte, transferiremos a experincia diferente
dos outros para uma posio inferior (1995, p. 65). Nesse sentido, que est o
valor do romance de Lobo Antunes. Sua fala de certa forma - mas de forma
diferente - tem mais fora que aquela que emerge do ex-colonizado.
Numa espcie de reao em cadeia, os nacionalismos fortalecidos pela
problemtica da identidade permitiram ver o Outro e sentir que a ele deve ser
devolvida a sua identidade roubada. O personagem Carlos lembra
contraditoriamente a frica. uma maneira de metaforizar a busca da
identidade daquele que tem suas razes l.
Verifica-se, pois, que a presena da Histria pode estar na literatura
portuguesa contempornea - e mundial - desconstruda pela ironia, como ocorre
no romance de Jos Saramago ou, como em O esplendor de Portugal, onde se v a memria a clamar pela Histria e sua reviso para que o esquecimento no deite
seu vu sobre a vergonha do passado. Lembre-se mais uma vez a literatura
portuguesa contempornea como aquela que fala para o mundo porque
resultado de um mundo onde os problemas so os mesmos, e as solues so
procuradas.
Referncias Bibliogrficas
ANTUNES, Antnio Lobo. O esplendor de Portugal. 2 ed. Lisboa: Publicaes
Don Quixote, 1997.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte, Editora da UFMG, 1998.
BRUIT, Hctor H. O imperialismo. 14 ed., So Paulo: Atual, 1994.
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282)
281
-
Entre o Real e o Imaginrio: histria, literatura e identidade
FERRO, Marc. Histria das colonizaes das conquistas s independncias -
sculos XIII a XX. So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. 3 ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 1999.
LLOSA, Mario Vargas. La vrit par le mensonge. Paris: Gallimard, 1990.
LOURENO, Eduardo. Ns e a Europa ou as duas razes. Lisboa: Imprensa
Nacional Casa da Moeda, 1994.
MATTOSO, Jos. A identidade nacional. Lisboa: Gradiva, 2001.
SARAMAGO, Jos. Histria do cerco de Lisboa. So Paulo: Companhia das
Letras, 1989.
SARTRE, Jean-Paul. In: Prefcio FANON, Franz. Os condenados da terra. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 1961.
Revista Eutomia Ano I N 01 (266-282) 282