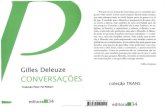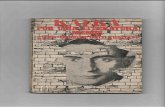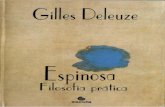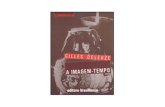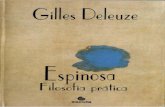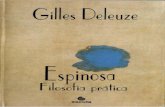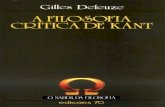PENSAMENTO-MÚSICA E A FILOSOFIA DE GILLES DELEUZE‡ÃO... · PENSAMENTO-MÚSICA E A FILOSOFIA DE...
Transcript of PENSAMENTO-MÚSICA E A FILOSOFIA DE GILLES DELEUZE‡ÃO... · PENSAMENTO-MÚSICA E A FILOSOFIA DE...

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTES E CULTURA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE
PATRÍCIA BIZZOTTO PINTO
PENSAMENTO-MÚSICA E A FILOSOFIA DE GILLES DELEUZE
Ouro Preto 2017

Patrícia Bizzotto Pinto
PENSAMENTO-MÚSICA E A FILOSOFIA DE GILLES DELEUZE
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estética e Filosofia da Arte do Instituto de Filosofia, Artes e Cultura, da Universidade Federal de Ouro Preto, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre. Linha de Pesquisa: Estética e Filosofia da Arte Orientadora: Profª. Drª. Cíntia Vieira da Silva
Ouro Preto 2017

Catalogação: www.sisbin.ufop.br
B625p Bizzotto Pinto, Patrícia. Pensamento-música e a filosofia de Gilles Deleuze [manuscrito] / PatríciaBizzotto Pinto. - 2017. 135f.:
Orientador: Profª. Drª. Cíntia Vieira da Silva.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto deFilosofia, Arte e Cultura. Departamento de Filosofia. Programa de Pós-Graduaçãoem Estética e Filosofia da Arte. Área de Concentração: Filosofia.
1. Deleuze, Gilles, 1925-1995. 2. Música . 3. Ritmo. 4. Pensamento. 5.Criação. I. Vieira da Silva, Cíntia. II. Universidade Federal de Ouro Preto. III.Titulo.
CDU: 1:78


Pro meu pai, pensador-ouvinte assíduo e generoso

AGRADECIMENTOS
A todos com quem pude conversar, criar, tocar, compor, dividir espaços, casas,
ideias, “cafés”, dúvidas, angústias, livros, filmes, músicas e silêncios, desde quando
comecei esta pesquisa, permeada de golpes, absurdos e tropeços.
Aos mais próximos - com quem convivo intensamente -, pelo imediato e por tudo.
Ao Gilson Iannini, pela força e incentivo desta pesquisa desde o seu começo.
À Cíntia Vieira, minha orientadora, por todos os momentos de paciência, de risos,
de carinho e pela escuta estimulante, respeitosa e atenta de todo percurso deste trabalho.
À CAPES e aos governos Lula e Dilma pelo incentivo e fomento às pesquisas dos
brasileiros e dos residentes no Brasil.
Ao Thiago Borges, por assumir (com carinho e humor singulares) boa parte da
revisão e da formatação deste texto.
À professora Virgínia Figueiredo, por incentivar a colaboração e trânsito livres nas
universidades públicas e receber de forma acolhedora pesquisadores de outras
comunidades acadêmicas nos laboratórios e grupos de estudo em filosofia da UFMG.
À Fundação de Educação Artística – colegas e alunos – com quem pude
experimentar e trocar algumas ideias sobre pensamentos-música.
A todos da comunidade IFAC – professores, colegas e funcionários - com quem
pude conviver em Ouro Preto, mesmo que rapidamente, ao longo dos dois anos. Agradeço,
principalmente, ao Guilherme Paoliello, por todos os estímulos.
À Nathália Fragoso, pelo convite a Pulsações e suas decorrências. Ao Matthias
Koole, por sua persistência com as Quartas de Improviso (e por ter me incentivado a
participar).
À cidade de Belo Horizonte, por suas ruas, por aquilo que ela tem de mais
acolhedor, surpreendente e político.

(...) c’est l’idée que le temps et l’espace forment une unité (...).
Autrefois, on pensait en catégories musicales telle que la polyphonie, la mélodie,
l’harmonie, etc. Je pense en structures et formes musicales dans lesquelles le temporel est
conçu en fait de manière spatiale – comme si tout était présent en même temps.
György Ligeti
(“Changement de paradigme des années quatre-vingt”, 1988)

RESUMO
Esta dissertação pretende apresentar a ideia de um pensamento-música. Ela parte da
filosofia de Gilles Deleuze – desde algumas primeiras publicações, como Diferença e
Repetição, até obras em parceria com Félix Guattari, como Mil Platôs, Kafka - por uma
literatura menor e O que é filosofia? – sob uma perspectiva estética e sua relação com o
musical e o sonoro. Pretende-se investigar, dentro desta perspectiva, a relação e os limites
entre o sonoro-musical, a sensação, a criação e o pensamento. Para tanto, foram rastreados,
no contexto do encontro de Deleuze com as artes e de seu encontro com Félix Guattari, a
incidência (articulações, modulações, relações de vizinhança) de conceitos que na
perspectiva desta dissertação entendem-se como “musicais”. Tais conceitos são aqui
analisados e discutidos junto com a noção de movimento do ato de pensar/sentir/criar,
compondo um plano que problematiza de forma subjacente alguns limites da filosofia.
Palavras-chave: Gilles Deleuze, música, dinamismos espaço-temporais, ritmo, diferença,
repetição, filosofia, criação, pensamento-música.
RÉSUMÉ
Ce mémoire de master cherche à présenter l’idée d’une pensée-musique. On part de la
philosophie de Gilles Deleuze – depuis ses premiers ouvrages, comme Différence et
Répétition, jusqu’aux œuvres écrites avec Félix Guattari, comme Milles Plateaux, Kafka –
pour une littérature mineure et Qu’est-ce que la philosophie ? – sous une approche
esthétique et son rapport avec le musical et le sonore. On prétend investiguer, dans cette
perspective, le rapport et les limites entre le sonore-musical, la sensation, la création et la
pensée. Pour cela, il a été investigué l’occurrence (c’est à dire, les articulations, les
modulations, les rapports de voisinage) de concepts qui selon la perspective de ce mémoire
sont-ils entendus comme « musicaux ». Tels concepts sont ici analysés et discutés à partir
de la notion de mouvement de l’acte de penser/sentir/créer, en composant, ainsi, un plan
qui problématise de manière sous-jacente certaines limites de la philosophie.
Mots-clés : Gilles Deleuze, musique, dynamismes spatio-temporels, rythme, différence,
répétition, philosophie, création, pensée-musique.

LISTA DE FIGURAS
Fig. 01 Sessão A de Pulsações (2015), para piano preparado e luz, de Nathália Fragoso Rossi ............................................................... 31 Fig. 02 Exemplo de um rallentando “simétrico”........................................... 32 Fig. 03 Exemplo de um rallentando “assimétrico”, desigual......................... 33 Fig. 04 Panasz, em Für kinder (1908-1909), Vol. I/II, de Béla Bartók......... 122

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ................................................................................................. 11
1 PENSAMENTO-MÚSICA ........................................................................ 14
1.1 Introdução de um pensamento-música ........................................................ 14 1.2 Deleuze e a música ...................................................................................... 16 1.3 Ritmo, velocidades e lentidões .................................................................... 20 Exemplo: Velocidades e lentidões na peça Pulsações,
de Nathália Fragoso Rossi .............................................................. 30 1.4 Clusters e dissonâncias ................................................................................ 34 1.5 Caos, catástrofe, material-força, plano de composição ............................... 35 1.6 Pequenas impressões particulares sobre audiovisual, imagético,
sonoro e a confusão das multimídias ........................................................... 48 1.7 Sensação, regimes de signos, corpo, pensamento......................................... 51 1.8 Lembranças... Lembranças e devires... Devir-música ................................. 70 2 ALGUNS PONTOS DE ANÁLISE PARA
A PERGUNTA “O QUE É FILOSOFIA?” ............................................. 73
2.1 “O que é filosofia?” ...................................................................................... 73 2.2 Diferença e Repetição .................................................................................. 76 2.3 Dois, vários ou um só método?
Desterritorialização e dramatização no pensamento nômade ...................... 84 2.4 De novo: (...). E o corpo .............................................................................. 99 3 O TEMPO E OS TERRITÓRIOS: O RITORNELO ............................ 109 3.1 Tempo, espaço, movimento ........................................................................ 109 3.2 A emancipação do tempo ............................................................................ 110 3.3 Territórios, agenciamentos, expressão: a geografia sonora do ritornelo .... 116 CONSIDERAÇÕES FINAIS 125
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 130

11
APRESENTAÇÃO
Esta dissertação parte da intercessão entre música e filosofia. Dizemos intercessão
pois o objeto (se é que podemos definir, assim, nestes termos) que pretendo analisar parece
se localizar naquilo que se pode dizer ser filosófico e musical, ao mesmo tempo. O
contexto de elaboração desse objeto é móvel ou talvez dubio. É o risco que se corre quando
nos encontramos nos domínios transdisciplinares e interdisciplinares. Evitarei usar estes
dois termos. São empregados neste trabalho esta única vez. Falaremos de intermezzos,
entre meios. Entre filosofia e música pode-se ter a sensação de que o trabalho se encontra
insuficiente de um lado e do outro. Todavia, o que se procura aqui é de alguma forma
percorrer, deslocar, ir e vir, confluir fronteiras que separam o território em dois lados.
Partimos, essencialmente, dos trabalhos de Gilles Deleuze, filósofo francês do
século XX. Nesse sentido, pode-se dizer que nos situamos mais na filosofia do que na
música. Assim, considero a possibilidade de que parte dos leitores deste trabalho serão
não-músicos (ou músicos, sem saber que os são). Espero ter “dado a pensar” e tornado
algumas das noções musicais aqui trabalhadas próximas e acessíveis, de alguma maneira.
O trabalho pretende apresentar a ideia de um pensamento-música. Pensamento-
música começa no encontro de uma perspectiva da filosofia de Deleuze em sua relação
com o musical e o sonoro; essa perspectiva, diremos já de uma vez, resumidamente, é
aquela que configura a lógica da diferença e da repetição. Para tanto, será analisada uma
parte do encontro de Deleuze com as artes, bem como alguns conceitos trazidos por ele,
que, ao nosso ver, estão em consonância com certas musicalidades. O debate sobre a noção
de movimento subjaz toda a pesquisa e nos servirá como uma espécie de ponto nodal
recorrente.

12
Assim, no primeiro capítulo, denominado “Pensamento-música”, serão
apresentadas ao leitor algumas problemáticas e noções que irão compor um plano sonoro-
musical com a filosofia de Deleuze, tendo em vista a constituição de seu conceito da
multiplicidade e da diferença e a sua formulação sobre o conceito de sensação.
Esboçaremos, assim, uma primeira leitura sobre as noções de dinâmica e de cinética no
pensamento desse autor. Nesse capítulo, o leitor irá perceber a incidência quase incessante
de outras vozes - compositores, músicos, matemáticos, pesquisadores, acadêmicos. Elas
vão constituir boa parte da bibliografia secundária desta dissertação.
No segundo capítulo, o pensamento-música estará subjacente a uma localização da
filosofia, enquanto objeto de pesquisa, mais explícita e emergente. A música e a análise da
musicalidade na filosofia de Deleuze traçarão, de maneira mais abstrata talvez, outros
lugares possíveis para a pergunta perseguida pelo filósofo ao longo de sua trajetória, a
saber, “o que é filosofia?”.
Expressões relacionadas ao menor (isto é, relacionadas às ideias de intensidade,
imperceptível, molecular, micropolifonia, ruídos indesejados, escapulidas) estarão
presentes em toda a dissertação. O sentido de menor é compreendido através do conceito
de desterritorialização e em sua ligação imediata com o político. É por este viés que menor
remete ao micro, ao molecular, aos devires.
No terceiro capítulo, retornaremos à superfície o pensamento-música, em uma
espécie de ritornelo, ou coda, do que fora discutido nos capítulos anteriores. É um capítulo
breve e em certa medida conclusivo. A este capítulo foi dado o nome de: “O tempo e os
territórios: o ritornelo”.
Trouxe para a dissertação alguns exemplos musicais e situações da vida para nos
auxiliarem na formação de algumas críticas. Não pretendo formular nenhum tipo de
censura com esses exemplos, tampouco traçar um caminho de redenção, mas, muito antes,

13
compartilhar impressões vividas ao longo da pesquisa e tentar dividir um processo de
elaboração. Alguns destes exemplos estão nas notas de pé de página desta dissertação, que
ocorreram de ser muitas.

14
1. PENSAMENTO-MÚSICA
1.1 Introdução de um pensamento-música
Muito provavelmente, as expressões “pensamento-(...)” nasceram depois do curso
que Deleuze deu sobre o cinema, em 1984, intitulado “Cinema e Pensamento”, década em
que ele publicou os dois tomos: A imagem-movimento - Cinema I (1983) e A imagem-
tempo - Cinema 2 (1985). Dentro de uma densidade de questões que Deleuze buscou
aprofundar com o cinema, o curso de 1984 parece ter tido como eixo central a
problemática da imagem do/no pensamento - tema que já o perseguia desde os anos 1960,
quando ele publicou, em um só ano, Lógica do Sentido e Diferença e Repetição, em que
aparecem submersas questões sobre o pensamento em si mesmo, a duração, o movimento e
o corpo. De “Cinema e Pensamento” para um pensamento-cinema. Em uma entrevista
dada em 1986, sobre Foucault, Deleuze conta que vê a obra foucaultiana como um amplo
projeto sobre o ato de pensar e considera que, em seus últimos livros, Foucault passa a
pensar a existência não sob uma perspectiva do sujeito, mas, usando uma expressão de
Nietzsche, como uma obra de arte: “esta última fase é o pensamento-artista”1. De qualquer
forma, o que interessa nas formulações “pensamento-arte” é uma premissa de que há uma
operação de pensamento que é construída com/nas artes e que as artes, às suas maneiras,
nos forçam a pensar. Isso motivou minha pesquisa sobre a possibilidade de um
pensamento-música, uma vez que a música é, comparando grosseiramente às artes visuais,
“sem imagem”. Em determinado momento da pesquisa, encontrei um livro que havia
1 DELEUZE, Gilles. Conversações. “A vida como obra de arte”. Trad. Peter Pal Pelbart. – São Paulo: Editora 34, 2013 (3a edição). (Coleção TRANS), pp. 123, 124.

15
acabado de ser publicado, organizado por Pascale Criton (compositora e ex-aluna de
Deleuze), intitulado, justamente: Gilles Deleuze, o pensamento-música 2.
A maior dificuldade em uma pesquisa em filosofia sobre pensamento-arte a partir
da obra de Deleuze se encontra, ao meu ver, em uma tendência de se concentrar a pesquisa
na primazia de um possível conteúdo filosófico dos artistas, ora parafraseando seus
escritos, ora restringindo-se à leitura que Deleuze faz deles. Esse procedimento pode ter a
sua utilidade em determinados momentos, mas acaba se distanciando um pouco da arte,
isto é, as músicas, as pinturas, os filmes, mesmo que estes possam estar ali, como
inspirações subjacentes. Para além disso, noto que alguns filósofos leitores de Deleuze
incorrem nisso que eu vejo como uma armadilha. Ao buscarem traçar paralelos, em uma
pesquisa sobre Deleuze e música, entre o pensamento do filósofo e o do compositor Pierre
Boulez, por exemplo, restaurando o que este último escreveu sobre música, à sua época,
retornam a Deleuze, entendendo o seu pensamento sob um princípio de semelhança e
identidade. Por este motivo, busquei pesquisar junto com o pensamento deleuziano,
incluindo as suas obras com Guattari e textos de seus leitores, pesquisas de compositores e
outros artistas atuais, ainda vivos, que produzem com a história da música do século XX as
suas próprias pesquisas e pensamentos musicais, como por exemplo Silvio Ferraz e os
colegas Nathália Fragoso Rossi, Igor Reyner, Mário Del Nunzio, entre outros; na tentativa,
assim, de escapar de uma análise estritamente comparativa em favor da criação de zonas de
vizinhança e confluências.
Assim, de uma maneira geral e ainda introdutória, pressupõe-se uma estreita
relação entre a arte, mais especificamente a música, e o lugar da filosofia deleuziana, no
âmbito da crítica do pensamento representativo e de sua “imagem dogmática”. Essa
intercessão entre arte e pensamento como forma de crítica à autoridade da representação já
2 Org. CRITON, Pascale. CHOUVEL, Jean Marc. Gilles Deleuze, la pensée-musique. CDMC: Paris, 2015.

16
se esboçava em Deleuze desde seus primeiros trabalhos, como em Nietzsche e a filosofia,
publicado em 1962. O que está em jogo para Deleuze é, justamente, um pensamento
forçado a pensar, isto é, movido por forças intensivas, e que possa, só assim, engendrar
sensibilidades e conceitos intempestivos e inatuais, tentando por essas vias uma abertura
para a escuta de outras racionalidades, dos devires-imperceptíveis da história3.
A musicalidade que pretendemos analisar no pensamento filosófico de Deleuze
possui mais de um sentido. Como pressuposto, Deleuze faz uso de determinados conceitos
provindos do léxico musical como parte do seu vocabulário filosófico, como por exemplo:
ritmo, ressonância, dissonância, melodia, ritornelo, timbre. Nota-se, para além disso, uma
tentativa de incorporação de tais conceitos na expressão do seu pensamento, na maneira de
empreender parte de sua atividade enquanto filósofo... Pensamento-música seria, por um
lado, destinado a pensar operações musicais a partir da música, isto é, sobre a música e,
por outro, um interesse àquilo que a música “coloca em movimento no pensamento”4. De
algum modo, esses dois sentidos parecem funcionar bem juntos.
1.2 Deleuze e a música
Sabemos que ao longo de sua vida Deleuze teve um grande interesse pela música e
pelos problemas musicais. Algumas pistas biográficas mostram que, em determinado
momento de seu denso percurso filosófico, o até então ouvinte de Edith Piaf e do famoso
Bolero, de Maurice Ravel5, passou a pesquisar música de forma mais intensa e imersiva,
3 « O pensador exprime assim a bela afinidade entre pensamento e vida: a vida fazendo do pensamento algo ativo, o pensamento fazendo da vida algo afirmativo. Essa afinidade em geral, em Nietzsche, não aparece somente como o segredo pré-socrático por excelência, mas também como a essência da arte ». DELEUZE, Gilles. Nietzsche et la Philosophie. Paris: PUF, 1983. (6a ed.), p.116 (Tradução minha). 4 Expressão de Pascale Criton em Gilles Deleuze, la pensée-musique, p. 10 (“Avant-propos”). 5 DOSSE, François. Gilles Deleuze e Félix Guattari: biografia cruzada. Trad. Fatima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2010.

17
como parte de sua investigação e metodologia filosóficas. Para tentar entender alguns
conceitos musicais, Deleuze se aproximou de alunos compositores e instrumentistas (como
a compositora Criton), produzindo com os seus seminários encontros diversos para debates
e diálogos sobre a música6. Passou a frequentar o repertório da música de concerto,
incluindo a escuta e leituras de textos de compositores maduros, contemporâneos a ele, tais
como Olivier Messiaen e Pierre Boulez, para citar alguns. Notamos, portanto, que o
interesse de Deleuze pelas problemáticas ditas musicais parece ter sido progressivo,
acompanhando, de certa forma, toda sua pesquisa sobre demais produções artísticas
(literatura, teatro, cinema, pintura).
Então, mesmo não tendo escrito nenhuma obra específica sobre música, Deleuze
incorporou, ao longo de sua trajetória, diversos conceitos musicais. Em sincronia com o
aprofundamento de suas investigações, estes furtos também se deram de maneira
progressiva. Talvez a suspeita de um percurso progressivo com música na obra de Deleuze
proceda, para além de sua “biografia”, da análise de Anne Sauvagnargues em seu livro
sobre Deleuze e a arte (Deleuze et l’art). A autora propõe uma panorâmica sobre a questão
da arte na obra de Deleuze que percorre um itinerário, um tanto quanto polêmico – pois
cronológico –, que parte primeiramente da literatura (momento em que Deleuze escreve
sobre Zola, Tournier e publica Proust e os signos e Apresentação a Sacher-Masoch);
depois, dedica-se à crítica da interpretação e à lógica das multiplicidades (a partir do
encontro com Guattari e a “virada pragmática do pensamento” com Anti-Édipo, Kafka,
Artaud, Rhizome e Superpositions, com o ator, dramaturgo e cineasta Carmelo Bene); e,
um terceiro momento, quando, a partir de Mil platôs, Deleuze se consagra, segundo
6 Segue link de um registro de uma aula sobre Leibniz e a harmonia, dado em Vincennes, em 1987, com a participação de Pascale Criton que à época pesquisava o cromatismo, assunto que tornou-se de significativo interesse para Deleuze: https://www.youtube.com/watch?v=_JBMX6uECxc (último acesso em fevereiro de 2017).

18
Sauvagnargues, à questão da “semiótica da imagem” e da criação artística7. O que
percebemos, com Deleuze et l’art, é que há uma espécie de progressão da filosofia de
Deleuze com a arte que se sustenta por um eixo que parte do discursivo ao não discursivo,
às artes não discursivas, por assim dizer. Desde seu encontro com Guattari, a tensão entre
discursivo e não discursivo é percorrida pelo estatuto da interpretação em defesa de uma
semiótica do assignificante (como parte, certamente, de toda crítica dos dois à
psicanálise)8. Assim, poderíamos dizer com outras palavras, ainda sob a elaboração de
Sauvagnargues, que o primeiro período da filosofia deleuziana inaugura uma reflexão
sobre a imagem do pensamento. No segundo período, com o encontro com Guattari e os
escritos de Artaud, Deleuze constitui uma crítica à linguística, transformando o estatuto da
literatura; vale lembrar que é neste momento que ele escreve Lógica da sensação, a lógica
do signo não discursivo, dos “traços assignificantes”9. Depois disso, seus trabalhos se
concentrariam, de acordo com Sauvagnargues, em torno do problema da criação (nas artes,
nas ciências, nas filosofias), quando a semiótica da imagem toma toda a sua importância.
7 SAUVAGNARGUES, Anne. Deleuze et l’art. Paris. PUF. 2009. 8 DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol.1. Trad. Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. - São Paulo: Ed.34, 2007, p. 85: “Assim como há expressões assemióticas ou sem signos, há regimes de signos assemiológicos, signos assignificantes, simultaneamente nos estratos e no plano de consistência. Tudo o que se pode dizer sobre a significância é que ela qualifica um regime, nem o mais interessante, nem o mais moderno ou atual, simplesmente talvez mais pernicioso, mais canceroso, mais despótico que os outros, por ir mais fundo na ilusão”. DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 3. Trad. Aurélio Guerra Neto. - São Paulo: Ed.34, 1999, p. 24: “Tomemos agora o estrato de significância: aí ainda, existe um tecido canceroso da significância, um corpo brotando do déspota que bloqueia toda circulação de signos, tanto quanto impede o nascimento do signo assignificante sobre o "outro" CsO. Ou então, um corpo asfixiante da subjetivação que torna ainda tanto mais impossível uma liberação porque não deixa subsistir uma distinção entre os sujeitos.” DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 4. Trad. Suely Rolnik. - São Paulo: Ed.34, 2008, p. 72: “Devir imperceptível quer dizer muitas coisas. Que relação entre o imperceptível (anorgânico), o indiscernível (assignificante) e o impessoal (assubjetivo)?”. DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 2. Trad. Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. – Rio de Janeiro, Ed.34, 1995, p. 81, nota de pé de página de número 53: “Semiotize você mesmo, ao invés de procurar em sua infância acabada e em sua semiologia de ocidental”. 9 “Pois essas marcas, esses traços são irracionais, involuntários, livres, ao acaso. Eles são não representativos, não ilustrativos, não narrativos. Mas não são significativos nem significantes de antemão: são traços assignificantes. São traços de sensação, mas de sensações confusas (as sensações confusas que trazemos ao nascer, dizia Cézanne) ”. DELEUZE, Gilles. Francis Bacon - Logique de la sensation. Paris. Seuil, 2002 (L’ordre philosophique), p. 94. (A versão brasileira que esta dissertação usa é a de Annita Costa Malufe e Silvio Ferraz, documento extraído da internet, sem referências. Algumas citações do original são traduzidas por mim. (p. 51, Malufe e Ferraz).

19
Mas, curiosamente, é neste mesma fase que Deleuze dedica, com Guattari, todo um platô
ao conceito de ritornelo, este “cristal de espaço-tempo”, “sonoro por excelência”10.
Alguns outros comentadores de Deleuze salientam que tenha sido justamente a
partir de seu encontro com Guattari que os seus trabalhos tenham se dirigido de forma mais
assumida às artes e à criação, quando ele escreveu as suas duas obras sobre o cinema, uma
sobre a pintura, outras sobre o barroco, sobre Verdi, sobre Beckett e, finalmente, O que é
Filosofia?, de novo em parceria com Guattari, em que o tema da criação se estabelece
como ponto nodal. Para além disso, o que notamos é que tal encontro de Deleuze com a
arte, concomitante ao seu encontro com Guattari, coincide com um trabalho mais explícito
e assumido sobre política.
No entanto, o presente trabalho não considera que a força de um pensamento resida
necessariamente no grau de “explicitez” sobre a coisa a qual se deseja pensar. Acreditamos
que o alcance de um pensamento é engendrado polifonicamente e muitas vezes se faz ali,
em uma dissonância ou outra, nos microtons, nos “sons indesejados” trazidos com o acaso.
Talvez seja sob tal perspectiva, a da lógica de um devir-imperceptível (devir que não é
menos intensivo, ressoante e propositivo), que Deleuze leia alguns filósofos ilustres,
constrangendo algumas consonâncias da história da filosofia11.
Considero que seja sob essa mesma perspectiva, a de uma micropolifonia, digamos
assim, que Deleuze “frequente” alguns pintores, dramaturgos, músicos, cineastas,
escritores. De qualquer forma, na pesquisa sobre o encontro da filosofia de Deleuze com a
música, os trabalhos em parceria com Guattari não exercem necessariamente uma
10 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, pp.166-167. 11 Em mais de uma passagem Deleuze reivindica um estatuto às ideias obscuras na filosofia (lugar de um “sem fundo”, do caos, da crise, de uma instabilidade) à primazia das ideias iluminadas, « claras e distintas », sentido de Verdade para Iluminismo. Mas, para além desses termos, falaremos mais adiante nesta dissertação sobre o papel da dissonância atribuído por Deleuze, e por Guattari, na efetivação da consistência (dos planos, dos ritornelos, das criações). A dissonância presente nos “acordos discordantes”, nos devires-imperceptíveis, nas sínteses disjuntivas, nas polifonias, nas heterogêneses, nas multiplicidades.

20
primazia. Pois, por mais que Deleuze tenha escrito sobre ritornelo, sobre o devir-música,
Messiaen e os personagens rítmicos, Schumann, Boulez, o liso e estriado, Varèse, etc. só a
partir de 1980, nota-se que desde o começo, ainda na década de 1960, Deleuze investiga o
problema da duração, da multiplicidade, do movimento e da repetição (e da diferença,
conceito fundamental), com Espinosa, Proust, Bergson, Simondon, Uexküll, Nietzsche... A
provocação de um pensamento-música também se localiza nos limites de tais problemas,
uma vez que eles são preciosos para música. Portanto, embora seja perceptível que
Deleuze tenha em determinado momento se apaixonado pela música, convocando-a para
suas investigações mais profundas, não adoto plenamente a leitura de Sauvagnargues, de
uma progressão da filosofia de Deleuze. Em 68, ano em que ele também escreve Lógica do
sentido, Deleuze publica Diferença e Repetição, obra que, na perspectiva do presente
texto, reúne e condensa muito do que propõe o “pensamento deleuziano”, as suas filosofias
(como adota Sauvagnargues), ou a sua filosofia12.
1.3 Ritmo, velocidades e lentidões
É isso que é a velocidade relativa do pensamento. A razão exige que haja um ritmo do pensamento (…). Mais uma vez, isso vai muito mais longe do que dizer-nos: « O pensamento toma tempo ». O pensamento toma tempo, Descartes o teria dito, eu lembrei disso da outra vez, Descartes o teria dito. Mas o pensamento produz velocidades e lentidões e ele mesmo é inseparável de velocidades e lentidões que ele produz. Existe uma velocidade do conceito, existe uma lentidão do conceito. O que que é isso? Então… bom. Do que falamos ser « rápido » ou « lento » habitualmente? É bem livre isso que estou dizendo agora. É para dar a vocês vontade de ir ver esse autor (Espinosa). Não sei se eu consegui, talvez eu obtive o contrário. Eu ainda não estou fazendo um comentário ao pé da letra. Eu faço de vez em quando, como acabei de fazer mas… vocês me entendem…13
12 Desta forma, tomo como um ponto de partida primeiro – referindo-me à cronologia da minha pesquisa - a investigação trazida por Silvio Ferraz em sua leitura pioneira (pelo menos no Brasil) sobre diferença e repetição e a música. Consideramos que a pesquisa deste compositor-filósofo trouxe, tanto para os estudos filosóficos quanto para as pesquisas musicológicas e composicionais, uma riquíssima contribuição. 13 Curso de Deleuze sobre Espinosa, dia 02/12/1980, Paris. Disponível em: http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=91 Último acesso em 13/02/2017. (Tradução minha.)

21
Se partirmos do pressuposto que a duração, a cinética e a dinâmica compõem parte
significativa do arcabouço teórico da filosofia de Deleuze, é natural que a noção de ritmo
apareça em seus textos de forma recidiva. Porém, nesta recorrência temos muitas vezes a
impressão que Deleuze emprega o “ritmo” para substituir algum conceito ou acrescentar
sentido a alguma outra expressão. Por estas recorrências entrelaçadas, bem típicas em
Deleuze, pode ser difícil identificar isoladamente o ritmo enquanto um conceito preciso ao
qual ele se debruçou. Todavia, o ritmo parece exercer um papel elementar para as lógicas14
da filosofia deleuziana, além de trazer uma instigante contribuição para a música.
Ritmo e repetição. Por força de determinadas tradições, podemos associar o ritmo
àquela repetição dada por uma relação de simetria, que reproduz o retorno de elementos
idênticos em intervalos idênticos de tempo. No entanto, o que percebemos com Deleuze é
que o ritmo funciona como uma espécie de modulador, estando sempre atrelado às
variações e à diferença, conferindo à repetição um sentido intensivo, sentido este
determinante da natureza da repetição. Então, ao invés de se apresentarem como
regularidades e como elementos associados a um tempo cronológico (concepção abstrata
de ritmo, para Deleuze), os ritmos aparecem em sua obra, justamente, como elementos
diferenciais e atualizadores; como moduladores de forças; como multiplicidade; como
elementos articuladores de heterogêneos (corpúsculos, meios, espaços-tempos); como um
meio para dissimetrias; como incomensuráveis; como operadores da variações contínuas;
como vetores da sensação; como marcas de coexistência de meios (transcodificação);
como criadores de pontos notáveis, que marcam o desigual como uma positividade.
14 David Lapoujade, em seu mais recente livro, Deleuze, os movimentos aberrantes, identifica na filosofia deleuziana a primazia da lógica, da produção de lógicas e de todas exigências a elas inerentes. Nas palavras de Lapoujade, « Deleuze é, antes de tudo, um lógico, e todos os seus livros são « Lógicas » ». LAPOUJADE, David. Deleuze, os movimentos aberrantes. Trad. Laymert Garcia dos Santos. - São Paulo: N-1 edições, 2015, p.11.

22
Os acontecimentos rítmicos são, portanto, desigualdades, produzidas por “valores
tônicos e intensivos”, em um espaço-tempo. E, segundo Deleuze, esta é a condição da
duração. Ele diz que “a duração só existe determinada por um acento tônico, comandada
por intensidades”15. Mas ao considerarmos essa repetição, a repetição-duração, como a
repetição do movimento verdadeiro, interrogamos sobre o estatuto do espaço na cinética e
dinâmica trazidas por Deleuze. Nota-se que, com Espinosa, Deleuze recorre às velocidades
e lentidões. E que ao se referir ao “espaço” ele se servirá de expressões como território,
terra, meio, plano, praia, platô, diagrama, liso e estriado. Estes dois últimos são trazidos
por Deleuze e Guattari, em Mil platôs, por influência do pensamento musical do
compositor Pierre Boulez, que em 1968 publica o livro Pensar a música hoje16, onde ele
explora o par liso/estriado para se referir a modos de tempo na música. Um espaço é
sempre povoado e ocupado por individuações intensivas. Mas, como se dá a diferença de
natureza entre espaço e tempo para Deleuze?
Uma fonte possível para responder a esta pergunta é Bergson, filósofo francês, da
virada do século XX, sobre quem Deleuze escreveu um livro ainda no seu primeiro
momento filosófico (se formos adotar aquela abordagem de Sauvagnargues sobre as fases
do pensamento deleuziano com a arte). É notável a influência de Bergson na obra de
Deleuze, na sua formulação do conceito de diferença. Apesar desta dissertação não abarcar
um estudo aprofundado em Bergson, arrisco dizer, através de minhas pequenas leituras de
textos dele e de Deleuze sobre ele, que uma das maiores preocupações de Bergson residiu
na distinção necessária entre as diferenças de natureza e de grau. Para ele, a compreensão
desta diferença (natureza/grau) possibilitaria a formulação de problemas filosóficos reais;
sem termos claramente tal distinção entre os elementos que compõem um problema
15 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Tradução Luiz Orlandi/Roberto Machado. - Rio de Janeiro: Graal, 2006 (2a edição), p. 46. 16 BOULEZ, Pierre. Penser la musique aujourd’hui. Paris. Gonthier, 1963.

23
estaremos diante de um falso problema. Deleuze não vê nessa aparente clivagem um
dualismo em Bergson. Pois, da divergência realizada através do então “método de
intuição”, que discerne as diferenças de natureza (em contraposição às diferenças de grau),
Bergson parece dizer de forma monista que: tudo o que é presença pura diverge por
natureza. E tudo isto que se diferencia alterando a natureza faz parte da duração. Portanto é
a duração que “altera”. Porém, para além da “viravolta” da experiência, é necessário haver
um ponto de convergência que permita dar-se conta do misto, que faz do misto uma
unidade: a atualização da memória – que é o ponto de encontro entre diferença de natureza
e diferença de grau. Se o que cabe à matéria (em contraposição à memória e à duração
pura) é a percepção, Bergson funda através da ideia de contração da memória a
possibilidade de um novo monismo: no fundo da memória-lembrança existe uma memória
contração mais profunda (já que o passado coexiste necessariamente com o presente)17.
Sendo a memória, portanto, também duração: “A cada instante, nosso presente contrai
infinitamente nosso passado: ‘os dois termos que tínhamos separado inicialmente vão
soldar-se intimamente’”18. E, portanto, poderíamos dizer que “a duração bergsoniana
define-se, finalmente, menos pela sucessão do que pela coexistência”. Desta forma, com os
estudos sobre Bergson, Deleuze começa o que mais tarde se chamará de lógica (ou teoria)
das multiplicidades19.
Olivier Messiaen, compositor e organista francês do século XX, realizou uma
ampla pesquisa sobre ritmo, noção que lhe parecia como uma das mais complexas de
definição na música. Interessado em “fazer nascer a verdade” com a música – e contra os
17Jules Lachelier, filósofo francês contemporâneo de Bergson, retoma de Leibniz uma relação entre força, multiplicidade e percepção: “O movimento concentrado na força é precisamente a percepção tal como a definiu Leibniz, isto é, a expressão da multiplicidade na unidade”. (LACHELIER, Jules. Du fondement de l’induction. Paris, ed.1924, p.94). 18 DELEUZE, Gilles. Bergsonismo, Trad. Luis Orlandi. – São Paulo: Ed. 34. 2012. p. 58 19 Anne Sauvagnargues (2009) considera que a lógica das multiplicidades será efetiva no encontro de Deleuze com Guattari.

24
hábitos –, ele foi um compositor que, como tantos outros de seu século, teve grande
interesse sobre a natureza do tempo. Para além da formação em música, Messiaen era
também ornitólogo e devoto da vida cristã. Para ele, uma música rítmica não é aquela em
que identificamos rapidamente o seu pulso, seus períodos (com divisões simétricas), e as
repetições isócronas. Em oposição às músicas de ritmos militares, por assim dizer, uma
música rítmica se inspira, segundo Messiaen, nos movimentos da natureza, nas suas
complexidades, e possui assim durações livres, desiguais e simultâneas. Aquilo que
entendemos habitualmente por ritmo pode sugerir “um domínio” do tempo; uma falsa
ordem que privilegia um certo tipo de repetição, a falsa repetição, para Deleuze. Nesse
sentido, a música militar é para Messiaen a própria negação da noção de ritmo20.
Em Mil platôs, obra de Deleuze com Guattari, a desigualdade inerente ao ritmo, já
apresentada pela lógica do par Diferença e Repetição, é retomada em sua relação com o
caos, de onde também nascem os meios e os códigos:
O que há de comum ao caos e ao ritmo é o entre-dois, entre dois meios, ritmo-caos ou caosmo: “Entre a noite e o dia, entre o que é construído e o que cresce naturalmente, entre as mutações do inorgânico ao orgânico, da planta ao animal, do animal à espécie humana, sem que esta série seja uma progressão...”. É nesse entre-dois que o caos torna-se ritmo (...), tem uma chance de tornar-se ritmo. Há ritmo desde que haja passagem transcodificada de um para outro meio, comunicação de meios, coordenação de espaços-tempos heterogêneos. (...) A medida é dogmática, o ritmo é crítico, ele liga os instantes críticos, ou se liga na passagem de um meio para outro. Ele não opera num espaço-tempo homogêneo, mas com blocos heterogêneos. Ele muda de direção21.
20 SAMUEL, Claude. Permanences d’Olivier Messiaen. Dialogues et commentaires. Paris. Actes Sud, 1999. Por muitos anos, Messiaen foi o organista da igreja Sainte-Trinité, em Paris, e conseguiu incorporar às Eucaristias de meio-dia a sua prática de improviso, momento onde ele experimentava também alguns materiais composicionais próprios. Devem ter sido verdadeiros concertos-happenings, visto a complexidade de suas obras e as maneiras como ele pensava ritmo, harmonia e timbre, maneiras não muito ortodoxas para os ouvidos católicos daquela tradição. Para entrarmos um pouco na obra deste compositor, tomamos como exemplo a Sinfonia Turangalîla, mais precisamente o 6° movimento “O Jardim do sono de amor”. Podemos perceber ali com muita clareza a sobreposição de dois grandes planos, desiguais e simultâneos. Em uma boa performance da obra pode-se notar que o piano não está nem ao fundo nem solista, apesar de estar de alguma forma em um outro tempo em relação à dramaticidade expressa pelo conjunto das cordas. E sempre aparece um elemento ou outro - clarineta, flauta, vibrafone - que descola daquele “todo” uniforme escoante. Mas o piano está ali independente, quase o tempo inteiro. E não creio que seria forçado dizer que sua linha nos faz pensar no canto de um pássaro. https://www.youtube.com/watch?v=0RGhq0m7bxI 21DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol.4, p. 119.

25
Vimos que em Bergsonismo reside uma primeira análise de Deleuze sobre a
multiplicidade, noção que ele retomará com novos fôlegos em outros trabalhos, como em
Mil platôs. Existe uma multiplicidade na duração que é definida por “andamentos espaço-
temporais”. Em um dos seus cursos sobre etologia, em Vincennes, Deleuze retoma o
conceito de normatividade vital de Canguilhem. Em O normal e o patológico, Canguilhem
relaciona “as normas da vida” com aquilo que ele chama de “allures de la vie” para se
referir às doenças, considerando estas últimas não como uma negatividade, mas como uma
mudança de direção. Encontramos várias traduções em língua portuguesa para a expressão
allures da vida: “modos da vida”, “modos de ser da vida”, “comportamentos da vida”,
“ritmos da vida” e “modos de andar da vida”. Segundo o filósofo francês Guillaume
Sibertin-Blanc, Deleuze busca com a noção de allure de vie “designar esse novo sentido do
esquematismo, produção de espaço-tempo irredutível ao conceito de um ser vivo
(compreendido como organização morfológica e funcional), e assinalar sua importância
para uma etologia dos modos de existência culturais”22.
Em Diferença e Repetição determinações espaço-temporais são os “aqui-agora”, ou
um “Erewhon de onde saem, inesgotáveis, os ‘aqui’ e os ‘agora’ sempre novos,
diversamente distribuídos”23. O ritmo opera, portanto, nos dinamismos que determinam
espaço e tempo intensiva e simultaneamente, condições para os processos de individuação,
22 Sobre as traduções para “allures de vie”: AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Georges Canguilhem e a construção do campo da Saúde Coletiva brasileira. (Intelligere, Revista de História Intelectual - São Paulo, v. 2, n. 1 [2], p. 139-155. 2016. Disponível em http://revistas.usp.br/revistaintelligere). SIBERTIN-BLANC, Guillaume. Politique et Clinique. Recherche sur la philosophie pratique de Gilles Deleuze. Tese de doutorado sob a direção de Pierre Macherey. Université Charles de Gaulle Lille 3. – UMR 8163 « Savoirs, textes, langage ». França, 2006. Volume 1, na nota 277, páginas 213-214, onde está transcrita uma parte da aula onde Deleuze diz: “Il y a des rythmes spatiotemporels, il y a des allures spatio-temporelles. On parle parfois du territoire d’un animal et du domaine d’un animal, avec ses chemins, avec les traces qu’il laisse dans son domaine, avec les heures où il fréquente tel chemin, tout ça c’est un dynamisme spatio-temporel que vous ne tirerez pas du concept. […] L’ethnologue construit bien des schèmes d’hommes dans la mesure où il indique des manières : une civilisation se définit entre autres par un bloc d’espace-temps, par certains rythmes spatio-temporels qui font varier le concept d’homme. C’est évident que ce n’est pas de la même manière qu’un Africain, un Américain ou un Indien vont habiter l’espace et le temps”. Aula DELEUZE in https://www.webdeleuze.com/textes/57 23 Erewhon, expressão de Samuel Butler, citado por Deleuze no prólogo de Diferença e Repetição, p. 17.

26
e torna expressiva e crítica a coexistência e a interação intrínsecas à noção de
multiplicidade. Os ritmos são atualizadores.
Em um texto intitulado A Heterogênese Sonora, a compositora Pascale Criton diz
que “desde Diferença e Repetição a procura por um modelo dinâmico de formação de
corpos - de curvaturas variáveis e não simétricas – aparece enquanto acontecimentos
rítmicos”24. Vale ressaltar que o problema dos corpos, que Deleuze recupera da etologia,
mas também através da noção de individuação de Simondon, “não concerne apenas o
corpo vivo, nem órgãos ou objetos parciais extraídos sobre o organismo, mas toda
multiplicidade corpuscular, toda matéria não formada inserida nas relações cinemáticas
que determinam as posições e usos, a um nível onde as partilhas entre natural e artificial e
entre vivo e técnico caem.”25 Criton chama a atenção para o fato de que a partir de Mil
platôs, Deleuze e Guattari se dedicarão ao “sonoro”, qualidade trazida conjuntamente à
ideia de uma multiplicidade de “regimes de atenção” para o encadeamento do pensamento.
O então projeto de uma “heterogênese semiótica transversal”, como expressa a autora, é
trazido por Deleuze e Guattari sob a sensibilização/expressão de um conjunto de sinais
sonoros, entendendo sonoro em seu aspecto vibratório (e oscilatório). Para ela, a
introdução progressiva do musical nas obras de Deleuze está associada “ao processo de
consistência, suscetível de religar o sensível, coletivo, com distribuições intensivas”26.
Outros autores que se dedicam ao, então, pensamento-música deleuziano também
costumam emergir o sonoro do musical. De todo modo, o que percebemos por ora é que o
“sonoro” traz consigo, aparentemente de maneira mais fidedigna que o “musical”, o 24 CRITON, Pascale. “L’hétérogenèse sonore” in Org. CRITON. CHOUVEL. Gilles Deleuze, la pensée-musique, p.52. Tradução e grifo meus. 25 Guillaume Sibertin-Blanc sobre os estudos de Deleuze do modelo embriológico: “ne concerne pas seulement le corps vivant, ni des organes ou objets partiels prélevés sur l’organisme, mais toute multiplicité corpusculaire, toute matière non formée entrant dans des rapports cinématiques qui en déterminent les positions et les usages, à un niveau où les partages entre le naturel et l’artificiel et entre le vivant et le technique tombent ». SIBERTIN-BLANC, G. Politique et Clinique. Recherche sur la philosophie pratique de Gilles Deleuze, p. 214. 26 CRITON, P. “L’hétérogenèse sonore”, p. 56.

27
conceito de sensação, e a sensibilização das intensidades. O sonoro nos provocaria a sentir.
Sendo o som uma espécie de vibração, sonoro é uma qualidade percebida não só pelos
ouvidos, mas pelos corpos, entre os corpos – corpúsculos, moléculas... – como um meio e
como elemento metaestável27. A vibração evoca a sensação de algo que está vivo.
Inclusive, a sensação em si mesma é definida por Deleuze como vibração28. De todo modo,
sonoro se diz do modelo dinâmico, ao qual se refere Criton, por onde valores diferenciais
coordenam modos de vida, blocos de espaço-tempo heterogêneos. Em um texto
denominado Ocupar sem contar: Boulez, Proust e o tempo29, Deleuze observa que o
pensamento musical de Boulez nos faz perceber blocos de espaço-tempo, onde corte e
continuidade deixam de ser antagônicos: “Não mais uma Série do tempo, mas uma Ordem
do tempo. Esta grande distinção de Boulez, o liso e o estriado, vale menos como separação
do que como perpétua comunicação”30.
Para tratar das relações contínuas entre heterogêneos Deleuze utiliza o termo
involução, movimento que ocorre em todo e qualquer devir. Nessas relações, não existe
propriamente uma correspondência entre os elementos, eles coexistem disjuntivamente,
formando zonas de vizinhança. A involução – “articulação de dentro”31 – é o movimento
27 O termo metaestável vem da pesquisa de Deleuze sobre individuação em Simondon. A não estabilidade do ser, ou sua metaestabilidade, é definida da seguinte forma: “o ser é, ao mesmo tempo, estrutura e energia”. (SIMONDON, Gilbert. L’individu et sa genèse physico-biologique, Paris, PUF, 1964, p.285). Retomaremos este conceito no subcapítulo “Sensação, regimes de signos, corpo, pensamento” desta dissertação. 28 DELEUZE. Francis Bacon – Logique (...), p. 47. 29 DELEUZE. “Ocupper sans compter: Boulez, Proust et le temp” in Deux régimes de fous. Texts et entretiens (1975-1995). Édition préparée par David Lapoujade. Paris. Minuit, 2003 (utilizarei em parênteses a numeração de página da edição brasileira: Dois regimes de loucos. Textos e entrevistas (1975-1995. Edição preparada por David Lapoujade; tradução de Guilherme Ivo; revisão técnica de Luiz B. L. Orlandi. –São Paulo: Editora 34, 2016 (1a edição). Coleção TRANS). 30 ibidem, p.275 (p.314). Citação completa: “Não mais uma Série do tempo, mas uma Ordem do tempo. Esta grande distinção de Boulez, o liso e o estriado, vale menos como separação do que perpétua comunicação: há alternância e superposição de dois espaços-tempos, troca entre as duas funções de temporalização, seria apenas no sentido onde uma repartição homogênea em um tempo estriado dá impressão de um tempo liso, já que uma distribuição muito desigual em tempo liso introduz direções que evocam um tempo estriado, através da densificação ou acumulação de vizinhanças. (...) E é toda a Busca que deve deve ser lida em liso e estriado, dupla leitura a partir da distinção de Boulez”. 31 “Não há uma forma ou uma boa estrutura que se impõe, nem de fora nem de cima, mas antes uma articulação de dentro, como se moléculas oscilantes, osciladores, passassem de um centro heterogêneo a outro, mesmo que para assegurar a dominância de um” (DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol.4, p. 139).

28
do devir pelo qual compõe-se toda a teia comunicativa. A noção de devir, amplamente
percorrida pela filosofia de Deleuze em sua parceria com Guattari, mas já presente, sob
outros termos, ali em Diferença e Repetição, consolida a atração desse filósofo pelos
processos de despersonalização/dessubjetivação que ao contrário do que se costuma pensar
não significam processos engendradores de individuações indeterminadas ou imprecisas. É
que Deleuze está mais interessado na questão do devir, na plasticidade do ser, do que no
Ser fundamentado. “Não nos interessamos pelas características; interessamo-nos pelos
modos de expansão, de propagação, de ocupação, de contágio, de povoamento”32. Devir-
imperceptível, devir-multiplicidade.
Em Mil platôs o ritmo é amplamente abordado no capítulo sobre o Devir e em
“Acerca do ritornelo”, curiosamente em dois grandes momentos da obra onde a noção de
território exerce fundamental papel. Consideramos que os meios devam ser também
entendidos à luz da noção de território. Segundo Sibertin-Blanc, os meios são
“determinações espaço-temporais de modos de existência”.33 Os blocos de espaço-tempo,
presididos por relações moventes, que também aparecem na obra de Deleuze sob formas
de diagrama, dizem respeito aos devires, aos rizomas, aos platôs, ao Corpo sem Órgãos,
aos planos de consistência34. A consistência nasce sempre “entre”, a consistência é
expressão e se dá, então, através dos acontecimentos rítmicos35.
E dessa mesma forma, Deleuze (com Guattari) compreenderá o pensamento; o
pensamento como um modo de vida, modo de existência imanente:
32 p.20 33 SIBERTIN-BLANC, G. Politique et Clinique. Recherche sur la philosophie pratique de Gilles Deleuze, p. 219. 34 “O plano de consistência é o corpo sem órgãos” (DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol.4, p. 60). 35 Precisamente por isso, vale ressaltar aqui, que embora tais expressões (corpo sem órgãos, rizoma, plano de consistência) sejam em alguns pontos correlatas, elas não operam metaforicamente. A força dos conceitos reside, ao contrário, em seus sentidos literais. “O Plano de consistência é a abolição de qualquer metáfora; tudo o que consiste é Real”(DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 1, p. 87).

29
O pensamento não é arborescente e o cérebro não é uma matéria enraizada nem ramificada. O que se chama equivocadamente de "dendritos" não assegura uma conexão dos neurônios num tecido contínuo. A descontinuidade das células, o papel dos axônios, o funcionamento das sinapses, a existência de microfendas sinápticas, o salto de cada mensagem por cima destas fendas fazem do cérebro uma multiplicidade que, no seu plano de consistência ou em sua articulação, banha todo um sistema, probabilístico incerto, um certo sistema nervoso.
Ao considerarmos a interação e a comunicação dos elementos (meios, códigos,
corpúsculos, individuações), em um território qualquer, a partir de modelos arborescentes
de organização somos inevitavelmente, segundo Deleuze e Guattari, conduzidos a uma
lógica onde predominam a binaridade, o centralizante, o linear36. Com a ideia de rizoma,
em contraposição ao arborescente, Deleuze e Guattari não estão interessados em destituir
toda e qualquer linearidade e forma, mas, antes, chamar atenção para o fato de que
“mesmo num agenciamento territorial, é talvez o componente o mais desterritorializado, o
vetor desterritorializante, como o ritornelo que garante a consistência do território”37.
Nessa dobra, ou anomalia – ressaltando que para nós as anomalias não são privadas de
sentido, muito antes pelo contrário, são especialmente vetorizadas –, nas assimetrias,
“densificações”, “intensificações”, “repartições de desigualdades”, “superposição de
ritmos disparatados”, que os planos ganham suas consistências. O “mais
desterritorializado”, que pontua a relação de repetição e diferença, este elemento
essencialmente ritmador, ponto notável, é ele quem marca o signo no território, isto é, o
torna expressivo. Podemos levar esta ideia para várias composições artísticas, a
36 É notável o uso da ideia de « oscilação » em Mil platôs. Suspeitamos que seja um recurso linguístico dos autores para evitarem cair na expressão de qualquer binaridade. No entanto, o termo oscilação (quando não pensada musicalmente) pode tornar ambígua a noção de coexistência que é muito importante para a filosofia de Deleuze. Talvez as expressões de binaridades, como « alternância » sejam paradoxalmente mais fieis a determinados movimentos corpóreos. Pois pode-se ter em um mesmo espaço-tempo um jogo infinito de alternação moleculares. Isto é princípio da dinâmica, lógica das forças. A alternância, ao contrário do que costumamos pensar, não é excludente quando se trata dos movimentos corporais e corpusculares. 37 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol.4, p.138. Sob a perspectiva de uma geofilosofia, os autores dizem o seguinte, em O que é filosofia?: “Pensar não é nem um fio estendido entre um sujeito e um objeto, nem uma revolução de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação entre o território e a terra. (...) Ela (a terra) se confunde com o movimento daqueles que deixam em massa seu território, lagostas que se põem a andar em fila no fundo da água, peregrinos ou cavaleiros que cavalgam numa linha de fuga celeste”. DELEUZE. GUATTARI. O que é filosofia?. Trad. Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Munoz. São Paulo: Editora 34, 1992. p. 113.

30
composição de uma música, de uma montagem cinematográfica, de uma performance, de
um improviso. A consistência é criadora38.
Exemplo: Velocidades e lentidões na peça Pulsações, de Nathália Fragoso Rossi39
Pulsações (2015), para piano preparado e luz, é um dos trabalhos escritos pela
compositora Nathália Fragoso ao longo de sua pesquisa de mestrado que teve como
referência a obra de John Cage. Para a composição de Pulsações foram utilizados
diferentes métodos de sorteio (chance operations) e em sua notação são encontrados
diversos elementos indeterminados. A peça relaciona música e elementos visuais: uma
fonte luminosa inserida dentro do piano é controlada pela intérprete. Os gestos realizados
pela luz traçam uma relação direta com as alturas e com os timbres criados pela preparação
do piano. Pulsos de som, luz e silêncio se combinam e se chocam, em movimentos
aleatórios que compõem, assim, a constelação da performance.
Pude estudar e tocar Pulsações algumas vezes nos anos de 2015 e 2016. A partir
dos elementos indeterminados, que obrigam o intérprete a entrar em jogos de
experimentação, algumas reflexões foram levantadas sobre alguns conceitos/parâmetros do
pensamento musical, a saber: escritura, ritmo, densidade, velocidade, intensidade. No
exemplo que se segue, irei analisar um pequeno gesto da peça através de algumas
possibilidades de execução.
38 “É que o começo não começa senão entre dois, intermezzo” (DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4. p. 141). E todo ritmo nasce da articulação entre (entre dois, entre três, entre partes, etc.). 39 ROSSI, Nathália Angela Fragoso. Pulsações. Belo Horizonte, 2015. Para piano preparado e luz. https://www.youtube.com/watch?v=5BdPFNOGEXs&feature=youtu.be

31
Fig. 01 - Nathália A. Fragoso ROSSI. Pulsações (2015), para piano preparado e luz. Sessão A (como trata-se de uma obra aberta, os compassos não possuem uma ordem pré-determinada, eles não são numerados).
A última linha da partitura acima corresponde à fonte luminosa inserida dentro do
piano. Apesar de não estar especificado na partitura como a luz deve estar inserida,
achamos mais interessante que o público não visse a fonte, mas sim a luz, como sendo
parte dos harmônicos produzidos pelo piano. As cabeças de notas que estão entre
parênteses correspondem a pequenos improvisos. O intérprete pode escolher qual (is) nota
(s) tocar dentro do âmbito proposto. Deve-se obedecer a indicação de velocidade (+V/-V),
densidade (+D/-D), dinâmica (p/pp/f) e a duração do improviso (20 segundos, 30
segundos, aproximados). Os clusters tocados junto ao improviso não são especificados no
tempo do improviso. Mesmo assim, entendi que cabe ao intérprete pensar a proporção. Em
um segundo momento, ocorreu-me outra pergunta. Como se distingue velocidade e
densidade? Ou, velocidade e densidade podem ser inversamente proporcionais? No
exemplo acima, em ambos os improvisos entre parênteses a densidade é reduzida
juntamente com a diminuição de velocidade. Mas, há um outro momento na peça em que
se pede o contrário. Nas conversas que tive com a compositora ela disse que pensava, na
verdade, que densidade e velocidade eram a mesma coisa em música. No entanto, penso

32
que não tenha sido por acaso (sem querer fazer um jogo de palavras com o pensamento de
Cage) que ela tenha escrito e distinguido os dois parâmetros. Movida por tal provocação,
resolvi adotar o critério de ressonância. Pensar na unidade de nuvem sonora, e não apenas
nas unidades de ataque. Assim, quanto maior a participação do pedal, quanto mais
harmônicos e mais ressoante for a nuvem em composição, maior será a possibilidade de se
sentir um acréscimo de densidade, mesmo em dinâmica pp e à velocidade lenta. Mas, este
ponto ainda não está claro para mim.
No caso da relação ritmo e velocidade (acréscimo e decréscimo de velocidade),
também levei em consideração a ideia de gesto, mais precisamente a sobreposição ou
mutação de gestos. Quer dizer, pensar que não necessariamente reduzir velocidade seja
reduzir, de forma estritamente proporcional, os intervalos de tempo entre um ataque e o
outro. Isto seria uma espécie de simetrização virtual da diminuição da velocidade. Seria
pensar tempo como distância.
Fig. 02 – exemplo de um rallentando “simétrico”
Eu posso, por exemplo, selecionar um som mais brilhante, que me servirá como
uma espécie de polo. Ele pode se configurar como “mais brilhante”, ou polo, na estrutura
de uma repetição (ser um som um pouco menos incidente que os demais, ou o mais
repetido, ou a nota de “começo”), ou um timbre (um timbre mais “distante” no conjunto de
sons do piano preparado), etc. e reduzir a velocidade dele de forma mais dramática que as
demais notas. Isto pode se configurar uma diminuição gradativa da velocidade e nos
interrogar sobre a noção de conjunto. Posso também começar com um “bolo” de notas,
indiscerníveis, aleatórias. E gradualmente uma melodia vai se formando. Esta melodia, à

33
medida que a velocidade cai, vai se deformando, perdendo a relação rítmica que a
configurava antes, quando se estabeleceu. Alguns ritmos mais rápidos se mantêm, outros
não. Ela pode demorar cada vez mais para recomeçar, etc.
Fig. 03 – exemplo de um rallentando “assimétrico”, desigual
Dentro de infinitas possibilidades rítmicas, a compositora poderia ter criado uma
para ser escrita (uma sugestão menos abstrata e menos aberta de gesto). A escrita de
quiálteras complexas provocaria outros tipos de esforços e tensão, não menos interessantes
e contingenciais, na compositora e na performance da intérprete. No entanto, a
compositora optou por um tipo de liberdade para quem for tocar a peça que possibilita
expressar tendências, impulsos, escutas e afecções de cada um e a cada momento em que
ela for tocada, escapando de uma definição formal de obra.
Da mesma forma, os clusters, do trecho musical em referência, são moduladores do
tempo e podem contribuir para caráter não absoluto das quedas de velocidade e densidade.
Eles podem obedecer a proporção do tempo proposto para o improviso entre parênteses, ou
não, obedecendo somente as suas proporções internas (entre os três clusters, e entre os dois
clusters). Se por exemplo, no primeiro gesto entre parênteses, os clusters “durarem”
também 20 segundos, teremos um aumento de dificuldade de execução, visto que uma das
mãos deve permanecer no controle da fonte luminosa, produzindo um decréscimo de luz.
Que, aliás, exerce uma função muito interessante na peça.
De toda forma, a brincadeira está em se desfazer a expectativa que criamos (nós,
músicos intérpretes e ouvintes) com os decréscimos ou acréscimos, num processo
constante de deformação do tempo, com permissões para alguns roubos (de repente um
trilo – espécie de sobrevida, em um ponto baixo da queda de velocidade ou energia),

34
surpresas, desvios. Este processo nos faz dissociar hábitos e alguns vícios (quanto mais
piano, mais lento), e nos faz refletir sobre relações de tempo e som, através do
entrelaçamento dos parâmetros já esboçados, ritmo, velocidades, lentidões, ataques, notas -
considerando “nota” como som, isto é, ponto notável que articula, marca, impele e
impulsiona o tempo, cria dobras, elásticos.
Existem inúmeras maneiras de produzir modulações de velocidade e lentidão,
modulações de densidade, modulações de expressão.
1.4 Clusters e dissonâncias
Mas ainda, na sucessão das estações, e na superposição de uma mesma estação de anos diferentes, a dissolução das formas e das pessoas, a liberação dos movimentos, velocidades, atrasos, afectos, como se algo escapasse de uma matéria impalpável à medida que a narrativa progride. E talvez também a relação com uma "real política"; com uma máquina de guerra; com uma máquina musical de dissonância. — Kleist: como, nele, em sua escrita como em sua vida, tudo se torna velocidade e lentidão. Sucessão de catatonias, e de velocidades extremas, de esvaecimentos e de flechas. Dormir em seu cavalo e galopar40.
*
“Como se algo escapasse de uma matéria impalpável”. Deleuze e Guattari
analisam, assim, a constituição do plano, noção que aparece nos estudos de Deleuze sobre
Espinosa (o plano de imanência) e será retomada, com Guattari, em O que é filosofia? e,
também, em Mil platôs. O plano é o princípio que permite o desenvolvimento (princípio
composicional) e, ao mesmo tempo, aquilo por onde e através do que “nada se desenvolve,
mas coisas acontecem”41.
Velocidades, lentidões, catatonias, galopes, dissonância. 40 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, p.57. 41 pp. 54-63. São as lembranças de um planejador, Espinosa, expressas no platô sobre Devir.

35
1.5 Caos, catástrofe, material-força, plano de composição
Dizíamos que a consistência é criadora. Mas, este ponto ainda nos é obscuro. Numa
outra passagem de Mil platôs, no capítulo sobre o conceito de ritornelo, Deleuze e Guattari
dizem o seguinte: “Não se trata mais de impor uma forma a uma matéria, mas de elaborar
um material cada vez mais rico, cada vez mais consistente, apto a partir daí a captar forças
cada vez mais intensas.”42
Em seus cursos sobre a pintura, que preparam a escrita de Francis Bacon – Lógica
da sensação (1981), Deleuze convoca a noção de catástrofe para refletir sobre a criação
pictórica e a operação do pensamento criador a ela inerente. Tal operação terá muito a
contribuir não só com a pintura e as artes, mas com a filosofia. Notamos que a pergunta “O
que é filosofia?” percorre toda a obra de Deleuze, inclusive nos seus textos sobre as artes,
mesmo quando ela não aparece de forma explícita. Dentro desta pergunta, ele interroga o
que é o conteúdo próprio da filosofia e como ela opera, como o pensamento “pensa”
filosoficamente e cria conceitos. Percebemos que nessa empreitada, há um interesse sobre
o movimento do pensamento em si, que, como vimos, é endossado nos estudos de Deleuze
sobre diversos autores, mas sobretudo em Espinosa, resgatado também para pensar o
Cinema (imagem-movimento, imagem-tempo). No entanto, ao invés de realizar um duplo
pensamento, ou um meta-pensamento – o pensamento sobre o pensamento, instaurando
consequentemente uma última instância para o ato de pensar – o movimento ao qual se
refere Deleuze é o movimento do corpo, dos corpos, dos afectos, da lógica da sensação,
dos ritornelos. Deleuze está interessado nos processos produzidos por uma “heterogênese”,
tendência que também caracteriza os campos operatórios do pensamento.
42 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, p. 141.

36
Segundo a filósofa Cíntia Vieira, em Diagrama e catástrofe: Deleuze e a produção
de imagens pictóricas, a relação entre pintura e catástrofe, caracterizada por Deleuze nas
referidas aulas sobre pintura
é não apenas produtiva, mas, de maneira ao menos aparentemente paradoxal, condiciona seu sucesso. Isso quer dizer que um quadro que tenha perdido a relação com a catástrofe é um quadro fracassado. Ao entreter uma relação com a catástrofe, a pintura empreende uma luta contra os clichês, e a ausência de tal relação marcaria a recaída na reprodução de imagens-clichê43.
Em 1976 foi ao ar, na França, uma maravilhosa série televisiva de seis programas –
divididos em dois episódios de 50 minutos cada um – dirigidos por Jean Luc Godard e
intitulados “6x2”. É notável que Godard tenha trazido contribuições preciosíssimas para
Deleuze. Em um dos episódios da série, o diretor apresenta, à sua maneira, o matemático
francês Réné Thom, nome que se destacou entre os matemáticos da época quando publicou
a sua “Teoria das Catástrofes”, em 1972. Nessa emissão, Thom explica que a catástrofe é
uma “modificação da forma que conduz à aparição de uma descontinuidade. Por exemplo,
aquela de uma dobra quando fechamos uma folha sobre ela mesma”. Deste conflito,
geram-se (outras) formas. Para o matemático Jean-Pierre Bourguignon, boa parte da obra
de Thom consiste em um “estudo das singularidades. Compreender porque uma coisa não
é lisa, comporta arestas, pontos de cúspide. Ele estabeleceu uma ligação entre as
singularidades e o nascimento das formas, aquilo que batizamos de ‘morfogênese’”. Thom
enxerga uma necessidade de perceber as coisas enquanto formas/situações geométricas.
Toda a ideia de morfogênese contida na teoria das catástrofes passa pela geometria. A
linguagem também é resultado de um conflito e deve ser entendida assim, segundo o
43 VIEIRA, Cíntia. Diagrama e catástrofe: Deleuze e produção de imagens pictóricas. Viso · Cadernos de estética aplicada. Revista eletrônica de estética. No 15, 2014. http://revistaviso.com.br/visArtigo.asp?sArti=141

37
matemático, geometricamente. Na lógica da informação que a linguagem carrega, gerada
por catástrofes, Thom diz estar interessado pela “geometrização da noção de captura”44.
Não consideramos que haja uma precisa identificação da noção de catástrofe, tal
como pensada pelo matemático, com aquela trazida por Deleuze em suas aulas sobre a
pintura. No entanto, é notável o encontro entre os vocabulários de Deleuze e de outras
grandes figuras de seu tempo. Catástrofe, captura, dobra, bordas... De qualquer forma,
reside na teoria das catástrofes um estatuto engendrador para o conflito, para o choque, que
parece ir ao encontro do interesse de Deleuze sobre “a ação das forças sobre as formas”45.
Pois o que Deleuze ressalta na relação entre pintura e catástrofe não diz respeito à
representação pictórica da catástrofe. Segundo Vieira, “por mais belos, interessantes ou
marcantes que possam ser os quadros com imagens de catástrofes (avalanches,
tempestades, dilúvios, e assim por diante), há um tipo de catástrofe que diz respeito não ao
tema dos quadros, mas ao próprio ato de pintar”46. Para a autora, o pensamento criador lida
com a mesma angústia com a qual lida o pintor-artista ao se confrontar com as imagens
que nos levariam a uma simples recognição. O que está em jogo é o choque catastrófico,
choque de forças, que forçará a “criação de novas maneiras de sentir”. O que o pintor-
artista parece mostrar para Deleuze, portanto, é o alcance da pintura em forçar a
sensibilidade a uma sensação nova; é menos a recognição da forma do que uma
deformação47. Assim,
O esforço para produzir imagens pictóricas alia-se ao projeto deleuziano de uma filosofia que toma o pensamento como atividade produtiva que produz a cada nova empreitada suas condições de produção, experimentando uma gênese que não se limita ao âmbito dos conceitos, mas que atravessa todas as instâncias nele
44 Réné Thom au pont de non-retour. Denis DELBECQ, para o jornal francês “Libération”. 31 de outubro de 2002. Link: http://www.liberation.fr/sciences/2002/10/31/rene-thom-au-point-de-non-retour_420173 (último acesso em 09/05/2016). GODARD, Jean Luc. 6X2. L’Institut Nacional de Audiovisuel, França, 1976. https://www.youtube.com/watch?v=B1t_o_CMA_E 45 VIEIRA, Cíntia. Diagrama e catástrofe: Deleuze e produção de imagens pictóricas. 46 Ibidem 47 DELEUZE. Francis Bacon – Logique de la sensation, pp. 25-26, 57-65 (capítulo VIII: Pintar as forças)

38
envolvidas, a começar por aquela que vem a se configurar como sensibilidade. Desse ponto de vista, não há mundo sensível dado (como o que ocorre na atividade de recognição), mas mundos produzidos em cada empreendimento do pensar48.
Alguns críticos de Deleuze manifestam certo incômodo com a assunção do “novo”
por parte de seus estudiosos. Ressaltamos, portanto, que o novo não diz respeito à
novidade, ao “original”, ao “diferentão”. Da mesma forma que Deleuze reformula a
diferença – já que citamos o diferente –, o novo diz respeito à repetição: a repetição
intensiva, condição da diferença. No Brasil, e provavelmente em outros países de língua
portuguesa, usamos a expressão “de novo!” quando desejamos repetir uma experiência.
Sabemos que a cada uma dessas repetições, a sensação que temos é que provamos daquele
prazer intempestivamente, fora do tempo, não como se fosse a primeira vez, mas como se
fosse absoluto. Mais, mais uma vez, o aqui-agora, novamente.
A duração altera. Em Francis Bacon - Lógica da sensação, Deleuze observa,
através dos quadros de Francis Bacon, que a deformação na pintura traz um aspecto da
duração, testemunha da ação da força sobre as formas. A duração de um deformar-se. “A
força do tempo mudando, por variação alotrópica dos corpos, ‘ao décimo de segundo’, que
faz parte da deformação”49. Diferentemente do matemático Réné Thom, Deleuze está
menos interessado em uma morfogênese do que nas cosmogêneses, caos-germe, caosmos,
diagramas, sistemas nervosos, máquinas abstratas. Tais campos operatórios trazem por
princípio a duração, o movimento, os moventes, as multiplicidades. São campos de forças.
A gênese/causa residiria, assim, nos modos de produção e criação; modos de vida; êxtases
do caos, territorializados. Nascendo do caos (o obscuro, o sombrio...), do movimento de
uma catástrofe, os meios e os ritmos fazem território a uma composição. É este lugar
diagramático que Deleuze atribui às criações, seja na pintura, na música, nas demais
48 VIEIRA, Cíntia. Diagrama e catástrofe: Deleuze e produção de imagens pictóricas. 49 DELEUZE, G. Francis Bacon – Logique (...), p.63 (Tradução minha. Na tradução de Malufe e Ferraz ver p.33)

39
expressões artísticas, nas filosofias, nas ciências: na relação do pensamento com as forças
do caos. “A forma não é mais separável de uma transformação (...). Uma composição, é a
organização, mas a organização se desagregando (...). É uma vida, mas a mais bizarra e
intensa vida, uma vitalidade não orgânica”50. “O diagrama, é então o conjunto operador de
linhas e de zonas, de traços e tarefas assignificantes e não representativos”51.
Notamos que no “não figurativo” há música. São desigualdes percorrendo os
campos operatórios, articulando meios e códigos, garantindo a coexistência de suas
heterogeneidades, fazendo vibrá-los, tornando-os sensíveis. Movimento das durações.
Movimento do ritornelo52. Nessa escuta-captura, escuta intensiva, o corpo sem órgãos se
territorializa. Eis então a criação do território e de seus agenciamentos e ressonâncias:
plano de composição, diagrama de forças, plano imanente, plano de consistência.
A música envia fluxos moleculares. Certamente, como diz Messiaen, a música não é privilégio do homem: o universo, o cosmo é feito de ritornelos; a questão da música é a de uma potência de desterritorialização que atravessa a Natureza, os animais, os elementos e os desertos não menos do que o homem. Trata-se, antes, daquilo que não é musical no homem, e daquilo que já o é na natureza.53
Portanto, no lugar da forma/estrutura/organismo prefiguram-se campos operatórios,
planos (territórios, ritornelos), corpo sem órgãos. No platô sobre o Devir, Deleuze e
Guattari entrelaçam essas noções em suas análises sobre o corpo sem órgãos: “A questão
não é a da organização, mas da composição; não do desenvolvimento ou da diferenciação,
mas do movimento e do repouso, da velocidade e da lentidão.”54 Referência à filosofia de
50 DELEUZE. Francis Bacon – Logique (...), p. 120-121. (pp. 67-68). 51 p. 95. 52 Sobre o ritornelo, conceito onde a relação entre som/música e territórios é amplamente explorada por Deleuze e Guattari, iremos investigar mais adiante nesta dissertação na parte “o tempo e os territórios: o ritornelo”. 53 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol.4, pp. 112-113. 54 p. 41. Mais adiante, os autores escrevem: “Mas, ainda aqui, quanta prudência é necessária para que o plano de consistência não se torne um puro plano de abolição, ou de morte. Para que a involução não se transforme em regressão ao indiferenciado. Não será preciso guardar um mínimo de estratos, um mínimo de formas e de funções, um mínimo de sujeito para dele extrair materiais, afectos, agenciamentos? Assim, devemos opor os

40
Espinosa. Em sua tese de doutorado, Guillaume Sibertin-Blanc reafirma que todas essas
noções – plano de imanência, corpo sem órgãos, corpo comum, etc., chamam para uma
mesma coisa. Pois é no cerne desses termos, naquilo que os tornam equivalentes ou
unívocos (no mundo não pré-estabelecido, naquilo que é pré-formal e pré-individual), que
reside a questão prática-política da filosofia de Deleuze: a imanência, verdadeiro sentido
da experimentação.
Assim, os agentes composicionais de um plano de imanência, condições regidas,
portanto, por uma lógica de forças – de velocidades e lentidões, de afectos, devires,
intensidades, durações – possibilitam a criação e a composição dos agenciamentos. Na
verdade, em O que é filosofia? (último trabalho escrito pela dupla Deleuze e Guattari, em
1991) são distinguidos três planos: de imanência, que dá consistência ao infinito, com
conceitos-acontecimentos consistentes (plano filosófico); de coordenadas, que se renuncia
ao infinito, com funções, estados e referências (plano científico); de composição, que cria
um finito que restitui o infinito através de sensações (plano artístico). Estes planos podem
se misturar, em maior ou menor grau, se alterando e mudando suas naturezas. De todo
modo, todos os três planos dependem do ato de criação.
Como já sugerido anteriormente, suspeitamos que resida uma musicalidade nos
planos de imanência, no movimento com o qual eles operam e se agenciam, isto é, em suas
composições e na maneira como se expressam as relações entre seus componentes.
dois planos como dois polos abstratos: por exemplo, ao plano organizacional transcendente de uma música ocidental fundada nas formas sonoras e seu desenvolvimento, opomos um plano de consistência imanente da música oriental, feita de velocidades e lentidões, de movimentos e repouso. Mas, segundo a hipótese concreta, todo o devir da música ocidental, todo devir musical implica um mínimo de formas sonoras, e até de funções harmônicas e melódicas, através das quais se fará passar velocidades e lentidões, que as reduzem precisamente ao mínimo. Beethoven produz a mais espantosa riqueza polifônica com os temas relativamente pobres de três ou quatro notas. Há uma proliferação material que não faz senão uma com a dissolução da forma (involução), sendo ao mesmo tempo acompanhada de um desenvolvimento contínuo dessa forma. Talvez o gênio de Schumann seja o caso mais chocante, onde uma forma não é desenvolvida senão para as relações de velocidade e lentidão pelas quais ela é afetada material e emocionalmente. A música não parou de fazer suas formas e seus motivos sofrerem transformações temporais, aumentos ou diminuições, atrasos ou precipitações, que não se fazem apenas de acordo com as leis de organização e até de desenvolvimento” (DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, pp. 60-61).

41
Deleuze e Guattari dizem que “o construtivismo exige que toda criação seja uma
construção sobre um plano que lhe dê existência autônoma”55. O termo construtivismo,
apesar de se referir à construção de um agenciamento e evocar uma pragmática, parece
trazer alguns problemas, ao nosso ver, frente às coexistências de heterogêneos com as
quais lidam os planos, com as quais eles são traçados, e com a própria ideia de composição
e devir. A construção remete a partes, a união de partes que edifica um todo. Tal edificação
parece-nos carecer de intensidade, de tensões e de uma estruturação movente (uma não-
estrutura), assinalada pelos dinamismos espaço-temporais. Talvez a expressão
montagem/découpage, utilizada pelo cinema, seja mais fiel do que construção. Um corte
do caos. Mas, ficaremos, por ora, com a composição. A composição de um plano
imanente, ou plano imanente de composição. Plano dinâmico, “sem imagem”, intensivo, e
por isso aberto para a experimentação56; com alternâncias complexas, não excludentes por
natureza, e por isso simultâneas, dissonantes e ruidosas, por que não? Partindo da assunção
de uma teoria das multiplicidades, preferimos não referenciar a filosofia sob a perspectiva
do termo construtivista na tentativa de resguardar também a ideia de experimentalismo, da
não-estrutura, inerente às consistências. De qualquer maneira, nesse momento, o que nos
chama a atenção na referida citação diz respeito à autonomia. Pois, o que, de fato, confere
autonomia à criação, à vida da instabilidade do devir? O que seria, precisamente,
autonomia e o que isso teria a ver com uma possível “musicalidade do plano de
imanência”?
Em O que é o ato de criação?, Deleuze diz que é inerente a todas as
55 DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix. Qu’est-ce la philosophie ? Les Édition de Minuit, Paris, 1991/2005, p. 12 (p. 16). 56 Voltaremos sobre o tema da “abertura” (ou o Fora), sobre regimes abertos e experimentação, ao longo da dissertação.

42
disciplinas/atividades criativas a constituição de espaços-tempos57. Em um primeiro
momento, consideramos que toda composição lida com intensidades, forças do caos, que
determinam (ou tornam perceptível) a duração58. A noção de autonomia, correlata à
consistência, é contígua à composição de espaços-tempos, modos de vida, ritmos de vida,
andamentos, blocos de heterogêneos intempestivos. Deleuze evoca no ato de criação uma
“presença pura” que, por divergir por natureza, está atrelada à percepção. Em Ocupar sem
contar ele diz:
É que o problema da arte, o problema correlativo à criação, é o da percepção e não o da memória: a música é pura presença, e reclama um alargamento da percepção até os limites do universo. Uma percepção alargada, esta é a finalidade da arte (ou da filosofia, segundo Bergson)59.
Nos perguntamos se a pura presença da música, identificada por Deleuze, é
correlata ao sonoro, àquele caráter vibratório que define a sensação e que na música parece
estar no mais elevado grau. Se o ritornelo, sonoro por excelência, é criador de territórios, o
sonoro - ou o musical - parece exercer nesse momento da filosofia de Deleuze um
importante papel, que alcança, inclusive, uma dimensão ético-política inusitada. Ao dizer
que a música reclama um alargamento da percepção, Deleuze interroga sobre os limites
desta faculdade e sobre uma possível seleção que toda escuta faz, e que muitas vezes é de
ordem verificacionista. Deleuze convoca o sonoro-musical pois o sonoro-musical atravessa
espaços e corpos, arrebata, rompe, invade, expande: potência de desterritorialização. O
sonoro-musical torna-se agora ritornelo. A terra e o território assinados pelo ritornelo
reivindicam assim um “novo povo por vir”.
57 DELEUZE, Gilles. O que é o ato de criação?, trad. Joao G.A. Domingos, in O Belo Autônomo: textos clássicos de estética. Org. Rodrigo Duarte, 2a Edição. Belo Horizonte: Autêntica Editora; Crisálida, 2012. (Coleção Filô/Estética;3). 58 Sobre “tornar sensível” a duração, veremos logo mais neste mesmo capítulo e nas partes onde exploro Diferença e Repetição. 59 DELEUZE. “Occuper sans compter: Boulez, Proust et le temps” in Deux régimes de fous, p. 276 (p.315).

43
A música está cheia disso. Para tanto é preciso não memória, mas um material complexo que não se encontra na memória, mas nas palavras, nos sons: "Memória, eu te odeio”. Só se atinge o percepto ou o afecto como seres autônomos e suficientes, que não devem mais nada àqueles que os experimentam ou os experimentaram: Combray, como jamais foi vivido, como não é nem será vivido. 60
Ressaltamos que existe na desterritorialização um traço de assignificância – “um
pouco de tempo em estado puro”, aquilo “que não é musical no homem, e que já o é na
natureza” –, que garante, inclusive, a consistência, mesmo em composições não abstratas,
como exemplifica Deleuze com Em busca do tempo perdido, de Proust; aquilo que nas
individuações, nos acontecimentos, “racha com a identidade à qual a memória fixa”61. O
que Deleuze diz sobre o alargamento da percepção diz respeito também à identificação de
uma variação, ou deformação, de uma transformação perpétua, movimento do qual
emerge, usurpando o termo de Boulez, uma diagonal.
Toda a obra de Proust é feita assim: os amores sucessivos, os ciúmes, os sonos, etc., se descolam dos personagens de modo que eles devêm eles mesmos personagens mutantes, individuações sem identidade, Ciúme I, Ciúme II, Ciúme III...Uma tal variação que se desenvolve na dimensão autônoma do tempo, chamaremos de “bloco de duração”, “bloco sonoro incessantemente variante”.62
*
Falávamos anteriormente de um pensamento “sem imagem” e do signo
assignificante. A individuação sem identidade, este “bloco sonoro incessantemente
variante”, é também chamada por Deleuze e Guattari de hecceidade, termo que eles
recuperam de Duns Scott, filósofo medieval. De acordo com a reformulação do termo, uma
hecceidade é um acontecimento, uma expressão de um devir, a individuação, sem sujeito, 60 DELEUZE. GUATTARI. O que é a filosofia?, p. 218. 61 Deleuze usa a frase de Proust – un peu du temps à l’état pure - ao se referenciar ao tempo não como força, mas o tempo em si mesmo (“Occuper sans compter: Boulez, Proust et le temps”, p.278). Assim, tornar sonoras as forças do tempo não quer dizer necessariamente que o tempo, em si, seja uma força. Na página 276 do original: “Or un tel but ne peut être atteint que si la perception brise avec l’identité à laquelle la mémoire la rive” (p. 315). 62 p. 273 (p.312).

44
de uma vida63. Percebemos, portanto, que a autonomia reside em um acontecimento que
não configura um princípio de identidade, muito antes pelo contrário, diz-se menos de uma
representação do que de uma modulação. Mas reiteramos, isto não confere indeterminação
às hecceidades. O exemplo dos Ciúmes em Proust é fiel à precisão de tais individuações-
personagens. A autonomia e a consistência de toda e qualquer composição é garantida por
aquele tempo de natureza intensiva – não pelo instante, ou pela brevidade – mas por esse
bloco de duração ao qual Deleuze atribui a qualidade de sonoro. “Parece que o som, ao
desterritorializar-se, afina-se cada vez mais, especifica-se e torna-se autônomo(...). O som
não deve essa potência a valores significantes ou de ‘comunicação’”64. E, assim, o
problema torna-se “realmente musical, tecnicamente musical, o que o torna aí tanto mais
político”.
Não por acaso Deleuze convoca para sua filosofia os personagens rítmicos, de
Messiaen, entendidos como tais através da autonomia e independência que eles exercem e
dramatizam em uma composição. O ritmo, como vimos, é distância crítica – intermezzo -
que participa da modulação dos corpos, corpúsculos, moléculas. Nos dinamismos do
pensamento, o ritmo seria uma articulação; dobra por onde desviamos de uma autoridade
da representação. A consistência, assim, desloca a percepção, em um processo de
desterritorialização, através dessas forças/variações até então imperceptíveis, individuações
intensivas sem identidade que “forçam a perceber”. De novo, jogo da repetição e da
diferença. E “a música sempre teve este objeto: individuações sem identidade, que
constituem os seres musicais”65.
O compositor Silvio Ferraz diz, a partir daí, que “escutar é então se colocar diante
63 DELEUZE. PARNET, Claire. Diálogos. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. - São Paulo: Escuta, 1998. “Psicanálise, Morta Análise”. DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4. 64 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol.4, p. 166. 65 DELEUZE. “Occuper sans compter: Boulez, Proust et le temps”, p. 276 (p.315).

45
das forças de modulação, fazer repetir a modulação ela mesma”66. Um pensamento-música
lida com tal escuta: uma escuta que captura forças através de uma desterritorialização, isto
é, sem imitar, reproduzir ou variar um mesmo, mas permitindo um certo devir molecular,
permeado de durações novas.
Trata-se antes, portanto, de limiares de percepção, de limiares de discernibilidade, que pertencem a este ou àquele agenciamento. É só quando a matéria é suficientemente desterritorializada que ela própria surge como molecular, e faz surgir puras forças que não podem mais ser atribuídas senão ao Cosmo. Isto já estava presente "desde sempre", mas em outras condições perceptivas. É preciso novas condições para que aquilo que estava escondido ou encoberto, inferido, concluído, passe agora para a superfície67.
Parece então que a música, para Deleuze, é criadora de novas condições para
percebermos em dilatamento e expansão aquilo que aparece. Ela atravessa. Devir-
molecular da música. A escuta cria; “faz repetir” na criação e risco daquele novo território,
a diferença. Deleuze e Guattari, ao trazerem a música e o sonoro, e o conceito de ritornelo
como máquina musical que fabrica tempo e cria e agencia territórios, não estão
circundando o tema “música” somente, mas endossando uma proposta de um pensamento-
música que, ao nosso ver, vai ao encontro de toda filosofia das multiplicidades.
*
Como vimos, assim como nos estudos sobre a pintura, em Mil platôs também se
estabelece uma parceria entre as noções de caos, ritmo e meios. Segundo Ferraz, em sua
análise sobre o Ritornelo, “o Cosmo nada mais é que o caos à velocidade lenta”. Ele
ressalta que
66 FERRAZ, S. “La formule de la ritournelle” in CRITON. CHOUVEL. Gilles Deleuze: la pensée-musique, p. 150 67 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol.4, p. 165.

46
Deleuze e Guattari denominam ‘contraponto cósmico’ a sobreposição de permutações irregulares dos termos de vários territórios, micro-termos, micro-modulações oriundas disso que, para nossa percepção ordinária, é ainda caos 68.
Para os autores, o artista compõe seus planos “contrapontisticamente”, como um
“artesão cósmico”, lidando não mais com uma matéria-forma, mas com um material-
forças69. A ideia de um material-forças é constantemente evocada por Deleuze em suas
pesquisas sobre arte. Há algo que parece sempre ser selecionado por ele em suas leituras:
na sua pesquisa sobre a pintura, Deleuze descobre que Bacon haveria dito que o que ele
buscou ter pintado com suas pinturas foi “antes o grito que o horror”; Paul Klee, por sua
vez, dizia em “não mais trazer o visível, mas tornar visível”; da mesma forma na música,
Messiaen haveria dito que os sons não são mais do "que vulgares intermediários destinados
a tornar as durações apreciáveis"70 e que a tarefa da composição consistiria, assim, em
“tornar sonoro o tempo”. Todas essas expressões significam uma só e mesma coisa: tornar
sensível o insensível71.
Existe um pequeno, porém significativo, texto publicado dentro do conjunto Dois
regimes de loucos, preparado por David Lapoujade, onde Deleuze explora a noção de
material-forças a partir da música. O texto chama-se “Tornar audíveis forças não
audíveis”. Este texto foi escrito por Deleuze para uma conferência no IRCAM, na ocasião
de uma jornada de seminários sobre o tema “O tempo musical”, em fevereiro de 1978.
Sobre o tempo não pulsado, Deleuze diz que toda a articulação entre heterogêneos, isto é, 68 FERRAZ, S. “La formule de la ritournelle”. Tradução e grifo meus. 69 DELEUZE. “Rendre audibles des forces non-audibles” in Deux régimes de fous, p.145 (p.166). 70 apud DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol.4, p159 (nota de pé de página 45 de “Acerca do ritornelo). 71 Mais adiante, no segundo capítulo, na parte sobre Diferença e Repetição, iremos ver que o que Deleuze chama de insensível é a intensidade em si mesma, o “ser da diferença”, aquilo que é irredutível à representação, que não se explica na extensão, mas que, ao mesmo tempo, só pode ser sentido. Portanto, a positividade da diferença é definida por Deleuze através da noção de intensidade pura. O conceito de intensidade é também recuperado por Deleuze na filosofia medieval (Duns Scott e leitores dele) e em Kant. Kant diz, na Crítica da Razão Pura, que a intensidade é uma antecipação da percepção. Para Deleuze, nesta antecipação a intensidade já é sensibilidade, pois ela seria esse elemento mínimo que faz com que a sensibilidade seja disparada. Por causa deste elemento mínimo do real, e por outras razões, que Deleuze irá desconsiderar, sobretudo em seus trabalhos posteriores a Diferença e Repetição, o negativo e a falta entendidos pela psicanálise como modos possíveis de produção, modos do desejo.

47
ritmos vitais e durações, não depende
“de uma forma unificável ou unificante, nem de métrica, nem de cadência, tampouco de qualquer medida regular ou irregular, mas da ação de certos pares moleculares soltos através das camadas diferentes e das ritmicidades diferentes. Não é apenas metaforicamente que se pode falar de uma descoberta semelhante em música: moléculas sonoras, em vez das notas e dos tons puros”72.
Tornar sensíveis – sonoras, visíveis, hápticas, apreciáveis - forças imperceptíveis. “Assim
Debussy, Diálogo do vento e do mar. O material está aí para tornar audível uma força que
não seria audível por si mesma, a saber, o tempo, a duração e mesmo a intensidade. Ao par
matéria-forma, substitui-se material-forças.”73
Por estas vias, consideramos o lugar da crítica que Silvio Ferraz faz à
fenomenologia. Segundo o compositor, os recursos da fenomenologia são insuficientes
para “entrar em uma viagem ‘ao centro do som’ tal como propõe Giacinto Scelsi. Engajar
uma viagem ‘ao centro do som’, por uma duração que se cristaliza em uma matéria sonora,
exige ir para além das matérias formadas, para além da percepção dos fenômenos”74. Uma
música que seja fiel ao tema “mar”, então, não imita ou reproduz os sons do mar – e do
vento e das gaivotas –, mas torna sonora a sua instabilidade, seu movimento, suas
durações, seu jogo de forças e intensidades; assim o escuta Deleuze em La mer, de
Debussy, exemplificada na ocasião da jornada no IRCAM em 1978. Nos interessa aqui o
gesto das catástrofes, as críticas à representação e à compreensão de fenômeno como
matéria formada, algo isolado, estável e fixo. Críticas as quais carregam, inevitavelmente,
todo caos composto75.
72 DELEUZE. “Rendre audibles des forces non-audibles”, p. 144 (p.165). 73 p.145 (p. 166). 74 FERRAZ, S. “La formule de la ritournelle”, p.147. Tomamos como exemplo o concerto Anahit, para violino e 18 instrumentos, composto por Scelsi em 1965, sobre o qual falaremos mais adiante. 75 Um outro sentido para a noção de crítica: « distância modal », caosmos, contíguos à produção de novas sensibilidades. Os ritmos-caos são mudanças de direção. Talvez, parte da fenomenologia compreenda o fenômeno para além das matérias formadas. Por isto, por me faltarem leituras mais aprofundadas, evitarei de incorrer na clássica armadilha de combate entre terminologias sobre uma possível mesma ideia.

48
Nesse momento, anterior à escrita de Mil platôs, parece haver um desejo de
Deleuze em localizar uma certa distinção entre o musical e o sonoro. Vale ressaltar que ele
inaugura sua conferência sobre “tornar audíveis forças não audíveis” com a pergunta: “Por
que nós, não músicos?”. Pergunta que ele responderá ao final dizendo ser a música algo
que não concerne apenas aos músicos pois seu objeto não é somente o som76.
1.6 Pequenas impressões particulares sobre audiovisual, imagético, sonoro e a
confusão das multimídias
Vale fazer uma ressalva aqui. A ideia de um pensamento-música não tem como
objetivo expor qualquer assunção a respeito de um sonoro “puro” em detrimento de um
visual, mas explorar, com Deleuze, o musical e a sua força nos campos operatórios, na
imanência, na sensibilidade e na percepção. Por mais que tenha sido relacionado às
hecceidades e aos traços assignificantes um pensamento “sem-imagem”, onde escutamos
uma forte presença do que entendemos como musical, a ideia era a de destituir a “imagem
dogmática”, o imperativo da estabilidade da recognição e conferir um estatuto ao musical e
ao sonoro que colocam o pensamento em movimento - talvez residam aqui algumas críticas
de Deleuze e Guattari a alguns produtos do capitalismo e à publicidade.
Existe um diagrama que é também virtualmente imagético e que é produzido pelas
capturas de forças da música. Não gostaríamos de acreditar que a música tenha morrido no
século XXI, época em que o imperativo da emissão imagética mediada parece exercer, em
maior grau, uma autoridade, por vezes ensurdecedora, desprovida de Duração e por isso
motivada por uma espécie de afobamento em detrimento do pensamento. O que não quer
dizer, obviamente, que tal pensamento-música seja contra a imagem, as imagens em
76 DELEUZE. “Rendre audibles des forces non-audibles”, pp. 145-146 (pp. 166-167).

49
movimento, o vídeo, o “pop”, a tecnologia, as velocidades, etc.
Mais precisamente, nos referimos à tendência quase obrigatória de se utilizar
imagens videográficas projetadas nas performances de música de concerto. Não
acreditamos que imagem seja restrita ao universo videográfico, e também não vemos
problema algum no uso em si de vídeos em performances musicais quaisquer. O problema
começa quando o vídeo se torna a síntese do diagrama de forças que a performance
musical poderia engendrar a partir dela mesma, na sua autonomia. A imagem videográfica
sendo utilizada ora como explicação poética, legenda, ora como exposição “visual”
instantânea de ritmos diversos sucessivos, como um certo tipo de programação de imagens
generativas, pode ser a morte da duração. A duração da música explicada na extensão da
sucessão de imagens. Mesmo porque, se há uma pessoa tocando, em cena, todos os seus
gestos também são imagens e geradores de campos de forças, acontecimentos sonoros.
Por essas mesmas vias, não acatamos a crítica generalizada que Deleuze e Guattari
fazem, em Mil platôs, às “músicas de ruído” e improvisações livres, na qual eles dizem ser
máquinas de reprodução de um emaranhado exagerado e confuso de sons e acontecimentos
que acabam por impedir, finalmente, todo o acontecimento77. Tal crítica revela uma
expectativa por parte dos autores de um resultado sonoro-musical (como expressão de uma
obra) que ao nosso ver não faz sentido algum para a lógica implicada na relação material-
forças/intérprete/compositor com a qual lidam as músicas de ruído, algumas músicas
prescritivas e as improvisações livres. Consideramos, entre outras coisas, que em tais
práticas o limite dos corpos é levado às últimas consequências, suscitando questões
preciosas sobre a nossa escuta, nossos hábitos, sobre técnica, sobre “obra”, contemplação,
sobre o espaço, sobre a música; questões contíguas à célebre: “o que pode um corpo?”,
provinda da leitura de Deleuze sobre Espinosa. Nesses tipos de performance musical, o
77 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, pp. 160-162.

50
“puramente sonoro” e os esforços do intérprete estão insuspeitamente em fusão e
compõem, assim, novas capturas de forças, um espaço livre, de múltiplos e incessantes
“aqui-agora”, pelos quais as distinções som/corpo, composição/performance,
compositor/intérprete, se desfazem; justamente, por trazer à tona a presentificação máxima
do corpo do músico (ações, gestos, tentativas, hesitações, insucessos) na produção sonora
que ele empreende. A performance torna-se inevitavelmente multimídia e todos os
recursos ali utilizados participam de uma composição menos ilustrativa-descritiva do que
autorreferencial e autocrítica78. A noção de liberdade que essas práticas trazem não parece
se confundir com a de autoridade uma vez que elas tentam interrogar, justamente, tais
valores.
Um outro exemplo, relativo à prática de música de concerto contemporânea: uma
peça como o estudo para piano do compositor György Ligeti, Arc-en-ciel79. Poderíamos
dizer que ela torna sonora por ela mesma as forças “cósmicas” de luz, de cores e vibrações
do arco-íris. A motivação de Ligeti certamente não foi reproduzir/imitar um arco-íris, mas
capturar um jogo de forças intensivas, moleculares, moventes, quase indiscerníveis, que
não são apreciáveis por nossos olhos, quando vemos, por exemplo, um fenômeno tal como
o arco-íris no céu. Ligeti destitui o ouvinte da posição de espectador (que vê) e o insere
dentro daquele arco espectral. Ele compõe um tempo para o arco-íris, torna sonora uma
duração imperceptível. É uma peça difícil de se executar, com muitas nuances, delicadezas
e micropolifonias. Colocar um vídeo colorido, ou ainda, uma projeção de um arco-íris,
sobre alguém que toca tal peça ao piano – podendo fazer o impossível e nos colocar “lá
78 Paul Craenen traz uma interessante distinção entre: música de “algum lugar”, música de “lá” e música “de aqui”. Resgatamos um olhar desta pesquisa através da dissertação de mestrado sobre a noção de fisicalidade na música, do compositor e guitarrista Mário Augusto del Nunzio: DEL NUNZIO, Mário Augusto Ossent. Fisicalidade: potências e limites da relação entre corpo e instrumento nas práticas musicais atuais. USP/ECA, 2011, pp. 37 e 38. 79 György Ligeti, estudo para piano (Études pour piano, Premier Livre) n°5 Arc-en-ciel https://www.youtube.com/watch?v=_A0jsVgs_eA

51
dentro do céu”, para além da íris – seria uma escolha sintomática. Até mesmo porque,
Ligeti poderia ter conferido à peça um outro nome...
Os recursos tecnológicos para multimídias em uma performance musical, portanto,
não devem funcionar como a garantia da contemporaneidade da obra. Tampouco como
uma resposta que faltava, o elemento “visual” carente ao sonoro. Eles devem, se usados,
resguardar o caos que a música e o intérprete carregam. Aqueles traços assignificantes...80.
Falamos de forças imperceptíveis, do devir-imperceptível da música. Do
alargamento da percepção, e não de seu fim.
1.7 Sensação, regimes de signos, corpo, pensamento
“Seria a vida, o Tempo, tornados sensíveis, visíveis? (...). Tornar o Tempo sensível
em si mesmo, tarefa comum ao pintor, ao músico, por vezes ao escritor. É uma tarefa fora
de toda medida ou cadência” 81.
Em Kafka: por uma literatura menor, Deleuze e Guattari dizem ser o som um dos
elementos que cumpre na literatura kafkiana o papel de uma matéria não formada de
expressão. É através do som que os devires-rato, cão, besouro criam “zonas de não
cultura”, “de terceiro mundo”, por onde a língua escapa, vira toca. Todo som é
desterritorializante 82.
80 Boulez dizia que “é entre a ordem e o caos que se coloca a zona mais instável, mais volátil e mais rica da imaginação e da percepção”. BOULEZ, Pierre. Entre ordre et chaos. In Harmoniques, v.3. Paris: Ircam, 1988. 81 DELEUZE. Francis Bacon – Logique (...), p. 63 (p.33). 82 DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix. Kafka: por uma literatura menor. Trad. de Cíntia Vieira da Silva. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. p 53. “O que interessa a Kafka é uma pura matéria sonora intensa, sempre em conexão com a sua própria abolição, som musical desterritorializado, grito que escapa à significação, à composição, ao canto, à palavra, sonoridade em ruptura para se desgarrar de uma corrente ainda demasiado significante. No som, só a intensidade conta, geralmente monótona, sempre insignificante: assim, no Processo, o grito de um só tom do comissário que se faz fustigar «não parecia vir de um homem, mas de uma máquina de sofrer». Enquanto há forma, há ainda reterritorialização, mesmo na música. A arte de Josefina, ao contrário, consiste em que, não sabendo cantar mais que os outros camundongos, e

52
O som – das asas, das patinhas, da tosse, de uma não-voz e de uma incomunicação
do animal-inseto – assinala um espaço-tempo. Ao escutarmos o devir-animal de Kafka
somos atravessados, e levados para um movimento (desterritorialização) aflitivo e
maravilhoso. Para além de uma metamorfose, o nosso próprio devir-animal. Ressaltamos
que para Deleuze e Guattari, todo devir é um devir-animal: todo devir traz a potência de
uma matilha, move-se em um plano de consistência “onde o nome próprio atinge sua
individualidade mais alta perdendo toda personalidade – devir imperceptível, Josefina, a
camundonga”83 .
Tornamos-nos um acontecimento. Em Kafka, o som contribui de forma precisa para
a sensação da temporalidade dos devires; ainda assim, isto poderia ser insuficiente para
que considerássemos a obra de Kafka musical, por conta da crença de que para ser musical
o som deve intermediar a sensibilização do tempo tal como ele o faz, molarmente, em
determinadas músicas (aquelas de ritmos isócronos e de notas puras). Mas, por outro lado,
pensar o sonoro nesses termos, como nos mostram Deleuze e Guattari em Kafka, como
uma potência de vida e tempo – matéria movente de expressão – nos faz também refletir
sobre distinções por vezes conservadoras e geradoras de falsos problemas, distinções
como: musical/não musical; som/ruído, som belo/som feio, etc.84 Interessa-nos aqui a
assoviando, antes, pior, ela opera talvez uma desterritorialização do «assobio tradicional», e o libera «das cadeias da existência quotidiana». Em suma, o som não aparece aqui como uma forma de expressão, mas bem como uma matéria não formada de expressão, que vai reagir sobre os outros termos” (pp. 14-15). 83 DELEUZE, G. PARNET, Claire. Diálogos (1998), p.141. 84 “Parece que o som, ao se desterritorializar, afina-se cada vez mais, especifica-se e torna-se autônomo, enquanto que a cor cola mais (...) à territorialidade.(...) O som não deve essa potência a valores significantes ou de "comunicação" (os quais, ao contrário, a supõem), nem a propriedades físicas (as quais dariam antes o privilégio à luz). E uma linha filogênica, um phylum maquínico, que passa pelo som, e faz dele uma ponta de desterritorialização. E isto não acontece sem grandes ambiguidades: o som nos invade, nos empurra, nos arrasta, nos atravessa. Ele deixa a terra, mas tanto para nos fazer cair num buraco negro, quanto para nos abrir a um cosmo. Ele nos dá vontade de morrer. Tendo a maior força de desterritorialização, ele opera também as mais maciças reterritorializações, as mais embrutecidas, as mais redundantes. Êxtase e hipnose. Não se faz um povo se mexer com cores. As bandeiras nada podem sem as trombetas, os lasers modulam-se a partir do som”. DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol.4, p.166. Grifo meu. Sobre a crítica ao par musical/não musical : análise de Paul Craenen in DEL NUNZIO, Mário Augusto Ossent. Fisicalidade: potências e limites da relação entre corpo e instrumento nas práticas musicais atuais. E BOULEZ, Pierre.

53
sonoridade trazida pelos autores para repensarmos a nossa escuta, o conceito de escuta, a
música e a própria noção de matéria movente de expressão. “A música é primeiro uma
desterritorialização da voz, que se torna cada vez menos linguagem”85...
Ordinariamente, a sensação é definida em relação aos órgãos do sentido que
produzem ou dão impressões sensitivas tais como a audição, a visão, o tato, o olfato. Nesta
“corporeidade”, há algo de imediato e de não racional. Em Francis Bacon - Lógica da
sensação, Deleuze busca mostrar que é por esta aparente antinomia de uma lógica do
sentido, não racional,86 – a lógica da sensação – que a sensação não é um dado empírico,
nem uma representação objetiva; ela é, antes, heterogenética. Ela está para além dos
sentidos organizados (imagem-visão, som-ouvido, pele-tato). Através de sua singularidade
de combinações, que lhe confere a sua lógica, a sensação tem uma consistência em si
mesma, uma consistência que aquele corpo sem órgãos (sem ouvidos, sem íris, sem
cérebro organizados) experimenta. É pelas vias dessa lógica que o som, como vimos,
cumpre o seu papel: como um signo “assignificante”, que torna sensível a intensidade.
Som e devir. Aquele animal que se faz na voz desterritorializada. Quando Deleuze e
Guattari dizem ser a música primeiro uma desterritorialização da voz, que se torna cada
vez menos linguagem, eles estão reformulando a ideia de que toda música é um devir-
animal, “potência de matilha”: “é porque a expressão musical é inseparável de um devir-
mulher, um devir-criança, um devir-animal que constituem seu conteúdo”87.
Uma das teses centrais do subcapítulo dedicado à arte, em O que é a filosofia?, é a
de que a obra existe em si pois ela é um ser da sensação: a arte conserva afectos88 e
perceptos que, em suas naturezas, “excedem o vivido”. Por exceder o vivido, a sensação
Penser la musique aujourd’hui. Denöel/Gonthier. Médiations. 1963. Para Boulez em termos acústicos-musicais é mais interessante distinguirmos som bruto de som elaborado do que som e ruído. 85 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, p.103. 86 Expressão do pintor Paul Cézanne utilizada por Deleuze em Francis Bacon – Lógica da sensação. 87 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, p. 99. 88 O conceito de afecto é recorrente nas obras de Deleuze, tomado pela filosofia de Espinosa.

54
produzida pela arte é autônoma. “Presença, presença, esta é a primeira palavra que vem à
frente de um quadro de Bacon...”89. Não por acaso, os autores falam constantemente em
suas obras a quatro mãos sobre uma “tomada de consistência” ao se referirem às matérias
de expressão – estas que se furtam da ideia de um sujeito (ativo, racional, proprietário) - e
o jogo de uma heterogeneidade que é a elas inerente. Parece residir aqui, mais uma vez,
uma crítica à fenomenologia – ao vivido como uma substância informe e homogênea,
vivida por um sujeito em sua “tomada de consciência”. Deleuze e Guattari mostram, com
as noções de afecto e percepto, que a sensação produzida pela arte é conservada porque ela
tem uma relação não só com as qualidades extensivas, mas, antes, com intensidades. As
intensidades se desenrolam nos dinamismos espaço-temporais e “permitem materialmente
o próprio ato de sentir”. Apesar da intensidade ser uma presença pura ela não pressupõe
uma estabilidade. O que Deleuze considera presença “pura”, ao contrário de uma
estabilidade, diz respeito às intensidades, velocidades, lentidões, afectos. A intensidade
convoca o movimento, movimento do disparo, de antecipação da percepção90. Da mesma
forma, na práxis da escuta, experimentamos estes dinamismos rítmicos e articulatórios das
artes, a materialidade das forças do movente (talvez venha desta materialidade o sentido
háptico atribuído às qualidades sonoras e visuais), mais do que um “puro” essencial,
abstrato, em forma de ideia. Como dar consistência a heterogêneos? É por velocidade e
lentidão (valores diferenciais do ritmo dos quais dependem as substâncias, os
comportamentos, etc.) “que a gente se conjuga com outra coisa (...): escorregamos entre,
entramos ao meio, casamos ou impomos ritmos”91. Devir e transcodificação (que é essa
89 DELEUZE. Francis Bacon - Logique (...), p. 52 (p. 27). 90 Falamos um pouco sobre isso na nota 72 deste trabalho e voltaremos a elaborar a questão da “antecipação”, no próximo capítulo, na parte onde analisarei de forma um pouco mais aprofundada Diferença e Repetição. 91 DELEUZE, Gilles. Spinoza, philosophie pratique apud Guillaume Sibertin-Blanc, Politique et Clinique. Recherche sur la philosophie pratique de Gilles Deleuze, pp. 220/221.

55
interação, este glissando que se dá entre códigos e meios heterogêneos)92. O ritmo permite
a involução dos planos, dos códigos, dos meios, isto é, as “sínteses disjuntivas”. “Terreno
indiviso”, terreno (terra, território) onde os componentes não respeitam a distinção das
ordens ou hierarquias das formas. Tratam-se de “anarquias coroadas”. Musicalidade do
plano de imanência.
Porém, o ato de sentir, este ato, Deleuze e Guattari dizem ser passivo.
*
Sobre a autonomia dos afectos e perceptos conservados pela sensação, trazemos um
trecho da dissertação de mestrado de Henrique Lima, denominada Da música, de Mil
platôs, dedicada ao ritornelo, mais precisamente aos infra-agenciamentos dos territórios. O
autor recupera a noção de metaestabilidade de Simondon, a partir da leitura de Deleuze e
Guattari, e diz o seguinte:
A autonomia das matérias de expressão constitui o jogo de forças pelo qual o território só pode ser instável, metaestável. Deste modo, ela constitui o motor lógico da metaestabilidade do território. São as matérias de expressão que traçam o território tanto em seu fechamento quanto em sua abertura, e o traçam sempre enquanto um plano de consistência estético93.
É no jogo estabelecido entre as matérias de expressão que podemos falar de um
contraponto territorial. A autonomia concerne às individuações, às assinaturas, às
determinações espaço-temporais, que criam suas próprias lógicas entre linhas e conferem
consistência aos planos, pois é neste jogo que o plano se faz movente. Reproduzimos a
92 “A transcodificação ou transdução é a maneira pela qual um meio serve de base para um outro ou, ao contrário, se estabelece sobre um outro, se dissipa ou se constitui no outro. Justamente, a noção de meio não é unitária: não é apenas o vivo que passa constantemente de um meio para outro, são os meios que passam um no outro, essencialmente comunicantes”. Mil platôs, vol. 4, pp. 118,119. 93 LIMA, Henrique R.S. Da música, de Mil platôs: a intercessão entre filosofia e música em Deleuze e Guattari. Orientadora: Profa. Dra. Cíntia Vieira da Silva. Dissertação (Mestrado) – UFOP, Ouro Preto, 2013, p. 110.

56
passagem de Simondon, citada por Lima, onde podemos entender um pouco melhor o
sentido atribuído aos regimes “metaestáticos”:
O ser não é originalmente estável, é metaestável; ele não é um, pois é capaz de expansão a partir de si mesmo; o ser não subsiste em relação a si mesmo; ele é contido, tenso, superposto a si mesmo, e não um. O ser não se reduz ao que ele é; ele está acumulado em si mesmo, potencializado [...]; o ser é, ao mesmo tempo, estrutura e energia.94
Então, a lógica da sensação não é uma lógica sentimental: “não existem
sentimentos em Bacon: há nada mais que afectos, ou seja, ‘sensações’ e ‘instintos’”95. Para
a presente abordagem de um pensamento-música, considera-se relevantes os momentos
musicais que suscitam de alguma forma a distinção entre sentimento e sensação, fazendo
sobressair uma sensibilidade que nos conduz para o sonoro-musical. Assim, não buscamos
a primazia de uma determinada música em detrimento de outras, mas analisar em que
medida determinadas práticas musicais “alargam nossa percepção” ao interrogarem sobre
si mesmas, ao provocarem perguntas autocríticas como: “o que é música?”; “como tudo
isso aconteceu?”; “quais sons?”; “qual corpo?”. Práticas musicais por vezes difíceis e
passíveis de juízos como “eu não entendi nada” e que de uma maneira espinosista
compreendem uma percepção pela causa, pelo modo de produção. Em seus estudos sobre o
cinema, Deleuze diz que quando fazemos este tipo de pergunta, como “o que que
aconteceu?”, estamos diante de um filme que nos dá a pensar. Uma imagem-tempo que
não mais procede exclusivamente pela associação-sucessão linear de imagem, mas que,
antes, move-se em função de um autômato espiritual, de um encadeamento não
necessariamente “narrativo”. Dinamismo inerente ao poder de afetar e ser afetado. Um
94 SIMONDON, G. L’individu et sa genèse physico-biologique. Paris, PUF, 1964, p. 285 apud LIMA, Henrique. Da música, de Mil platôs, p. 108. 95 DELEUZE. Francis Bacon – Logique (...), p. 44 (tradução minha. Na tradução de Malufe e Ferraz, p. 21). Consideramos a obra O que é a filosofia?, de Deleuze e Guattari, para análise dos conceitos de afecto e percepto em sua relação com a sensação.

57
corpo-pensamento. Eis a distinção para Deleuze entre um diretor que pensa sobre cinema,
“colocando um pensamento mais ou menos bom no cinema” e um diretor que faz, como
Godard, com que o cinema pense96.
“Os sons devem pensar”, diz Helmut Lachenmann, compositor alemão, ainda vivo.
Para Deleuze, o material-forças e as individuações sem sujeito são em si modos de
existência. É nesse sentido que o vitalismo proposto em sua filosofia não tem a ver com o
orgânico, mas com essa matéria “pensante”, que se confunde no caos e no composto, no
pensamento e nos desejos. Interessa-nos a relação que Deleuze faz entre as matérias
moventes de expressão – que como tais evocam uma musicalidade – e o pensamento. O
sensível que afeta e nos força a pensar. Pensamento-música. Os “movimentos aberrantes” e
involutivos do devir revelam uma participação de algo que o próprio Deleuze denomina
curiosamente de anti-Natureza. As noções de corpo sem órgãos, de plano
(imanência/consistência/composição), campo pré-individual, platô, todas elas – guardadas
as suas diferenças – pertencem a essa anti-Natureza. Planos povoados por hecceidades,
pelas individuações sem sujeito. O sentimento de uma Natureza desconhecida diz respeito
ao afecto: “os puros afectos implicam um empreendimento de dessubjetivação” 97. Deleuze
ressalta que para Espinosa, desconhecer o afecto de que se é capaz é condição para traçar-
se qualquer plano de imanência. O afecto, portanto, “não é um sentimento pessoal,
tampouco uma característica, ele é a efetuação de uma potência de matilha, que subleva e
96 DELEUZE, Gilles. “Sobre Nietzsche e a imagem do pensamento” in DELEUZE, Gilles. A ilha deserta, textos e entrevistas (1953-1974). Prep. David Lapoujade. Org. da edição brasileira: Luiz B.L.Orlandi. Iluminuras, 2008, p. 182. 97 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol.4, “Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível”, p. 60. Nas suas investigações sobre o devir, Deleuze e Guattari retomam, também da filosofia medieval, o conceito de hecceidade, que eles definem como sendo individuações sem sujeito.

58
faz vacilar o eu”98. Os afectos são devires. E sob essa perspectiva que Deleuze afirmará nos
Diálogos que a experimentação sobre si mesmo é a nossa única identidade99.
Assim, voltamos a Kafka. O escritor explora uma matéria sonora intensa como a
expressão de um devir-animal, um devir-molecular que escapa da suntuosidade da
literatura maior, desta onde o “caso individual” é particularmente o centro. Deleuze e
Guattari chamam “de interpretação baixa ou neurótica, toda literatura que torna o gênio em
angústia, em trágico, em ‘caso individual’”.100 No devir-menor, isto é, na
desterritorialização, experimentação sobre si mesmo, o “caso individual” é ampliado como
se atravessasse uma lupa, um microscópio, expondo todas as suas moléculas moventes
(seus potenciais energéticos), abrindo-se para múltiplas linhas de saída. Desterritorializar-
se e devir-múltiplo. “Tornar-se um estrangeiro na própria língua”101. No devir-animal de
Kafka abre-se espaço para toda hecceidade, colocando-o necessariamente em um
agenciamento coletivo, ou múltiplo, de enunciação. A crítica de Kafka à metáfora reside
neste lugar, na distinção de um verdadeiro devir, neste onde se faz “um uso intensivo
assignificante da língua”, quando a expressão precede o conteúdo, ou antes, quando uma
matéria não formada de expressão prevalece sobre a distinção expressão/conteúdo102. Daí
também a crítica aos “casos individuais” tomados como centros de narrativa. Deleuze e
98 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4. “Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível”. 99 No platô sobre o Devir, Deleuze e Guattari entrelaçam essas noções ao dizerem sobre o corpo sem órgãos: “A questão não é a da organização, mas da composição; não do desenvolvimento ou da diferenciação, mas do movimento e do repouso, da velocidade e da lentidão” (p. 41). Referência à filosofia espinosista. Em sua tese de doutorado, Guillaume Sibertin-Blanc reafirma que todas essas noções – plano de imanência, Corpo sem órgãos, corpo comum, etc., tratam-se da mesma coisa. E, desta forma, é no cerne desses termos, naquilo que os tornam equivalentes ou unívocos, que reside a questão prática-política da filosofia de Deleuze. 100 DELEUZE. GUATTARI. Kafka: por uma literatura menor. 101 Kafka: por uma literatura menor e Proust e os signos, obras em que a frase de Proust é citada. Percebemos algo muito parecido com esta ideia, de se tornar estrangeiro na própria língua, em A imagem-tempo, quando Deleuze fala da invenção de um povo: “É preciso que a arte, particularmente a arte cinematográfica, participe dessa tarefa: não dirigir-se a um povo suposto, já presente, mas contribuir para a invenção de um povo por vir” (DELEUZE, Gilles. A imagem- tempo. Trad. Eloisa Ribeiro - São Paulo: Brasiliense, 2005, p. 259). 102 Repetimos aqui a passagem de Kafka: por uma literatura menor: “O que interessa a Kafka é uma pura matéria sonora intensa, sempre em conexão com a sua própria abolição, som musical desterritorializado, grito que escapa à significação, à composição, ao canto, à palavra, sonoridade em ruptura para se desgarrar de uma corrente ainda demasiado significante” (p.14).

59
Guattari dizem: “Kafka, mesmo morrendo, é atravessado por um fluxo de vida
invencível”103. Talvez seja por essa via que Deleuze compreenda o desejo: enquanto
expressão-sensação da multiplicidade, potência de vida invencível.
Interessante notar a retomada de Deleuze da questão do que pode um corpo no
contexto da Ética104: “o que pode um corpo?” está menos à escuta de um naturalismo,
voltado para a identificação de um centro autônomo natural, com suas funções e fisiologias
– isto é, um organismo –, do que para o movimento, a cinemática – ocupações, contágios,
povoamentos, velocidades, lentidões – e a dinâmica enquanto estudo das forças do tempo
em um regime qualquer. O Afecto é um signo vetorial, condição para um fluxo de vida.
Assim, “a teoria das multiplicidades intensivas permite caracterizar materialmente o
afecto, como variação de potência”105. E é sob os termos da cinemática e da dinâmica que
Deleuze pensa, com Espinosa, o corpo.
Toda uma vida não orgânica, pois o organismo não é a vida, e a aprisiona. O corpo é inteiramente vivo, e portanto não orgânico. Assim a sensação, quando atinge o corpo através do organismo, toma um movimento excessivo e espasmódico, rompe os limites da atividade orgânica106.
À pergunta levantada no começo, em seu curso sobre Espinosa, “Do que falamos
ser « rápido » ou « lento » habitualmente?”, Deleuze responderá mais tarde: do corpo.
Como vimos, corpo diz respeito a uma multiplicidade, aos corpúsculos, às moléculas,
células, microfendas, etc.107 Pois, ao inferir que o pensamento toma tempo, “produz
103 DELEUZE, GUATTARI. Kafka: por uma literatura menor, p. 77/78. 104 “O fato é que ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo, isto é, a experiência a ninguém ensinou, até agora, o que o corpo (...) pode e o que não pode fazer. (...) Isso basta para mostrar que o corpo, por si só, em virtude exclusivamente das leis da natureza, é capaz de muitas coisas que surpreendem a sua própria mente”. SPINOZA, B. Ética. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007. (E, III, prop. II, esc.), p. 167. 105 SIBERTIN-BLANC, G. Politique et Clinique (...), p. 229. 106 DELEUZE. Francis Bacon – Logique (...), p. 48 (p. 24). 107 « L’individualité du corps, pour lui, de chaque corps, c’est un rapport de vitesses et de lenteurs entre éléments. Et j’insistais: entre éléments non formés. Pourquoi? Puisque l’individualité d’un corps c’est sa forme, et s’il nous dit la forme du corps – il emploiera lui-même le mot forme en ce sens – la forme du corps

60
velocidades e lentidões e ele mesmo é inseparável de velocidades e lentidões que ele
produz”, Deleuze confere a ele a característica que define os corpos. Na relação que
Deleuze estabelece entre o cinema e o pensamento, o corpo é tido como uma mutação do
pensamento. E, ao convocar o corpo, o pensamento “termina com a sua velha tarefa de
julgar a vida”, e se insere nas categorias da vida, ela mesma108. Tomada de consistência do
corpo. Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível. “A imanência prática como corpo
sem órgãos: apreensão intensiva das multiplicidades e cartografia dos afectos”109.
É notável que seja também pelo movimento que se confira o estatuto positivo da
diferença: a diferença que volta na repetição, movimento de ritornelo. “O eterno retorno é
o ser desse mundo, o único Mesmo que se diz desse mundo, excluindo dele toda identidade
prévia”110. Na compreensão de Deleuze sobre o eterno retorno elaborado por Nietzsche,
“retornar é o único ser do devir”, lei de um mundo sem Ser. Portanto, não se trata de um
movimento local, extensivo, mas flutuações, disparos, oscilações, choques, mudanças de
direção, vacilos, catástrofes, nomadismo. Dessa ideia de devir nasce então uma
“heterogênese semiótica transversal”, para usar a expressão da compositora Criton em seu
texto A heterogênese sonora. O devir pressupõe a coexistência.
*
É nesse sentido que o senhor Klossowski nos mostrava na Vontade de potência um mundo de flutuações intensas, no qual as intensidades se perdem e no qual cada um não pode querer a si sem querer também todas as outras possibilidades, devindo inumeráveis outros e apreendendo a si como um momento fortuito (...). Mundo de signos e sentidos, segundo o senhor Klossowski, pois os signos se estabelecem numa
c’est un rapport de vitesses et de lenteurs entre ses éléments, il faut que les éléments n’aient pas de forme, sinon la définition n’aurait aucun sens » (Deleuze, curso de 1980, em Vincennes). 108 DELEUZE, Gilles. Curso n° 68, Cinema/ Pensée, dado em Vincennes, em 06/11/1884. www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=366 109 SIBERTIN-BLANC, G. Politique et Clinique (...), p. 229. 110 DELEUZE. Diferença e repetição, pp. 341/342

61
diferença de intensidade e devêm “sentido” à medida que visam outras diferenças compreendidas na primeira e retornam a si através de outras111.
Na sua pesquisa sobre a obra de Proust, Deleuze cria uma categoria de signos aos
quais ele atribui o nome de signos sensíveis. Os signos sensíveis se relacionam com uma
memória involuntária. Suspeitamos que os termos “passividade”, referido anteriormente
nesta dissertação ao ato de sentir, e “involuntário” são aqui correlatos. Um pesquisador
brasileiro, Igor Reyner, também músico e muito curioso com o sentido da escuta dentro da
obra proustiana, salienta que o signo sensível impõe uma busca pelo sentido, “momento de
passagem da percepção de qualidade sensível para a memória involuntária, a
reminiscência”. O signo sensível nos força uma busca. Nesta permissão de deixar que a
sensação desencadeada se envolva na reminiscência (sem impor-lhe reconstituições,
reproduções de uma memória/razão voluntária) que a diferença volta, se repete, e o
aprendiz ali envolvido em sua busca, entregue ao devir, encontra um sentido novo, um
sentido outro daquilo que ele viveu outrora. O tempo redescoberto... este é o tempo da arte,
o tempo e o sentido do ritornelo. Assim, o ato de sentir é passivo na medida em que ele é
mobilizado por forças involuntárias, na medida em que ele é “forçado”112.
A teoria do sentir deleuziana começa bem antes de seus escritos sobre a sensação.
Ela é amplamente desenvolvida, ou melhor, ela é o grande tema de Diferença e Repetição.
Lá, no capítulo sobre a síntese assimétrica do sensível, Deleuze diz:
111 DELEUZE, Gilles. “Conclusões sobre a vontade de potência e o eterno retorno”, trad. Luiz B.L. Orlandi, in DELEUZE. A ilha deserta, textos e entrevistas (1953-1974), p. 162. 112 REYNER, Igor Reis. Pierre Schaeffer e Marcel Proust: As expressões da escuta. Dissertação de mestrado. ESMU/UFMG, 2012, p. 57 (cap. “O mundo das impressões e a memória involuntária”, pp. 57-59). Roberto Machado, referenciado por Reyner, coloca a questão da seguinte maneira: “Por que essa importância dada aos signos e (...) aos signos da arte, na estrutura da Recherche? A razão é a mesma de todos os estudos de Deleuze: o signo – ou a partir de Diferença e Repetição, a intensidade – é o que força o pensamento em seu exercício involuntário e inconsciente, isto é, transcendental. Só se pensa sob pressão. Na gênese do ato de pensar está a violência dos signos sobre o pensamento”. MACHADO, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009, p.197.

62
Chamamos disparidade esse estado da diferença infinitamente desdobrada, ressoando indefinidamente. A disparidade, isto é, a diferença ou a intensidade (diferença de intensidade) é a razão suficiente do fenômeno, a condição daquilo que aparece. (...). A razão do sensível, a condição daquilo que aparece não é o espaço e o tempo, mas o Desigual em si, a disparação tal como é compreendida e determinada na diferença de intensidade, na intensidade como diferença113.
É precisamente por isso que a intensidade antecipa a percepção e já é sensibilidade.
A diferença, isto é, o desigual, é intensidade pura; ela é inexplicável, indivisível,
incomensurável. A diferença é o ser do sensível, aquilo que só pode ser sentido114. Assim,
toda a positividade da diferença é construída, a partir de Deleuze, por uma teoria das
intensidades que recoloca o signo em um lugar bem interessante para a presente
investigação sobre um pensamento-música:
A intensidade não remete nem a significados que seriam como a representação de coisas, nem a significantes que seriam como representações de palavras. Então, qual é a sua consistência ao mesmo tempo como agente e como objeto de descodificação? (…) A intensidade tem algo que ver com os nomes próprios, e estes não são nem representações de coisas (ou de pessoas), nem representações de palavras. (...) Há uma espécie de nomadismo, de deslocamento perpétuo de intensidades designadas por nomes próprios, e que penetram umas nas outras ao mesmo tempo em que são vividas sobre um corpo pleno. A intensidade só pode ser vivida em relação com sua inscrição móvel sobre um corpo, e com a exterioridade movente de um nome próprio, e é por isso que o nome próprio é sempre uma máscara, máscara de um operador.115
Voltamos ao ritmo. O ritmo aparece como uma relação entre signos vetoriais que
compõem diagramas de forças onde há sempre crescimento ou decrescimento de potência.
Vimos que a consistência diz respeito à captura e à orquestração de forças; à criação de
forças e de ritmos. Compor um diagrama de forças, que tenha matérias de expressão
moventes que possam entrar em consistência, um diagrama que tenha sua lógica, mas que
não se esgote na forma, ou em uma sucessão. “O que torna o material cada vez mais rico é
113 DELEUZE. Diferença e Repetição, p. 314. Grifo meu. 114 p. 94 e pp. 341-342, onde Deleuze discorre sobre a repetição do desigual em si, o eterno retorno como eterna afirmação do ser e “o liame entre o eterno retorno e as intensidades puras funcionando como signos”. 115 DELEUZE, Gilles. “Pensamento nômade”, trad. Milton Nascimento, in DELEUZE. A ilha deserta, textos e entrevistas (1953-1974), p.325. Relação entre intensidade e corpo.

63
aquilo que faz com que heterogêneos mantenham-se juntos sem deixar de ser
heterogêneos”116. Movimentos nômades, desterritorialização, reterritorialização. A duração
como multiplicidade.
Em um texto sobre a ‘Patafísica, a ciência das exceções criada pelo escritor francês
Alfred Jarry, Deleuze diz que nela “o signo não designa nem significa, mas mostra... É o
mesmo que a coisa, porém não é idêntico a ela, mostra-a”117. E sendo aquilo “que mostra-
se em si mesmo”, isto é, um fenômeno que não remete à consciência e não serve a coisa
alguma, ele é inconsciente e inútil, e é por isso singular118. A sensibilização provocada
pelas práticas artístico-musicais pelas quais nos interessamos parece ter o seu alcance
justamente no fato delas não “explicarem”, nem nada contarem, mas, antes, no fato delas
mostrarem-se em si mesmas.
É na diferença que o fenômeno fulgura, que se explica como signo; e que o movimento se produz como “efeito” (...). No eterno retorno, a caos-errância opõe-se à coerência da representação; ela exclui a coerência de um sujeito que se representa, bem como de um objeto representado119.
Assim, estabelecemos alguns entrelaçamentos entre sensação, linguagem, corpo e
pensamento. E como a arte opera nisso. E como o musical-sonoro emerge das análises de
Deleuze sobre arte e o pensamento da diferença. Tornam sensíveis as forças do Tempo120.
116 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, p. 141. 117 DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica (1993). Trad. Peter Pal Pelbart - São Paulo: Ed. 34, 1997 (coleção TRANS), p. 111 (texto-capítulo: “Um precursor desconhecido de Heidegger, Alfred Jarry”). 118 “Um precursor desconhecido de Heidegger, Alfred Jarry”. O jogo provocado pela definição cômica da ‘Patafísica em relação à sua inutilidade e inconsciência (definição da própria ‘Patafísica sobre ela mesma) vem da crítica que ela traz ao positivismo e às ciências, no contexto do final do século XIX, na Europa. Deleuze recupera na ‘Patafísica o que ele considera como caráter epifenomenal do signo, indo ao encontro da sua, então, ontologia da diferença/intensidade, da primazia do singular e do universal sobre o genérico, o dado e a representação. 119 DELEUZE. Diferença e Repetição, pp. 94/95. 120 “Mas se a força é a condição da sensação, não é ela que é sentida, visto que a sensação “dá” todas as outras coisas a partir das forças que a condicionam. Como poderia a sensação voltar-se o suficiente sobre si mesma, se esticar ou se contrair, para captar naquilo que nos dá as forças não dadas, para fazer sentir as forças insensíveis e se elevar à sua própria condição? É assim que a música deve tornar sonoras as forças não sonoras e a pintura, visíveis as forças invisíveis. É por vezes a mesma coisa: o Tempo, que é insonoro e invisível; como pintar ou fazer ouvir o tempo?” DELEUZE, G. Francis Bacon – Logique (...), p. 57.

64
O signo que não significa, mas mostra; pintar o grito e não o horror, “pintar a sensação,
que é essencialmente ritmo”121.
*
Tomamos o caminho dado por uma provocação do compositor Lachenmann na qual
ele diz: “ou bem a música é linguagem, ou bem é uma situação”. Música enquanto
situação, “o que não significa que esta música não queira nada dizer”. Muito antes, pelo
contrário, ela nos interpela sobre a ideia que nós temos sobre a arte122, sobre a música,
sobre a nossa escuta. Vimos que a sensação não é correlata à representação, ela não diz
respeito à formatação, à verificação. Portanto, com Lachenmann inferimos que, por um
lado, escutar não quer dizer somente apreender, mas também fazer “a experiência da
materialidade dos sons”123. Por outro, a sensibilidade aprofundada, aquela capaz de
“destruir a ideia convencional que fazemos da música”, provém de uma concentração de
escuta com um esforço de todos os nossos “meios”: “a inteligência, a intuição, a
experiência, a memória”124.
Em uma passagem sobre repetição e complexidade, em Música e Repetição, Silvio
Ferraz salienta na obra de alguns compositores o caráter errante da forma musical, que
como tal, é construída pela exploração contínua da matéria sonora. A menção de Ferraz ao
121 “Pintar a sensação, que é essencialmente ritmo… (...). No acoplamento da sensação, o ritmo já se solta visto que confronta e reúne níveis diversos de sensações diferentes: ele é agora ressonância, mas ainda se confunde com as linhas melódicas, pontos e contrapontos de uma Figura acoplada; ele é o diagrama da Figura acoplada. Enfim, com o tríptico, o ritmo toma uma amplitude extraordinária em um movimento forçado que lhe dá autonomia e faz nascer em nós a impressão de Tempo: os limites da sensação são transbordados, excedidos em todas as direções”. DELEUZE. Francis Bacon –Logique (...), p.71. 122 LACHENMANN, Helmut. De la musique comme situation, entretien avec Abigail Heathcote (2006) in Écrits et entretiens, choisis et préfaces par Martin Kaltenecker. Éditions Contrechamps, 2009, pp. 263 e 267 (tradução minha). 123 p. 265. 124 p. 267. Consideramos este “esforço” um componente do devir-ativo do pensamento crítico-criativo.

65
termo épochée, explorado por Pierre Schaeffer no Tratado dos objetos musicais, ganha
uma nota de pé de página em seu livro digna de reprodução aqui:
Em Traitée des Objet Musicaux Pierre Schaeffer faz uso do termo épochée tomado da filosofia de Husserl onde significa a “abstenção de toda tese”, para aplicá-lo no caso específico da percepção onde entra em ação a sensação do objeto e a sensação de atividades anteriores do sujeito com relação a este objeto ou a aspectos do objeto: perceber a rugosidade do som. Não se trata de uma escuta gestaltica , da forma global, nem mesmo de uma escuta figural ou simbólica, mas de um nível extremo de sensibilização onde o próprio objeto-sonoro se desfaz.125
Devir-menor da escuta, escuta háptica das músicas concretas: perceber a rugosidade
do som. É um traço comum entre os pensamentos dos artistas do século XX uma certa
função “desdogmatizante” da arte. Na música, muitos compositores se interessaram pelo
tempo, pelo conceito de tempo, de um tempo que nasce na captura de forças, e fizeram
desse conceito o grande tema de suas peças. Nesta música, parte-se do pressuposto que
nada está muito previsto, pois “tudo se encontra em estado nascente”126. Iannis Xenakis,
compositor grego radicado na França, compôs em 1977 a peça eletroacústica La Légende
d’Eer para um espaço arquitetônico, obra a que ele deu o nome de Le Diatope: geste de
lumière et de son. Como convite para a escuta deste espaço sonoro, Xenakis escreveu:
A música não é como uma língua. Toda peça musical é como uma rocha de forma complexa com estrias e desenhos gravados sobre ela e em seu interior que os homens podem decifrar de mil maneiras sem que nenhuma seja a melhor ou a mais verdadeira127.
Guardadas as diferenças, acreditamos que as motivações musicais de Xenakis e de
outros compositores da música de concerto do século XX possam ir ao encontro do
estatuto de situação da música sugerido por Helmut Lachenmaan. Xenakis lança uma outra
125 FERRAZ, Silvio. Música e Repetição. EDUC/Fapesp, 1998 – Capítulo II Repetição e Complexidade, p. 93. 126 FERRAZ, Silvio. Tese de Livre Docência. IA-UNICAMP, São Paulo, 2007 (segundo livro: páginas sobre tempo e espaço na composição musical). 127 XENAKIS, Iannis. Musique de l’architecture, textes, réalisation et projets architecturaux choisis, présentés et comentés par Sharon Kanach, Marseille, Parenthèse, 2006 (tradução nossa).

66
perspectiva sobre o que a música diz e exprime e, mais que isso, sobre a expectativa que
ela possa exprimir alguma coisa. Podemos nos perguntar o que se passa na música uma vez
que ela não carrega enunciado algum, ou, se ela carrega algum, ele não é mais estruturante.
Música como um acontecimento. “Pura presença”... A partir da ideia da música ser uma
rocha complexa poderíamos dizer que ela está ali na natureza – ritornelo desterritorializado
– e o ouvinte, está lá ou não. Mas, este deixar ser desta “tendência natural” e da imersão
proposta por Xenakis não faz com que o ouvinte esteja solúvel no som; “ele pode a
qualquer momento se tornar mestre”128. Em um livro sobre Bergson, Franklin Leopoldo e
Silva observa:
É claro que, do ponto de vista da elaboração e da contemplação, a singularidade da expressão musical deriva da vivência do tempo absoluto, mas por intermédio de signos que, na música, são extraídos mais diretamente do tempo, já que, neste caso, o próprio tempo é signo. (...) A música certamente é uma expressão tensa da temporalidade, pois nela o signo está carregado de duração (...)129.
Quando tomamos a ideia da música como situação, consideramos um aspecto da
escuta que, como já sugerido, se expressa polifonicamente. Aquela mudança de direção, o
128 SOLOMOS, Makis. Deux visions de la «vie intérieure du son»: Scelsi et Xenakis in http://revues.mshparisnord.org/filigrane/index.php?id=504. 129 LEOPOLDO E SILVA, Franklin. Bergson: Intuição e Discurso Filosófico. - São Paulo: Loyola, 1994. Coleção Filosofia; 31, p. 312. Tomamos como a peça Anahit - Poème lyrique dédié à Vénus, para violino et dezoito instrumentos, escrita por Giacinto Scelsi, em 1965. Retomando a citação de Silvio Ferraz, escutamos em Scelsi (bem conhecido - ou mal conhecido, para alguns - por ser o compositor de uma “nota só”), o objeto sonoro no seu ato de se desfazer, e de se refazer também, concomitantemente, em um movimento perpétuo, espécie de “um gesto só”. « A reprodução do Mesmo não é um motor de gestos » . O ato de criar não quer dizer reproduzir alguma coisa. A propósito da causalidade Deleuze distingue dois tipos de repetição: um concernente ao efeito abstrato e outro, como vimos no começo deste capítulo, concernente a causa atualizadora. Esta não resulta da obra como efeito total – onde encontramos um conceito representativo -, ela é antes uma espécie de evolução gestual, da ordem dinâmica-assimétrica da repetição: “repetição de uma diferença interna que ele compreende em cada um de seus momentos e que ele transporta de um ponto relevante a outro” (Diferença e Repetição, p. 28). Dentre a coexistência dos seus pontos no continuum do gesto, a nota sola em Scelsi (que começa na oscilação daquele si bemol) torna-se múltipla, mais precisamente ela se revela ser múltipla e torna-se ela mesma o “Uno-todo” (simples presença da duração), constituindo o musical em um tempo “eterno”. No interior do som, o “ser” não é um só que se diz de vários modos mas ele mostra-se em um só sentido em sua multiplicidade imanente, “no abismo do som”. Neste caso, consideramos o gesto como uma espécie de “linguagem que fala antes das palavras”, para usar uma expressão citada por Deleuze, mais precisamente como um signo se fazendo (devir-gesto do gesto). No entanto, em Scelsi temos a impressão que, neste movimento perpétuo, este espaço de som que está em ocupação, em “devir-povoado” de harmônicos, possui paradoxalmente um limite latente: estamos neste espaço-tempo mas não podemos sair dele, ou melhor, este espaço-tempo constitui nós mesmos. Grandiosa molecularidade de Anahit.

67
molecular, os pequenos acontecimentos, anomalias, alterações, brincadeiras, resistências,
prazeres. “Tornar-se mestre”, tal como um jogo de alternância. Pois, na recusa de Deleuze
à representação reside uma recusa à noção de sujeito.
Percebemos que Deleuze está mais interessado pelas individuações sem sujeito, isto
é, as intensidades, os devires, as hecceidades, os acontecimentos. Aqui reside novamente
um apontamento à distinção entre sensação e sentimento. Sentimento diz respeito a um
“eu” e é justamente contra este “eu” que se dirige Lachenmann. Ele diz que o que nos toca
na música é da ordem de um “isto” significante130. Assim, colocamos em jogo a relação
entre música e sensação, a sensação do signo – o signo carregado de duração – e alguns
limites entre música e linguagem na esteira de uma crítica à representação. Não nos
preocupamos em explicitar uma distinção entre processo de criação, “obra” em si e
recepção. No entanto, vale ressaltar uma interessante observação do compositor Rogério
Vasconcelos Barbosa sobre a crítica da representação deleuziana, retomada com Guattari
em suas obras a quatro mãos. No texto Modos de representação do pensamento musical, o
compositor expõe uma análise sobre a relação música/escrita musical através da tensão
entre sensação e representação. Para ele, o espaço gráfico (da notação musical) “permitiu
uma detenção do movimento temporal: o tempo musical deixava de ser escoamento e
passagem”131. Barbosa ressalta a importância da representação em tensão com a sensação e
com as expressões de duração para “a entrada do novo”, para criar no campo musical
deslocamentos e, apoiando-me no vocabulário deleuze-guattariano, novos perceptos e
afectos. A escrita musical é tomada por Barbosa, portanto, como um elemento tensionador
necessário, que contribui para rupturas e deformações dos modelos, possibilitando algo de
novo. O que ele chama de modelo, então, não é uma coisa rígida, mas maquínica, e se 130 LACHENMANN, H. De la musique comme situation (Contrechamps, 2009), pp.263 e 265. A esse « isto », Lachenmann confere o nome de estrutura. 131 BARBOSA, Rogério Vasconcelos. Modos de representação do pensamento musical. 2007, p. 4. http://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2007/composicao/comp_RVasco.pdf

68
reconfigura na medida em que agencia novos materiais. Logo, o material musical é
modelado ao mesmo tempo que modelos passam a ser projetados no material,
possibilitando, nessa alteração de escuta do material, caminhos para sua própria
deformação e involução. E, desta forma, Barbosa adota o termo “representação” sem, no
entanto, desconsiderar a crítica de Deleuze e Guattari:
Todavia que se compreenda a importância das advertências de Deleuze e Guattari: por um lado, a linguagem é criativa e não apenas indicativa, transforma o real e não apenas o reflete; por outro, a independência relativa das formas de expressão e de conteúdo supõe defasagens, deslocamentos e desencontros entre elas132.
*
O que é inerente a todas as disciplinas criativas? Deleuze responderá em O que é o
ato de criação? que toda criação é constituição de espaços-tempos. E “ é em nome
de minha criação que tenho algo a dizer para alguém”133. Há sempre uma relação com dizer
algo e a imanência; compartilhar um processo de investigação – combate com o caos – e
não apenas expor o que eu já sei, as ideias claras e distintas. Para Deleuze (e Guattari), “o
que depende de uma atividade criadora livre é também o que se põe em si mesmo,
independentemente e necessariamente: o mais subjetivo será o mais objetivo”134.
Intensidades puras. O mais subjetivo é a Duração, o nome próprio atingindo sua
132 BARBOSA, R. V. Modos de representação do pensamento musical, p. 2. Da mesma forma, a compositora Valéria Bonafé explora, em sua dissertação de mestrado, a noção de morfogênese a partir da ideia de gesto na obra do compositor Luciano Berio. Ela diz que na obra de Berio o gesto “não significa, mas exprime”. Com Bonafé compreendemos a noção de gesto como um movimento de uma forma, de uma estrutura da peça (deformação de um modelo), engendrados por uma multiplicidade que ele traz enquanto processo. Na sonata para piano de Berio, a retomada do si bemol 4 do movimento “Le gibet”, de Gaspard de la Nuit de Ravel, é considerada pela compositora um gesto que para além de sua intrínseca função de estabilizar uma coerência formal (característica dos ostinatos), ele “coloca em evidência o som em si” fazendo–nos confrontar nossa escuta com uma redimensionalização de um gesto histórico, desterritorializando-o e mostrando seu potencial sonoro; espécie de uma assinatura. “Portanto, na Sonata, Berio mostra que o gesto não é algo em si, mas a reunião de suas diferentes manifestações ao longo da peça, isto é, sobrevivem se vinculados à noção de processo”. BONAFÉ, Valéria. Muelas. Estratégias composicionais de Luciano Berio a partir de uma análise da Sonata per pianoforte (dissertação), São Paulo, 2001. 133 DELEUZE. O que é o ato de criação? ( in Org. DUARTE O belo autônomo), p. 390. 134 DELEUZE. GUATTARI. O que é a filosofia?, p. 20.

69
individualidade mais alta, perdendo toda sua personalidade. Vimos que o eterno retorno “é
instrumento e a expressão da vontade de potência pois, justamente, ele eleva cada
coisa/ação à enésima potência”135. Criação de formas superiores que são as intensidades
puras. Portanto, tornar a duração sensível – que é o que significa a sensação – não é o
mesmo de configurar um sentimento personalista qualquer.
Então, a sensação é um bloco de afectos e perceptos. Deleuze traz com a ética
espinosista o princípio do poder do corpo de afetar e ser afetado e subleva uma importante
dimensão política para a arte e para a figura do artista que faz emborcar alguns juízos
valorativos e de gosto. Percebemos que a leitura que Deleuze faz de Espinosa se conjuga
com algo que ele já havia capturado em Nietzsche. A relação entre corpo, pensamento,
poder/potência, afecto/intensidade. Deleuze entende que a vontade de poder, ou de
potência, trazida por Nietzsche é, em sua forma mais intensa, uma vontade de criar e de
dar, a ação de dar e criar. E que “querer a potência é a imagem que os impotentes
constroem para si da vontade de potência”136. “A potência não é aquilo que a vontade quer,
mas quem quer dentro da vontade, quer dizer Dionísio”137. Na leitura de Deleuze, para
Nietzsche a última instância é a arte, a criação. Pois a arte representa a impossibilidade de
uma última instância; “elemento singular de perturbação”. Ao querer, o artista eleva o que
se quer à enésima potência. “O mais subjetivo, será o mais objetivo”... Jogo de
intensidades, afectos, forças e signos, com o qual lida o pensamento-artista. De alguma
forma, a música traz a imagem para o pensamento, ou a sua sensação, do que pode o corpo.
O corpo sem órgãos, a sensação-vibração. O corpo como aquilo que protagoniza o
movimento, condição para o dinâmico e o cinético. Pascale Criton, ao convocar um
pensamento-música com Deleuze, discerne sob tais termos uma contribuição para se 135 DELEUZE. “Conclusões sobre a vontade de potência e o eterno retorno”, trad. Luiz B. L. Orlandi in A ilha deserta, textos e entrevistas (1953-1974), p.164. 136 p. 158. 137 ibidem

70
pensar a consistência e para a criação de espaços-tempos singulares. “Pois, nesta outra
política do corpo e da história, afastando-se de uma homogeneização globalizada ou do
modelo único ocidental, o intensivo integra os afectos, interroga o negativo, o instável, os
caminhos perigosos do subjetivo e dá sentido à invenção”138. Na « tomada de
consistência », toma-se corpo, apreende-se multiplicidades; momento de atualização de
heterogêneos onde ruptura e continuidade não são antagônicos. No limite do que pode o
corpo, do desconhecimento dos afectos que somos capazes (de afetar e ser afetados), nesse
encontro com o corpo-caos, parece residir a condição do intempestivo para o pensamento e
a criação. Não há última instância para o pensamento-artista139.
1.8 Lembranças... Lembranças e devires... Devir-música
Gostaria de salientar a estrutura do platô sobre o devir, em Mil platôs, denominado
“Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível”. É curioso. O capítulo é subdividido em
pequenas partes com o nome de “lembranças”, tais como se segue abaixo:
138 CRITON, Pascale. “Avant-propos” in CRITON. CHOUVEL. Gilles Deleuze: la pensée musique, p. 11. 139 Talvez seja por essas vias que Deleuze retoma a noção de corpo, para além de Espinosa, na vontade de potência de Nietzsche: “O corpo humano é um pensamento mais surpreendente do que a alma de outrora”. “(...) Não nos cansamos de maravilhar-nos com a ideia de que o corpo humano tornou-se possível. Reconhecer o lugar desta crítica, sem ir contra os espíritos (os bons espíritos). NIETZSCHE, F. VP II 173 e 226. Em Gaia Ciência nota-se a recorrência de um vocabulário pelo qual pode-se entrever a relação entre estética e fisiologia em Nietzsche (saúde, doença, fome, fraqueza, impotência, força). Nietzsche, leitor de Schopenhauer, ressalta o prazer do corpo em escutar música. Ao trazer a música para o corpo, Nietzsche deixa de pensá-la como a arte dos ouvidos. Ela é arte da dança, da caminhada, do salto, da circulação, das entranhas. Ela nos faz sentir calor. Tem-se “o corpo como fio condutor” (Fragmentos póstumos). Com a música, “as paixões gozam a si mesmas” (Além do bem e do mal). Assim, a música não tem nada a dizer no sentido de transmitir uma informação, de traduzir um pensamento consciente, ela é “miserável e sujeita ao erro”. Sobre toda esta análise, citações e sobre estética e fisiologia em Nietzsche ver ROSA MARIA DIAS: Nietzsche e a música. Rio de Janeiro: Imago, 1994; Arte e vida no pensamento de Nietzsche, Cad. Nietzsche, São Paulo, v.36 n.1, 2015. Nietzsche, vida como obra de arte. Org. Evandro Nascimento. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 2011.

71
Lembranças de um espectador.
Lembranças de um naturalista.
Lembranças de um bergsoniano.
Lembranças de um feiticeiro.
Lembranças de um teólogo.
Lembranças a um espinosista.
Lembranças de uma hecceidade.
Lembranças de um planejador.
Lembranças de uma molécula.
Lembranças de um segredo, onde se diz que: “o segredo não é absolutamente uma noção
estática ou imobilizada, só os devires são secretos”140.
Depois delas, soma-se às lembranças: os devires, os pontos e os blocos. Nesta parte,
denominada então Lembranças e devires, pontos e blocos, Deleuze e Guattari destacam:
Cada vez que empregamos a palavra “lembrança” nas páginas precedentes foi, portanto, erroneamente, queríamos dizer “devir”, diríamos devir. (...) O intempestivo, outro nome para hecceidade, o devir, a inocência do devir (isto é, o esquecimento contra a memória, a geografia contra a história, o mapa contra o decalque, o rizoma contra a arborescência. (...) O músico pode dizer por excelência: “Odeio a memória, odeio a lembrança”, e isso porque ele afirma a potência do devir. (...) O bloco sonoro é o intermezzo. Corpo sem órgãos, anti-memória, que passa através da organização musical, e por isso mais sonora141.
E, finalmente, depois de Lembranças e devires, pontos e blocos, quando se
“corrige” a terminologia para o conceito sobre o qual eles dedicam o platô, tem-se o último
subcapítulo do platô, intitulado: Devir-música.
140 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, pp. 83. 141 pp. 92 a 97.

72
A música é precisamente a aventura de um ritornelo: a maneira pela qual a música vira de novo ritornelo (em nossa cabeça, na cabeça de Swann, nos dispositivos pseudo-rastreadores da tevê e do rádio, um grande músico como prefixo musical, ou a musiquinha); a maneira pela qual ela se apropria do ritornelo, torna-o cada vez mais sóbrio, algumas notas, para levá-lo numa linha criadora com isso enriquecida, da qual não se vê nem a origem, nem o fim...142
Todo devir é multiplicidade. Todo devir é: “Devir-intenso, devir-animal, devir-
imperceptível”. Todo devir é devir-música.
142 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, p. 102.

73
2. ALGUNS PONTOS DE ANÁLISE PARA A PERGUNTA “O QUE É FILOSOFIA?”
2.1 “O que é filosofia?”
É uma pergunta, e esta pergunta é também política.
“O que é filosofia?” é o nome dado ao último trabalho de Deleuze em parceria com
Félix Guattari, posterior ao volumoso Mil platôs e aos estudos de Deleuze sobre as artes,
ou seja, uma das últimas obras escrita por ele antes de sua morte. No entanto, esta pergunta
percorre, mesmo que de forma latente, toda a sua obra, seus livros, seus cursos, entrevistas
e conferências – suas primeiras análises sobre a diferença e a multiplicidade, os trabalhos
sobre os signos e a expressão, textos sobre Nietzsche, Espinosa, Leibniz e Kant, os estudos
sobre pintura e catástrofe, sobre Beckett, os materiais-forças e ritornelos musicais, a
relação cinema e pensamento.
E depois de tudo, o último aspecto que me restava de fato, eu não tive muita escolha. Vimos durante um ou dois anos a imagem-movimento. Vimos no ano passado a imagem-tempo. O que me restava? Bem, restava-me a imagem-pensamento. Então a gente se aproxima de uma questão que me preocupa: “o que é a filosofia?” Mas é ainda no nível de um encontro cinema-filosofia1.
Imagem-pensamento, cinema-filosofia.... É curioso. É curioso que um filósofo que
tenha carregado a pergunta “o que é filosofia?” em praticamente todas as suas
investigações e no seu trabalho enquanto professor de filosofia tenha sido menos estudado
por pesquisadores desta área do que das áreas de belas artes, letras, cinema, música,
1 “Et voila que cette année, je voudrais encore, donc pour la dernière fois, faire ou vous proposer un cours sur le cinéma; ou sur un aspect du cinéma. Et après tout, le dernier aspect en effet qu’il me restait, j’avais pas tellement le choix. On a vu pendant un ou deux ans l’image-mouvement. On a vu l’année dernière l’image-temps. Qu’est-ce qu’il me restait? ben, il me restait l’image-pensée. Donc on s’approche de cette question qui me soucie: “qu’est-ce que la philosophie?” Mais c’est encore au niveau d’une rencontre cinéma-philosophie”. Gilles Deleuze - Cinéma et Pensée, cours 67 du 30/10/1984 – 1.

74
comunicação e educação. Que já se tenha ouvido dizer há mais tempo, de alguns, que
Deleuze “não é bem um filósofo”, mas um literato. É bem curioso. Lendo alguns de seus
livros isoladamente podemos ter a impressão, por vezes equivocada, de que Deleuze
pretende tornar conteúdo da filosofia conteúdos outros de áreas do conhecimento que não
compreendem, por princípio, a filosofia, conteúdos específicos da literatura e de outras
artes, da matemática, da geografia, da ornitologia, da neurociência, etc. Mas, a proposta
dele não é bem esta.
No texto O que é o ato de criação?, fruto de uma palestra para estudantes e
pesquisadores de cinema em 1987, Deleuze esboça uma problemática que discutirá mais
tarde com Guattari, em O que é filosofia?, a saber, o que faz com que sejam distintas a
ciência, a filosofia e a arte2 e em que medida elas podem construir zonas de interseção ou
zonas de vizinhança. Será em torno do ato de criação que esta problemática será discutida.
Deleuze diz que apesar de operarem sob planos distintos e criarem coisas distintas, a arte, a
filosofia e a ciência produzem suas vizinhanças no limite comum de suas invenções, nos
limites do espaço-tempo determinado pelo próprio ato de criar. “Não que seja possível
falar da criação (pois ela é muito mais algo extremamente solitário), mas é em nome de
minha criação que tenho algo a dizer para alguém”3. Portanto, há criação nas artes, mas
também nas ciências, nas filosofias e, seguindo a lógica de Deleuze, em toda atividade em
que se “tenha algo para se dizer”, em que se rompa com certo sedentarismo do pensamento
e se permita um pouco de trabalho intensivo com o caos. A própria atividade de professor,
portanto, envolve criação, assim como toda “boa conversa”. Sabemos que as melhores
2 Sabemos que distinções como essa entre arte, ciências e filosofia, são sempre históricas e culturais. Na Europa do séc. XII, por exemplo, a lógica, a gramática, a retórica, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia constituíam as sete artes liberais estudadas nas jovens universidades. Deleuze parte de uma distinção característica da cultura ocidental moderna-contemporânea, mas que mesmo assim, sob o viés da criação e do modo como ele entende esta ação, parece-nos exercer um importante papel para a escuta de outras ou novas racionalidades e sensibilidades. 3 DELEUZE. O que é o ato de criação?, p.390.

75
aulas não costumam ser aquelas que saem à risca como planejamos mas aquelas que
trazem com a repetição do problema um novo espaço-tempo – repetição da diferença – o
aqui-agora do ato de pensar implicado e forçado, que impede em maior grau que a
rememoração (do conteúdo sobre o qual nos preparamos para transmitir) torne-se uma
simples representação/reprodução do Mesmo. Trata-se de compartilhar o próprio ato de
pensar, o que implica uma temporalidade de encontro e de busca. Faça comigo, pois “nada
aprendemos com aquele que nos diz: faça como eu”4.
Se o que aproxima arte, ciência e filosofia é o ato de criação e a filosofia consiste
em criar, inventar, formar, fabricar conceitos5, assim, Deleuze ressalta: ninguém necessita
da filosofia para refletir. A filosofia não teria por tarefa ensinar as pessoas a refletirem
sobre qualquer coisa. “As únicas pessoas capazes de refletir efetivamente sobre o cinema”,
por exemplo, “são os cineastas, os críticos de cinema ou aqueles que amam cinema”6. Ao
convocar, ao longo de toda a sua trajetória, alunos e leitores a formularem a pergunta “o
que é filosofia?”, sob uma perspectiva do ato de criação, Deleuze parece estar preocupado
também em precisar uma distinção por vezes confusa: pensamento/filosofia. Portanto,
como o pensamento pensa? Como a filosofia pensa? O que é próprio da filosofia? E qual
seria o estatuto daquele pensamento-artista na filosofia? Seria o pensamento-artista
impossível, indiferente ou necessário ao filósofo?
Na sua tarefa de se desterritorializar em territórios das artes, começando pela
literatura, depois no teatro, no cinema, na pintura e, finalmente, na música, Deleuze busca
investigar as produções de novas sensibilidades. A noção de diferença que impulsiona todo
esforço filosófico de Deleuze abraça um sentido amplo de estética e traz consigo um
questionamento da própria prática da filosofia. A produção de novas sensibilidades que 4 DELEUZE. Diferença e repetição. Introdução, pp. 48/49. 5 DELEUZE. O que é o ato de criação?, p.389. DELEUZE, G. GUATTARI, F. O que é filosofia?, introdução, p.10 6 DELEUZE. O que é o ato de criação?, p.389.

76
Deleuze investigará não só com a arte, mas também com a biologia, a geografia, as
matemáticas, é a produção da diferença, produção intensiva, resultante do choque, dos
encontros que nos forçam a pensar. E é sob essas condições que o filósofo cria conceitos e
percebe neles uma plasticidade viva-criadora. No âmago desta empreitada parece residir
aquilo por que Deleuze sempre foi atraído e que ele mesmo dirá ser o exercício e o pathos
de toda filosofia: pensar o impensável. Mas o que isso quer dizer? E qual seria a dimensão
política disso?
2.2 Diferença e Repetição
É verdade que, no caminho que leva ao que se há de pensar, tudo parte da sensibilidade. Do intensivo ao pensamento, é sempre através de uma intensidade que o pensamento nos advém. O privilégio da sensibilidade como origem aparece nisto: o que força a sentir e aquilo que só pode ser sentido são uma mesma coisa no encontro, ao passo que as duas instâncias são distintas nos outros casos. Com efeito, o intensivo, a diferença na intensidade, é ao mesmo tempo o objeto do encontro e o objeto a que o encontro eleva a sensibilidade. Não são os deuses que são encontrados; mesmo ocultos, os deuses não passam de formas para a recognição. O que é encontrado são os demônios, potências do salto, do intervalo, do intensivo ou do instante, e que só preenchem a diferença com o diferente; eles são os porta-signos.7
Recapitulamos um começo. Aquele da década de 1960, quando predominaram as
investigações de Deleuze sobre alguns filósofos e escritores específicos, período anterior
às pesquisas dedicadas às artes – muito embora, reiteramos que mesmo quando Deleuze
“se dedicou à arte” não foi precisamente ao “objeto” arte, mas, antes, aos impossíveis da
operação artística, ao pensamento-artístico, e às lógicas produzidas pelas criações
artísticas. Pois bem. Foi naquele primeiro contexto que Deleuze escreve Diferença e
Repetição, obra de grande fôlego onde ele defende a necessidade de se afirmar a diferença
7 DELEUZE. Diferença e Repetição, p.210.

77
em si mesma, análoga a nada, a diferença como intensidade – condição (in)sensível de
todo fenômeno ou acontecimento.
Em Diferença e Repetição, o conceito de diferença não se articula ao de repetição
dualistamente, eles não possuem uma relação de oposição. Muito antes pelo contrário, são
conceitos complementares. Deleuze distingue a repetição da semelhança e da
equivalência8. A verdadeira repetição concerne, antes, a uma singularidade e ela está
presente nas relações entre “o que não pode ser substituído”. O que traz um interessante
víeis para, inclusive, pensarmos o sentido do termo “relação” para este filósofo que se
opõe a uma concepção da diferença representada enquanto diferença conceitual, dada por
critérios de analogia, semelhança, oposição e identidade.
Na introdução de Diferença e Repetição, Deleuze reúne três filósofos que para ele
introduziram o sentido da repetição pela singularidade e, por consequência, contra o
princípio da identidade: Kierkegaard, Péguy e Nietzsche. Para o autor, cada um deles, à
sua maneira, “faz da repetição não só uma potência própria da linguagem e do pensamento,
um pathos e uma categoria superior, mas a categoria fundamental da Filosofia do futuro”9.
Entre os três, é Nietzsche o mais convocado por Deleuze no plano geral de sua obra, para
além de Diferença e Repetição. Junto com a força de sua escrita e de seus “métodos
extraordinários”, a ideia do eterno retorno trazida por Nietzsche aparece como um
princípio de articulação desses dois conceitos – diferença e repetição – e toda “ontologia” a
ela subsequente, aquela das intensidades10. Com o eterno retorno, só podemos pensar a
8 “Se a repetição existe, ela exprime, ao mesmo tempo, uma singularidade contra o geral, uma universalidade contra o particular, um notável contra o ordinário, uma instantaneidade contra a variação, uma eternidade contra a permanência. Sob todos os aspectos, a repetição é transgressão. Ela põe a lei em questão, denuncia seu caráter nominal ou geral em proveito de uma realidade mais profunda e mais artística”. DELEUZE. Diferença e Repetição, p. 21. 9 p. 25 10 “A forma da repetição no eterno retorno é a forma brutal do imediato, do universal e do singular reunidos, que destrona toda lei geral, dissolve as mediações, faz perecer os particulares submetidos à lei”. DELEUZE. Diferença e Repetição, p. 27.

78
diferença pelo movimento da repetição. Assim, Deleuze procura igualmente, ao destronar
os critérios de semelhança, identidade, analogia e oposição, elaborar uma crítica à
estabilidade almejada pela representação do Ser, a crítica da representação.
“A reprodução do Mesmo não é um motor dos gestos”11. Os gestos e todos os
movimentos assimétricos que inscrevem a diferença na repetição não são produzidos pela
reprodução/representação, mas por um encontro, uma situação, quer dizer, um
acontecimento que depende da sensibilidade – algo que é sentido – e que compreende o
Outro (e não o Mesmo). O encontro é um movimento da diferença que se dá nas
determinações espaço-temporais intensivas. Para Deleuze, a aprendizagem se dá no
encontro/choque com o signo: “é o fortuito ou a contingência do encontro que garante a
necessidade daquilo que ela (a sensibilidade) força a pensar”12.
Ora, enquanto intensidade, a diferença tende a se anular quando ela é explicada
pelas qualidades, isto é, na extensão. Neste sentido, a diferença pura é inexplicável e
irrepresentável – ela é intensidade implicada em si mesma. É imediata e, sendo
irrepresentável, só pode ser sentida. Ao mesmo tempo, e por isso mesmo, a diferença
enquanto intensidade é a razão do sensível, a sua condição real, isto é, condição da
sensibilidade. Eis por que Deleuze nos diz que o ser do sensível é intensidade pura, o
desigual em si e que, portanto, o ser do sensível é insensível13. Mas então, como podemos
sentir e apreender o desigual em si, incomensurável, indivisível, isto é, a diferença? Qual é
o estatuto deste sentir sobre o qual nos fala Deleuze? Como podemos apreender este
imediato da diferença que é o “ser do sensível”?
11 DELEUZE. Diferença e Repetição, p. 211 12 DELEUZE. Diferença e Repetição, p. 211. Aqui lembramos daquelas práticas artístico-musicais esboçadas superficialmente no capítulo anterior, a saber, os improvisos livres e as músicas prescritivas, práticas que procuram “aqui-agora” absolutos, conferindo uma amplificação do encontro no espaço contingencial. É claro que nem todo improviso é bem sucedido quanto a isso, pois podemos estar sempre “armados”, ou contaminados com autoclichês ou outros hábitos. Mas a própria noção de “sucesso” é, de uma maneira ou de outra, interrogada em tais práticas. 13 Ver “Síntese assimétrica da sensível” em Diferença e Repetição.

79
Deleuze está interessado, justamente, naquilo que com Kant chamamos de
“antecipação”, momento de disparo do sensível (espécie de um pressentir – sentir o que
ainda é insensível –, momento da apreensão do ser do sensível) constituído por um limite
da sensibilidade que nos força a pensar. Portanto, neste limite, reside uma distinção
importante para entendermos o papel da diferença na filosofia de Deleuze: a distinção entre
o exercício empírico da sensibilidade (indissociável da extensão e das qualidades – sendo a
intensidade, as diferenças de intensidade, condições para tais qualidades e mediatizada
pelas mesmas) ao qual atribuímos o nome de explicação, e o exercício da sensibilidade
transcendente, que apreende a intensidade imediatamente no seu encontro com ela,
processo ao qual Deleuze atribui o nome de diferençação. E criar será sempre “produzir
linhas e figuras de diferençação”14...
Voltamos à repetição e à crítica à representação para pensarmos a sensibilidade nos
exercícios da filosofia. Deleuze diz que “há uma grande diferença entre a generalidade, que
sempre designa uma potência lógica do conceito, e a repetição, que testemunha a
impotência ou o limite real do conceito”15. A noção de limite, recorrente na lógica da
diferença e da repetição, é bastante preciosa a Deleuze, e será também para nós, na
compreensão do insensível que só pode ser sentido. Em uma notável passagem do capítulo
sobre a síntese assimétrica do sensível, Deleuze assinala aquilo que para ele é um motor de
gestos, ou a própria expressão, digamos assim, da filosofia; “o seu pathos ou sua paixão”:
14 p.357. João Gabriel Domingos aborda profundamente a importância da noção de limite, em sua relação com o uso transcendente da sensibilidade e com o “acordo discordante” das faculdades, em sua dissertação de mestrado sobre Diferença e Repetição. Nas suas palavras, “o importante nessa noção de limite é que, mesmo epistemologicamente inapreensível ou irrepresentável, ele é um elemento diferenciador, no sentido em que força a faculdade à qual faz referência a afirmar-se e, portanto, à diferenciação; em suma, o que é constitutivo seja na sensibilidade ou no pensamento é a exteriorização. A relação com o fora do pensamento não é perturbadora, mas sim constitutiva. Assim, o limite é transcendente, porque força à exteriorização e à diferenciação, mas imanente, porque é um elemento interno à faculdade, corresponde à relação com algo que lhe é mais própria”. DOMINGOS, João Gabriel Alves. Diferença e sensibilidade em Gilles Deleuze, FAFICH/UFMG, 2010, pp.75-76. Retomaremos ao tema da exteriorização na parte mais específica sobre os métodos em Deleuze. 15 DELEUZE. Diferença e Repetição, p.35

80
Subjetivamente, o paradoxo quebra o exercício comum e leva cada faculdade diante de seu próprio limite, diante de seu incomparável, o pensamento diante do impensável que, todavia, só ele pode pensar, a memória diante do esquecimento, que é também seu imemorial, a sensibilidade diante do insensível, que se confunde com seu intensivo... Mas, ao mesmo tempo, o paradoxo comunica às faculdades despedaçadas esta relação que não é de bom senso, situando-as na linha vulcânica que queima uma na chama da outra, saltando de um limite a outro. E, objetivamente, o paradoxo faz valer o elemento que não se deixa totalizar num conjunto comum, mas também a diferença que não se deixa igualizar ou anular na direção de um bom senso16.
Contrariamente ao paradoxo, o bom senso tende a anular tudo o que é e que pode
devir. Ele opera com bloqueios artificiais do conceito e neutraliza as intensidades17. O bom
senso é então repartidor: “de uma parte e de outra, são as fórmulas de sua banalidade ou de
sua falsa profundidade. Ele estabelece o equilíbrio”18. De acordo com Deleuze, a
profundidade é a intensidade do ser, e a intensidade é a profundidade do ser: parece que
falamos sempre de uma extensão ao usar o termo profundidade. No entanto, compreende-
se com Diferença e Repetição que a natureza da diferença, a intensidade pura, se isenta da
extensão. É porque ela está “implicada nessa região profunda em que nenhuma qualidade
se desenvolve, em que nenhum extenso se desenrola”19. É o que Deleuze denomina “vida
subterrânea” da diferença, lugar de um “sem fundo”, do caos, de um não fundamento ou do
a-fundamento do ser20. O bom senso neutraliza a diferença pois reside nele um perfil
estático, resta-lhe uma tendência ao reconhecimento, uma orientação para o previsto, ele
procura um fim, um destino na ordem do possível. Enquanto que o paradoxo se constitui
de distâncias intensivas, críticas, distâncias que estão em relação sobre um plano de
16 pp.320/321 17 Na sua concepção pluralista e virtual de Ideia, Deleuze distingue o bloqueio natural de bloqueio artificial dos conceitos. O bloqueio artificial opera com a potência (infinita) lógica do conceito e o bloqueio natural testemunha os limites das faculdades, o finito. Ver Diferença e Repetição, pp. 34-38. 18 Diferença e Repetição, p.317. 19 p.338. 20 “Mesmo que tenhamos de ser idiota, sejamo-lo à maneira russa: um homem do subsolo, que nem se reconhece nos pressupostos subjetivos de um pensamento natural nem nos pressupostos objetivos de uma cultura de seu tempo e que não dispõe de compasso para traçar um círculo. Ele é o Intempestivo, nem temporal e nem eterno”. Diferença e Repetição, p. 191. Sobre o “sem fundo”, a crítica do fundamento (imagem dogmática), ver: Diferença e Repetição, pp. 379-382 (conclusão) e David Lapoujade, Deleuze, os movimentos aberrantes (2015).

81
imanência rítmico constituído por um campo de forças simultâneas, violentas, obscuras.
Apesar de um “sem fundo”, parece ser possível falar de um tempo. O Tempo da
diferença é o tempo do desigual, enquanto que através das qualidades mesura-se o tempo
de uma igualização21. No capítulo “A Repetição por Si Mesma”, em Diferença e
Repetição, Deleuze formula três sínteses do tempo. A primeira é a do hábito, relativa ao
presente vivo e vivido pelo sujeito. A segunda síntese é o presente enquanto contração de
todos os nossos passados; é a primazia do passado, de alguma coisa que, na verdade, nunca
foi presente, é aquilo que constitui a memória. E a terceira síntese concerne ao pensamento
puro quando “o tempo está fora dos eixos”22. Neste, acontece uma ruptura com o passado,
um devir “indivíduo sem passado”, processo de despersonalização. Existe uma
redistribuição das forças que eram inseparáveis de alguma coisa e que faz morrer o
passado. A terceira síntese do tempo Deleuze chama de insuficiência da memória: não há
mais memória, não há mais sujeito, não há mais objeto – há um porvir, um porvir sob
forma de ideia. É o tempo do acontecimento e que contém nele mesmo todas
impossibilidades cronológicas, algo que parece pertencer apenas ao pensamento. E,
justamente, é neste espaço-tempo assinado23 que se apreende o impensável – condição para
o intempestivo e para a criação do novo.
*
21 DELEUZE, G. Diferença e Repetição, p. 212. 22 p.136 23 Em francês, a palavra “assinado” – signé – evidencia nela mesma a incisão do signo, a matéria marcada e tornada signo ela mesma, significada. Sentido possível para uma definição de expressão. “Qual é este movimento objetivo? O que uma matéria faz como matéria de expressão? Ela é primeiramente cartaz ou placa, mas não fica por aí. Ela passa por aí, e é só. Mas a assinatura vai tornar-se estilo. Com efeito, as qualidades expressivas ou matérias de expressão entram em relações móveis umas com as outras, as quais vão ‘exprimir’ a relação do território que elas traçam com o meio interior dos impulsos e com o meio exterior das circunstâncias. Ora, exprimir não é pertencer; há uma autonomia da expressão”. DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol.4, p. 124.

82
Voltamos a Nietzsche. Este tempo, que faz retornar tão somente a diferença, é o
eterno retorno, o caos, “caos-errância”, eterna afirmação do ser.
Nietzsche parece ser de fato o primeiro a ver que a morte de Deus só se torna efetiva com a dissolução do Eu. O que então se revela é o ser que se diz de diferenças que nem estão na substância nem num sujeito: outras tantas afirmações subterrâneas. Se o eterno retorno é o pensamento mais elevado, isto é, o mais intenso, é porque sua extrema coerência, no ponto mais alto, exclui a coerência de um sujeito pensante, de um mundo pensado, de um Deus garantia24.
A partir de uma concepção vitalista, os estados, os modos de existência, os modos
de vida do pensamento não são apenas ligados a uma ontologia, mas a uma patologia, onde
sintomas destituem as essências. O reflexo da noção de limite em torno da qual se constitui
Diferença e Repetição revela a necessidade de um pensamento mais forte que a razão,
aquele de uma orelha impossível, de um pressentir, de tornar sensível o insensível,
imaginável o inimaginável; operação que, como vimos, só a arte parece dar conta de
realizar plenamente. Seria esta a eterna afirmação do ser, afirmação da diferença enquanto
intensidade que distingue a sensibilidade transcendente:
É sempre a partir de um sinal, isto é, de uma intensidade primeira, que o pensamento se designa. Através da cadeia quebrada ou do anel tortuoso, somos violentamente conduzidos do limite dos sentidos ao limite do pensamento, daquilo que só pode ser sentido àquilo que só pode ser pensado25.
A partir da terceira síntese do tempo, vemos no projeto deleuziano a tentativa de
colocar em contato direto a sensibilidade e o pensamento. E, parece, que só a arte pode
fazê-lo de forma efetiva. A arte dispara, muda a direção (para um Fora), “deixa os sons
24 p. 96. Sobre a equivalência entre o eterno retorno e o caos pela afirmação, Deleuze diz: “O eterno retorno é o ser desse mundo, o único Mesmo que se diz desse mundo, excluindo dele toda identidade prévia. É verdade que Nietzsche se interessava pela energética de seu tempo; mas não se tratava de nostalgia científica de um filósofo; é preciso adivinhar o que ele ia procurar na ciência das quantidades intensivas – o meio de realizar o que ele chamava de a profecia de Pascal: fazer do caos um objeto de afirmação”. DELEUZE. Diferença e Repetição, pp. 341/342. 25 p.342.

83
serem eles mesmos”, como nos propõe John Cage. “Deixar ser” da memória involuntária,
de um pensamento sonoro, nômade e intempestivo.
Vimos com o pensamento-música que ir até o limite da sensibilidade (tornar
sensível o insensível) e o limite do pensamento (tornar pensável o impensável) é o que
caracteriza um pensamento intempestivo, tal como lê Deleuze a partir de Nietzsche. Eis
porque o paradoxo do ser do sensível – insensível e que só pode ser sentido – nos convida
a pensar a diferença menos como um conceito relacional do que intensidade pura. E assim
a noção de relação é construída através de uma lógica, que é a lógica de forças:
intensidades, distâncias, quedas, ritmos, choques, deformações, desvios, contágios,
simultaneidades. Segundo Anne Sauvagnargues, será pela semiótica da arte que Deleuze
chegará a noção de captura de forças. O meio material-vital das produções artísticas, faz
Deleuze pensar não mais na “Lógica do Sentido” (título de um dos livros publicados em
1968), mas em uma lógica das forças, uma lógica de relações. O agenciamento opera neste
plano, de uma lógica da duração, da multiplicidade dos moventes, do movimento, e
procura desviar, assim, da noção arborescente de estrutura, sistema, etc.26 O material-forma
dando lugar ao material-forças.
Esses estados vividos de que eu falava há pouco, para dizer que não se deve traduzi-los em representações ou em fantasmas, que não se deve fazê-los passar pelos códigos da lei, do contrato ou da instituição, que não se deve converter em moeda, que é preciso ao contrário fazer deles fluxos que nos levam cada vez mais longe, mais para o exterior, é exatamente a intensidade, as intensidades. O estado vivido não é algo subjetivo, ou não o é necessariamente. Não é algo individual. É o fluxo, e a interrupção do fluxo, já que cada intensidade está necessariamente em relação com uma outra de tal modo que alguma coisa passe.27
Podemos sentir o insensível, pensar o impensável e isto não remete a um sujeito
26 “A arte enquanto captura e a imagem enquanto um composto de afectos e perceptos”. SAUVAGNARGUES, A. Deleuze et l’art, p.21. 27 DELEUZE. DELEUZE, Gilles. “Pensamento nômade”, in DELEUZE. A ilha deserta, textos e entrevistas (1953-1974), p.324 (p.358 fr). Grifo meu.

84
representado, remete às individuações, individuações sem sujeito instanciadas pela lógica
de forças. Estamos lá onde “o ser da diferença é a implicação”, intensidade implicada em si
mesma. E nesta implicação é “a diferença na intensidade que constitui o limite próprio da
sensibilidade”.28
2.3 Dois, vários ou um só método? Desterritorialização e dramatização no pensamento nômade
As criações são constituições de espaços-tempos.
Anne Sauvagnargues, bem como outros comentadores franceses de Deleuze,
procura sempre lembrar da importância do método na filosofia deste pensador. O fato de
todos serem franceses e se preocuparem com o método é comicamente suspeito. De toda
forma, Sauvagnargues elabora em seu livro Deleuze et l’art uma análise sobre o que ela
denominará de método externalista na filosofia deleuziana, trazendo com ele toda noção de
cartografia do pensamento.
Deleuze se interessou muito pela questão dos métodos nas produções do
pensamento. Vejo que seus estudos sobre pensadores específicos partem de uma
investigação sobre os métodos utilizados por eles na tentativa de compreender ou esboçar
juntamente lógicas de pensamento, que como tais escapam de um “sistema racional em
equilíbrio”29. Podemos inferir, portanto, que há uma escuta de Deleuze para os métodos
inclusive nos artistas (como vemos em Francis Bacon, no texto sobre Beckett, em Boulez,
em Proust etc.), isto é, o método como sendo a construção singular de uma máquina
movente para produção de lógicas e orquestração de forças, de devires. Desta maneira,
Deleuze não só dedicou alguns estudos à noção de método propriamente dita como
28 Diferença e Repetição, p.333. 29 DELEUZE. Conversações. “A vida como obra de arte”, p.

85
também permitiu que ela perpassasse por praticamente todas as suas pesquisas. Como se
identificar o método (a máquina de guerra) fosse uma via de acesso para se entender ou
experimentar a singularidade de um pensamento, aquele devir-menor, meio através do qual
podemos escapar de uma estabilidade produzida pelo sedentarismo e enclausuramento de
sistemas arborescentes não maquínicos, ou já “dados” por usos canônicos. Não é à toa o
interesse de Deleuze pelas produções e operações artísticas e a maneira como ele se
encontra com inúmeras e inúmeros autores/artistas para pensar com eles, para desenvolver
os seus próprios métodos, suas lógicas e seus livros, e criar conceitos. Como já dito,
Deleuze incorporou ao seu vocabulário vários conceitos, noções e ideias já esboçados por
outros ou oriundos de disciplinas outras que não a filosofia. Assim, o que se percebe nestes
furtos de Deleuze é, justamente, a própria noção de repetição esboçada por ele: a
verdadeira repetição enquanto criação, isto é, constituição de (novos) espaços-tempos. O
pensamento como criação e a filosofia como este ato do pensamento. Pois, nitidamente, o
uso que Deleuze faz de tais noções, os planos para elas traçados, as relações produzidas,
mostram que ele não simplesmente reproduz ou imita o que leu, mas antes, dramatiza um
ruído ou outro que até então era imperceptível. Experimentar e criar com a volta destes
conceitos outros encontros, outras lógicas de relação e forças. É polêmico, pois para
muitos estudiosos de filósofos estudados por Deleuze ele “inventa” um outro Nietzsche, ou
outro Espinosa, um outro Kant. No entanto, sabemos, sempre haverá discordâncias e
concordâncias entre os especialistas. O que nos chama atenção em Deleuze, na verdade,
são seus métodos, as suas recaídas, a produção de encontros disjuntivos e a escuta das
linhas fugidias.
Compreendo inicialmente que Deleuze trabalha então com dois métodos: o método
externalista, de convocar outras áreas e disciplinas, lugares estranhos, para o plano
filosófico e que trazem consigo um segundo sentido de externo (ou Fora) que é justamente,

86
aquele de ir até o limite da sensibilidade, o limite da imaginação, o limite do pensamento.
E há um outro método, o método de dramatização, que procura “encarnar” as ideias, fazer
da filosofia um teatro; método que também enaltece o caráter dinâmico ou “animado” das
criações que os pensadores trazem.
Visando descobrir o conjunto da obra deleuziana em sua relação com a arte,
Sauvagnargues propõe, no livro Deleuze et l’art, uma espécie de cartografia do
pensamento deleuziano. Como todo método coerente ao estilo de Deleuze, a cartografia
não é estática nem teleológica; ela se propõe a ser dinâmica e cinemática. E é este
dinamismo que vai determinar a aparição dos conceitos, suas plasticidades, suas chegadas
e suas partidas30. Nessa cartografia conseguimos perceber o que o próprio Deleuze, com
Guattari, chama de platôs. Cada platô com seu plano traçado, com seus atores, com seus
artistas (seja Proust, Nietzsche, Beckett, etc.), com seus personagens conceituais, suas
tendências, seus sintomas, as linhas de força, de fuga, as hecceidades (o Ciúme I, o Ciúme
II, “as cinco horas da tarde” de Lorca, um acorde, o vento, etc.). Portanto, cada platô
expressa uma vida subterrânea e reclama pelo seu contexto, por povoamentos de conceitos,
signos, agenciamentos, patologias, moventes por linhas, ritmos, velocidades e lentidões.
Portanto, em Mil platôs, Deleuze e Guattari se servirão do conceito de desterritorialização,
efetivando o devir cartográfico, por assim dizer, operado por velocidades e lentidões
(longitude), afectos e intensidades (latitudes). Este “voltar-se para fora” é notável em
Deleuze, sobretudo, na sua predileção pela arte, por ir até a arte, não para assisti-la, ou
descrevê-la, mas entrar nela, pensar com ela, desterritorializar-se filosoficamente para
voltar para a filosofia, numa experimentação contínua e dinâmica, que procura escapar de
30 SAUVAGNARGUES, A. Deleuze et l’art, primeiro capítulo. Ela diz: “O impacto de um método externalista permite traçar itinerários na obra levando em conta velocidades e lentidões de circulação das noções, antes de propor uma leitura cursiva (...). É preciso então passar do estático abstrato do sistema, que negligencia a cronologia e contextualização, a uma dinâmica de problemas que mapeie suas variações sucessivas” (p.12).

87
um sistema em equilíbrio abstrato, erigido sobre conceitos fixos isolados, conceitos
maiores. As ferramentas são criadas ali, com Proust, com Kafka, com Artaud, com Ozu,
Godard, com Messiaen e Boulez, mas também com Nietzsche, com Bergson...
Assim, chamamos atenção ao caráter “externalista” do método deleuziano. Muito
embora, a própria ideia de plano tão recorrente nas obras com Guattari interpela uma
internalidade: a sua involução, a imanência31. Portanto, Deleuze fala muito, em Nietzsche,
de um “fora” ao qual o pensamento deve-se dirigir, muito embora trata-se de “um Fora que
não tem nada a ver com o mundo exterior, e que é infinitamente mais fora que a
exterioridade do mundo”32. Talvez por isso a adjetivação “externalista” possa não ser a
mais fiel aqui.
Por mais que a procura de Deleuze em se desterritorializar com as artes tenha se
tornado um método cada vez mais intenso e efetivo, como acontece com a inserção da
música, Sauvagnargues observa que ele nunca abandona a literatura, que seu interesse por
esta arte é permanente mesmo havendo a progressão de uma semiótica sobre um plano não
verbal. Segundo a autora, é mesmo “na literatura, através da literatura, a propósito da
literatura que ele (Deleuze) encontra o problema das artes não discursivas (...). Deleuze
inventa razões de teorizar sobre a literatura e propõe métodos apreensíveis para ajustar
filosofia e literatura sem as confundir, nem subordiná-las”33. Falei no começo deste
capítulo sobre a identificação de literato atribuída por alguns a Deleuze, no entanto o que
Sauvagnargues procura salientar é justamente que o encontro com a literatura não implica
uma confusão entre as duas áreas, assim como o encontro com o cinema, com a pintura,
com a geografia, etc. Tratam-se de encontros e produção de relações não metonímicas,
31 DOMINGOS, João Gabriel. Diferença e sensibilidade em Gilles Deleuze, p. 75-76 (citação na nota 14 deste capítulo). 32 “Un dehors qui n’a rien avoir avec le monde exterieur et qui est infiniment plus "dehors" que l’extériorité du monde”. Gilles Deleuze - Cinéma et Pensée, cours 68 du 06/11/1984 – 2 http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=366 33SAUVAGNARGUES, A. Deleuze et l’art, p.15

88
encontros que como tais provocam aquilo que Deleuze e Guattari chamarão de sínteses
disjuntivas, pelas quais nos esforçamos em resguardar, com os furtos, todas as catástrofes,
as diferenças e as singularidades, ao invés de neutralizá-las e equilibrá-las em sistemas
simetrizantes.
Eis duas particularidades do método inventivo que Deleuze propõe a si mesmo para
promover o encontro real entre literatura e filosofia:
- A retomada de suas próprias obras, com reedições, reescritas, repetições de
problemas/interrogações. Deleuze reelabora continuamente as problemáticas, com a
repetição, buscando novos fôlegos e novas situações para elas. Isto faz parte de seu
método e de sua escrita de maneira geral34.
- A escrita a quatro mãos. Colocar-se com Félix Guattari. A síntese disjuntiva,
conceito que aparece no primeiro texto da dupla sobre o pintor e escritor
Klossowski, não trata de um retorno a um, mas diferenciação disjuntiva, cheia de
bifurcações e alternâncias. Nas sínteses disjuntivas não há fusão de um componente
em outro. Dessa escrita coletiva e “impessoal” nascem ou compõem-se os
agenciamentos coletivos de enunciação (analisados pelos dois autores inclusive em
Kafka: por uma literatura menor)35. A busca pelo encontro se faz também sob
forma de conversações, ou diálogos, nomes atribuídos a dois livros de Deleuze
(Pourparlers e Dialogues)36, sendo o segundo deles realizado com Claire Parnet,
com quem ele também concedeu a célebre entrevista, muito bem registrada em
34 SAUVAGNARGUES, A. Deleuze et l’art, pp. 15-16 35 p.17, pp. 24-29. Sobre agenciamentos coletivos de enunciação ver DELEUZE. GUATTARI. Kafka: por uma literatura menor. 36 Neste sentido, as noções de conversações e diálogos não correspondem a uma “comunicação” entre valores significantes acordados, troca de informações, etc. O elemento tensionador e desterritorializante parece interessar mais a Deleuze nas conversações do que a comunicação propriamente. “Assim Debussy, Diálogo do vento e do mar”. (“Tornar sonoras forças não sonoras”, in DELEUZE. Dois regimes de loucos, p.166 (p.145)).

89
formato vídeo-documentário por Pierre-André Boutang e Michel Pamart, e que
ganhou o título de O Abecedário de Gilles Deleuze.
Ainda sobre o plano do encontro, Sauvagnargues ressalta em seu livro a ideia da
simbiose editorial, quando Deleuze, lá em Apresentação de Sacher-Masoch, junta em um
mesmo volume um escrito literário e um filosófico. Para a autora, “a simbiose se aplica às
maneiras inéditas que Deleuze coloca em jogo para ajustar filosofia e literatura sem fundi-
las, nem hierarquizá-las, mas conservando a diferença disjuntiva entre elas, o encontro
necessário” e contínuo. Então, a ideia de encontro, entre filosofia e alguma arte ou
produção artística, diz respeito a um entre meios, e fortalece a ideia de uma coexistência
(coexistência entre os elementos de uma multiplicidade). Preservam-se as disjunções (em
contraposição à ideia de um misto homogêneo) e o caráter vivo, em movimento, das
relações37. Sauvagnargues observa que em Masoch, Deleuze não faz um comentário a mais
à obra desse escritor. E esta é a verdadeira crítica-clínica: uma crítica que não seja um
adendo da obra, mas que provoque uma espécie de relação de vizinhança e de produções
de territórios e deslocamentos. A crítica filosófica em um texto sobre uma obra artística, ao
mesmo tempo, vale por ela mesma, mesmo que estimulada pelas pesquisas ‘alheias’. E é
por esses sentidos todos que a crítica, segundo Sauvagnargues, não afirma a grandeza da
obra, mas a “infirma”, por uma espécie de movimento de contração, de sucção, caráter de
uma síntese que é ainda assim disjuntiva. Isto permite vida à obra: “permite uma
concepção de crítica como encontro, vizinhança e conveniência vitais, quer dizer 37 “A árvore impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem como tecido a conjunção "e... e... e..." Há nesta conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. Para onde vai você? De onde você vem? Aonde quer chegar? São questões inúteis. Fazer tabula rasa, partir ou repartir de zero, buscar um começo, ou um fundamento, implicam uma falsa concepção da viagem e do movimento (metódico, pedagógico, iniciático, simbólico...). Kleist, Lenz ou Büchner têm outra maneira de viajar e também de se mover, partir do meio, pelo meio, entrar e sair, não começar nem terminar.” (DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 1, p. 37). Assim, reside no projeto de Deleuze e Guattari a tentativa de liberar o movimento da correspondência entre identidades (Ser), do falso devir que liga um ponto a outro por linhas-pontos imóveis. Por isso, a reformulação do termo território consequente da elaboração do conceito de Ritornelo é nevrálgica aqui, para entendermos a natureza do movimento referido pela dupla Deleuze e Guattari e seus diferentes agenciamentos.

90
literalmente, clínica, ou modo de vida”38. E assim, a pesquisa de uma “coadaptação de duas
formas, o pensamento literário e o pensamento filosófico”, se constrói sobre este plano
formal através desta superposição material de discursos que faz funcionar a singularidade
de uma e de outra e de seus cruzamentos; pontos notáveis e pivotantes de encontro,
criadores de outras singularidades. Pois “os signos não formam preferencialmente sistemas
linguísticos autônomos e fechados, mas todos os sistemas de signos, inclusive os
linguísticos, são abertos sobre outras semióticas vitais e políticas, significantes ou
subjetivas”. Portanto, aquela imagem de uma cartografia viva, de uma geografia, serve
também para o pensamento – tratam-se dos dinamismos espaço-temporais.
Indivíduos ou coletividades somos todos feitos de segmentos e de linhas, Deleuze
diz39. Algumas linhas são menos duras que outras, mais erráticas. Deleuze se interessa pela
lógica dessas linhas erráticas, as linhas de fuga, as linhas dos micro-devires que não nos
recortam em segmentos fixos, mas que, antes, constituem nossas verdadeiras mudanças,
“nossas loucuras secretas”, temporalidades outras, os nossos improvisos. E com as linhas
surge então uma geofilosofia, pressuposta por uma relação código-território, um diagrama
de fronteiras, limites e de limiares que se comunicam continuamente40. O pensamento, as
38 SAUVAGNARGUES, A. Deleuze et l’art, p. 20. 39 DELEUZE. PARNET, C. “Políticas” in DELEUZE. Diálogos, p. 145. 40 Assim, dando continuidade à nota 37, onde observamos no projeto de Deleuze e Guattari uma tentativa de liberar o movimento da correspondência entre identidades (modos do Ser), cito uma outra passagem, agora de O que é filosofia?, em que os autores apresentam a o conceito de desterritorialiazação, com outras palavras: “O sujeito e o objeto oferecem uma má aproximação do pensamento. Pensar não é nem um fio estendido entre um sujeito e um objeto, nem uma revolução de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação entre o território e a terra. Kant é menos prisioneiro que se acredita das categorias de objeto e de sujeito, já que sua ideia de revolução copernicana põe diretamente o pensamento em relação com a terra; Husserl exige um solo para o pensamento, que seria como a terra, na medida em que não se move nem está em repouso, como intuição originária. Vimos, todavia, que a terra não cessa de operar um movimento de desterritorialização in loco, pelo qual ultrapassa todo território: ela é desterritorializante e desterritorializada. Ela se confunde com o movimento daqueles que deixam em massa seu território, lagostas que se põem a andar em fila no fundo da água, peregrinos ou cavaleiros que cavalgam numa linha de fuga celeste” “Pensar não é nem um fio estendido entre um sujeito e um objeto, nem uma revolução de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação entre o território e a terra. (...) Ela (a terra) se confunde com o movimento daqueles que deixam em massa seu território, lagostas que se põem a andar em fila no fundo da água, peregrinos ou cavaleiros que cavalgam numa linha de fuga celeste”. DELEUZE. GUATTARI. O que é a filosofia ?, p. 113.

91
forças, o corpo sem órgãos, as máquinas, as capturas, o Estado, o território, o ritornelo,
tudo isso participa e constitui a lógica de funcionamento desses meios instanciados na
noção de plano-cartografia. Vimos que esta nova lógica de relações, a lógica das forças, dá
vida a regimes novos (logo, regimes abertos41) de signos: os agenciamentos. Assim, o
vetor de duplo sentido “relação-força” diz respeito ao entre, aos intermezzos (entre meios),
às conjugações e aos glissandos entre elementos heterogêneos. Esta lógica de relação é,
portanto, regida por forças (afectos, saltos, disparos, empurrões, quedas, etc.). Por isso
adotamos como correlatas as expressões “lógica de forças” e “lógica das relações”.
Das relações estabelecidas entre filosofia e o Fora, subleva-se uma perspectiva
política. Entendemos tal perspectiva como uma reformulação do conceito de política em
sua relação com a vida, que, como vimos, diz-se mais das produções de vida, modos de
existência e criação, do que daquilo que nasce do Direito, dos “fatos” e de “ideias justas e
universais”. Com todas as motivações de Deleuze provocadas pelas artes – estas zonas
exógenas –, em sua escuta heteróclita e cuidadosamente polifônica, percebemos
contiguamente um projeto político de renovação da filosofia, de seus meios e de suas
formas de expressão. Pois, para Deleuze,
A filosofia está penetrada pelo projeto de tornar-se a língua oficial de um puro Estado. O exercício do pensamento se conforma, assim, com os objetivos do Estado real, com significações dominantes como com as exigências da ordem estabelecida. (...) O que é esmagado e denunciado como nocivo é tudo o que pertence a um pensamento sem imagem, o nomadismo, a máquina de guerra, os devires, as núpcias contra natureza, as capturas e os roubos, os entre-dois-reinos, as línguas menores ou as gagueiras na língua.42
*
41 SAUVAGNARGUES, A. Deleuze et l’art, p.23. 42 DELEUZE. PARNET, C. Diálogos, p. 12.

92
Falamos do método de Deleuze de desterritorialização (ou método externalista).
Mas também passamos por um outro método, que é o método de dramatização das ideias.
O já mencionado aspecto clínico da filosofia de Deleuze participa da crítica
produzida pelo pensamento da diferença, deste pensamento que é movido pelo impensável.
O clínico denota uma relação direta com a vida – lugar de uma prática da filosofia que é
contra o seu tempo (nem atual, nem eterna) –, mas desejante, positiva. Guillaume Sibertin-
Blanc avalia da seguinte forma: “Clínica, a filosofia é distinção e descrição sintomal dos
modos de existência; crítica, ela é captura e avaliação de relações de forças implicadas por
um modo de existência”. O encadeamento destes dois sentidos “mobiliza uma redefinição
da filosofia prática e uma renovação de seus meios e formas de expressão”43. Anne
Sauvagnargues acredita que a análise dos signos através do agenciamento e as artes não
linguísticas, por assim dizer, a descola, produz a desterritorialização dos sistemas
discursivos, implicando na crítica da interpretação. Porém, para a autora, é pela literatura
que Deleuze começa a estabelecer um espaço teórico de reconciliação entre filosofia e
pensamento: “é graças a literatura que o filósofo reforma ‘a imagem do pensamento’:
aquilo que força a pensar, é a intrusão violenta e involuntária de um signo, objeto de
encontro que força o pensamento a criar”44, e a partir daqui Deleuze atribuiria à literatura a
função do diagnóstico. No entanto, não compartilho plenamente da mesma perspectiva. A
intrusão violenta e involuntária de um signo como os signos trazidos pela música, por
exemplo, não desperta menor grau de interesse em Deleuze, mas, ao contrário, lhe são
ainda demasiados estranhos já que Deleuze era ainda “recém chegado” na música (apesar
de progressivamente por ela apaixonado) para estabelecer uma investigação duradoura,
consistente e assumida sobre filosofia e música, de maneira específica. Mais que isso, o
43 SIBERTIN-BLANC, G. Politique et Clinique (...), 2006. Introdução, p.2. 44 SAUVAGNARGUES, A. Deleuze et l’art, p. 25.

93
que suspeitamos é que, na verdade, o que Deleuze chama de método de dramatização seja
superficialmente mais perceptível ou próximo da literatura, o que não faz desta a sua
condição. Mais precisamente, ao interpelar juntamente com Guattari (em Mil platôs e O
que é filosofia?, sobretudo) a filosofia sobre a criação de seus personagens (os
personagens conceituais, as hecceidades e os personagens rítmicos), para povoarem um
plano (um território, uma paisagem, uma terra, um platô) e, assim, produzirem entre eles
(dramas) encontros e acontecimentos, agenciamentos, amores, gritos, com músicas,
ritornelos, máscaras, fantasmas, disfarces, deslocamentos, Deleuze recupera de forma viva
a noção de dramatização sobre a qual ele escreveu em 1962, ao analisar Nietzsche, e em
um texto de 1967, fruto de uma comunicação, intitulado “O método de dramatização”.
Em Diferença e Repetição, onde Deleuze faz da repetição, a diferença sem
conceito, um movimento que opõe ao sedentarismo da representação, o método de
dramatização das ideias é retomado. Ao contrário de uma representação, a dramatização
Trata-se de produzir, na obra, um movimento capaz de comover o espírito fora de toda representação; trata-se de fazer do próprio movimento uma obra, sem interposição; de substituir representações mediatas por signos diretos; de inventar vibrações, rotações, giros, gravitações, danças ou saltos que atinjam diretamente o espírito.45
Na comunicação de 1967, Deleuze diz, com outras palavras, que as dramatizações
são os dinamismos espaço-temporais pelos quais as ideias se atualizam. Na filosofia, tais
dinamismos dramáticos especificam os conceitos no mundo das qualidades como
encarnações das ideias. Portanto, Deleuze distingue assim Ideia de Conceito, sendo um a
encarnação do outro, a Ideia como o virtual, multiplicidade dada por pontos notáveis e
diferenças de intensidades “entre elementos destituídos de forma sensível e função”, e o
Conceito como a atualização da ideia, o seu corpo (para não dizer “a sua carne”...) sobre o
45 DELEUZE. Diferença e Repetição, pp.30-31

94
mundo da representação46. Portanto, também com o método de dramatização percebemos a
obsessão de Deleuze – e talvez minha também –, com isso que ele chama de determinações
ou dinamismos espaço-temporais, isto é, o movimento que engendra as individuações, os
modos de vida.
Assim, Deleuze formula sua crítica à representação, distinguindo do teatro da
repetição o teatro da representação, pelo qual se “representam conceitos em vez de
dramatizar Ideias”. Para Deleuze, “o teatro é o movimento real e extrai o movimento real
de todas as artes que utiliza. Eis o que nos é dito: este movimento, a essência e a
interioridade do movimento, é a repetição, não a oposição, não a mediação”47. Como
insiste em dizer Fernando Arrabal, dramaturgo e cineasta espanhol radicado na França
desde a ditadura franquista: "o teatro não é como a vida. O teatro é (a) vida”.
Deleuze fala de uma diferença entre o movimento e o conceito. No entanto, no
começo de “pensamento-música” cito uma passagem de uma aula dele sobre Espinosa
onde ele diz que os conceitos têm velocidade e lentidão. “Existe uma velocidade do
conceito, existe uma lentidão do conceito. O que é que é isso?”. É que, na verdade, a
distinção que ele procura enaltecer não é bem entre movimento e conceito, mas entre o
verdadeiro movimento (de um pensamento sem imagem, intensivo, sensibilizado pela
Duração) e a representação do conceito48. Ou seja, como o conceito pode encarnar ideias
46 “Sob a dramatização, a Ideia encarna-se ou atualiza-se, diferencia-se. É ainda preciso que a Ideia, em seu conteúdo próprio, já apresente características que correspondam aos dois aspectos da diferenciação. Com efeito, nela mesma, ela é sistema de relações diferençais e repartição de pontos notáveis ou singulares que resultam dessas relações (acontecimentos ideais). Quer dizer: a Ideia é plenamente diferençada [différentiée] nela mesma, antes de se diferenciar [différencier] no atual. Esse estatuto da Ideia dá conta do seu valor lógico, que não é o claro-e-distinto, mas o distinto-obscuro, como pressentiu Leibniz”. DELEUZE. “O método de dramatização”, trad. Luiz B. L. Orlandi, in DELEUZE. A ilha deserta, textos e entrevistas (1953-1974), pp.112,113. 47 DELEUZE. Diferença e Repetição, pp.30,31. Aqui voltamos à noção de crítica para Deleuze. A crítica não como um exercício de oposição, mas operada por dramatizações. Sentido de uma crítica-clínica onde o negativo lhe é indiferente, isto é, sem força real alguma. 48 Como já apresentado no capítulo anterior, levamos em consideração que, segundo a leitura que Deleuze faz de Espinosa, tudo que tem velocidade e lentidão é corpo, corpuscular, por onde transitam elementos informais, intensivos, indeterminados.

95
(ao invés de endurecê-las em representações rígidas), como a Filosofia pode produzir
teatros da repetição. Deleuze procura identificar na filosofia a possibilidade de sensibilizar
os conceitos, criá-los a partir da dramatização das ideias, lembrando que, para o teatro das
multiplicidades, as ideias
correspondem alternadamente a todas as faculdades, não sendo o objeto exclusivo de qualquer uma em particular, nem mesmo do pensamento. (...) as Ideias são multiplicidades puras que não pressupõem qualquer forma de identidade num senso comum, mas que, ao contrário, animam e descrevem o exercício disjunto das faculdades do ponto de vista transcendente.49
*
Como encarnar ideias? Deleuze se interessa pelos dramas que estão por detrás dos
conceitos, formados por precursores sombrios, ressonâncias internas, pontos notáveis.
Portanto, o método de dramatização participa não só da escuta que Deleuze faz de alguns
filósofos (parece que quando ele não escuta o drama ele não consegue escutar o que o
pensador tem para nos dizer), como de sua própria criação de conceitos. A invenção e
fabricação de um conceito na filosofia não faz dele autônomo, isto é, o conceito não é
independente de um contexto, de um plano, de uma multiplicidade de tons de voz, de
49 DELEUZE. Diferença e Repetição, pp. 274-275. Citação integral: “Mas, assim, as Ideias correspondem alternadamente a todas as faculdades, não sendo o objeto exclusivo de qualquer uma em particular, nem mesmo do pensamento. Todavia, o essencial é que, assim, de modo algum reintroduzimos a forma de um senso comum, antes pelo contrário. Vimos como a discórdia das faculdades, definida pela exclusividade do objeto transcendente que cada uma apreende, não deixava de implicar um acordo pelo qual cada uma transmite sua violência a outra como ao longo de um pavio de pólvora; mas trata-se justamente de um ‘acordo discordante’ que exclui a forma de identidade, de convergência e de colaboração do senso comum. O que nos parecia corresponder à Diferença, que articula ou reúne por si mesma, era esta Discordância acordante. Portanto, há um ponto em que pensar, falar, imaginar, sentir etc., são uma mesma coisa, mas esta coisa afirma somente a divergência das faculdades em seu exercício transcendente. Trata-se, pois, não de um senso comum, mas, ao contrário, de um ‘para-senso’ (no sentido de que o paradoxo é também o contrário do bom senso). Este para-senso tem as Ideias como elementos, precisamente porque as Ideias são multiplicidades puras que não pressupõem qualquer forma de identidade num senso comum, mas que, ao contrário, animam e descrevem o exercício disjunto das faculdades do ponto de vista transcendente. Assim, as Ideias são multiplicidades de fulgores diferenciais, como fogos-fátuos de uma faculdade a outra, ‘virtual cauda de fogos’, sem nunca ter a homogeneidade desta luz natural que caracteriza o senso comum”.

96
outros conceitos-personagens, de afectos, sempre atualizados50. Os dramas são a vida dos
conceitos (ou seus impulsos vitais), contigua às suas plasticidades e dinâmicas. Pois, afinal
de contas, “os conceitos são centros de vibrações”51. Eis o caráter sensível dos conceitos
para o qual nos convidam a escutar Deleuze, e também Guattari. Eis uma amplitude do
sentido de estética para a filosofia52.
Ao falar sobre o movimento verdadeiro, a repetição, que vem com a dramatização
das ideias, Deleuze recorre mais uma vez a Nietzsche, exemplo explícito de filósofo
encenador. Em Diferença e Repetição, Deleuze lembra de Assim falou Zaratustra,
verdadeiro teatro das multiplicidades, e diz:
50 Importância da noção de conjunto, para Deleuze, que vem com o conceito de agenciamento. A lógica de todo conjunto consiste no agenciamento entre seus componentes, suas virtualidades, suas diferenças de grau e natureza. A partir da teoria da multiplicidade, Deleuze nos convoca a pensar concretamente o mundo do ponto de vista do agenciamento. No Abecedário de Gilles Deleuze, Deleuze diz que ele entende o agenciamento sob quatro fórmulas, digamos assim. Elas são: 1) Estados das coisas; 2) Enunciados (estilos, tipo, modos de dizer); 3) Territórios; 4) Movimentos, ou processos, de territorialização. (L’abecedaire de Gilles Deleuze, “D comme Désir”). 51 DELEUZE. GUATTARI. O que é filosofia?, p.35: “Os conceitos são centros de vibrações, cada um em si mesmo e uns em relações aos outros. É por isso que tudo ressoa, em lugar de se seguir ou de se corresponder”. Em uma entrevista Deleuze diz: “Os conceitos não estão na cabeça: são coisas, povos, zonas, regiões, limiares, gradientes, calores, velocidades.” (DELEUZE. “Faces e superfícies”, trad. Cristian Pierre kasper, in DELEUZE A ilha deserta, textos e entrevistas (1953-1974), p. 354 (nota 1)). De novo, em O que é filosofia?, podemos notar a influência da dramatização na compreensão dos conceitos, da vida dos conceitos; os autores dizem: “As relações no conceito não são nem de compreensão nem de extensão, mas somente de ordenação, e os componentes do conceito não são nem constantes nem variáveis, mas puras e simples variações ordenadas segundo sua vizinhança. Elas são processuais, modulares. O conceito de um pássaro não está em seu gênero ou sua espécie, mas na composição de suas posturas, de suas cores e de seus cantos: algo de indiscernível, que é menos uma sinestesia que uma sineidesia. Um conceito é uma heterogênese, isto é, uma ordenação de seus componentes por zonas de vizinhança. É ordinal, é um intensão presente em todos os traços que o compõem. Não cessando de percorre-los segundo uma ordem sem distância, o conceito está em estado de sobrevoo com relação a seus componentes. Ele é imediatamente co-presente sem nenhuma distância de todos os seus componentes ou variações, passa e repassa por eles: é um ritornelo, um opus com sua cifra” (p. 32. Grifo meu/ Qu’est-ce que la philosophie?, p.26). 52 Uma interessante abordagem sobre os sentidos da estética na filosofia de Deleuze é trazida por Cintia Vieira da Silva, em Intensidade e individuação: Deleuze e os dois sentidos de estética. A autora diz: “A preocupação de Deleuze, aquela de querer fazer com que ‘as próprias condições da experiência em geral se tornem condições da experiência real’*, quer dizer, na verdade, que é preciso estabelecer uma espécie de gênese do dado. Então, o projeto filosófico deleuziano envolverá mostrar como os elementos sensíveis se engendram para uma sensibilidade em um processo do sentir e, por outro lado, como no processo do sentir se constitui uma instância senciente, uma instância subjetiva, ou uma subjetividade, que pode ser instável, parcial, fragmentária, ou seja, algo que sente e se constitui no sentir. Mas, também aquilo que é sentido, por sua vez, não está pronto. Portanto, não é apenas o sujeito, ou a subjetividade, que se constitui no ato de sentir e, depois, no ato de pensar, mas também aquilo que depois vai se transformar em objeto para uma sensibilidade, para um pensamento, também é engendrado, também é produzido, também precisa ser constituído. E o que vai permitir mostrar como se dá esta constituição é a noção de intensidade”. http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/rf *DELEUZE. Lógica do sentido. São Paulo, Perspectiva, 1998 (4ª edição), pp. 265-6.

97
Zaratustra é inteiramente concebido na Filosofia, mas também para cena. Tudo aí é sonorizado, visualizado, posto em movimento, em andamento e em dança. E como ler esse livro sem procurar o som exato do grito do homem superior?53
Portanto, o método de dramatização está plenamente relacionado com aquela noção
de modos de andar da vida (allure de la vie), produção de espaço-tempo intensiva que
integra, como condição, uma teoria da individuação, ou uma “etologia dos modos de
existência”54. Desses dinamismos dramáticos reintegra-se, portanto, uma crítica àquilo que
com Deleuze denominamos “sedentarismo”, trazido pelas imagens dogmáticas da
representação – aquele “fundo sem diferença” –, frente a um pensamento nômade, sem
fundo, fortuito. Processo de ocupar sem contar; distribuição nômade e demoníaca das
relações intensivas.
Preencher um espaço, partilhar-se nele, é muito diferente de partilhar o espaço. É uma distribuição de errância e mesmo de "delírio", em que as coisas se desdobram. Não é o ser que se partilha segundo as exigências da representação; são todas as coisas que se repartem nele na univocidade da simples presença55.
53 DELEUZE. Diferença e Repetição, pp.30-31. Em Gilles Deleuze fala da filosofia: “Uma encenação, isso quer dizer que o texto escrito será aclarado por valores totalmente distintos, valores não textuais (pelo menos no sentido ordinário): substituir a história da filosofia por um teatro da filosofia, é possível” (“Gilles Deleuze fala da filosofia”, trad. Luiz B.L. Orlandi, in DELEUZE. A ilha deserta, textos e entrevistas (1953-1974), p. 186). 54 Expressão extraída de Guillaume Sibertin-Blan. 55 DELEUZE. Diferença e Repetição. “A diferença em si mesma”, p. 68. Deleuze salienta que a expressão diferença de intensidade é redundante, pois a intensidade é a forma da diferença como razão do sensível, de modo que toda intensidade é diferencial, diferença em si mesma55. Por esse caminho, o ser deixa de ser unificação de atributos; não há repartição (o ser que se diz de vários modos). Através das intensidades – uma vez sendo elas diferenciais e condições de todo fenômenos, multiplicidades implicadas – a univocidade do ser se diz, em Deleuze, menos de uma repartição (de atributos, maneiras, modos) do que distribuição. Trata-se de uma distribuição nômade ou anarquias coroadas: “O que caracteriza a distribuição sedentária é dispor os entes de modo fixo em torno do ser. A semelhança com o ser é um critério de hierarquia dos entes. A participação no ser é determinada pela semelhança do ente com o ser. Semelhança interna e essencial. Por ter um centro idêntico a si mesmo, organizador e fixo, Deleuze chama-a de distribuição sedentária. A distribuição nômade, ao contrário, dispõe os entes de modo anárquico, sem centro. O critério de hierarquia entre eles não é a semelhança, mas a potência. Quanto mais os entes elevam sua potência, o que equivale a dizer que quanto mais eles se aproximam deles mesmos expurgando a relevância de um critério exterior, mais eles participam do ser”. Diferença e Repetição, p. 25. É neste sentido que Deleuze diz que o mais subjetivo será o mais objetivo. No texto Gilles Deleuze fala da filosofia, Deleuze diz: “Nós descobrimos, todavia, um mundo de singularidades pré-individuais, impessoais. Elas não se reduzem aos indivíduos e nem às pessoas, e nem a um fundo sem diferença. São singularidades móveis, ladras e voadoras, que passam de um a outro, que arrombam, que formam anarquias coroadas, que habitam um espaço nômade. Há uma grande diferença entre repartir um espaço fixo entre indivíduos sedentários, segundo demarcações e cercados, e

98
O pensamento-artista compreenderia, assim, o pensamento como um “processo de
subjetivação”, para usar uma expressão foucaultiana, mas que para Deleuze não diz
respeito ao sujeito ou ao particular, mas às singularidades, aos acontecimentos, às
hecceidades – “presença, presença...” – produzidos pela diferença e pelas durações, e que
carregam necessariamente aqueles agenciamentos coletivos de enunciação dos devires
(“devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível”). Quer dizer, o pensamento-artista lida
com o movimento intensivo que possibilita a invenção e a constituição de modos de vida e
existência. Este é o sentido para Deleuze da vida como obra de arte, para além de um
sentido restrito de estética, o de arte como a Arte. Se “a lógica de um pensamento não é um
sistema racional em equilíbrio”56, o sentido de intempestivo na filosofia reside justamente
em entendê-la como um ato de pensamento, ato de criação. Pensar é criar. “É o que
Foucault chama de ética, por oposição à moral”; a moral consistindo em “julgar ações e
intenções referindo-as a valores transcendentes (é certo, é errado...)” e a ética como “um
conjunto de regras facultativas que avaliam o que fazemos, o que dizemos, em função do
modo de existência que isso implica”57. Crítica e clínica. Por essas vias, isto é, através do
seu sentido ético é que percebemos então que o pensamento-artista não está
necessariamente ali nos departamentos de belas artes, de música, de letras, etc. Não
necessariamente. O pensamento-artista participa de toda empreitada em que se lute, no
combate com o caos, para a criação de novas formas de expressão, intempestivas, que
fazem acontecimento aquilo que se tem para dizer; o grito, o disparo, o impulso vital, as
irrupções. “Às vezes basta um gesto ou uma palavra. São estilos de vida, sempre
implicados, que nos constituem de um jeito ou de outro”58. Aqui, Deleuze não parece
repartir singularidades num espaço aberto sem cercados e nem propriedade” (“Gilles Deleuze fala da filosofia” in DELEUZE. A ilha deserta, textos e entrevistas (1953-1974), p. 185). 56DELEUZE. Conversações. “A vida como obra de arte”, p. 122.57 pp. 129-130. 58DELEUZE. Conversações. “A vida como obra de arte”, p. 130.

99
querer circundar uma macro política, mas um outro plano (não necessariamente oposto ou
análogo), o plano “microfísico”.
“Ora, Foucault também se inscreve nessa linhagem, é um grande estilista. O
conceito toma nele valores rítmicos, ou de contraponto, como nos curiosos diálogos
consigo mesmo com os quais ele termina algum de seus livros”59. Portanto, sem querer me
aprofundar sobre a “microfísica do poder” (mas só resgatando uma expressão foucaultiana
que certamente inspirou Deleuze), reitero aqui as micropolíticas dos devires-
imperceptíveis, aquelas com as quais lidam todos os pensamentos-artistas e que em suas
medidas são paralelos à Arte, àquela ideia de uma grande e elevada arte como forma de
redenção e imutabilidade. Os estilos, os gestos, os afectos, os corpos, são político-estéticos.
Ressaltamos o interesse de Deleuze pela linguagem, por novos regimes de signos,
pelos novos dispositivos de expressão, pelo problema da expressão, propriamente. Assim
relacionados os métodos de desterritorialização e de dramatização sob a perspectiva de um
pensamento-artista, o plano de imanência, do qual nos fala Deleuze através de sua leitura
de Espinosa, diz respeito, portanto, a um processo prático. Processo que se dá enquanto
experimentação60. O método de “experimentação” do pensamento nômade e artista.
2.4 De novo: (...). E o corpo
“Vocês ouviram? É a voz de um animal.” Era preciso então resumir rapidamente, fixar a terminologia do jeito que se pudesse, por nada. Havia inicialmente um primeiro grupo de noções: o Corpo sem órgãos ou o Plano de consistência desestratificado — a Matéria do Plano, o que se passa nesse corpo e nesse plano (multiplicidades singulares, não segmentarizadas, feitas de contínuos intensivos, emissões signos-partículas, conjunções de fluxos) —, a ou as Máquinas abstratas, uma vez que constroem esse corpo, traçam esse plano ou “diagramatizam” o que se passa (linhas de fuga ou desterritorializações absolutas).61
59 DELEUZE. Conversações. “A vida como obra de arte”, p. 130.60 Em Spinoza, philosophie, pratique, Paris, PUF., 1981, p.167-168: “Ninguém sabe de antemão de que afectos é capaz, é uma longa tarefa de experimentação, é uma longa prudência, uma sabedoria espinosista que implica na construção de um plano de imanência ou de consistência”. 61 DELEUZE. GUATTARI. “10.000 a.C – A geologia da moral (quem a Terra pensa que é?)”, Mil platôs, vol.1, p.89.

100
Por mais que tenha sido sob a categoria, aparentemente mais ampla, de um
pensamento-artista que tenhamos chegado até aqui, partindo do começo deste capítulo
sobre a pergunta “o que é filosofia?”, passamos agora há pouco por dois momentos em que
Deleuze esboça uma leitura explicitamente musical que faz de seus encontros com outros
pensadores. O momento “Foucault”, em que ele percebe que o conceito toma valores
rítmicos e de contraponto, e aquele momento de Zaratustra, quando tudo “é sonorizado,
visualizado, posto em movimento, em andamento e em dança”. Momento do teatro da
repetição. Deleuze ainda se pergunta: “E como ler esse livro (Zaratustra) sem procurar o
som exato do grito do homem superior?”.
Vimos que, com a dramatização, Deleuze lança para a filosofia e para os
pensamentos-artistas uma ideia de gesto. O gesto como parte do processo engendrador do
pensamento. Ele diz, em Diferença e Repetição, que a repetição do mesmo não é um motor
de gestos. Os gestos são expressões das determinações espaço-temporais. É o teatro, a
dança, o musical, os modos de andar. Em uma relação que Deleuze faz sobre gestus e o
cinema das décadas de 1960 e 1970 ele retoma o conceito de corpo e diz que o corpo não é
somente potência visual, ele é potência sonora62.
Até aonde pude analisar, as noções de grito e canto ganham lugar na filosofia
deleuziana com os seus trabalhos ao lado de Guattari, nos estudos sobre os pássaros e a
etologia, mais precisamente com os conceitos de Devir-animal e Ritornelo. No entanto, o
interesse de Deleuze pela etologia está também em seus trabalhos sobre Espinosa. Mais do
que isso, embora não tenha nenhum capítulo de livro ou qualquer outra publicação
específica sobre o grito e o canto, Deleuze brincou com este tema (que ainda é um pouco
obscuro aqui), a partir de 1980, nas aulas dadas em Vincennes.
62 DELEUZE. A imagem- tempo, p.232.

101
Para pensar sobre o continuum espaço-temporal, em suas aulas sobre cinema e
pensamento, Deleuze recupera o conceito de cronotopo, extraído da teoria literária de
Mikhail Bakhtin. O cronotopo seria o espaço-tempo pressuposto por cada romance. Todo
pensamento, segundo Deleuze, pressupõe um espaço-tempo, um cronotopo específico. E
todo método remete a esse cronotopo. O método é dado, pois pressupõe uma imagem
implicada do pensamento, mas o cronotopo, enquanto condição, não o é. Para Deleuze, o
discurso filosófico acontece nos cronotopos, porém ele não dá conta de demarcá-los.
Portanto, como os cronotopos tornam-se expressivos na filosofia? Como apreendemos esse
espaço-tempo que Bakhtin diz ser o pressuposto de todo e qualquer romance?
Há muito tempo, me parece... há muito tempo... há anos, mas é um tema que eu não vou abandonar porque quando eu passar para os outros anos, à “o que é filosofia?” – vai ganhar para mim uma importância cada vez mais essencial – eu direi que ele é balizado esse espaço-tempo, esse cronotopo é essencialmente balizado e assinalado por gritos63.
Partindo de uma breve análise sobre a diferença entre os cantos e os gritos – “gritos
de alarme”, “gritos de amor” – nos pássaros, Deleuze diz que os discursos filosóficos são
os cantos dos filósofos e que os “gritos” seriam pontos de nascimento, pontos de vida que
se descolam dos cantos. Deleuze dá um exemplo, em sua aula, e eu o reproduzo aqui:
Quando Aristóteles nos diz o que é a substância, ele desenvolve isso em um discurso-canto. Quando ele nos diz “É necessário parar”, não é uma proposição da mesma natureza, “É necessário parar”, é um grito. O que que ele quer dizer? Ele quer dizer: vocês não voltarão a subir. (...). Aqui são proposições que só podem se exprimir sob a forma da interpelação. Não é forçado dizer isso explicitamente, ele nos diz “vocês não podem voltar a subir ao infinito de um conceito a um conceito mais geral”, “é necessário parar”, quer dizer, existem conceitos últimos.64
63 Gilles Deleuze - Cinéma et Pensée, cours 67 du 30/10/1984 – 2. http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=4 64 ibidem

102
Deleuze, na sequência, diz nada saber sobre os conceitos últimos. O que ele escuta,
antes, é esse ponto notável que torna expressivo o espaço-tempo pressuposto pelo
pensamento, uma espécie de irrupção no continuum. Esses pontos notáveis, dobras, são
aqui analisados em “Pensamento-música”, na parte sobre velocidades e lentidões. É o
ritmo; essas distâncias críticas, dissimetrias, os valores tônicos que marcam a positividade
da diferença e criam pulsos, giros, quedas. São “os intervalos entre os campos de ação dos
deuses, como saltar por cima das barreiras ou das cercas queimando as propriedades”65.
Portanto, o grito não necessariamente diz respeito a uma heurística. Não é bem isso. Nem
tampouco significa necessariamente um aumento abrupto “de decibéis”. O grito pode ser
uma pausa, um silêncio súbito (que não deixa de exclamar em seu silêncio), um som
pianíssimo. Eis o sentido de “mais”, de “valor tônico”, no jogo das intensidades e na lógica
de diferença e repetição. Sentido da articulação, da dobra, do expressivo. O grito é sempre
dramático. Assim, o grito salienta uma gênese do pensamento, um “pouco de tempo em
estado puro”, uma vida que sobressalta, um êxtase do ato de criação. O grito mais
atravessa do que conclui. Pois os gritos são gritos de “alarme”, mas também “gritos de
amor”. Um pathos que se dispara na ordem do discurso e sensibiliza, ou dramatiza, o
cronotopo de onde ele vem. Os gritos na filosofia são, portanto, esses signos que se
amplificam no canto do filósofo e que dão vida aos conceitos, efetivam-no, sendo eles
gritos da razão ou gritos de uma “irrazão”. “O grito filosófico encobre a imagem do
pensamento”66.
Por essas vias, trago outras algumas impressões de leitura que Deleuze compartilha
com seus alunos. Na aula dedicada às velocidades do pensamento, ele chama a atenção
65 DELEUZE. Diferença e Repetição, p. 68. 66 Gilles Deleuze - Cinéma et Pensée, cours 67 du 30/10/1984 – 2 (idem nota 59).

103
para algumas mudanças de timbre e de tonalidade de Espinosa na virada para o 5º livro da
Ética:
Ele escreve escólios, quer dizer espécies de acompanhamento das demonstrações. E eu dizia, se vocês lerem de fato em voz alta – não existe razão em tratar um filósofo pior do que tratamos um poeta... – se vocês lerem em voz alta, vocês estarão imediatamente sensíveis a isto: é que os escólios não têm a mesma tonalidade, não têm o mesmo timbre do que o conjunto de proposições e demonstrações. E que aí o timbre se faz, como eu diria, pathos, paixão67.
A maneira como Espinosa procede, o fluxo, as dobras que faz, suas alterações de
timbre, os saltos violentos, as suas vozes, parecem já nos mostrar, segundo Deleuze, algo
sobre o que os conceitos espinosistas querem dizer. Como se a dramatização das ideias,
aquela que vem com a experimentação, com o gestus, conferisse a consistência do plano
sob o continuum espaço-temporal. Eis a importância dos afectos na/para a filosofia de
Espinosa. Ele nos mostra que o conceito exige uma continuidade, um encadeamento, uma
lentidão, enquanto os afectos têm as suas velocidades próprias, as suas agressividades, os
seus roubos. “É como se nos escólios os afectos fossem projetados, enquanto que nas
demonstrações conceitos fossem desenvolvidos”. Os gritos são afectos, e não sabemos de
antemão os afectos de que somos capazes: longa tarefa de experimentação contigua à
pergunta “o que pode um corpo?”, na Ética de Espinosa.
*
67 “Il écrit des scolies, c’est à dire des espèces d’accompagnement des démonstrations. Et je disais, si vous les lisez même à haute voix - il y a pas de raison de traiter un philosophe plus mal qu’on ne traite un poète ... - si vous le lisez à haute voix, vous serez immédiatement sensibles à ceci : c’est que les scolies n’ont pas la même tonalité, n’ont pas le même timbre que l’ensemble des propositions et démonstrations. Et que là le timbre se fait, comment dirais-je, pathos, passion ». Disponível em: http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=91. Acesso em: 24/08/2015.

104
Assim, tem-se uma relação que se dá entre dramatização e diagramatização
(afectos, latitudes, longitudes): movimento dos corpos, de encarnar, criar consistências e
espaços sensíveis. Deleuze analisa o exercício transcendente da sensibilidade a partir do
conceito de intensidade (ou diferença pura). E “apreender a intensidade,
independentemente do extenso ou antes da qualidade nos quais ela se desenvolve, é o
objeto de uma distorção dos sentidos” 68. As linhas imperceptíveis, o corpo sem órgãos e os
paradoxos inerentes ao pensar o impensável são expressos por este acolhimento da
distorção dos sentidos, de ir até os seus limites, experiência recorrente na vida e no
trabalho dos artistas. Vale lembrar que o conceito de Corpo sem Órgãos, amplamente
discutido por Deleuze e Guattari nos dois volumes de Capitalismo e Esquizofrenia vem de
Antonin Artaud, dramaturgo, ator e poeta, por quem Deleuze tinha, obviamente, grande
admiração. Apesar de não trazer esse conceito sob tais termos lá em Diferença e
Repetição, Deleuze não deixa de convocar o pensamento de Artaud para a sua análise
sobre os limites das faculdades, mais precisamente o da sensibilidade e sua relação com o
pensamento. Naquela passagem do capítulo “A imagem do pensamento” a qual os
organizadores da edição brasileira atribuíram o subtítulo “Pensar: a sua gênese no
pensamento”, Deleuze traz Artaud para criar com ele uma reformulação de empirismo,
projeto filosófico que se estende em todos os seus trabalhos.
Sabe que o problema não é dirigir, nem aplicar metodicamente um pensamento preexistente por natureza e de direito, mas fazer com que nasça aquilo que ainda não existe (não há outra obra, todo o resto é arbitrário e enfeite). (...) Eis por que Artaud opõe, no pensamento, a genitalidade ao inatismo, mas, igualmente, à reminiscência, estabelecendo, assim, o princípio de um empirismo transcendental.69
O empirismo esboçado por Deleuze desconsidera a primazia da experiência como
68 DELEUZE. Diferença e Repetição, p. 333 69 p. 213.

105
estado vivido representado ou impressão recebida por um sujeito, em favor de uma
concepção de experiência que compreenda o pensamento e as ações de forças que o
engendram. São essas forças genéticas e intensivas que nos forçam a pensar/sentir/criar.
Com Artaud, Deleuze configura à etimologia de filosofia um sentido de philia como
genitalidade. A philia não diria respeito portanto à amizade ou a uma correlação dualística,
fiel e equilibrada com o “saber”. “O sombrio precursor não é um amigo” 70! A philia diz
respeito a um vitalismo que vai de encontro aos usos neutralizantes e apaziguadores das
faculdades. É o caos, o movimento, a repetição criadora, novamente, encore71.
O pathos é genital neste corpo-desejo sem órgãos. Deleuze reitera aqui, na
distinção do empirismo transcendental, o uso “involuntário” das faculdades, aquele que
escapa do equilíbrio do bom senso e da lógica da recognição, e que denuncia o seu próprio
“sem fundo”, as suas frestas, as suas linhas obscuras e imperceptíveis. “O distinto-obscuro
torna-se, aqui, a verdadeira tonalidade da Filosofia, a sinfonia da Ideia discordante”72.
A patologia, inerente à concepção de “filosofia vitalista” e denunciada também no
uso de termos como sintomas, afectos, agressividade, paixão, philia, nos convida, em
Deleuze, a pensar um lugar, a princípio paradoxal, para o involuntário/passivo na busca
filosófica. Ter algo para se dizer, vimos, está por detrás de todas as criações. Só se cria na
constituição de espaços-tempos; constituição de nomes próprios. No entanto, chama-me
atenção que, mesmo assim, há algo do desejo que prevalece neste trabalho com a
positividade da diferença. Nas núpcias com o cinema, com a música, com os paradoxos
trazidos com as artes, nas núpcias com Nietzsche, com Hume. No amor pelos seus
70 DELEUZE. Diferença e Repetição, p. 211. 71 Em francês, encore possui os seguintes significados: « de novo », « mais », « ainda ». O psicanalista Jacques Lacan dedicou um seminário (ao que me parece, sobre o gozo) ao qual ele deu o título de Encore. Lacan faz um jogo entre encore e a expressão en corps (no corpo). Em uma passagem, ele diz: “Là où est l’être, c’est l’exigence de l’infinitude” (Aí onde está o ser, é a exigência da infinitude). LACAN, Jacques. Encore, Le Séminaire livre XX, texte établi par Jacques-Alain Miller. Seuil, Paris, 1975. p.18. 72 DELEUZE. Diferença e Repetição, pp. 207/214.

106
interlocutores, pelas conversas, Deleuze não guarda suas manifestações de desejo – espécie
de delírio – em nome de um bom senso ou de um uso justo da Razão. Deleuze também tem
os seus cantos e os seus gritos – as musicalidades de suas aulas, as tonalidades de
Diferença e Repetição são outras de Mil platôs, etc. Compartilhar os espaços-tempos que
ele vai criando parece ser uma via, ou a única, para dançarmos com ele, e não como ele.
Tarefa não muito evidente. Nos seus diálogos, em suas aulas, nas conversações, nas
conversas consigo mesmo, Deleuze parece estar construindo ali, intempestivamente, as
suas alianças móveis, encontros “viscerais”, relações amorosas impossíveis, sempre
atualizadas73.
A verdadeira “troca de figurinhas” passaria, portanto, em compartilhar um certo
lado obscuro inerente às criações, aquele “impoder” da vontade de dar (da vontade de
potência). No prólogo de Diferença e Repetição, Deleuze diz que um livro de Filosofia
deve funcionar, por um lado, como um “tipo particular de romance policial” onde os
conceitos intervém, encarnados dramaticamente, para resolver um problema local, e, por
outro lado, ele deve ser como “uma espécie de ficção científica”:
Ficção científica também no sentido em que os pontos fracos se revelam. Como escrever senão sobre aquilo que não se sabe ou que se sabe mal? É necessariamente neste ponto que imaginamos ter algo a dizer. Só escrevemos na extremidade de nosso próprio saber, nesta ponta extrema que separa nosso saber e nossa ignorância e que transforma um no outro74.
Todo movimento intensivo precisa de um pouco de resistência, um certo de jogo de
vetores complexos, alternantes, opostos, porém simultâneos. Todo corpo funciona assim.
73 Sobre a impossibilidade das relações amorosas, ou de uma reciprocidade simétrica, estável e eterna entre vizinhos ou entre componentes de uma síntese, recorre-me o termo transferência utilizado, mais uma vez, pelos psicanalistas. Ao contrário do que costumamos pensar, a transferência não é um dado recebido ou transmitido, ou um acordo “concordado”, equidistante, mas, antes, como fruto da contingência, trata-se de uma relação sempre em manutenção. Manutenção das vontades de potência (vontade de criar, de dar). Para alguns lacanianos, a transferência é precisamente amor. A impossibilidade, no caso da psicanálise, diz respeito a um certo tipo de prazer que será sempre narcísico, mas que não desconsidera as forças do encontro. 74 DELEUZE. Diferença e Repetição, p. 18.

107
Mesmo o “corpo humano” funciona assim: nossas articulações, nossos músculos, nossa
respiração, nosso caminhar. Todo gesto se diagramatiza com forças múltiplas, algumas
imperceptíveis, micro-forças dentro de forças maiores, que podem, ou não, se tornar depois
expressivíssimas. As diferenças (de grau ou de natureza), os paradoxos, os choques, os
atritos, as oposições não são necessariamente excludentes. Por isso a ideia de fluxo trazida
por Deleuze nos seus conceitos, tais como o devir, não diz respeito a um continuum morto
ou homogêneo, mas àquele continuum crítico das velocidades e lentidões diferenciadoras75.
Eis a diferença entre uma teoria das multiplicidades e a dialética76. O método de Deleuze é
esse desejo, ou pathos, implicado como modo da positividade, revolucionário, modo vital.
O corpo reclama por um aqui-agora da criação, inventa vibrações, faz ressoar seus
harmônicos, cria dissonâncias e contrapontos múltiplos.
Esta política do corpo é decisiva na noção de heterogênese musical, trazida pela
compositora Pascale Criton em sua abordagem sobre o pensamento-música deleuziano77.
Por um lado, Deleuze e todos pensadores e artistas contemporâneos a ele, com quem ele
dialoga, buscam tornar perceptível uma música que reclama, em seu modus operandi, uma
dimensão ética e política; por outro, a própria noção de pensamento-música e toda sua
semiótica transversal (intensiva, movente, heterogenética, nômade, rítmica, etc.) suscitam a
invenção de espaços-tempos singulares. Deste modo, tal política pode ir além das músicas
75 Por estas vias, David Lapoujade extrai da obra de Deleuze a expressão “movimentos aberrantes”, em contraposição à ideia de fluxo (LAPOUJADE. Deleuze, os movimentos aberrantes). Alguns compositores dos séculos XX/XXI também se interessam por uma certa resistência, ou aberrações, trazidas pela dificuldade de execução de suas peças por parte dos intérpretes. Maneiras e recursos inusitados para se tocar o instrumento, ritmos complexos, passagens impossíveis, uso de outros instrumentos/corpo, entre outras situações que compõem uma gama de ações desterritorializantes. 76 “Quando a dialética ‘esquece’ sua relação íntima com os problemas enquanto Ideias, quando ela se contenta em decalcar os problemas sobre as proposições, ela perde sua verdadeira potência para cair sob o poder do negativo e substitui necessariamente a objetividade ideal do problemático por um simples confronto de proposições opostas, contrárias ou contraditórias”. DELEUZE. Diferença e Repetição, p.235. 77 Retomo trecho já citado anteriormente: “Pois nesta outra política do corpo e da história, ao desvio da homogeneização globalizada ou do solo modelo ocidental, o intensivo integra os afectos, interroga o negativo, o instável, os caminhos perigosos do subjetivo e dá sentido à invenção” (CRITON, Pascale. Gilles Deleuze, la pensée-musique (2015). Introdução, pp.10-11).

108
pesquisadas por Deleuze e Guattari, em defesa de novas pesquisas, outras músicas e
práticas musicais e artísticas. Processo contínuo de escuta, de experimentações e
improvisos.
*
Como Espinosa define um corpo? Um corpo qualquer, Espinosa o define de duas maneiras simultâneas. De um lado, um corpo, por menor que seja, sempre comporta uma infinidade de partículas: são as relações de repouso e de movimento, de velocidades e lentidões entre partículas que definem um corpo, a individualidade de um corpo. De outro lado, um corpo afeta outros corpos, ou é afetado por outros corpos: é este poder de afetar e ser afetado que também define um corpo na sua individualidade. Na aparência são duas proposições muito simples: uma cinética, e a outra dinâmica. Contudo, se a gente se instala verdadeiramente no meio dessas proposições, se a gente as vive, é muito mais complicado e a gente se torna então espinosista antes de ter percebido porquê.
(...) A forma global, a forma específica, as funções orgânicas dependerão
das relações de velocidade e lentidão. Até mesmo o desenvolvimento de uma forma, o fluxo do desenvolvimento de uma forma depende dessas relações, e não o inverso. O importante é conceber a vida, cada individualidade de vida, não como uma forma, ou desenvolvimento de forma, mas como uma relação complexa entre velocidades diferenciais, entre abrandamento e aceleração de partículas. Uma composição de velocidades e de lentidões num plano de imanência. Acontece também que uma forma musical dependa de uma relação complexa entre velocidades e lentidões das partículas sonoras. Não é apenas uma questão de música, mas de maneira de viver: é pela velocidade e lentidão que a gente desliza entre as coisas, que a gente se conjuga com outra coisa: a gente nunca começa, nunca se recomeça tudo novamente, a gente desliza entre, se introduz no meio, abraça-se ou se impõe ritmos.78
78 DELEUZE, Gilles. Espinosa, filosofia prática. Trad.: Daniel Lins e Fabien Pascal Lins; revisão técnica: Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes – São Paulo: Escuta, 2002. p. 128.

109
3. O TEMPO E OS TERRITÓRIOS: O RITORNELO
3.1 Tempo, espaço, movimento
Tempo e espaço eu confundo, e a linha de mundo é uma reta fechada. Périplo, ciclo, jornada de luz consumida e reencontrada. Não sei de quem visse o começo e sequer reconheço o que é meio o que é fim. Pra viver no teu tempo é que eu faço Viagens no espaço, de dentro de mim. (Trecho da canção “Tempo e Espaço”, de Paulo Vanzolini)
Até aqui, a relação entre pensamento-música e a filosofia de Deleuze girou em
torno da noção de movimento. Comecei o primeiro capítulo desta dissertação apresentando
um pouco da escuta de Deleuze sobre as velocidades e lentidões no plano de imanência da
filosofia espinosista. Passamos pelo caos, por intermezzos, frestas, alternâncias, disparos,
por processos composicionais, até chegarmos brevemente à formulação de Devir, este
acontecimento – devir-música – de linhas flutuantes, linhas de fuga, linhas abstratas. No
segundo capítulo, destinado a criar algumas situações à pergunta “o que é filosofia?”,
exploramos um pouco melhor o que entendemos como movimento através do par
diferença/repetição e dos métodos de dramatização e desterritorialização (método
externalista). Opomos ao sedentarismo do pensamento o pensamento nômade. Opomos os
conceitos maiores, fixos e globalizantes, aos conceitos plásticos e paisagens vivas. E em
todas estas passagens busquei inserir o conceito de corpo, a sua urgência: o corpo como
vibração (corpo-som), como o ser do movimento, como aquilo que se move por

110
velocidades e lentidões e aquilo que as produz, como aquilo que ocupa e povoa, que canta,
tosse, gagueja ou grita, que passa, que resiste, que pode afetar e ser afetado.
No entanto, tornam-se agora necessárias algumas ressalvas. Há ainda pontos
importantes para um pensamento-música, alguns dos quais gostaria de abordar. Mais
precisamente, faz-se necessário recuperar o conceito de tempo no que, com Deleuze,
esboçamos ser o movimento intensivo, isto é, a repetição da diferença. E analisar como tais
conceitos e noções, a saber, tempo, movimento, diferença e repetição, se entrelaçam e
configuram finalmente, em Mil platôs, o Ritornelo.
3.2 A emancipação do tempo
Mas agora, num exercício extremo, as diversas faculdades dão-se mutuamente os harmônicos mais afastados uns dos outros, de maneira a formar acordos/ acordes essencialmente dissonantes. A emancipação da dissonância, o acordo/acorde discordante é a grande descoberta da Crítica da faculdade judicativa, a última reversão kantiana. A separação que ela reúne era o primeiro tema de Kant na Crítica da razão pura. Mas no fim ele descobre a discordância que faz acordo/acorde. Um exercício desregrado de todas as faculdades que vai definir a filosofia futura, assim como para Rimbaud o desregramento de todos os sentidos devia definir a poesia do futuro. Uma música nova como discordância, e como acordo/acorde discordante, a fonte do tempo1.
A expressão “emancipação da dissonância”, utilizada pelo compositor Arnold
Schoenberg no começo do século XX para se referir à “quebra” da tonalidade das músicas
dodecafônicas, é utilizada por Deleuze nesta única passagem, nesse texto, intitulado Sobre
quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia kantiana. É curioso, ou talvez,
uma pena, que Deleuze não tenha investido nessa expressão e no tema da dissonância em
outros trabalhos, sobretudo nos seus escritos subsequentes a Leibniz e o barroco.
Pontuamos aqui este último, pois suspeitamos que tenha sido a partir de sua escrita,
1 DELEUZE, G. Crítica e clínica. Trad. Peter Pál Pelbart. Ed 34. “Sobre quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia kantiana”, p. 44.

111
concomitante aos encontros de Deleuze com musicólogos e compositores, mais
precisamente Pascale Criton (que à época pesquisava o cromatismo), que a dissonância
tenha despertado no filósofo maior interesse e curiosidade. O tema da dissonância aparece
pouquíssimas vezes em outras obras de Deleuze e com uma recolocação menos pontual e
precisa do que nesse pequeno capítulo de Crítica e clínica, publicado nos últimos anos de
sua vida, em 1993. Pois, mais curioso ainda é que, para o filósofo, a emancipação da
dissonância lhe serve para compreender um novo estatuto do conceito de Tempo trazido
em sua leitura da última crítica de Kant, a Crítica da faculdade do juízo.
Nota-se que, neste momento de Crítica e clínica, Deleuze retoma aquele tema do
“exercício disjunto das faculdades”, discutido em Diferença e Repetição sob a perspectiva
da noção de limite. Porém, agora, o acordo discordante das faculdades é retomado sob uma
perspectiva musical. Para além do acordo, o “accord”, na língua francesa, designa também
o acorde musical: o conjunto, ou bloco, de três ou mais notas soando simultaneamente e
que, assim, engendra uma cor, uma tonalidade ou um timbre, uma sensação, ou denuncia
uma função ou caminho harmônico dentro do sistema tonal. Os acordes podem se
expressar como hecceidades, aquelas individuações sem sujeito. De todo modo, o elemento
discordante no acordo/acorde corresponderia aqui às dissonâncias que colocam em cheque
a estabilidade do acorde configurada por suas dependências, suas funções e objetivos
sistêmicos, seu passado e seu porvir, etc. “É como se em Kant já se ouvisse Beethoven e
em breve a variação contínua de Wagner”2.
2 “Sobre quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia kantiana”, p. 40. Vale ressaltar para os leitores não músicos que a dissonância esteve presente na música muito antes da proposta dodecafônica da chamada “2ª Escola de Viena”, e bem antes de Beethoven. A dissonância foi explorada como “pequenos temas”, pontes, dobras, “estranhamentos” contrastantes, em inúmeras composições do período barroco, e certamente amplamente tocada na música “das ruas”. De todo modo, nos interessa a escuta de Deleuze para isso que ele chama de emancipação da dissonância, espécie de liberação total de uma certa ordem legisladora de como as coisas “devem” soar e como tal liberdade e des-hierarquização das formas pode dar consistência, manter de pé as matérias de expressão.

112
Henrique Lima traz uma interessante análise sobre esse momento de Crítica e
clínica. Ele pontua que o acordo discordante entre as faculdades, que Deleuze enxerga com
a terceira crítica de Kant, é o da exploração da tensão. Assim,
Esta perspectiva poderia, certamente, consistir numa chave de compreensão do que se passa na “terceira crítica”, no nível da estruturação relacional entre os elementos envolvidos na composição – as faculdades –, isto é, na estruturação do modo segundo o qual cada elemento envolvido no conjunto se comporta. Isso fica tanto mais claro na leitura de Deleuze, quanto mais ele afirma a terceira crítica como um livro que apresenta o exercício divergente das faculdades, isto é, o exercício em que cada faculdade evolui livremente (em contraposição aos dois livros anteriores, que apresentavam o jogo entre as faculdades como organizado segundo um princípio de convergência em que as diferentes faculdades eram necessariamente submetidas a uma delas). Este novo modo de disposição da relação entre as faculdades, em que cada uma delas evolui livremente não submetidas a outras faculdades, sendo, portanto, não orientadas a um fim, implica em uma variação teórica sobre a categoria do sensível.3
Deleuze entende que a primeira crítica de Kant, a Crítica da razão pura, coloca o
entendimento como faculdade fundamental ou legisladora. Na segunda, na Crítica da
razão prática, tem-se um domínio da razão sobre as demais faculdades. E, finalmente, na
Crítica do juízo, as faculdades soam livres, desordenadas. Formam entre elas acordes
discordantes. “É uma estética do Belo e do Sublime, onde o sensível vale por si mesmo e
se desdobra num pathos para além de toda lógica, que apreenderá o tempo no seu jorro,
indo até a origem de seu fio e de sua vertigem”4.
A primeira fórmula poética que Deleuze convoca para pensarmos a filosofia
kantiana é um grito de Shakespeare, em Hamlet: “o tempo está fora dos gonzos”5. Esta
expressão formula a primeira emancipação do tempo no curso das três críticas de Kant: o
tempo como forma a priori. Portanto, ele não é algo produzido ou dado pelo movimento;
3 LIMA, Henrique R.S. Da música, de Mil platôs, p. 17. 4 DELEUZE. “Sobre quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia kantiana” in DELEUZE. Crítica e clínica, p. 43. 5 Shakespeare, Hamlet, I, 5 (“The time is out of joint”) apud DELEUZE. “Sobre quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia kantiana” , p. 36.

113
ele é a própria condição do movimento. O tempo deixa de ser ciclos, voltas, períodos,
sustentados por um movimento motriz, e passa a ser linha, “inexorável e incessante”. Pois,
Tudo o que se move e muda está no tempo, mas o tempo ele mesmo não muda, não se move e tampouco é eterno. Ele é a forma de tudo o que muda e se move, mas é uma forma imutável e que não muda. Não uma forma eterna, mas justamente a forma daquilo que não é eterno, a forma imutável da mudança e do movimento6.
Com esta primeira emancipação do tempo, o tempo emancipado do movimento,
podemos entrever uma nova concepção ou reformulação da própria ideia de movimento.
Se o movimento é condicionado pelo tempo, por um tempo que não tem sua natureza
alterada jamais, ele deixa de ser sentido estritamente como movimento extensivo,
fenomênico, correlato aos retornos cíclicos celestes. O movimento é, de certa forma,
também liberado das periodicidades e circularidades como sendo legisladoras e
condicionantes de sua natureza ou de sua existência.
Há uma segunda emancipação do tempo, consequente disso que acabamos de
analisar. Deleuze nos mostra uma elaboração de Kant sobre o cogito cartesiano e nos diz o
seguinte:
O “eu penso”, é um ato de determinação instantânea, que implica uma existência indeterminada (eu sou) e que a determina como uma substância pensante (eu sou uma coisa que pensa). Mas como a determinação poderia incidir sobre o indeterminado se não se diz de que maneira ele é “determinável”?7
A resposta kantiana, de acordo com a leitura de Deleuze, é a de que o indeterminado é
determinável pelo tempo, sob a forma do tempo. Esta é a segunda emancipação do tempo:
só ele determina o indeterminado. “Eu sou”, Deleuze analisa, é um eu passivo,
6 DELEUZE. “Sobre quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia kantiana”, in DELEUZE. Crítica e clínica , p. 38. 7 ibidem. Apesar de informalmente ser mais recorrente a tradução da fórmula Je pense, donc je suis como “Penso, logo existo”, adotamos aqui a tradução “Penso, logo sou”.

114
determinado pelo tempo, isto é, aquele indeterminado que experimenta as afetações de um
tempo sobre si mesmo. Mas ele é afetado, e logo, determinado porque:
Eu (Je) é um ato (eu penso) que determina ativamente minha existência (eu sou), mas só pode determiná-la no tempo, como a existência de um eu (moi) passivo, receptivo e cambiante que representa para si tão somente a atividade de seu próprio pensamento. O Eu e o Eu estão, pois, separados pela linha do tempo que os reporta um ao outro sob a condição de uma diferença fundamental. (...) É como um duplo afastamento do Eu e do Eu no tempo, que os reporta um ao outro, cose-os um ao outro. É o fio do tempo.8
A forma pura do tempo divide o sujeito em eu empírico e eu transcendental. É por esta
cesura do tempo que o ato de pensar é impulsionado. “Eu, é um outro”9. Eis a segunda
fórmula poética extraída por Deleuze, a célebre exclamação de Rimbaud em uma carta de
1871, e que resume a segunda emancipação do tempo em Kant.
É um paradoxo pois a ação/atividade do eu, que afeta o tempo, nos faz
experimentar a nossa passividade dentro dele. Ao afetar o tempo, o experimentamos como
nossa condição, experimentamos a nossa alteração; é o tempo que nos afeta. E nos
determina como um eu passivo. Portanto, o tempo nos cinde: estamos no interior do tempo,
somos determinados por ele, mas o afetamos (“já que meu espírito em relação ao tempo se
encontra representado como distinto de mim”10).
Como já dito, o que nos interessa aqui é menos uma formulação do sujeito do que
do tempo, muito embora possamos entendê-los como conceitos aliados. Com a fórmula de
Rimbaud, na sua elaboração da relevância do conceito de tempo na filosofia inaugurada
por Kant, Deleuze conclui: “o tempo, portanto, poderá ser definido como o Afeto de si por
si, ou pelo menos como a possibilidade formal, de ser afetado por si mesmo”11.
8 DELEUZE. “Sobre quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia kantiana”, p. 39 9 Rimbaud, carta a Izambart, maio de 1871, carta a Demeny, 15 de maio de 1871 apud DELEUZE. “Sobre quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia kantiana” (in Crítica e clínica), p. 38. 10 p. 40 11 p. 40

115
A terceira fórmula poética, que concerne à segunda crítica de Kant, a Crítica da
razão prática, é extraída de Kafka: "Que suplício ser governado por leis que não se
conhece! Pois o caráter das leis tem necessidade assim do segredo sobre seu conteúdo..."12.
Esta terceira fórmula, apesar de esboçar uma consequência das emancipações já
apresentadas, não diz respeito precisamente ao tempo e não nos estenderemos sobre ela.
É sobre a terceira crítica, onde Kant discute o conceito de juízo estético, que
Deleuze convoca a emancipação da dissonância. "Chegar ao desconhecido pelo
desregramento de todos os sentidos (...) um longo, imenso e raciocinado desregramento de
todos os sentidos"13. Eis a quarta fórmula poética, de novo, a voz de Rimbaud. Na leitura
que Deleuze faz de Kant, o acordo/acorde discordante das faculdades é decisivo na
reformulação do estatuto do tempo. Primeiro, a importância conferida a tal conceito, que,
como vimos, foi inaugurada com a compreensão do tempo (e do espaço) como forma pura
da qual dependem os movimentos e o conhecimento. O tempo engendrador. Agora, com a
estética do Belo e do Sublime, o tempo não aparece mais como uma categoria a priori
apenas: “um exercício desregrado de todas as faculdades que vai definir a filosofia futura,
assim como para Rimbaud o desregramento de todos os sentidos devia definir a poesia do
futuro. Uma música nova como discordância (...), a fonte do tempo”14.
Assim, Deleuze traz a dissonância para se pensar o tempo como produção da
sensibilidade. Uma dissonância que, em música, não se satisfaz na escolha dos sons
dissonantes que compõe os acordes, ou a série, ou os clusters, mas, antes, uma dissonância
dos tempos. De novo, o ritmo, este elemento que assina a expressão das matérias.
12 Kafka. Protecteurs (in La Muraille de Chine, Gallimard) apud DELEUZE. “Sobre quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia kantiana” (in Crítica e clínica), p. 41 13 Rimbaud. idem, apud DELEUZE. “Sobre quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia kantiana” (in Crítica e clínica), p. 42. 14 Repetição da citação-epígrafe deste subcapítulo. Grifo meu.

116
Por mais que tenha sido convocada, aqui nesta dissertação, a importância do
movimento no pensamento – o movimento entendido como a criação e como a atualização
da diferença – recorremos constantemente à ideia de um “elemento condicionante” desse
movimento. Aquele elemento/causa que possibilita o movimento, que produz modos de
vida, que torna sensível o insensível, ou que é a fonte do tempo. Oscilamos entre a
Diferença (ser do sensível) e a Duração, distinguindo conceitualmente uma e outra, mas
também, em alguns momentos, fizemos delas conceitos correlatos, quando duração e
diferença tornam-se um mesmo princípio, determinante da multiplicidade. De todo modo,
percebe-se nessas alternâncias, a permanência da primazia do sensível, ou melhor, da
intensidade. A força que vai de encontro à inflexibilidade das imagens dogmáticas do
pensamento, dos ritmos militares. E ambos os conceitos, diferença e duração, pressupõem
as intensidades, o caos, o intempestivo, as modulações, as coexistências heterogenéticas,
os acontecimentos. Posto isto, o que gostaria de pontuar agora é que no percurso de
Deleuze, na sua relação possível com a música, enquanto filósofo, o conceito de Ritornelo,
elaborado juntamente com seu parceiro Guattari, apresenta uma reformulação de todas
essas alternâncias, distinções conceituais e simultaneidades discutidas até então. “Uma
música nova”... Como se o Ritornelo passasse a ser uma nova fórmula da repetição, do
eterno retorno, do espaço-tempo, do tempo perdido.
3.3 Territórios, agenciamentos, expressão: a geografia sonora do ritornelo
Antes de Kant, a música já lidava com a autonomia e a potência do tempo.
Poderíamos nos estender aqui sobre as diferentes músicas do continente africano, ou
inúmeras outras, de outras etnias e povos não ocidentais, mas vou me limitar a um universo
talvez menos diverso e mais restrito, não perdendo de vista os seus potenciais. Estabeleci

117
como limite as músicas ocidentais “escritas”, por assim dizer, por ser o território que eu
venho estudando há mais tempo. Então, nota-se que tenha surgido na música do século
XX, tanto na música de concerto quanto no jazz da segunda metade desse século, uma
significativa necessidade em “desterritorializar” as práticas e escutas musicais até então
estabelecidas15. Buscavam-se outros ritmos, timbres, sonoridades, novas sensibilidades de
tempo e espaço. Para além das pesquisas sobre ritmos de outros povos e culturas não
ocidentais, alguns compositores de música de concerto, inclusive Messiaen, tiveram grande
interesse por determinadas técnicas musicais da Europa medieval e renascentista. Um
exemplo dentre estas práticas é o procedimento da talea, que era uma forma de estruturar
isoritmos nos motetos polifônicos16. Os processos de criação e reformulação contínua da
escritura musical nesse contexto histórico da Europa medieval/renascentista – que
proporcionou uma maneira de manusear o jorro do tempo, juntamente com a escrita
composicional de músicas profanas, destinadas à dança e à festa –, contribuíram, nas
práticas e escutas musicais pós-renascentistas, para uma apreciação pelos pulsos regulares,
pelos pulsos harmônicos, pela ideia cíclica e estruturante de compasso, pela quadratura.
Enfim, por uma espécie de simetrização do tempo. Mesmo assim, não faltam exemplos de
polifonias barrocas nas quais podemos facilmente nos perder dentro da complexidade e
vitalidade dos “acordos discordantes”, de múltiplas vozes (motivos, temas, pequenos 15 Bartók talvez tenha sido, para mim, um dos casos mais interessantes. Ele realizou inúmeras viagens no interior de seu país natal, a Hungria, pesquisando os cantos populares e folclóricos, as danças, etc. Grande parte de sua obra, para não dizer toda ela, baseia-se nessa longa pesquisa, pesquisa de “desterritorialização”. Outros compositores também se interessaram pelas melodias populares, pelos cantos do campo e de trabalho; cada um deles, é claro, criou lugares singulares para tais músicas, de acordo com as singularidades de suas escutas. No jazz norte americano, alguns músicos viajaram para países da Ásia, como a Índia, a China e a Japão. Bitches Brew, álbum de Miles Davis gravado em 1969, talvez seja o grande marco desse contexto no jazz que fez deslanchar o fusion e o free jazz. Para escutar Bitches Brew: https://www.youtube.com/watch?v=SbCt-iXIXlQ 16 A grosso modo, as taleas consistem em sobreposições de linhas isorítmicas distintas que se recomeçam juntas em largos intervalos de tempo. Para que esta coincidência de encontro de recomeço aconteça são necessários recomeços de cada um desses isoritmos. Exemplo de talea ver/escutar: “Liturgia de cristal” do Quarteto para o fim do Tempo, de Messiaen. Tem-se a impressão, ao escutar esta peça, que a música “já começou” antes mesmo de começarmos a escutá-la. Como se ela estivesse ali, na natureza, ou no cosmos. Falei um pouco desta sensação na parte sobre “Sensação, regimes de signos, corpo, pensamento”, do capítulo “Pensamento-música”, mais precisamente sobre as músicas de Scelsi e Xenakis.

118
temas, micro motivos, etc.), hecceidades. Sobre a detenção e apreensão do tempo,
Messiaen dizia que “os filósofos são menos avançados neste domínio. Mas, nós, músicos
possuímos este grande poder de partir o tempo e retrogradar”17.
Ao que me parece, a formulação simbólico-representativa do conceito de ritornelo
na música “escrita” nasce nesse contexto de passagem da Renascença para o Barroco, em
meados do séc. XVI. Nasce na “virada” da notação musical, da polifonia e do domínio do
tempo. O tempo que “volta”, repartido por blocos, seções, temas, movimentos, atos,
dramas18. Quando a música começa a aprofundar-se nas relações material-forma. O
ritornelo indica na partitura um trecho a ser repetido, a ser tocado de novo. Hoje, por mais
que possamos pensar que o “tocar de novo” seja uma reprodução de um mesmo, um loop,
tal reiteração, ao contrário, considera que alguns valores na música não são absolutos
(embora extremamente precisos enquanto expressões), valores que também assinam um
tempo, expressam a atualização de um ritmo. Valores como, por exemplo, a expressão e as
suas modulações (forte, piano, pp, ppp, crescendo, com brilho, vibrato, etc.), os
andamentos (lento, rápido, acelerando, rubato, etc.) e a articulação (uma respiração, um
silêncio, uma fermata, de novo um vibrato). Mais do que isso, pressupõe-se que reiterar
não é necessariamente reproduzir mas repetir, pressupõe-se que o músico/ouvinte que toca
também não é mais aquele mesmo que acabara de tocar. Poder do corpo de afetar e ser
afetado19.
17 SAMUEL, C. MESSIAEN, O. Permanences d’Olivier Messiaen. Dialogues et commentaires, p. 42. Deleuze e Guattari em Mil platôs, no platô sobre o devir, dizem que “a música não parou de fazer suas formas e seus motivos sofrerem transformações temporais, aumentos ou diminuições, atrasos ou precipitações, que não se fazem apenas de acordo com as leis de organização e até de desenvolvimento”. DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, p. 61. 18 Para grande parte dos musicólogos, Claudio Monteverdi, compositor italiano (1567- 1643), é o grande marco do nascimento do Barroco, na música. 19 A técnica minimalista explorou e explora o recurso da repetição como formas de loop. Com este recurso de insistência pode-se “saturar” a figura ou gesto que se repete, mudando algumas de suas dimensões sonoras. O ouvinte passa nesta irritação a escutar “o som do som”, em um processo molecular de deformação daquilo que se escuta. A atenção deixa de se fixar em uma unidade rítmica precisa e pode começar a perceber outras dimensões timbrísticas, rítmicas, temporais.

119
Assim, resguardando o que nele tem de mais musical, Mil platôs nos convida a
aprofundar e amplificar o conceito de ritornelo. Não estamos falando mais de uma
operação que só acontece ali nas sub-articulações de uma matéria-forma. Não estamos
mais na primazia de uma representação do tempo, subordinado pela forma, o tempo
cíclico. O ritornelo nos mostra que o eterno retorno não é cíclico. Mas, nos mostra também
que o tempo não é mais forma pura a priori20; o tempo é captura, é o limite da captura de
forças mas é ele mesmo a captura. O ritornelo agora é maquínico. Ele é criação e produção
de meios (infra-agenciamento do caos), de territórios (intra-agenciamento da terra) e de
processos de desterritorialização (inter-agenciamentos territoriais, o Cosmos)21. O ritornelo
fabrica tempo. Mas o ritornelo é mais geográfico do que Histórico. Está em todas as
relações territoriais, em todos os tipos de agenciamento, em todas as relações material-
forças, traçando territórios, ao mesmo tempo em que captura forças, intensidades, e
desterritorializa. Ele é mais intensivo do que formal. Pois é espaço (territorial, flutuante,
glissante), tempo (fonte de tempo, rítmico, vertiginoso, oscilante). Ele é como os seres da
música, devires, liso e estriado, acontecimentos onde dicotomias se dissolvem, onde tempo
e espaço se fundem; blocos/acordes discordantes. Esses blocos (blocos de sensações
inseparáveis, móveis e errantes) são os ritornelos. “O ritornelo inteiro é o ser da sensação.
Os monumentos são ritornelos” 22. As esculturas são ritornelo na medida que elas são
sensações, matérias que vibram “segundo a ordem dos tempos fortes e tempos fracos”23.
20 “Não há o tempo como forma a priori, mas o ritornelo é a forma a priori do tempo que fabrica tempos diferentes a cada vez”. DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, p. 168. 21 “Ora se vai do caos a um limiar de agenciamento territorial: componentes direcionais, infra-agenciamento. Ora se organiza o agenciamento: componentes dimensionais, intra-agenciamento. Ora se sai do agenciamento territorial, em direção a outros agenciamentos, ou ainda a outro lugar: inter-agenciamento, componentes de passagem ou até de fuga. E os três juntos. Forças do caos, forças terrestres, forças cósmicas: tudo isso se afronta e concorre no ritornelo”. DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, p. 118. 22 DEULEUZE, GUATTARI. O que é filosofia?, p.238, grifo meu. 23 p. 219.

120
Num sentido geral, chamamos de ritornelo todo conjunto de matérias de expressão que traça um território, e que se desenvolve em motivos territoriais, em paisagens territoriais (há ritornelos motores, gestuais, óticos, etc.). Num sentido restrito, falamos de ritornelo quando o agenciamento é sonoro ou "dominado" pelo som — mas por que esse aparente privilégio? (...). Diríamos que o ritornelo é o conteúdo propriamente musical, o bloco de conteúdo próprio da música. Uma criança tranquiliza-se no escuro, ou bate palmas, ou inventa um passo, adapta-o aos traços da calçada (...). Uma mulher cantarola, "eu a ouvia cantarolando uma ária, com voz baixa, suavemente". Um pássaro lança seu ritornelo. A música inteira é atravessada pelo canto dos pássaros, de mil maneiras (...). A música é atravessada por blocos de infância e de feminilidade. A música é atravessada por todas as minorias e, no entanto, compõe uma potência imensa. Ritornelos de crianças, de mulheres, de etnias, de territórios, de amor e de destruição: nascimento do ritmo.
*
Todo som traça um território ou já é um território desterritorializado. E todo
território e acontecimento é carregado de som, denunciado pelo som, por suas vibrações24.
Virtualidade (potência) dos corpos. Cada vez que se toca uma música, há atualização, há
criação, “faz-se um som”. A música se atualiza no processo de desterritorialização,
movimento de alteração inerente ao devir. Pois toda atualização é alteradora. De novo.
Poderíamos dizer, mais uma vez, que o ritornelo compreende o movimento entre virtual e
atual, já apresentado por Deleuze em outras obras, mas, agora, incorporado por outros
dramas: são dramas musicais, dramas dos territórios. Devir-animal. Pois é precisamente
sob a noção de território trazida pelo ritornelo (conceito este que nos remete a todo devir,
Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível) que Deleuze e Guattari dizem que o
sonoro-musical, ou a música, “não é privilégio do homem”, que “a questão da música é a
de uma potência de desterritorialização que atravessa a Natureza”, isto é, na medida em
que o conteúdo da música é ritornelo.
24 John Cage diz que não existe silêncio. Tudo o que acontece é ou produz som. Cage amplifica o sentido de escuta, de uma política da escuta, e, claro, da própria música, do espaço artístico-musical. Deleuze e Guattari estabelecem esta relação acontecimento-música com o conceito de ritornelo. Traça-se um território através da vibração, de pulsos, pontos notáveis, fluxos, devir.

121
A música submete o ritornelo a esse tratamento muito especial da diagonal ou da transversal, ela o arranca de sua territorialidade. A música é a operação ativa, criadora, que consiste em desterritorializar o ritornelo. Enquanto que o ritornelo é essencialmente territorial, territorializante ou reterritorializante, a música faz dele um conteúdo desterritorializado para uma forma de expressão desterritorializante. Que nos perdoem uma frase dessas, seria preciso que ele fosse musical, escrevê-lo em música, o que fazem os músicos25.
Escrever em música não só quer dizer, literalmente, escrever (no espaço gráfico da
partitura). Creio que os autores apontam também para a dimensão do espaço sonoro, para a
“linguagem” que constitui a música, onde os signos se mostram, musicalmente. Os
desenhos que cortam espaços-tempo, formados e deformados pelos sons. Como não há
precisamente este espaço sonoro nesta dissertação, mas, ao mesmo tempo, tentando tornar
um pouco mais exemplificável os conceitos de intercessão entre música e filosofia, trago
en passant uma peça de Bartók para exemplificar o ritornelo. Uma peça de piano escrita
para crianças.
25 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, “Devir intenso, (...)”, p.101. Na página anterior: “Não dizemos absolutamente que o ritornelo seja a origem da música, ou que a música comece com ele. Não se sabe muito bem quando começa a música. O ritornelo seria antes um meio de impedir, de conjurar a música ou de poder ficar sem ela. Mas a música existe porque o ritornelo existe também, porque a música toma, apodera-se do ritornelo como conteúdo numa forma de expressão, porque faz bloco com ele para arrastá-lo para outro lugar”.

122
Fig. 04 - Béla Bartók. Für kinder I-II (1908-1909)
Diríamos que há uma desterritorialização de uma melodia, que veio das terras do
interior da Hungria e que agora se encontra em um outro território, esse espaço gráfico da
partitura. Há desterritorialização na construção de sua nova “casa”, que chamaremos de
toca, onde a melodia se constitui como nome próprio. Uma toca movente, de blocos (micro
e macro blocos) de tempo-harmonia. Pois um primeiro acorde em sf, atacado no segundo
tempo do primeiro compasso, marca um território, constituição de um espaço-tempo com o
qual ritornelos irão roubar e, também, fabricar outros tempos.
É ritmo. É o tempo dando vida aos acordes e às notas, tornando-as matérias
expressivas. São estes sons tornando o tempo apreciável e sonoro. E nos sentiremos cada
vez mais aprofundados, desterritorializados e reterritorializados naquela toca. Vida
subterrânea de uma melodia.

123
*
Voltamos para os planos presididos por relações de material-forças, por
agenciamentos musicais, plano de composição. O plano de composição para Deleuze e
Guattari é povoado por compostos melódicos, contrapontos, personagens rítmicos. O plano
de composição é um grande ritornelo, movimento infinito de desterritorialização. É
interessante pois a autonomia da arte, produzida pela autonomia do bloco de sensações que
ela conserva – esta conservação –, é justamente aquilo que dá o poder “ao quadro de sair
da tela”. A conservação parece residir nesta potência de se preservar para além da matéria,
que permite revelar o composto de sensações. É o devir-cosmos da matéria, quando, ao se
tornar expressiva, entra no horizonte móvel da imanência, virando puro afecto ou
hecceidades; movimento de desterritorialização e reterritorialização (a sensação sobre o
plano, “erguendo as suas casas...”). Tornar durável o mundo: “saturar cada átomo”,
eliminar tudo o que gruda em nossas percepções correntes e vividas26. E a arte se apresenta
como essa emergência das qualidades sensíveis. Mas, uma emergência-conservação que
torna durável o mundo. É por essas vias que Deleuze e Guattari acabam relocalizando ou
transmutando a definição de narrativa em Kafka27, a ideia de voz e de “ter algo para se
dizer”. Pois “o que conta não são as opiniões dos personagens...” Não se trata da
reprodução ou representação de uma vida, é a própria vida. Vitalidade do material-força.
Por mais que o ponto de partida da expressão (na música, ou em outras criações) possa ser
um sentimento ou a representação de uma ideia, o seu conteúdo real, o modo como a
matéria se torna expressiva, é menos subjetivo do que ritornelo: devir-animal.
Precisamente por isso podemos supor uma fusão conteúdo-forma. O ritornelo é a 26 DELEUZE. GUATTARI. Mil platôs, vol. 4, pp.72-74. 27 Não só em Kafka: por uma literatura menor, mas também nos seus estudos sobre cinema, Deleuze já apresentava uma análise crítica sobre a narrativa enquanto sucessão, momento em que ele recorre a ideia de gestus.

124
multiplicidade desses tempos, dobras, dessas capturas que orquestram as “matérias não
formadas de expressão”.
Com o ritornelo, Deleuze e Guattari retomam a noção de plano pré-individual. O
problema é mais físico, mais dinâmico, energético: diferenças de potencial, de intensidade,
devires. Problema que nos lança mais para o intempestivo, do que para a memória
voluntária. Dissolução de uma primazia do tempo subjetivo, de um falso controle do
tempo. Cria-se tempo, modulações espaço-temporais, com os ritornelos. É interessante
pois em Mil platôs nos deparamos com um aprofundamento desregrado do encontro entre
filosofia e as artes, espécie de um delírio de Deleuze e de Guattari, nessa dramatização das
ideias. Procurando escapar de um ponto de origem fixo-determinante e maior, a música é
recorrente ali, nos devires-imperceptíveis, a música como fluxo e choque de forças,
potências e “traços assignificantes” que atravessam e deformam, como o
contínuo/descontínuo, virtual, corporal, molecular, ambígua, oscilante, passos, dança,
vento, ondas, batimentos. O musical é heterogenético pois assina territórios nas diferenças,
na relação (contrapontos, micropolifonias, silêncios, defasagens, tessituras, vibrações,
sobreposições, involuções), e desterritorializa. Eis o movimento intensivo do sonoro-
musical. O ritornelo, é a sua imagem-cristal28, “sonoro por excelência”, de múltiplas
facetas, refrações e contraluzes móveis, linhas de fuga. Cristal em deformação contínua. Já
não mais um tempo linha apenas, já não mais Belo, nem Sublime.
28 A expressão “imagem-cristal” é conceito na obra de Deleuze sobre o cinema (A imagem-tempo). Aqui, não nos remetemos precisamente a tal conceito, mas na imagem-conceito que “cristal” provoca na apreensão (filosófica-musical) do Ritornelo. Edgar Varèse, compositor francês da virada do séc. XX, inaugurou o uso do termo “cristal” para se pensar a forma musical. Uma forma-cristal seria o todo resultante de micro jogos de forças, pequenas unidades formais ou gestos. Uma forma “móvel”, que involui de acordo com as resultantes dessas refrações. Contração e dispersão. Virtual e atual.

125
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de não ter escrito nenhum livro específico sobre música, como ele fez com
o cinema, com a literatura, a pintura e o teatro, Deleuze apresenta um trabalho que desde
seu começo é perpassado por elementos-conceitos sonoros musicais. Em alguns momentos
podemos perceber uma espécie de inocência de Deleuze com a música, ou um tipo de
escuta que nos permite notar o lugar de “não-músico” do filósofo. Isto pode ser notado
como um charme aparente. Como se Deleuze apresentasse uma parte de sua intimidade, do
seu processo de se perder um pouco em um território novo, que está ainda sendo traçado
por ele. Todavia, o que parece estar por detrás de todas as suas convocações musicais é, na
verdade, uma compreensão viva de música e que nos traz – a filósofos, músicos e demais
leitores – contribuições bem interessantes para pensar e criar com esta arte. Nos seus
últimos escritos, a música aparece de maneira mais assumida, ou ainda, de maneira mais
apaixonada e patológica. Deleuze se deixa afetar pelas noções musicais que ele vai
descobrindo, experimentando um tipo de escrita mais gestual e polifônica, de múltiplas
linhas e dispersões. Esta liberdade se sobressai especialmente nas obras com Guattari, o
que faz essa parceria ser ainda mais marcante. Mas, mais do que isso, a impressão que se
tem é que nas suas passagens rápidas sobre um tema musical ou outro, bem como nas suas
tentativas de fisgar a música e se aprofundar, Deleuze preserva, ainda assim, uma espécie
de cuidado, de medo ou de respeito diante dessa arte. Ele dizia não “ter tempo” para
pesquisar e conhecer música de forma aprofundada e poder escrever sobre ela... O presente
trabalho corre o risco de se apresentar como uma defesa de uma primazia da música sobre
as demais artes, no entanto, não é bem isso. É justamente nessa dificuldade de se falar
sobre a música, ou sobre um lugar (os interstícios) da “linguagem música”, que ela parece

126
ser profundamente apresentada.
Vimos e defendemos a tentativa de Deleuze (e de Guattari também) em
desconformar grandes conceitos, conceitos-imperadores, com a criação e a modulação
contínua de conceitos “menores”. Em alguns momentos temos a impressão que o projeto
fracassa, que ao final substitui-se nomes maiores por outros. Que o Devir, o Ritornelo, a
Diferença, acabam servindo a Deleuze como grandes conceitos abstratos, metonímicos ou
metafóricos, submetidos à generalidade do diverso e não à singularidade da diferença.
Creio que essa delicada confusão tem por responsável, muitas vezes, o leitor de Deleuze, o
“deleuziano”, o estudante de mestrado, como eu, que se propõe a escrever na plasticidade
que Deleuze e Guattari propõem para a filosofia. Escrever nunca é fácil, e se jogar em
mecanismos que possuem uma dose de delírio, que se propõem a não serem fixos, pode ser
perigoso. Todavia, entendo que o objetivo desta dissertação foi o de investigar, mais
precisamente, o papel da música na filosofia de Deleuze e em um projeto de composição
de um horizonte móvel para a estética. Na verdade, cruzamos aqui neste trabalho um
território que nos faz pensar que este horizonte móvel estético é necessário para uma
dimensão de filosofia que não se restringe à definição clássica de estética. Inevitavelmente
acabei chegando, na pesquisa sobre música em Deleuze, nesse lugar, nas situações de
territorialização da pergunta “o que é filosofia?”. Não pretendi responder a esta pergunta,
mas localizá-la dentro do escopo até então desenhado. Um escopo que busca avaliar os
modos como a música e os pensamentos e operações musicais afetam Deleuze na sua
criação e modulação de conceitos. Isto é, o quê na música, ou como a música, ou por que a
música (esta língua assignificante) nos provoca a pensar/sentir/criar.
A noção de situação, trazida por Helmut Lachenmann, foi breve, mas pontual. Por
um lado, ao pensar a música como uma situação (situação acústica) Lachenmann lançou-
me para um lugar de “descultuação”, digamos assim, da música e da arte. A música como

127
situação, no contexto como apresentamos aqui, endossa uma perspectiva de Deleuze sobre
a potência da arte que se encontra muito mais em traçar territórios móveis, compostos por
uma multiplicidade de signos urgentes, gritos e corpos – uma máquina de guerra – do que
em fazer espetáculo à reprodução de uma história particular, do caso particular, uma
opinião/sentimento. Distinguimos, sob o intercruzamento música e linguagem, dois
limites: um que concerne ao discurso sobre o musical da música, sobre aquilo que só se
exprime pela música, e outro que concerne às tensões provocadas pela consideração que a
música, justamente por ser “a única” a mostrar o que mostra, seja uma língua ou uma
linguagem. Passamos por Xenakis, música que se torna espaço e amplifica o conceito de
espaço; torna-se território, constitui vários espaços-tempos, várias estrias, vários lugares
(Polytope). Vimos que o que se tem para se dizer é constituição de espaço-tempo, isto é,
precisamente o nome próprio, a intensidade. Desfazer territórios, criar outros. Longe de um
intelectualismo, busca-se com pensamento-música trazer elementos dissonantes para o
pensamento, na compreensão de que, na heterogênese do pensamento, harmônicos
distantes possam ser amplificados, fazer a dissonância soar e compor com ela. Amplificar é
também escutar os silêncios. Perceber um movimento. Malear o caos, ouvir o grito.
Habitar o espaço sônico e urgente do corpo. Tornar apreciáveis e perceptíveis as
diferenças, dissolvendo moralismos. O como situação, que é menos espetacular do que
ritualístico, este “lugar menor”, nos traz importantes reflexões para determinados fetiches
(o mais belo, o mais sublime, as grandes formas). Antes o humor, o escorregão, a
anomalia, a delicadeza, a fresta de um ponto obscuro no qual posso ainda assim
compartilhar, ou dramatizar.
Abordamos a potência da arte, mais especificamente da música, principalmente no
capítulo “Pensamento-música”, momento onde entrelaçamos ritmo, caos, velocidades,
sensação, disparo, signos, corpo, multiplicidade, material-forças, pensamento. De um certo

128
modo, um pensamento-música apresenta o sonoro-musical como uma expressão fiel do
que significa pensar/sentir.
Em Deleuze, os conceitos do universo sonoro-musical se inserem no Corpo, no
Afecto, na experimentação, numa continuidade do projeto de renovação da filosofia. A
musicalidade pela qual reclama Deleuze (tanto nos diversos exemplos de músicas
“humanas”, quanto nos ritornelos dos animais, e nos dinamismos-espaço temporais – o
vento, as “ondas”) é aquilo que torna expressivos os territórios. Territórios povoados de
multiplicidade corpuscular, não estéreis, corpos que invadem, vazam, ecoam, persistem,
vão embora, retrogradam, suspendem o tempo e o tornam sensível. Os acontecimentos da
música, ou simplesmente a situação música evoca um vitalismo pois lida com um material-
forças, torna sensível as intensidades. O sonoro cria limites, ultrapassa outros, dispersa,
cria imagens, ritmos, cria e rompe laços (movimentos de
territorialização/desterritorialização).
Assim, vimos que desde o começo de seus trabalhos, Deleuze esteve interessado no
“musical”, mesmo que ele não soubesse claramente disso. Nos estudos sobre Nietzsche,
sobre Bergson, que desembocam na lógica de Diferença e Repetição, no âmago do
pensamento sobre o “desigual em si”, parece ecoar aquelas “ressonâncias internas”,
“ressonâncias não discursivas”, “blocos de duração”, “sem identidade”, ritornelo.
Esta dissertação talvez tenha alguns pontos obscuros no que diz respeito à música a
que se refere. É que o ponto em que chegamos sobre o musical-sonoro reside numa
característica que se encontra não só no (tudo) que se entende como música, mas também
em outras artes, no pensamento, nos gestos territoriais. Mais do que definir o que seja “a
música”, ou a “verdadeira música”, vejo que este trabalho convoca Deleuze para com ele
apresentar um aspecto da música (onde podemos falar de “seres sem identidade”, de
“signos assignificantes”, “ritmos disparatados”, “gagueiras na língua”, “ressonâncias não

129
discursivas”, “gritos”, “dissonâncias”, “signos diretos”, harmônicos imperceptíveis) que
nos convocam a escutar um espaço de pensamento que desloca os termos comunicação e
linguagem. É no momento em que aparece em Deleuze o tema da criação, momento que
Sauvagnargues identifica como “semiótica da imagem” – quando Deleuze entende a
comunicação como um “sistema nervoso”, ou como se “moléculas passassem de um centro
a outro” –, que a participação da música se intensifica. Assim, nota-se que a participação
da música na filosofia de Deleuze vem junto com uma formulação de uma filosofia dos
signos e uma proposta de compreensão de linguagem, tal como Deleuze e Guattari a
entendem. Propõe-se, na esteira da crítica à representação, a escuta de uma abertura que é
inerente aos regimes de signos, aos regimes múltiplos de atenção, às lógicas de forças, às
vibrações e oscilações. “A intensidade tem algo que ver com os nomes próprios, e estes
não são nem representações de coisas (ou de pessoas), nem representações de palavras”1.
Pensamento-música.
1 DELEUZE, G. “Pensamento nômade” in DELEUZE. A ilha deserta, textos e entrevistas (1953-1974). p.325.

130
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Livros de/com Deleuze
DELEUZE, Gilles. A ilha deserta, textos e entrevistas (1953-1974). Prep. David Lapoujade. Org. da edição brasileira: Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Iluminuras, 2008. __________________. L’Île déserte, Textes et Entretiens 1953-1974. Édition préparée par David Lapoujade. Paris: Les Édition de Minuit, 2002. __________________. Bergsonismo. Trad. Luis Orlandi. São Paulo: Ed. 34, 2012. __________________. Conversações. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1992. __________________. Critique et clinique. Les Édition de Minuit, Paris, 1993. __________________. Crítica e clínica. Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1997 - 1ª edição; 2011 - 2ª edição . __________________. Deux régimes de fous. Texts et entretiens (1975-1995). Édition préparée par David Lapoujade. Les Éditions de Minuit, Paris, 2003. __________________. Dois regimes de loucos. Textos e entrevistas (1975-1995). Edição preparada por David Lapoujade. Trad. Guilherme Ivo; revisão técnica de Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Ed. 34, 2016. __________________. Différence et Répétition. PUF, Paris, 1968. 12e édition, 2011. __________________. Diferença e Repetição . Trad. Luiz Orlandi, Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 2a edição, 2006. __________________. Francis Bacon. Logique de la sensation. (1981). L’ordre philosophique. Éditions du Seuil, Paris, 2002. __________________. Francis Bacon. Lógica da sensação. Trad. Silvio Ferraz e Annita Costa Malufe. (sem data, cidade e editora. Edição colhida na internet). __________________. A imagem- tempo. Tradução Eloisa de Araújo Ribeiro; revisão filosófica Renato Janine Ribeiro. - São Paulo: Brasiliense, 2005. __________________. Nietzsche et la Philosophie. PUF. Paris, 1983 (6a ed.).

131
__________________. Spinoza, philosophie, pratique. PUF. Paris, 1981. __________________. Espinosa, filosofia prática. Trad.: Daniel Lins e Fabien Pascal Lins; revisão técnica: Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes – São Paulo: Escuta, 2002. __________________. Lógica do sentido. Trad. Luis Roberto S. Fontes. Coleção Estudos 35. São Paulo: Editora Perspectiva, 2009. __________________. O que é o ato de criação? Trad. João G. A. Domingos, in O Belo Autônomo: textos clássicos de estética. Org. Rodrigo Duarte, 2a Edição. Belo Horizonte: Autêntica Editora; Crisálida, 2012. (Coleção Filô/Estética;3). __________________. Proust e os signos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix. Kafka: por uma literatura menor. Trad. de Cíntia Vieira da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2014. __________________. GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol.1. Trad. Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. - São Paulo: Ed.34, 2007. ___________________________________. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 2. Trad. Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. – Rio de Janeiro: Ed.34, 1995. ___________________________________. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 3. Trad. Aurélio Guerra Neto. - São Paulo: Ed.34, 1999. ___________________________________. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 4. Trad. Suely Rolnik. - São Paulo: Ed.34, 2008. ___________________________________. Qu’est-ce la philosophie? Les Édition de Minuit. Paris, 1991/2005. ___________________________________. O que é a filosofia? Trad. Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Munoz. São Paulo : Editora 34, 1992. DELEUZE, Gilles. PARNET, Claire. Diálogos. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro, São Paulo: Escuta, 1998.

132
2. Gravações e transcrições de aulas e entrevistas de/com Deleuze (online)
Telefilme L’Abécédaire de Gilles Deleuze, dirigido por Michel Pamart e produzido por Pierre-André Boutang. Com Gilles Deleuze e Claire Parnet. França, 1988/1989. Canal ARTE, 1995. Aulas de Deleuze transcritas: La voix de Gilles Deleuze en ligne. Paris 8: http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/, Les cours de Gilles Deleuze: https://www.webdeleuze.com Aula sobre harmonia - Gilles Deleuze - Cours sur l'harmonie, 1987 - (último acesso em fevereiro de 2017). https://www.youtube.com/watch?v=_JBMX6uECxc
3. Escritos sobre Deleuze CRITON, Pascal. CHOUVEL, Jean-Marc. (org). Gilles Deleuze, la pensée musique. Cdmc, Paris, 2015. DOMINGOS, João Gabriel Alves. Diferença e sensibilidade em Gilles Deleuze. Orientadora: Profa. Dra. Virgínia Figueiredo. Dissertação (Mestrado) - FAFICH/UFMG, Belo Horizonte, 2010. DOSSE, François. Gilles Deleuze & Félix Guattari: biografia cruzada. Trad. Fatima Murad; revisa técnica Maria Carolina Santos Rocha. – Porto Alegre: Artmed, 2010. LAPOUJADE, D. Deleuze, os movimentos aberrantes, trad. Laymert Garcia dos Santos. N-1 edições. São Paulo, 2015. LEE, Chan-Woong. Le concept de plateau chez Deleuze et Guattari : ses implications epistemologique et éthique. Kriterion, Belo Horizonte, nº 129, Jun./2014. MACHADO, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009. ROCHA, Henrique. Da música, de Mil Platôs: a intercessão entre filosofia e música em Deleuze e Guattari. Orientadora: Profa. Dra. Cíntia Vieira da Silva. Dissertação (Mestrado) – UFOP, Ouro Preto, 2013. SAUVAGNARGUES, Anne. Deleuze et l’art. PUF. 2005. SIBERTIN-BLANC, Guillaume. POLITIQUE ET CLINIQUE, Recherche sur la philosophie pratique de Gilles Deleuze. Tese de Doutorado, Université Charles de Gaulle Lille 3 – UMR 8163 « Savoirs, textes, langage ». França, 2006.

133
SILVA, Cíntia Vieira. Diagrama e Catástrofe: Deleuze e a produção de imagens pictóricas. Revista Viso, Caderno de Estética Aplicada, ISSN 1981-4062, No 15, 2014.
_________________. Intensidade e individuação: Deleuze e os dois sentidos de estética. Revista de Filosofia Aurora, v.29, n.46, 2017. http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/rf
4. Escritos sobre música e da música
BOULEZ, Pierre. Penser la musique aujourd’hui. Paris: Gonthier, 1963. BONAFÉ, Valéria Muelas. Estratégias composicionais de Luciano Berio a partir de uma análise da Sonata per pianoforte. Orientador: Prof. Dr. Marcos Branda Lacerda. Dissertação (Mestrado). ECA/USP, São Paulo, 2001. CAGE, John. Silence (lectures and writings by John Cage). WESLEYAN UNIVERSITY PRESS Middletown, Connecticut, 1961. DEL NUNZIO, Mário Augusto Ossent. Fisicalidade: potências e limites da relação entre corpo e instrumento nas práticas musicais atuais. Orientador: Prof. Dr. Rogério Luiz Moraes Costa. USP/ECA, 2011. FERRAZ, Silvio. Música e Repetição. EDUC/Fapesp, São Paulo, 1998 ______________. Tese de Livre Docência. IA-UNICAMP, São Paulo, 2007. LACHENMANN, Helmut. Écrits et Entretiens, choisis et préfaces par Martin Kaltenecker. Éditions Contrechamps, 2009. MESSIAEN, Olivier. SAMUEL, Claude. Permanences d'Olivier Messiaen. Actes Sud. 1999. REYNER, Igor Reis. Pierre Schaeffer e Marcel Proust: As expressões da escuta. Orientador: Prof. Dr. Carlos Palombini. Dissertação (Mestrado). ESMU/UFMG, Belo Horizonte, 2012. SCHAEFFER, Pierre. Traité des objets musicaux. Paris: Seuil. 1966. SOCHA, Eduardo. Duração bergsoniana e continuidade narrativa em “La Mer” in Ensaios sobre música e filosofia. Vladimir Safatle, Rodrigo Duarte (org). São Paulo, Ed. Humanitas, 2007 SOLOMOS, Makis. Deux visions de la «vie intérieure du son» : Scelsi et Xenakis in http://revues.mshparisnord.org/filigrane/index.php?id=504.

134
BARBOSA, Rogério Vasconcelos. Modos de representação do pensamento musical. 2007. http://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2007/composicao/comp_RVasco.pdf XENAKIS, Iannis. Musique de l’architecture, textes, réalisation et projets architecturaux choisis, présentés et commentés par Sharon Kanach, Marseille, Parenthèse, 2006.
5. Outras obras e escritos ALLIEZ, Eric (2005) La Pensée-Matisse: portrait de l'artiste en hyperfauve. Bonne, Jean-Claude, ed. Le Passage, Paris and New York. AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. “Georges Canguilhem e a construção do campo da Saúde Coletiva Brasileira”. Intelligere, Revista de História Intelectual, São Paulo, v. 2, n. 1 [2], p. 139-155. 2016. Disponível em http://revistas.usp.br/revistaintelligere BERGSON, Henri. O pensamento e o movente in “Cartas, conferências e outros escritos”; trad. Franklin Leopoldo e Silva, Nathanael Caxeiro – 2a ed. – São Paulo: Abril Cultural, 1984. Coleção “Os pensadores”. ___________________. A evolução criadora. Trad. De Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
DIAS, Rosa Maria. Nietzsche e a música. Rio de Janeiro: Imago, 1994. LACAN, Jacques. Encore, Le Séminaire livre XX, texte établi par Jacques-Alain Miller. Seuil, Paris, 1975. LACHELIER, Jules. Du fondement de l’induction. Paris: Félix Alcan, 8aed.1924. LEOPOLDO E SILVA, Franklin. Bergson : Intuição e Discurso Filosófico. São Paulo: Loyola, 1994. (Coleção filosofia; 31). SPINOZA, B. Ética. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007.
6. Material audiovisual, textos online, gravações sonoras
Anahit, poème lyrique dédié à Venus, concerto para violino et dezoito instrumentos (1965), de Giacinto SCELSI. Em “Quattro pezzi per orchestra. Orchestre et Chœur de la Radio-Télévision Polonaise de Cracovie / Jürg Wyttenbach / Carmen Fournier. https://www.youtube.com/watch?v=yFPaDZc5aAk

135
Arc-en-ciel, Estudo N°5 para piano (Livro 1, 1985). György LIGETI. Ligeti Edition, Vol. 3 – Works for piano – Piano: Pierre-Laurent Aimard. Ou: https://www.youtube.com/watch?v=_A0jsVgs_eA Bitches Brew (1970), de Miles Davis: https://www.youtube.com/watch?v=SbCt-iXIXlQ Pulsações, para piano preparado e luz (2015), de Nathália Fragoso Rossi. Intérprete (piano e luz): Patrícia Bizzotto. Concerto "Oco", Série Concertos Sesc Partituras, Teatro de Bolso Júlio Mackenzie - Sesc Palladium Belo Horizonte, 10 de julho de 2016. Gravação e mixagem SESC. https://www.youtube.com/watch?v=5BdPFNOGEXs&feature=youtu.be Sinfonia Turangalîla, para piano, ondas martenot e orquestra (1948), de Olivier Messiaen. Orchestre de l’Opera Bastille (cond. Myung-Whun Chung) Mov. VI: Jardin du sommeil d'amour. https://www.youtube.com/watch?v=0RGhq0m7bxI Six fois deux (6x2), Jean Luc GODARD. Programa de televisão. L’Institut Nacional de Audiovisuel, França, 1976. Episódio 3. https://www.youtube.com/watch?v=B1t_o_CMA_E “Réné Thom, au point de non retour”. Reportagem do jornal Libération (último acesso em 09/05/2016). http://www.liberation.fr/sciences/2002/10/31/rene-thom-au-point-de-non-retour_420173
7. Partituras Béla BARTÒK. Für kinder I-II. Boosey & Hawkes Musik Publishers, LTD. Editio Musica – Budapeste – 1969. György LIGETI. Études pour piano, premier livre. N°5 - Arc-en-ciel. 1986, Schott Musik Internacional. Nathália Angela Fragoso ROSSI. Pulsações (2015), para piano preparado e luz. Belo Horizonte.