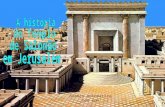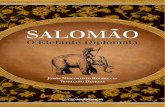PEREIRA, Salomão. Pensamento Marxiano
-
Upload
salomao-pereira -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of PEREIRA, Salomão. Pensamento Marxiano
O PENSAMENTO MARXIANO[footnoteRef:2] [2: Texto em resposta s seguintes questes: a) Caracterize as categorias centrais no materialismo histrico: modo de produo e formao social; b) Fale sobre a dialtica entre ser social e conscincia e entre estrutura e superestrutura; c) Fale sobre transformaes materiais e formas de conscincia ideolgica; d) Como Marx coloca a questo da superao da pr-histria sociedade humana?.]
Salomo Alves Pereira3 perodo Cincias Sociais IFG/[email protected]
Algo que vem sendo posto pela tradio do pensamento ocidental a construo (ou mesmo constatao) de binmios estruturados em forma de oposio. Alm dessa primeira caracterstica, h uma outra que vem sendo trabalhada desde a objeo de Aristteles a Plato, qui anteriormente: o real ideal ou material? Ou seja, a histria concreta, material, um fenmeno de superfcie que tem em um mundo disforme, abstrato e imutvel (o mundo das ideias, de Plato, ou o Esprito Absoluto que carrega a histria para uma autoconscincia de si, em Hegel) o seu motor? Ou o oposto, aquele mundo abstrato caracterizado pela filosofia como ideia o condicionado, e no condicionante? A formulao marxiana, em oposio hegeliana, localiza-se na segunda opo.Um dos pontos centrais em Marx, herdados da teorizao hegeliana, foi a alienao. Como explicar o fato de que os seres humanos perdem o controle frente s riquezas que comeam a ser geradas e atravessam o sculo XVIII? Grossssimo modo, isso o que ser caracterizado em Hegel por conscincia alienada, isto , a separao do ser humano dele mesmo causado, dentre outras causas, pelo descontrole frente s riquezas materiais. Uma vez que em Hegel a histria ideal e o real, racional, sendo sua proposta uma fenomenologia do esprito e no necessariamente do real material o filsofo alemo, representante mximo de uma corrente filosfica chamada historicismo, debrua-se sobre o desenrolar cronolgico do esprito. Ao olhar para a Idade Moderna e para a Revoluo Francesa, dentre outros movimentos transformadores, Hegel capta neste perodo um dos pontos altos do processo de autoconscincia de si que se desenrola no esprito, manifestando-se concretamente no mundo material atravs das diversas transformaes ocorridas na Idade Moderna. Este perodo seria o momento no qual se apresenta o processo de superao da alienao, que tem origem no Esprito e nele superada. Atravs das antinomias no Esprito (didaticamente: tese, anttese e sntese), motor de seu movimento, a Razo reencontrar-se-ia com a Histria, refletindo-se isso no mundo material no processo de autoconscincia engendrado com as transformaes na Idade Moderna: tal a dialtica hegeliana na compreenso da Idade Moderna. Em Hegel, a (...) modernidade v-se referida a si mesma, sem a possibilidade de apelar para subterfgios. Isso explica a suscetibilidade da sua autocompreenso (...) (Habermas 2002:12).A formulao hegeliana reverbera com grande fora na filosofia alem. Em um dos grupos de estudos hegelianos encontrava-se Marx, alm de Engels, Feuerbach, Bauer, Strauss, dentre outros. Tais autores opuseram-se ideia de que a alienao um fenmeno fundamentalmente do Esprito, sendo tambm a autoconscincia do ser humano um processo que supostamente se desenrolaria em tal domnio. Feuerbach (2007) encontra na religio crist o fundamento da alienao, portanto da separao do ser humano de sua existncia real. No entanto, discorda de Hegel quanto ao ponto de origem, como fica evidente em sua captao do fenmeno religioso enquanto fenmeno alienante (Feuerbach 2007:203). Em Hegel, idealista, a alienao um fenmeno que se desenrola no Esprito e portanto ali ser superado, pelo movimento mesmo do real (que racional). Para Feuerbach, materialista, a religio, fenmeno material, cotidianamente concebido, sensivelmente percebido, materialmente vivido, a causa fundamental (e prtica) da alienao (da falta de conscincia humana de si). Embora seja um fenmeno espiritual, a religio no mais compreende a espiritualidade enquanto Esprito abstrato, mas sim enquanto prtica (material). a religio uma prtica humana de objetivao (e subjetivao?) em um Deus aquilo que prprio de si, doando assim um pedao de si mesmo, aquele pedao necessrio para a completude e autoconscincia do ser humano.Marx & Engels (2001) objetam-se a isso, afirmando que a proposta de Feuerbach no atingia radicalmente o problema da alienao. Como os prprios autores afirmam, a proposta de superao do sistema filosfico hegeliano proposta por Feuerbach e outros, atravs da crtica religio, no passa da oposio de uma fraseologia a outra (Marx & Engels 2001:9). O fenmeno religioso compreende ainda grande presena da espiritualidade. Doravante, fica aqui um resqucio idealista, pois se trata ainda de afirmar que o real tem origem na conscincia. Afirmar que a alienao um fenmeno religioso, embora seja equivalente a dizer que um fenmeno histrico e humano, ainda compreende a ideia segundo a qual ela uma manifestao espiritual, porque contemplativa. Ou seja, seria equivalente a dizer que a histria (da alienao) a histria da conscincia contemplativa prpria da religio.Os filsofos alemes afirmam que isso no mais que isolar e criticar certos elementos do pensamento hegeliano, e acreditar que assim feita uma oposio frontal e radical ao pensamento dele (Marx & Engels 2001:7). Ora, tanto Marx quanto Engels buscam tal enfrentamento. Se os autores se opuseram proposta feuerbachiana, que dir da hegeliana! Tal objetivo simplificado atualmente na ideia de que Marx e Engels inverteram o pensamento hegeliano. Algo em grande medida justificado, pois os prprios autores afirmam que sua proposta de dialtica na anlise histrica corresponde, ao (...) contrrio da filosofia alem, que desce do cu para a terra, aqui da terra que se sobe ao cu. (Marx & Engels 2001:19). Esse subir da terra, grosso modo, corresponde a de fato inverter a interpretao do desenvolvimento da histria proposto por Hegel. Ou seja, o movimento dialtico do real (racional, em Hegel) no ocorre por antinomias no domnio do esprito absoluto, mas sim nas do mundo material, aquelas ligadas ao que mais tem de material a vida humana: o trabalho. condio de toda a histria, dizem Marx & Engels, a existncia biolgica dos seres humanos. E condio da conscincia o funcionamento dessa forma de existncia. Ora, se condio da histria e da conscincia um corpo vivo, justamente a que se deve buscar sua compreenso. No na biologia per se. Mas sim nas condies sociais de manuteno desse aparato biolgico, o que nos leva ideia central do materialismo histrico.Este aparato necessita de meios para acontecer, quais sejam, alimentao, moradia, fonte de calor, reproduo sexual etc.: isso suprido, segundo a biologia, a partir da produo na alimentao, a caa e o trato dado ao produto dessa caa; na moradia, a construo de casas; na reproduo, os ornamentos prprios da espcie para o acasalamento; na fonte de calor, o trabalho necessrio para se produzir o fogo. Portanto, para existir o aparato biolgico preciso a realizao social da produo, forma de satisfao das necessidades colocadas pela e para a existncia.Enquanto totalidade, a produo compreende as foras produtivas e as relaes sociais de produo (Oliveira & Quintaneiro 2010). A ideia de existncia de foras produtivas compreende a forma atravs da qual os indivduos, atravs da fora de trabalho, realizam a produo. Exemplo disso seriam as diversas tecnologias, ferramentas, qualidade dos instrumentos utilizados e matrias-primas empregadas no processo de produo. As relaes sociais de produo, por sua vez, so identificadas com o modo atravs do qual acontece a diviso social do trabalho e dos meios de produo e produtos. A separao conceitual se d aqui no campo analtico. Na realidade, foras produtivas e relaes sociais de produo esto conectadas em constante dialtica. Ademais, a forma especfica assumida pelas foras e relaes o que caracteriza um modo de produo. O feudalismo, por exemplo, caracterizado por possuir como foras produtivas, resumidamente, o artesanato e o manejo da terra. Tais foras entram em um sistema de relaes sociais de produo caracteristicamente estamental: os nobres (normalmente a famlia do monarca) recebiam extensas terras, nas quais produzia-se a riqueza da nobreza e o mnimo para a sobrevivncia daqueles que nelas trabalhavam os camponeses. Dessa forma, aquilo que se convencionou chamar de feudalismo era um complexo de relaes sociais de produo e foras produtivas especficas. Portanto, reiterando-se, as diferentes foras produtivas e relaes sociais de produo so o que determinam os diferentes modos de produo.Afirma Marx que [o] moinho movido a brao nos d a sociedade dos senhores feudais; o moinho movido a vapor, a sociedade dos capitalistas industriais (...) (Marx apud Oliveira & Quintaneiro 2010). E poderamos acrescentar, como o prprio Marx o faz, que um sistema de relaes sociais de produo baseado na dominao do senhor feudal sobre o servo nos d o feudalismo, e um baseado na desapropriao do ser humano de seus meios de produo e posterior concentrao deles no domnio e uma classe, criando-se burguesia e proletariado, nos d o capitalismo.Bem entendido isto, fica claro que, sendo o trabalho aquilo de mais material que o ser humano possui, a fora humana dispendida na produo, e sendo esta composta pelas foras produtivas e relaes sociais de produo, a que se deve buscar o entendimento da realidade social, segundo o materialismo histrico. Como afirmado anteriormente, se Hegel entende que a histria deve ser compreendida como o desenrolar do Esprito absoluto, Marx, observando as limitaes desta concepo, prope que a histria nada mais que o movimento material do ser humano. Tal a dialtica entre ser e conscincia, entre estrutura e superestrutura, entre modo de produo e formao social dialtica que determinantemente influenciada pelo ser, pela estrutura e pelo modo de produo.Hegel (1997), em suma, prope nos Princpios da Filosofia do Direito uma anlise jurdica com base no idealismo. Isso corresponde a dizer que as formas jurdicas (leis, moral) tm sua origem no Esprito absoluto. preciso revisitar tal concepo. As formas jurdicas e do Estado no podem, afirma Marx (2008), serem explicadas por si ou, como quis Hegel, pelo esprito absoluto. Sua proposta que se busque, no entendimento de tais formas, a investigao das prticas materiais do ser humano. Ou seja, deve-se buscar a compreenso do Estado, por exemplo, na produo e naquilo que prprio dela: as foras produtivas e as relaes sociais de produo. A forma assumida pelo Estado no regime de produo capitalista, por exemplo, determinada pela diviso produtiva entre burgueses e proletrios. Uma vez que a burguesia detm maior poder econmico e poltico, o Estado subjugado por tal classe. As leis, polticas pblicas, alm da moral, da arte, a religio, a cincia etc., existem de acordo com a dominao burguesa. A sociedade civil determinada pelas relaes materiais do ser humano ou seja, pelas relaes produtivas.Portanto, no caso da alienao, aquele problema que ocupou grande parte da formulao filosfica alem, Marx afirma que um fenmeno que possui suas bases naturalmente no mundo material. no trabalho que o ser humano se humaniza pois ali que tem origem a humanidade, aquilo de mais humano possvel, a saber, a sociedade civil, o direito, as leis, a cincia, a religio, a conscincia. , portanto, no mundo do trabalho, da produo, consequentemente das relaes sociais de produo que a alienao (um fenmeno naturalmente humano), a no conscincia de si, tem sua origem. No capitalismo, em linhas gerais, na dissociao do processo de produo em dois que a alienao surge. Ou seja, na dupla separao de uma classe burguesa, por um lado, da prpria aplicao de fora de trabalho no processo produtivo, e, por outro, de uma classe proletria dos meios de produo necessrios para a produo, que surge a alienao no mundo capitalista o que atinge ambos burgueses e proletrios, bem entendido. Logicamente, se no processo produtivo que se humano, e se esse processo produtivo encontra-se rompido, evidente que haver uma ruptura tambm na conscincia humana a alienao. essa concepo material, histrica e dialtica da realidade que faz com que Marx discorde fundamentalmente da ideia de Hegel, segundo a qual a superao histrica a que leva a modernidade o desenvolvimento de uma conscincia de si que se d no Esprito. Em Marx, o processo de desenvolvimento de uma conscincia de si no proletariado, uma classe no seio das relaes sociais prprias do processo produtivo, material, prtico, o que faz com que haja uma superao daquele atual momento. No o desenrolar do Esprito abstrato que faz com que a histria se mova, mas sim a autoconscientizao da classe trabalhadora que engendra tal processo. E, como Marx afirma (2008), o prprio regime de produo capitalista que promove as bases para a autoconscientizao da classe trabalhadora. o regime de explorao capitalista que cria as condies para sua superao, superao material que se d atravs da prtica revolucionria da classe explorada. So tais as transformaes materiais que condicionam a conscincia ideolgica. Se a revoluo acontece, em Hegel, antes no domnio do Esprito, em Marx a prtica do proletariado que promove a revoluo, prtica que encontra sua origem no prprio sistema de explorao do trabalhador prprio do capitalismo. Dessa forma, o capitalismo cria seu prprio coveiro. Tal a superao da pr-histria humana, histria fundamentalmente da luta de classes. com a prtica revolucionria do proletariado que a histria humana alcanar sua completude, superando as rupturas prprias do processo produtivo em dois grandes grupos (exploradores e explorados). com a prtica revolucionria que a humanidade alcana aquela sociedade comunista, plena realizao do humano e da histria, e superao da pr-histria humana, caracterizada pelas relaes de explorao decorrentes do processo produtivo (Marx & Engels 2005).
REFERNCIAS BIBLIOGRFICASFEUERBACH, Ludwig. 2007 [1841]. A contradio na existncia de Deus. In:______. A essncia do cristianismo. Petrpolis: Vozes. (:203-209).HABERMAS, Jrgen. 2002 [1985]. A conscincia de tempo da modernidade e sua necessidade de autocertificao. In:______. O discurso filosfico da modernidade: doze lies. So Paulo: Martins Fontes. (:3-33).HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 1997 [1835]. Princpios da Filosofia do Direito. So Paulo: Martins Fontes.MARX, Karl. 2008 [1859]. Prefcio. In:______. Contribuio crtica da economia poltica. So Paulo: Expresso Popular. (:45-50).MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. 2001 [1932]. A ideologia em geral e em particular a ideologia alem. In:______. & ______. A ideologia alem. So Paulo: Martins Fontes, 2001. (:7-54).______. & ______. 2005 [1848]. Burgueses e proletrios. In:______. & ______. Manifesto Comunista. So Paulo: Boitempo Editorial. (:40-51).OLIVEIRA, Mrcia & QUINTANEIRO, Tania. 2009. Karl Marx. In: QUINTANEIRO, Tania. Um toque de clssicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: Editora UFMG. (:27-65).