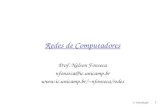1: Introdução1 Redes de Computadores Prof. Nelson Fonseca [email protected] nfonseca/redes.
PERSPECTIVAS SOBRE O FÓRUM SOCIAL MUNDIAL … · 3 Introdução1 De acordo com a narrativa...
Transcript of PERSPECTIVAS SOBRE O FÓRUM SOCIAL MUNDIAL … · 3 Introdução1 De acordo com a narrativa...

1
6º Encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais – ABRI
25 a 28 de julho – Belo Horizonte-MG
Instituições e Regimes Internacionais
PERSPECTIVAS SOBRE O FÓRUM SOCIAL MUNDIAL – DESAFIOS DA RESISTÊNCIA
À GOVERNANÇA HEGEMÔNICA
Natália Lima de Araújo
Instituto de Relações Internacionais da USP

2
Resumo: a globalização e as mudanças estruturais no Estado têm apontado para uma
reorganização do concerto entre as nações, que leva a um aumento do poder dos Estados
centrais do capitalismo, à maior submissão dos Estados periféricos e à criação de um sistema
de governança, ao qual se dirigem as demandas da sociedade civil global. Além disso, a
intensificação das conexões supranacionais e globais tem desafiado a maneira tradicional de
resolver questões políticas, antes restritas ao espaço nacional.
De acordo com Foucault, toda forma de poder gera uma forma de resistência. Assim, no
âmbito da reorganização do poder, reorganiza-se também a resistência. É nesse contexto que
está inserido o Fórum Social Mundial (FSM) - objeto desta pesquisa - criado em 2001, em
Porto Alegre, como uma grande novidade política, tanto em termos teóricos quanto em termos
organizativos.
Entretanto, à medida que o FSM foi se consolidando, surgiram nele diversas disputas políticas,
expressando não apenas diferenças quanto à condução dos processos organizativos, mas
também diferenças de leitura acerca das características da governança global. Trabalha-se,
então, com a hipótese exploratória de que a maneira como essas disputas se desenvolveram
tem sido prejudicial à capacidade do Fórum em dar respostas aos desafios impostos pela
globalização hegemônica.
Parte-se da seguinte questão: por que, na segunda década do século XXI, o Fórum Social
Mundial tem perdido destaque e importância como ator da política global? Para responder a
esta questão, será utilizada a metodologia de process-tracing, e o processo a ser analisado é
o das disputas políticas e da formação de coalizões no Conselho Internacional, tendo como
causa a estrutura organizativa do Fórum e, como resultado, a sua perda de proeminência
política.
Palavras-chave: Fórum Social Mundial.

3
Introdução1
De acordo com a narrativa corrente, a história da disciplina de Relações Internacionais está
estruturada em torno de três grandes debates2 envolvendo questões ontológicas e
metodológicas. A produção de narrativas exige que se façam escolhas entre o que será
evidenciado e o que será obliterado e, no caso das RI, o aspecto que se privilegiou ao longo
do tempo é a soberania estatal, a qual se tornou um dos princípios basilares dos discursos
hegemônicos das Relações Internacionais. Cumpre notar que adotando uma perspectiva
foucaultiana, é possível dizer que o mecanismo de poder que confere hegemonia a certos
discursos não é absoluto – uma vez que não existe poder em si - mas uma relação permeada
de conflitos e tensões (FOUCAULT, 1979).
Nesse sentido, as relações de poder que consolidaram o princípio da soberania estatal como
um dos nortes das relações entre as nações têm sido paulatinamente contestadas, de maneira
deliberada ou não. Ainda assim, muitas propostas que se colocam como alternativas às cercas
impostas pela soberania não conseguem escapar deste esquema, pois o princípio em questão
é uma das bases do pensamento político moderno e dita os marcos dentro dos quais a
imaginação política opera. A disciplina de Relações Internacionais, calcada no princípio da
soberania, tem atuado como perpetuadora e legitimadora desse princípio.
Entretanto, no campo das resistências têm surgido cada vez mais iniciativas, ações e
movimentos que se propõem a pensar os problemas do mundo atual de maneira que vá além
da necessidade de monopólio da comunidade política, característica do Estado-nação
moderno. Esses movimentos trabalham na criação de laços de solidariedade que ultrapassem
as fronteiras nacionais, privilegiando, assim, a pluralidade política e cultural, em contraposição
ao Estado soberano monocultural. Uma dessas iniciativas é o Fórum Social Mundial (FSM),
que desde 2001 tem lutado contra os mecanismos da governança neoliberal, de modo a
pautar um novo modelo de globalização.
Como toda iniciativa de resistência, o trabalho desenvolvido pelo FSM esbarra em uma série
de limitações impostas pelo princípio da soberania. Nesse diapasão, o objetivo deste artigo é
mostrar quais são essas limitações e como a criatividade política engendrada pelo “espírito
1 A proposta deste artigo difere da proposta apresentada no resumo, pois devido a mudanças no projeto de pesquisa, que acarretaram mudanças de cronograma, não foi possível concluir o process-tracing. Assim, optou-se por apresentar outros aspectos da análise do Fórum Social Mundial, que também se encontram presentes em minha pesquisa de mestrado. 2 O primeiro debate das Relações Internacionais ocorreu entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, entre realismo e idealismo. O segundo, depois da Segunda Guerra, e opôs tradicionalistas e behavioristas, sobre a questão dos métodos históricos e do acúmulo de dados para entender a política internacional. Alguns autores colocam que o terceiro debate é o neo-neo, entre neorrealismo e neoliberalismo, mas outros preferem colocar que é o debate entre positivistas e pós-positivistas

4
de Porto Alegre” permite ao FSM ser um campo de experimentações para a geração de novos
tipos de solidariedade. O Fórum Social Mundial não se coloca como uma alternativa contra
hegemônica nos termos gramscianos, visto que nunca pretendeu desbancar os mecanismos
da governança neoliberal para se tornar a nova força hegemônica. Entretanto, sua atuação
tem contribuído para a formulação de novos parâmetros para se pensar não apenas as R.I.
como disciplina acadêmica, com letras iniciais maiúsculas, mas também as relações
internacionais das letras minúsculas, que se manifestam enquanto fenômenos da política
mundial.
Esse tipo de resistência é essencial para a reinvenção do pensamento política moderno e,
consequentemente, das Relações Internacionais, pois a ideia teleológica da evolução dos
debates nas R.I. é tão dominante, que não seria exagero afirmar, como Schmidt
extensivamente o faz, que o “primeiro debate” é o mito fundador da disciplina e que isso
influenciou todos os debates posteriores (D'AOUST, 2015). Nesse sentido, o primeiro debate
das Relações Internacionais consolidou a relação entre os Estados e a ausência de uma
autoridade superior aos Estados como partes estruturantes da narrativa da disciplina, a qual
se constitui através de leis abstratas e gerais, aos moldes das ciências naturais.
Em outras palavras, as teorias positivistas, tais como o Realismo e o Liberalismo, impuseram
limites metodológicos, ontológicos e epistemológicos às Relações Internacionais;
estabeleceram quais objetos seriam considerados legítimos e sob que circunstâncias
deveriam ser estudados. Assim, o caminho de consolidação da disciplina cristalizou o princípio
da soberania e sua contraparte, a anarquia, como delimitadores do locus da política. Dentro
dos Estados há ordem, florescimento, participação e política. Fora deles, por outro lado, só
há espaço para conflitos e para disputas de poder.
O princípio da soberania continua a determinar o locus da ação política e constitui, assim, um
dos obstáculos ao desenvolvimento de uma resistência à governança hegemônica. De
maneira geral, coloca-se que a soberania tem imposto limites não apenas às possibilidades
de ação de atores não estatais, mas também à imaginação política, uma vez que até a
elaboração de alternativas muitas vezes encontra-se premida pelas fronteiras – visíveis e
invisíveis – da soberania. Entretanto, alguns movimentos sociais que tem conseguido vencer
essas barreiras e propor laços de solidariedade extranacionais, a exemplo do Fórum Social
Mundial.
Com vistas ao entendimento destes processos, o artigo divide-se em duas partes principais:
a primeira, baseada nas obras de RBJ Walker sobre a soberania, busca mostrar como esse
princípio constitui-se com uma cerca ao nosso imaginário político; a segunda mostra como o
Fórum Social Mundial tenta ultrapassar essa cerca por meio da constituição de

5
translocalidades e da valorização das diferenças, em contraposição à monocultura imposta
pelo Estado-nação.
Soberania como cerca do imaginário político
Com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, o ano de 1989 tornou-se um símbolo
de ruptura histórica. Entretanto, apesar de os jogadores e das polaridades terem se
modificado, diz-se que as regras continuam as mesmas, tanto que o princípio da soberania
estatal continua a pautar as relações entre os Estados, a formação de comunidades políticas
e as teorias de Relações Internacionais. Nesse sentido, as teorias de R.I. interessam menos
pela sua capacidade explicativa sobre as condições políticas do mundo, e mais como
expressões dos limites da imaginação política contemporânea quando confrontada com as
transformações históricas.
R.B.J. Walker enxerga as teorias de R.I. como expressão de um tipo de entendimento sobre
o caráter e a localização da vida política. Elas também podem ser vistas como um arsenal de
categorias e assunções que constrangem qualquer tentativa de pensar de outra maneira. São
essas categorias e assunções que a política contemporânea toma como dadas, a exemplo da
soberania estatal (WALKER, 1993). Entretanto, muitas mudanças colocaram em evidência
questionamentos contundentes sobre o significado do Estado como o locus privilegiado de
formação da identidade política, tanto que não é mais uma novidade falar na emergência de
processos e de estruturas globais.
O sentimento de mudança de tempos, porém, não é acompanhado por um senso de que se
sabe como interpretar essas mudanças. Mesmo que surjam termos como interdependência,
regime internacional, civilização global, eles não carregam em si muito poder explicativo; não
porque sejam mobilizados com pouco rigor metodológico, mas porque sua imprecisão está
relacionada a discussões teóricas e filosóficas que ainda precisam ser feitas. É necessário
evidenciar o fato de que a soberania, bem como sua outra face, a anarquia, não são princípios
eternos da ordem internacional, e sim resultado de um conjunto de práticas que contribuem
para sua perpetuação.
Dito de outra forma, anarquia e soberania não devem ser conceitos naturalizados. A suposta
anarquia entre os Estados é, na verdade, uma anarquia entre poucos, entre as potências,
porém, a soberania e seu enquadramento territorial forjam nossas identidades particulares e
coletivas, apesar de todos os deslocamentos e das contingências que tornam o espaço cada
vez menos passível de ser enquadrado nas coordenadas cartesianas. Entretanto, apesar do
sentimento de que todas as barreiras e fronteiras – físicas e culturais – se esvaneceram na

6
atmosfera celebrativa da novidade histórica da globalização, ainda não existe uma identidade
comum. Alegações de uma cultura e de uma economia mundiais não nos colocam em
comunhão identitária; pelo menos não nos termos da política moderna.
Isso ocorre porque todas as possibilidades de construção de novas identidades políticas, em
termos de nação, gêneros, classes, entre outras, continuam informadas e constrangidas pela
narrativa da soberania estatal. Assim, de acordo com Walker, o mais significativo sobre a
premência da soberania estatal na política contemporânea não é o que se cria fora do domínio
soberano, a condição de anarquia entre os Estados, mas a maneira como esse princípio tem
moldado nosso entendimento acerca do que são os Estados e qual é a sua função.
A identidade política fornecida pelo Estado soberano moderno é monocultural. Isso significa
que diversas identidades e cosmologias devem ser apagadas em prol da formação do
arquétipo do cidadão, um ser humano genérico, que na verdade é muito particular: o homem
branco, racional, europeu. Nesse diapasão, a possibilidade de reinventarmos as categorias
de nação, de comunidade, de solidariedade depende de conseguirmos romper com a
centralidade dessa maneira moderna de enquadrar e engessar todas as outras opções
políticas.
Além disso, o princípio da soberania foi inserido em uma história que se tornou largamente
aceita, apesar de repleta de pontos questionáveis. Essa história começa com as tribos, passa
pela cidades-estados gregas, atravessa o feudalismo, reaviva-se na época da Renascença e
refina-se a partir do momento em que o princípio da soberania é codificado, o Estado passa
a organizar as condições para o florescimento do capitalismo e as diferenças culturais e
sociais são transformadas em união nacional (WALKER, 1991).
Essa linha do tempo privilegia a história contada por um ponto de vista ocidental moderno,
com sua narrativa de progresso e evolução da humanidade por meio da razão. Além disso,
essa história está imbuída por uma leitura estatista da soberania, que remonta a pensadores
como Aristóteles, passando por Maquiavel, Hobbes e Hegel, que privilegiam a comunidade
política centralizada, a polis, como o local de ocorrência da vida política. As relações
internacionais ainda são caracterizadas por estados soberanos como os principais atores e
pela ausência de uma autoridade que governe o sistema.
Nesse sistema, pairam o poder e o conflito, uma vez que se pressupõe que os Estados agem
de acordo com o seu próprio interesse, o qual seria um místico interesse nacional, que sempre
envolve, em alguma medida, uma demonstração de poder. Além disso, o fato de não haver
uma autoridade central que resolva os conflitos resulta em que as relações internacionais

7
possam ser explicadas por meio de mecanismos estruturais, como o equilíbrio de poder, bem
com legitima a guerra como uma forma de promoção de mudanças no sistema.
Muitos alegam que os processos de aceleração temporal implicariam uma superação das
antigas divisões espaciais. Entretanto, essas demarcações continuam presentes e ainda nos
colocam dificuldades em pensar uma política que vá além dos horizontes do Estado soberano.
Não se deve incorrer no erro de apenas transpor as categorias domésticas para o âmbito
global, pois se sabe que a categoria moderna de cidadão não é suficiente para açambarcar
todas as identidades políticas que se formam atualmente. Entretanto, essa constatação não
informa sobre o processo de constituição dessas novas identidades e como elas contribuem
para a criação de novidades políticas que não se circunscrevam aos limites do imaginário
constituído pelo Estado moderno.
Como observa Walker (1994), reconhecer que direitos são inerentes aos seres humanos e
que o capitalismo se organiza globalmente e não internacionalmente diz pouco sobre os
significados de “humano” e de “global”, dada a premência da ideia moderna de cidadania e
das subjetividades modernas no imaginário político atual. Por um lado, é evidente que
estamos inseridos, direta ou indiretamente, em uma série de fenômenos sociais que não são
constrangidos pelas fronteiras territoriais e que constituem elementos do que se convencionou
denominar de globalização, como fluxos de capitais, de tecnologias, de informações e de
pessoas. Por outro lado, o imaginário político contemporâneo é premido pelas fronteiras dos
Estados soberanos, que ainda são colocados como o locus da atuação política.
As possibilidades de mudança desse imaginário poderiam ser representadas pela atuação de
movimentos sociais. Entretanto, de acordo com Walker (1994), colocar os termos
“movimentos sociais” e “política mundial” em conjunção acarreta sérios problemas
conceituais, pois a ideia que temos de política mundial é uma ideia de grandeza quase mística,
de fatos que acontecem distantes de nós, “no mundo lá fora”, mundo esse que está além da
sociedade. Entretanto, movimentos sociais ocorrem dentro da sociedade. Em outras palavras,
movimentos sociais e política mundial pertencem a duas esferas ontológicas distintas, pois
esta está “outside”, enquanto aqueles estão “inside” (WALKER, 1993).
Mostrar como movimentos sociais influenciam a política mundial implica confrontar a exclusão
imposta pelos códigos políticos modernos, segundo os quais a soberania estatal tem
prioridade sobre todas as outras possibilidades políticas, pois determina o que está dentro e
o que está fora, acima e abaixo, forte e fraco. Essas classificações dicotômicas são normativa
e ideologicamente informadas e definem relações espaço-temporais e identitárias. Cada vez
mais as pessoas estão percebendo que “o mundo não é – e talvez nunca tenha sido – da

8
maneira que as traduções modernas de exclusões espaciais em necessidades hierárquicas
sugere que deva ser” (WALKER, 1994, p. 4).
As categorias dicotômicas aparecem como diferentes arenas da vida política, e cada arena
política é caracterizada por determinados tipos de atividades e de sujeitos políticos. O lugar,
por excelência, da política que pode ser feita pelos cidadãos comuns é o interno ao Estado,
em um “compartimento” específico denominado sociedade civil, o qual é separado das
“verdadeiras” esferas de poder, dos gabinetes dos políticos e dos escritórios de grandes
empresas.
Levando esses pontos em consideração, o problema ontológico que recai sobre os
movimentos sociais, é que “suas práticas nem sempre se conformam aos códigos do que está
dentro e do que está fora, às relações espaço-temporais que informam os horizontes
normativos da política moderna” (WALKER, 1994, p. 4). Disto decorre que, aplicando as
categorias da política moderna, dificilmente encontraremos uma conexão entre movimentos
sociais e a política mundial.
Além dos problemas da hierarquização entre as arenas políticas e de quem são considerados
os atores legítimos para operá-las, existe a questão de que as categorias políticas modernas
cristalizam divisões espaço-temporais, ao passo que movimentos sociais estão, justamente,
em movimento, por mais óbvia que a constatação pareça ser. Assim, a separação entre dentro
e fora muitas vezes é um instrumento de análise insuficiente para a atuação de alguns
movimentos e fenômenos sociais, como o Fórum Social Mundial.
Essa característica dinâmica dos movimentos sociais coloca problemas para avaliar seu
significado na vida política contemporânea. O imaginário político atual tende a burocratizar,
reificar, departamentalizar. Contrariamente a essa tendência de engessamento, movimentos
sociais transformam-se, agem, possuem períodos de ofensiva e períodos de latência,
articulam interesses e mobilizam identidades. Por moverem-se, movimentos sociais não
costumam ser considerados atores políticos legítimos. Basta lembrar que muitos governos
promovem encontros com “a sociedade civil” apenas visando a cobrir determinadas políticas
com uma capa de legitimidade, fazendo uso instrumental da participação popular.
Uma vez que certos movimentos avançam em relação às fronteiras do Estado moderno, torna-
se muito difícil falar em política. Por isso muitos estudos sobre movimentos sociais desviam
das dimensões globais ou internacionais desses movimentos. Demonstra-se, assim, a
urgência em se repensar os termos em que se colocam as pesquisas sobre movimentos
sociais. Por falta de alternativas epistemológicas, parte da literatura que sugere a conjunção
entre movimentos sociais e política mundial tende à descrição e afirmação e não à elaboração

9
teórica. É necessário fazer uma revisão das epistemologias que informam esses estudos, de
modo a não reproduzirmos um tipo de conhecimento que simplesmente se renda ao
enquadramento estatista3.
Fórum Social Mundial e a recriação do imaginário político
O tipo de Estado onde, em tese, ocorre a participação política e onde se materializa a
racionalidade iluminista, está em ruína. Não porque o princípio da soberania esteja em
decadência, mas porque no lugar de “Estados democráticos de Direito”, vivemos, nas palavras
do filósofo Jacques Rancière, “Estados de direitos oligárquicos”, onde a aliança entre as
oligarquias estatal e econômica é o elemento legitimador da política (RANCIÈRE, 2015).
Assim, “a democracia não é uma forma de Estado, mas um fundamento de natureza igualitária
cuja atividade pública contraria a tendência de todo Estado de monopolizar a esfera pública e
despolitizar – no sentido lato – a população” (GAVIÃO, 2015, p. 500). No advento do
neoliberalismo, as elites e os governos que as representam, após consolidarem-se no poder,
realizam esforços para separar as esferas privada e pública. Esta é reduzida ao mínimo, e
aquela transforma-se na arena exclusiva dos atores não estatais
A arena internacional supostamente também passa por uma mudança de caráter. Com a
ascensão da globalização neoliberal e a emergência de assuntos extranacionais, foram-se
criando ou consolidando-se arranjos multilaterais de governação, regimes e organizações
internacionais, voltados para a gestão conjunta das questões mundiais. Frequentemente
coloca-se que a transferência da tomada de decisões para a arena internacional ensejaria a
criação de um novo espaço de participação política, também internacional e que, portanto,
não estaria constrangido pelas limitações impostas pelo Estado-nação ao exercício da
cidadania.
Entretanto, escapar das amarras à participação não se mostrou algo tão simples, uma vez
que a globalização e a governança não pairam no ar, mas superpõem-se à cartografia atual
dos Estados nacionais, que fornecem a estrutura legal e institucional para sua realização
(SASSEN, 2003). “À luz desta realidade, a governança neoliberal procede àquilo a que De
Angelis chama de ‘a inversão de Polanyi’. Enquanto Polanyi defendia que a economia existe
incrustada na sociedade, a matriz da governança tem por premissa a necessidade de incrustar
a sociedade na economia” (SANTOS, 2005, p.18). Assim, a governança neoliberal
3 Existe a possibilidade de que este artigo não escape das críticas que ele mesmo apresenta. Apesar dessa constatação não eximir a autora das limitações do texto, é importante ressaltar, porém, que a construção de uma imaginação política que não seja tolhida pelo princípio da soberania é uma tarefa coletiva e de longo prazo.

10
enfraqueceu mecanismos democráticos de participação social e de redistribuição de recursos,
de modo que a democracia se tornou compatível com o neoliberalismo e perdeu grande parte
de sua legitimidade.
No entanto, certos movimentos sociais têm conseguido ultrapassar as limitações impostas
pela reconfiguração dos Estados-nacionais e pela governança global, e têm se constituído
como espaços para a elaboração solidariedades e comunidades pós-nacionais. Um desses
movimentos é o Fórum Social Mundial, que contribuiu para a expansão do imaginário político
das esquerdas mundiais, ao se constituir como um ator relevante no mercado global de
lealdades (APPADURAI, 1993).
Definir o Fórum Social Mundial (FSM) talvez seja um empreendimento impossível, visto que
observar o Fórum é como observar um caleidoscópio, em que os diferentes ângulos de visão
e combinação de peças produzem imagens únicas, cujo único ponto em comum é a
efemeridade. Não é possível cristalizar uma definição porque a produção de significados
acerca do FSM é uma atividade que se prolongará por tanto tempo quanto houver pessoas
dispostas a fazê-lo. Ainda que se leve isso em consideração, compreender o Fórum não é
uma tarefa fácil. No prefácio do livro de Moacir Gadotti, Fórum Social Mundial em processo
(2010), Chico Whitaker afirma que o FSM não é
“Uma assembleia ou convenção convocada por partidos ou outras
organizações sociais ou políticas. Não é também um Fórum como aqueles a
que estamos acostumados. Não é nem como o Fórum Econômico Mundial de
Davos – ao qual ele se contrapôs, e que é organizado ‘de cima para baixo’,
como todos os Fóruns em geral. Na verdade, ele é uma ‘invenção política’,
como já disse José Correa Leite no livro que publicou com esse título”
(WHITAKER, 2010, p. 7).
O FSM surgiu em um contexto de oposição à globalização neoliberal e de frequentes protestos
contra instituições da governança global. Apenas para citar dois exemplos, pouco antes do
seu surgimento, ocorrera, em Seattle, no ano de 1999, uma grande manifestação contra a
assembleia da Organização Mundial do Comércio, em que se decidiriam as regras para o
“livre comércio” no novo milênio. Também ocorrera, em 2000, uma manifestação em Praga
contra o Banco Mundial e contra o Fundo Monetário Internacional.
Diante do sucesso dessas iniciativas, surgiram questões tais como de que maneira seguir
vencendo e como canalizar a energia de milhares de pessoas que foram às ruas mostrar sua
insatisfação com o neoliberalismo. Neste espírito, nasce o FSM, que, assim como os protestos
de Seattle e Praga, era um contra evento, contrapondo-se ao Fórum Econômico Mundial de
Davos. A primeira edição do Fórum Social Mundial ocorreu em janeiro de 2001, em Porto

11
Alegre, concebido para ser um novo tipo de evento, voltado para a reflexão e para a
elaboração de alternativas para uma globalização contra hegemônica.
Na construção do Fórum Social Mundial, não se poderia ignorar a linguagem organizativa e
as expectativas dos movimentos que emergiram no contexto dos grandes protestos de rua.
Esses movimentos teciam críticas às formas de organização hierárquicas, que eram
consideradas típicas dos tradicionais partidos políticos e sindicatos; valorizavam formas
horizontais de tomada de decisão e pautavam a organização em rede. Assim, surge a noção
do FSM como um “espaço aberto”, como uma praça sem dono que poderia ser ocupada por
quem quer que se opusesse à globalização neoliberal.
Evidentemente, a concepção do FSM como um espaço aberto está apoiada em mecanismos
de controle e de hierarquização. Cada edição do evento expande o número de participantes,
mas também traz um maior nível de institucionalização, bem como a consolidação de
mecanismos de acúmulo de poder. Entretanto, ainda que esteja mais no nível do discurso do
que das práticas, a criação do imaginário do FSM como um espaço aberto enseja o encontro
de sujeitos políticos diversos, vindos de diferentes partes do mundo, carregando bagagens
culturais também diversas.
O FSM permite o encontro de pessoas que, de outra maneira, provavelmente não se
encontrariam. Por um lado, “é feito de convergências temporárias, por outro, consiste em um
emaranhado de relações, formas semânticas e pertencimentos que sobrevivem após as
cerimônias e marchas de encerramento” (GIOVANNI, 2015, p. 44). Naomi Klein, em um relato
sobre a edição de 2001, conta que, no avião em que viajou de volta para casa, ao seu lado
sentou-se um casal que ainda portava o crachá do evento. Alguns passam a ver o Fórum
como um novo locus permanente de atividade política, demorando a tirar seus crachás, ao
passo que alguns não desejam fazê-lo jamais.
Sendo uma arena transnacional, o FSM constitui-se como um espaço de convergência,
provavelmente bastante diverso de outros fóruns políticos dos quais as pessoas já teriam
participado. A atmosfera livre e aberta do evento, que foi sintetizada na expressão “espírito
de Porto Alegre” permitiu a criação de novas conexões e laços, diferentes do que são impostos
aos cidadãos em nível nacional, ou daqueles que, mesmo não impostos, são limitados pelas
fronteiras do Estado-nação. Muitas vezes, o evento é descrito com palavras que se remetem
a barulho, ruído e caos, que fazem parte da experimentação de um novo tipo de solidariedade
que não é tolhido pelos ditames do Estado.
Não à toa, o Jornal Le Monde Diplomatique – importante ator na consolidação das narrativas
sobre o FSM – criou a alcunha de “Meca da esquerda mundial” para referir-se à cidade de

12
Porto Alegre, que foi um importante polo de aglutinação periódica de ativistas e militantes,
pelo menos até 2004, quando a cidade deixou de estar sob o governo do Partido dos
Trabalhadores. Participar do Fórum Social Mundial dava às pessoas um sentido de
peregrinação, de uma grande jornada cujo ápice eram os cinco dias de evento, em que se
teciam novas tramas de relações políticas, semânticas e afetivas, em que o ritmo do cotidiano
era suspenso e a vida adquiria outra temporalidade e outra espacialidade. Em seu balanço
sobre o FSM de 2002, Michael Albert escreve que o evento “foi exaustivo, sem fronteiras e
sem pontos finais”, ao contrário dos Estados-nacionais com suas limitações espaciais e
temporais.
Destaca-se que esse sentimento de euforia, proporcionado pelas novas tramas, redes e laços
foi, em parte, preservado ano após ano por meio da prolífica produção textual que se construiu
em torno do Fórum Social Mundial. Sua permanência temporal foi assegurada pela imensa
produção e circulação de textos, que desempenharam um papel fundamental em manter o
processo vivo entre um encontro e outro. Sua memória textual é composta de materiais tão
diversos quanto transcrição de discursos proferidos durante das mesas, boletins preparativos,
análises, críticas e intervenções no debate político.
Esses textos “interpretam fatos e discursos, associam ideias, constroem perspectivas de
análise, julgam, classificam, nomeiam impasses” (GIOVANNI, 2015, p. 47). Em outras
palavras, dão forma e coesão aos acontecimentos dos eventos e fazem de seus autores
sujeitos ativos na construção dessa nova comunidade política que se reúne periodicamente e
que é composta por novos tipos de laços, diferentes daqueles que os unem às suas
comunidades nacionais, tais como língua, etnia e localização geográfica. Nesse sentido, os
participantes são sujeitos ativos na conformação de uma nova comunidade política, que
adquire uma soberania diferente da estatal, sendo uma soberania popular.
A comunidade política do Fórum Social Mundial constitui novos tipos de cartografias, que não
se limitam às fronteiras do Estados-nacionais, mas se superpõem ao mapa-múndi tal como o
conhecemos. O FSM reúne pessoas através de conexões que não estão restritas aos
Estados-nação, mas que podem estar além e aquém deles, sem que constituam entre si uma
competição pela soberania política ou cultural.
Assim, o processo-Fórum constitui o que Boaventura de Souza Santos (2005) denomina de
“ecologia das transescalas”, por meio da qual as escalas local e global estabelecem uma
relação dialética - não de simples oposição - ensejando a organização de diversos
movimentos para incidir em problemas locais, que foram ocasionados pela lógica e operação
globais do neoliberalismo. Por meio desse exercício de imaginação cartográfica, retiram-se
os locais das amarras da globalização hegemônica, para depois reinseri-los na globalização

13
de outra maneira. Isso significa recuperar conhecimentos, práticas e cosmologias tradicionais,
que foram apagas pelo ímpeto de modernização do Estado-moderno.
O “espírito de Porto Alegre” também produz translocalidades efêmeras nos locais onde
ocorrem os grandes eventos mundiais. Nesse contexto, é necessária a formação de
cartografias pós-Westphalia, pós-nacionais. Essas cartografias resultarão de um conjunto de
afiliações translocais, que não se baseiam na ideia de entidades territoriais separadas e
delimitadas a partir da qual a atual cartografia do Estado-nação se mantém. As novas
cartografias não exigem um território horizontalmente organizado, contíguo e exclusivo. Esses
novos mapas de fidelidade atravessam fronteiras e envolvem uma “política de co-presença
territorial não-exclusiva” (APPADURAI, 1997, p. 9).
Para Appadurai, localidades são “mundos da vida constituídos por associações relativamente
estáveis, históricas relativamente conhecidas e compartilhadas, espaços e lugares
reconhecíveis e coletivamente ocupados” (APPADURAI, 1997, p. 2). Os processos de criação
de localidades por vezes entram em conflito com projetos de Estado-nação, pois os
compromissos e laços criados por elas podem ser mais duradouros ou promover maior
dispersão do que o Estado-nação monocultural e pretensamente homogêneo suporta. Assim
como os grandes fluxos humanos são uma ameaça aos Estados-nação – vide a quantidade
de políticas migratórias restritivas que pululam mundo afora – a constituição de localidades e
a ligação de sujeitos à vida local também o são.
Isso ocorre porque a conformação de Estados-nacionais, salvo algumas exceções, como o
Estado plurinacional boliviano, exige um isomorfismo entre povo, território e soberania;
isomorfismo que se encontra ameaçado pelos fluxos e conexões do mundo contemporâneo.
Cada vez mais afloram espaços conformados por várias populações circulantes, que
pertencem a um determinado Estado-nação, mas que são o que se pode chamar de
translocalidades – categoria emergente de organização humana que merece cada vez mais
atenção.
Appadurai afirma que o mundo em que vivemos é desterritorializado, mas que a
desterritorialização gera várias formas de reterritorialização. A reterritorialização pode
envolver a criação de novas comunidades que não se fixem em um imaginário nacional, mas
apenas em um imaginário de autonomia local ou de soberania de seus recursos. Parte do
imaginário que compõe a comunidade reterritorializada do Fórum Social Mundial e o “espírito
de Porto Alegre” é a celebração da diferença.
Esse estímulo à diversidade consolidou-se por meio de um conjunto de práticas políticas
reunidas sob a forma da “metodologia” do Fórum Social Mundial, cristalizada sobretudo na

14
Carta de Princípios, elaborada pelo Conselho Internacional após o primeiro evento mundial
do FSM em 2001. Como já colocado anteriormente, a Carta caracteriza o Fórum como um
espaço aberto, que não é uma instância de poder a ser disputada, uma vez que a disputa
implicaria a preponderância de certas opiniões em detrimento de outras. Devido a essa
característica, não existe um ator monolítico, de modo que o Fórum não chega a conclusões,
nem produz declarações, para assim não prejudicar sua diversidade interna.
Julia Ruiz di Giovanni aponta que o minimalismo da Carta de Princípios faz parte de um gesto
de unificação às avessas, que evita traçar objetivos e metas. Trata-se de um projeto de
proliferação da diferença, submetido a uma força permanente de dispersão. A autora coloca
também que “nessa Babel alternativa, em vez de serem punidos pela audácia de seu projeto
comum, a nunca mais serem capazes de falar a mesma língua, os homens podem se entregar
ao eterno exercício de linguagens cada vez mais complexas, já que não há nenhum edifício
a projetar e a construir” (GIOVANNI, 2015, p. 64)
Tal celebração da diversidade é diametralmente oposta às bases do imaginário político
contemporâneo, balizado pelo princípio da soberania, que delimita Estados-nacionais. Para
Quijano (2005), um Estado-nação é um tipo de sociedade individualizada entre as demais.
Como toda sociedade, ele envolve estruturas de poder responsáveis por articular formas
sociais dispersas em uma totalidade homogênea. Além disso, destaca-se que o poder não é
absoluto, imanente, mas constitui-se na relação entre dominantes e dominados, em que certo
grupo se impõe sobre o outro a partir da vitória em uma disputa assimétrica por controle de
modos de produção, de autoridade e de intersubjetividade.
Um dos pontos inovadores do Fórum Social Mundial é o de não apenas exaltar a diversidade
em si, mas a diversidade conformada por povos que, ao longo da história da expansão do
Estado-nação, foram subalternizados e inferiorizados. Nesse sentido, o Fórum Social Mundial
é um empreendimento cuja concepção é, em si, decolonial, pois aponta que os subalternos
podem não apenas falar4, mas também refletir, formular críticas, opiniões e alternativas para
um novo modelo de globalização. Assim, a realização do Fórum Social Mundial – que se
acreditou ser o locus da política do futuro – em uma cidade do mundo “em desenvolvimento”
é relevante para reposicionar os povos subalternizados no debate político, os quais passam
a ocupar o centro, não mais como objetos e sim como sujeitos.
Destaca-se que a escolha de uma cidade do Sul global para abrigar o FSM não é uma
casualidade, mas uma escolha política consciente, feita na reunião em que Oded Grajew,
Bernard Cassen e Francisco Whitaker teriam dado forma à ideia do Fórum. Colocava-se,
4 Referência ao livro de Gayatri Spivak “Pode o subalterno falar?”

15
assim, a necessidade de que esse evento “anti-Davos” ocorresse no Sul global e,
especificamente, em Porto Alegre, cidade que despontava como vanguarda na luta por um
modelo de democracia diferente daquele imposto pelo neoliberalismo, cujo objetivo oculto era
o de esvaziar os espaços de participação popular. Porto Alegre, ao contrário, sustentava o
engajamento popular como forma de legitimação democrática, o que foi concretizado através
de políticas como o Orçamento Participativo, reconhecido mundialmente como um modelo a
ser seguido (WHITAKER, 2005).
Esse reposicionamento dos excluídos no debate político faz parte de um projeto intelectual de
revisão das relações de colonialidade através das quais os Estados-nacionais foram
transplantados da Europa para as outras localidades, uma vez que o etnocentrismo – a
classificação e hierarquização de etnias e culturas – expressou-se por meio de operações
mentais essenciais para a manutenção do poder mundial, através das quais os europeus
geraram uma nova percepção de tempo histórico e relocalizaram os povos colonizados.
Assim, esses povos, bem como sua história e sua cultura, foram colocados no início de uma
linha cujo ao fim de cujo traçado está localizada a Europa, figurando como um modelo a ser
alcançado.
Se os povos colonizados eram inferiores e anteriores aos europeus, por esta perspectiva a
modernidade e a racionalidade seriam experiências exclusivamente europeias. Assim, as
relações intersubjetivas e culturais entre a Europa e o restante do mundo passaram a ser
codificadas em um novo conjunto de categorias dicotômicas, que seguiam a mesma lógica
utilizada para separar o que está dentro e o que está fora, a soberania e a anarquia. Assim,
binarismos como “oriente-ocidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-
racional, tradicional-moderno” (QUIJANO, 2005, p.7) expandiram-se pelo mundo
acompanhando os empreendimentos coloniais.
É importante notar que o que se denomina de “Espírito de Porto Alegre” é uma criação que
confronta em termos concretos a ideia de que os povos subalternizados não possuem
capacidade de formulação política. O Espírito de Porto Alegre caracteriza-se por um pretenso
amadurecimento intelectual, realizado por meio de debates, reuniões, seminários, que tinham
o intuito de avançar em relação aos grandes protestos de rua que ocorreram sobretudo no
Norte global em oposição às organizações internacionais representantes da globalização
neoliberal. Assim, o “povo de Porto Alegre” estaria dando um passo adiante em relação ao
“povo de Seattle”, pois este seria caracterizado pela negação, pela rebeldia e pela denúncia,
enquanto aquele formularia a política capaz de superar os obstáculos denunciados nos
protestos.

16
Em suma, o princípio da soberania delimita as fronteiras do político e exige a formação de
uma comunidade política monocultural denominada de nação. Isso significa que o
estabelecimento de um Estado-nação soberano envolve o apagamento político e cultural de
um conjunto de povos, em prol da homogeneidade da nação. Diante desse cenário, o Fórum
Social Mundial contrapõe-se não apenas ao princípio excludente da soberania, ao expandir
as fronteiras das comunidades políticas, mas também à colonialidade do poder estatal, ao
reinserir os povos subalternizados no conjunto de atores que possuem agência política
legítima.
Conclusão
Uma leitura crítica da bibliografia acerca do Fórum Social Mundial, tal como a realizada por
Julia Ruiz de Giovanni, que diversas vezes foi referenciada neste artigo, evidencia o fato de
que, apesar de o Fórum Social Mundial se colocar como um espaço aberto e que celebra a
diversidade, ele não é um espaço desprovido de política e de poder. Michael Albert (2009)
apresenta a ideia de que há uma bifurcação das dinâmicas políticas no FSM. De um lado há
uma concepção horizontalista e descentralizada do Fórum, cristalizada na Carta de Princípios,
presente nos textos de análise e disseminada para os participantes durante os dias da grande
reunião mundial. De outro, há os processos de decisão política que fazem os eventos
ganharem vida, e todas as suas escolhas estratégias que isso envolve.
Esta observação é feita com o intuito de destacar que esta pesquisa não adere à visão de que
o Fórum Social Mundial é, de fato, “uma praça sem dono”, que pode ser ocupada de maneira
igualitária por quem assim o deseje. Sabe-se que a construção do FSM é permeada por
relações de poder e por hierarquias, que muitas vezes se quedam implícitas, como uma
sombra que acompanha o Fórum. Entretanto, o discurso do espaço aberto promove uma
abertura para o acolhimento da diversidade de atores – algo essencial para a contraposição
à lógica homogeneizante que permite construir uma comunidade política dentro das fronteiras
de um território soberano.
A celebração da diversidade no Fórum Social Mundial permite que se pense a política em
termos de alteridade, segundo a qual a identidade se faz a partir da relação com o outro. Se,
por um lado, a identidade étnico-cultural é pluridimensional, a identidade nacional tem que se
manter de acordo com símbolos e signos criados para caracterizar um Estado-nação. Para
Rocha e Góes (2013), a identidade nacional é forjada para a manutenção da soberania interna
do Estado e para legitimar sua inserção internacional como uma unidade coerente e
diferenciada dos outros Estados.

17
Nas Relações Internacionais, tanto como disciplina, quanto como conjunto de discursos e
práticas, poucas vezes há referências à diversidade das culturas. Quando são feitas, o
assunto vem à baila por meio da ideia de que a interação cultural causa conflitos, a exemplo
da teoria do choque de civilizações de Samuel Huntington (1997). Para as abordagens
positivistas e estadocêntricas de Relações Internacionais, a manutenção da soberania
depende de uma identidade nacional a ser legitimada, e esta pode sofrer interferência de
outras culturas, de modo que o contato com o outro representa uma perda de poder.
As concepções da modernidade europeia, tais como Estado, nação e soberania, foram
transplantadas para outros povos por meio da colonização e se consolidaram por oposição às
ideias, subjetividades e estruturas dos grupos colonizados. Tais concepções são de tal
maneira estruturais para as Relações Internacionais que Inayatullah e Blaney (2004) colocam
que as RI são um legado do projeto colonialista. Por isso, grande parte dos enquadramentos
teóricos de Relações Internacionais ignora a questão da diferença. Ao considerarmos
formações culturais, ampliamos o arcabouço imaginativo das Relações Internacionais (e das
relações internacionais), pois incorporamos as configurações internas dos atores do “sistema
internacional” e trazemos para o centro do debate a questão da diferença, que é obliterada
pela dinâmica da soberania e pela separação entre os âmbitos “interno” e “externo”.
Referências bibliográficas
ALBERT, Michael. WSF: Where to now? In: World Social Forum: Challenging Empires.
Montréal: Editora Black Horse Books, 2009.
APPADURAI, Arjun. Soberania sem territorialidade: notas para uma geografia
pósnacional.In: Novos Estudos Cebrap. n. 49, novembro 1997. pp 7-32. Disponível em: <
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/363238/mod_resource/content/0/8-Appadurai-
notas_para_uma_geografia.pdf > Acesso em: 25 jun 2017.
D'AOUST, Anne-Marie. IR as a Social Science/IR as an American Social Science. In: DENEMARK, Robert. The International Studies Compendium Project, Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2015, p. 1-34. Disponível em: < https://www.jstor.org/stable/20024493 > Acesso em: 25 jun 2017. DI GIOVANNI, Julia Ruiz. Cadernos de outro mundo – o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. São Paulo: Editora Humanitas, 2015. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. GAVIÃO, Leandro. Resenha da obra O Ódio à Democracia. In: Revista de História, nº 173, p. 497-503, jul-dez 2015. Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/98812> Acesso em: 25 jun 2017. KLEIN, Naomi. Democratizando o movimento – quando militantes se reúnem para o primeiro Fórum Social Mundial, não há um programa único que possa conter a diversidade.” In: Cercas e Janelas: na linha de frente do debate sobre globalização. São Paulo: Ed. Record, p. 253-269. INAYATULLAH, Naeem; BLANEY, David. International Relations and the problem of
difference. Nova Iorque/Londres: Editora Routledge, 2004.

18
QUIJANO, Anibal. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. In: A
colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas.
Buenos Aires: Editora Clacso, 2005
RANCIÈRE, Jacques. Ódio à Democracia. São Paulo: Editora Boitempo, 2015. R.B.J. WALKER. State Sovereignty and the Articulation of Political Space/Time. In: European Journal of Political Research, vol. 19, p. 445-461, 1991. _____________ Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. _____________ Social movements/World Politics. In: Millennium: Journal of International Studies, v.23, n.3, p. 669-700, 1994. ROCHA, Elizabete e GÓES, Virgínia. Culturas e epistemologias do Sul – as Relações
Internacionais traduzidas pelos movimentos sociais da América Latina. In: Monções:
Revista de Relações Internacionais da UFGD, Dourados, v.2. n.3, jan./jun., 2013 Disponível
em: < http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/moncoes > Acesso em: 25 jun 2017.
SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica da governação neoliberal: O Fórum Social Mundial como política e legalidade cosmopolita subalterna. In: Revista Crítica de Ciências Sociais, vol. 72, p. 7-44, 2005. Disponível em: < https://rccs.revues.org/979> Acesso em: 25 jun 2017. ____________O Fórum Social Mundial – Manual de Uso. São Paulo: Editora Cortez, 2005. SASSEN, Saskia. The Participation of States and Citizens in Global Governance.In: Indiana Journal of Global Legal Studies, vol 10, nº 5, Issue 1, 2003. Disponível em: < http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol10/iss1/> Acesso em: 25 jun 2017. SPIVAK, Gayatri. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
WHITAKER, Chico. O desafio do Fórum Social Mundial. São Paulo: Editora Fundação
Perseu Abramo, 2005.
___________ Prefácio. In: Fórum Social Mundial em processo. São Paulo: Editora Publisher Brasil, 2010.