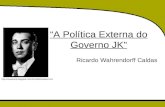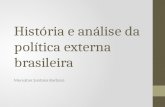POLÍTICA EXTERNA, DEMOCRACIA E A REDEFINIÇÃO DOS … · ter em suas mãos a condução da...
Transcript of POLÍTICA EXTERNA, DEMOCRACIA E A REDEFINIÇÃO DOS … · ter em suas mãos a condução da...

1
10º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política
Ciência Política e a Política: Memória e Futuro
Belo Horizonte, 30 de agosto a 2 de setembro de 2016
Área Temática: Política Externa
POLÍTICA EXTERNA, DEMOCRACIA E A REDEFINIÇÃO DOS LIMITES DO POLÍTICO:
DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL PELA REGULAÇÃO DA POLÍTICA EXTERNA
Elaini Cristina Gonzaga da Silva*
* Professora do Departamento de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). Pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia (NDD) do Cebrap. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7842048705002063. Email: [email protected].

2
Resumo
A pesquisa ora proposta tem por objetivo, a partir da teoria da democracia deliberativa e da
ética do discurso (HABERMAS, 1990; BENHABIB, 1992), realizar uma reconstrução
normativa das demandas sociais por controle da política externa do Estado brasileiro,
enquanto expressão de anseios de aprofundamento da democratização que ainda resta por
se completar. A proposta se justifica no contexto do processo paradoxal de progressiva
regulação do poder soberano em âmbito interno e concomitante absolutização no externo
(FERRAJOLI, 2010), que resultou na fundamentação da legitimidade do Estado democrático
no respeito a direitos humanos que têm uma pretensão de universalidade, mas os reconhece,
limitando a ação do Estado, apenas com relação aos membros de sua própria comunidade
política (BENHABIB, 2004). Esse paradoxo encontra-se no desenho institucional do Estado
constitucional, incluindo o Brasil. Assim, o principal problema a ser abordado nesta pesquisa
refere-se à distribuição interna de competências entre os poderes para condução da política
externa. Nota-se que, desde a Constituição dos Estados Unidos da América (EUA) e da
Revolução Francesa, ou seja, desde as primeiras experiências modernas de distribuição dos
poderes com vista ao estabelecimento de uma ordem fundamentada no poder do povo, tem-
se atribuído ao Executivo as competências relacionadas à ação externa do Estado (RODAS,
1972; HENKIN, 1990; SIDOU, 2003). Ao Legislativo, embora lhe coubesse conforme a teoria
constitucionalista, o poder de edição de normas gerais que vinculassem a todos, no que se
refere à política externa, foi reservado apenas um papel pontual de ratificação dos tratados
eventualmente celebrados por aquele – enquanto a celebração de tratados representava e
ainda representa apenas uma pequena parte do universo de mecanismos de condução da
política externa. No caso do Brasil, tradicionalmente, o discurso oficial do Executivo é de que
a política externa brasileira é uma política de Estado (LAMPREIA, 1999; LAFER, 2001).
Mesmo com a tentativa de uma certa politização pelo ministro Celso Amorim (2010), no
entanto, antigos membros do Itamaraty criticam este reconhecimento com base na proposição
altamente normativa sem qualquer ancoramento prático de que a política externa não pode
representar as divisões internas, como é o caso, por exemplo, de Ricupero (2010). O quadro
institucional de controle da política externa nas diversas Constituições brasileiras, do Império
à redemocratização do Brasil, pouca alteração sofreu, permanecendo as mesmas linhas
gerais: a política externa, desde a Constituição outorgada por Dom Pedro I até a Constituição
de 1988, continua uma prerrogativa geral do Executivo federal (CACHAPUZ DE MEDEIROS,
1995; ALMEIDA, 2004; SANCHEZ et al., 2006). Não obstante, enquanto, no Império,
negociavam-se, principalmente, estabelecimento de amizade e abertura de portos, hoje,
negociam-se de normas técnicas aplicáveis do momento em que ligamos nossos
computadores à regulação de armas atômicas. A literatura internacionalista brasileira

3
tradicionalmente associou a situação como uma delegação de poderes do Legislativo para o
Executivo (LIMA, SANTOS, 2001; LIMA, 2003, DINIZ, 2014). Pesquisas mais recentes, no
entanto, têm questionado a explicação tradicional com base em pesquisas empíricas sobre a
diversidade das formas de atuação efetiva do Legislativo na política externa brasileira, como
é o caso, por exemplo, de Pinheiro (2003), Oliveira (2003), Maia e Cesar (2004) e Fares
(2009). A percepção realista da política externa como uma política de Estado reflete-se
também na tese de “insulamento burocrático” do Ministério das Relações Exteriores, o qual
seria marcado pela eficiência, profissionalismo, coerência e estabilidade etc. que justificariam
ter em suas mãos a condução da política externa e, de maneira geral, teria se mantido imune
às tentativas de modernização administrativa pelas quais as demais agências do Executivo
passaram na história (FIGUEIRA, 2011). Esta situação, no entanto, foi naturalizada pelos
teóricos realistas das relações internacionais, que perpetuam uma percepção da política
externa como uma “política de Estado” diferenciada sujeita a imperativos decorrentes do
sistema internacional e, portanto, afastando-a da práxis democrática, o que acaba por
despolitizar seu conteúdo, ainda que a prática se demonstre diferente (VITALE, SPECIE,
MENDES, 2009; SILVA, SPECIE, VITALE, 2010; PINHEIRO, MILANI, 2012). Assim, em vez
de assumir como um dogma a política externa como uma política de Estado, este artigo, a
partir da reconstrução normativa de demandas da sociedade civil por controle da política
externa desde a ALCA, questiona os fundamentos de tal interpretação que tem efeitos
institucionais e tem sido utilizada para afastar a política externa da praxis democrática e do
controle social tanto em âmbito interno quanto nas relações internacionais. Neste contexto,
os objetivos específicos da presente pesquisa consistem em (1) mapear as tentativas de
controle amplo da política externa brasileira apresentadas pelas organizações da sociedade
civil brasileira e (2) retomar o histórico institucional relativo à política externa e a interpretação
de seus principais aplicadores.
Palavras-chave: Política Externa. Constituição. Sociedade Civil. Repolitização.
Cosmopolitanismo.

4
1 Introdução2
A aproximação do Ministério das Relações Exteriores com a sociedade civil brasileira iniciou-
se na década de 1990, com a organização de um evento pela Fundação Alexandre de
Gusmão (FUNAG) para estabelecer um diálogo e discutir, de maneira “informal e preliminar”,
o papel das ONGs no sistema internacional e nos processos de formulação da política externa.
Desde então, os canais de participação se multiplicaram; e esta passou a ocorrer das mais
diversas formas, desde processos de consulta até incorporação direta de seus representantes
nas delegações brasileiras. Em vez de as demandas de controle social da política externa
diminuírem com o aumento do número de casos efetivos de participação, controle ou
transparência em contato com o Itamaraty, verifica-se, entretanto, um movimento coordenado
e organizado de diversos grupos da sociedade civil para pressionar o governo a abrir a caixa
da política externa formal e institucionalmente, o que tem sido feito a partir, não de grandes
organizações individuais, mas, principalmente, a partir de ações coordenadas da sociedade
civil3.
Neste sentido, citam-se, em especial, duas iniciativas: o Comitê de Política Externa
e Direitos Humanos (CBPEDH); e o Grupo de Reflexão em Relações Internacionais (GRRI).
Ambas as iniciativas se distinguem de outras da sociedade civil para política externa não pelo
sentido que buscam incutir nas decisões eventualmente tomadas pelo governo, mas pela
apresentação de propostas de modificação do arcabouço normativo incidente sobre o
exercício do poder do Estado para tal política. Em outras palavras, não apenas incidem sobre
2 O presente artigo é uma versão preliminar dos resultados de pesquisa em andamento. Esta, por um lado, está relacionada ao trabalho da autora financiado pela FAPESP em sede de doutorado (processo 08/04045-0), no qual se demonstrou que o processo de expansão que marca o direito internacional a partir da segunda metade do século XX colocou em questão os limites do arcabouço do direito internacional de coexistência ou coordenação para resolver os problemas do de cooperação e de solidariedade, devido à mudança na definição de legimitidade das normas produzidas (SILVA, 2011; 2015). Por outro lado, é a continuação das pesquisas que começaram a ser desenvolvidas paralelamente ao mestrado e ao doutorado sobre constituição e política externa (SANCHEZ et al., 2006) e sobre a horizontalização da política externa dentro do Poder Executivo (SILVA, SPECIE e VITALE, 2010).
3 No presente artigo, a expressão “sociedade civil” refere-se ao conjunto de atores que se atuam coletiva ou individualmente orientado por valores, sem ter por objetivo o lucro para redistribuição interna nem com o objetivo de ocupação do governo. Desta forma, incluiria as popularmente chamadas organizações não governamentais (ONGs) (organizadas formalmente na forma de associações), fundações e coletivos organizados de forma não institucional. Para os fins da presente análise, distingue-se de “academia”, que compreende as pesquisadoras, intelectuais e professoras universitários que produzem conhecimento e influem na esfera na esfera pública por meio de análises e pesquisas. Da mesma forma, “partidos políticos” do Brasil e suas respectivas fundações serão indicados separadamente quando pertinente. Por fim, “governo” indica os poderes constituídos.

5
o sentido de decisões que serão tomadas, como também disputam as instituições envolvidas
neste processo. É deste aspecto que se ocupa o presente artigo.
Procede-se a uma reconstrução normativa que tem por objetivo identificar os
fundamentos ulteriores das instituições do processo de tomada de decisão em política externa
no Estado brasileiro objeto dessas demandas4, demonstrando como estas evidenciam uma
nova percepção da politização do Estado e anseios por um aprofundamento da democracia.
Para tanto, inicialmente, descrevem-se as origens, organização e propostas do CBPEDH e
do GRRI. Em seguida, identificam-se os fundamentos das instituições atualmente vigentes
que se configuram como obstáculo ao exercício democrático e contra os quais se insurgem
aquelas iniciativas. Por fim, apresenta-se uma proposta de ressignificação do quadro teórico
em questão, demonstrando como as propostas discutidas inicialmente são expressão de
anseios de aprofundamento de um processo de democratização que ainda resta por se
completar e que o pode ser – levando a uma repolitização do Estado norteada por uma visão
cosmopolita da organização da vida social.
2 Demandas Sociais de Mudança do Arcabouço Institucional
A participação da sociedade civil brasileira em temas relacionados à política externa e às
relações internacionais tem sido realizada a partir de diferentes canais: sob formas
organizadas e não organizadas diretamente em instituições internacionais (TAVARES, 1999;
MILANI, 2012; recorrendo a sistemas internacionais e regionais de proteção dos direitos
humanos (CARDOSO, 2011); na formação de fóruns “neoanárquicos” de organização
4 A virada reconstrutiva na teoria crítica ocorre com o trabalho de Jurgen Habermas, em Conhecimento e Interesse (1968), que propõe uma nova abordagem à crítica social realizada pela geração anterior. Como observa Voirol (2012, p. 91), “[a] reconstrução surge como um método que busca revelar estruturas profundas vistas como precondições práticas [...] de atores sociais. Ela assinala um conjunto de regras fundamentais que são consideradas como condições primárias de ações racionais [...]. Essas estruturas profundas formam um conhecimento pré-teórico que não é explicitado pelos sujeitos sociais nas suas atividades cotidianas, mesmo que essas atividades não sejam possíveis sem a ação baseada nesse conjunto implícito de regras”. Na terceira geração da escola, Axel Honneth (2014) propõe como método específico aquilo que chama de “reconstrução normativa” – no qual ora se inspira este artigo. A proposta metodológica de Honneth compreende a identificação de uma patologia social como objeto, a elaboração de um diagnóstico que envolva a reconstrução e ofereça uma explicação crítica e, por fim, uma proposta de conversão de conhecimento em prática. Por esta razão, as entrevistas realizadas pela autora (vide Apêndice 1 – Lista de entrevistas) tiveram como objetivo sua aproximação das práticas e dos valores dos envolvidos com as iniciativas analisadas – e não serão, portanto, objeto de análise destacada. Ressalta-se, contudo, que, embora se incorpore o método de Honneth, não se compartilha sua visão do papel das normas jurídicas na sociedade – pelo contrário, como será demonstrado nas seções seguintes, entende-se que a participação da sociedade civil na disputa pelas instituições jurídicas visa a um aprofundamento da democracia no Brasil.

6
autônoma em relação ao Estado, mas de aspecto cosmopolita, como é o caso do Fórum
Social Mundial (FSM) (RABELO, 2011); em processos de consulta pelo Itamaraty e até
incorporação direta de seus representantes nas delegações brasileiras (VITALE, SPÉCIE,
MENDES, 2009). Todos esses casos envolvem a incidência daqueles atores sobre o sentido
das decisões a serem adotadas, seja do governo brasileiro em fóruns internacionais sejam
dos fóruns internacionais.
Nos anos 2000, surgiu um outro tipo de atuação de organizações da sociedade civil,
que, então, incorporou como objeto o questionamento do arcabouço normativo do próprio
processo de decisão, demandando formalização dos canais de participação e/ou
estabelecimento de critérios mais claros para orientação das decisões na política externa
brasileira. A primeira iniciativa foi a criação do CBPEDH, em reunião no dia 6 de dezembro de
2005, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara de
Deputados do Congresso Nacional, com o objetivo de “promover a prevalência dos direitos
humanos na política externa brasileira e fortalecer a participação cidadã e o controle social
sobre esta política, por meio de mecanismos de diálogo entre os poderes do Estado brasileria
e a sociedade civil”, segundo a Carta de Princípios (CBPEDH, 2005). A segunda consiste no
GRRI, que, embora tenha sido idealizado a partir de 2009, foi lançado oficialmente em 2013
com o objetivo específico de defender a democratização do processo decisório em política
externa (GRRI, 2013a; 2013b). Embora ambas as iniciativas apresentem missões paralelas,
as atividades desenvolvidas, as formas de ação e os parceiros escolhidos em cada uma são
diferentes. A ilustração abaixo indica a cronologia de criação e atividades de cada uma.
Ilustração 1: Cronologia das iniciativas da sociedade Civil por Controle da Política Externa
Fonte: elaboração própria.
Legenda: ASC: Aliança Social Continental; e LAI: Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011).
No caso do Comitê, sua própria constituição pode ser considerada uma inovação em
relação ao quadro institucional prevalente, por envolver o Poder Legislativo. Tornou-se um
espaço informal, já que não foi formalizado juridicamente, explorado, em especial, por

7
entidades da sociedade civil, para cobrarem informações do Executivo (em especial, do
Itamaraty), a partir da estrutura do Legislativo. Além disso, foram incorporou a realização de
campanhas para chamar a atenção da sociedade civil sobre a atuação dos poderes
constituídos em política externa, provocando-as a apresentar perguntas às autoridades que
participariam de audiências públicas no Congresso Nacional. Foi o caso da campanha
“Ministro, eu #querosaber”, de 2013 (CBPEDH, 2013), e da #OCongressoTambémFaz, de
2014 (CBPEDH, 2014a). Também em 2014 surgiu a proposta que começou a ser avançada
pelo grupo de publicação de um Livro Branco para a política externa brasileira (CBPEDH,
2014b; CONECTAS, 2015), qual seja, um documento que incorporasse o conjunto de
diretrizes, estratégias e prioridades para a política externa do país.
Por sua vez, o GRRI, que também detém estrutura informal, optou pela formalização
de canais de comunicação com o público, como blogs (próprio e no site da revista Carta
Capital), para oferecer uma visão progressista dos temas de relações internacionais e política
externa; e realização, em 2013, de conferência intitulada "2003-2013: Uma Nova Política
Externa", na qual apresentou ao Ministro das Relações Exteriores de então, Antonio Patriota,
um documento em que propõe a criação de um Conselho Nacional de Política Externa, como
forma de institucionalização do canal de diálogo do governo com a sociedade civil para política
externa.
No que se refere a seus membros, o gráfico abaixo demonstra que ambos são
formados em sua maioria por representantes da sociedade civil. Os demais membros do
Comitê vêm dos poderes constituídos, seja do Poder Executivo, como é o caso do Programa
DST/Aids, do Ministério da Saúde, do Poder Legislativo, como foi o caso da Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara (suspensa com a atuação decorrente do avanço do
Deputado Pastor Marcos Feliciano), ou da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão. Já o
GRRI conta com uma gama maior de integrantes, que representam não apenas os poderes
constituídos (como, por exemplo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou a
Secretaria de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial do Município de São Paulo –
SEPPIR-SP), de partidos políticos progressistas e suas fundações, a academia
(predominantemente da região sudeste)5.
5 Observa-se que a lista de integrantes dessas iniciativas modificou-se ao longo do tempo de sua atuação. Para esta análise será levada em consideração apenas a lista de signatários dos documentos de lançamento.

8
Gráfico 1 – Composição quando do lançamento
Fonte: elaboração própria a partir das cartas de lançamento (CBPEDH, .
Legenda:
Interessante notar dois fatos com relação à sua constituição. O primeiro à
participação cumulativa de algumas organizações, como é o caso das associações Conectas
Direitos Humanos, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e do
Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC). As duas últimas organizações já mantinham
contatos desde a década de 1990, não apenas por sua atuação na defesa de direitos humanos
no Rio de Janeiro, mas também por, no movimento de oposição às negociações para criação
da ALCA, unirem-se com entidades sindicais e outras associações para criação da Rede
Brasileira para a Integração dos Povos (Rebrip). A Rebrip foi o braço brasileiro na Aliança
Social Continental (ASC), que coordenaria a atuação da sociedade civil em reação às
negociações e nos canais de comunicação que haviam sido abertos.
Em entrevistas sobre a atuação internacional de organizações da sociedade civil
brasileira, o contato com a rede criada neste momento apareceu como elemento comum nos
casos de mobilização estratégica das instituições internacionais, como foi o caso das Patentes
e Acesso a Medicamentos que envolveu atores de diversas regiões em diferentes níveis
institucionais (regional e multilateral). Cogita-se que o efeito de aprendizado possibilitado por
esta participação, primeiro, na mobilização das instituições efetivamente disponíveis, e,
segundo, na constatação da necessidade de criação de novos espaços, tenha sido relevante
no desenvolvimento das iniciativas ora analisadas. A Conectas surgiu posteriormente,
incorporando desde sua origem, talvez por sua relação íntima com quadros acadêmicos,
pesquisas para definição de ação estratégica. Foi o caso, por exemplo, da pesquisa para
identificação da base jurídica para questionamento e controle das decisões da política externa
em direitos humanos com base no Art. 4º da Constituição Federal de 1988, que resultou no
Programa de Acompanhamento de Política Externa em Direitos Humanos (PAPEDH). Na
discussão do relatório do PAPEDH em uma audiência da referida Comissão da Câmara de
deputados é que surgiu a proposta de criação do CBPEDH.

9
O segundo refere-se à presença da organização que financiou ambas, a Fundação
Friedrich Ebert (FES) do Partido Trabalhista alemão, como signatária e participação efetiva –
mas este aspecto ainda requer desenvolvimento.
3 Naturalização da Política Externa como Política de Estado
As propostas analisadas no item anterior, ainda que verificadas no Brasil, podem ser
compreendidas apenas com consideração da origem do Estado nacional moderno e da
organização das relações internacionais em sua função. Como observou Ferrajoli (2010),
enquanto a soberania interna do Estado foi sujeita à progressiva regulação, com a formação
do Estado de Direito, a externa teria passado por um processo de absolutização a partir do
século XVI. Assim, retomando a linguagem dos contratualistas, desde a Revolução Francesa,
seu âmbito interno o Estado é sempre a referência de estado civil, enquanto as relações entre
os Estados são comparadas ao estado de natureza hobbesiano.
Esta situação encontrou eco no pensamento positivista e é refletida no trabalho
desenvolvido por Carl Schmitt (2009), para quem os limites do político seriam definidos a partir
da antítese amigo-inimigo, a única que possibilitaria a indicação daqueles que se mantêm em
grau de intensidade de união ou separação. O inimigo político seria o outro, “existencialmente
algo diferente e desconhecido, de modo que, em caso extremo, sejam possíveis conflitos com
ele, os quais não podem ser decididos nem através de uma normalização geral empreendida
antecipadamente, nem através da sentença de um terceiro ‘não envolvido’ e, destarte,
‘imparcial’” (SCHMITT, 2009, p. 28).
A negação de qualquer poder ao qual o Estado estaria sujeito, a inexistência da
regulação da ação externa do Estado a partir de seu próprio ordenamento e a consideração
daqueles que não são membros da mesma comunidade como um outro ameaçador, em
conjunto, formaram um terreno fértil para o desenvolvimento das teorias realistas das relações
internacionais6, alçando ao nível de teoria o resultado de uma ação prática que não teria
passado, ainda, pelo processo de democratização seja da perspectiva da relação entre os
próprios Estados seja da perspectiva dos indivíduos que o compõem7.
6 Como, por exemplo, Morgenthau (1948), Waltz (1959) e Mearsheimer (2001).
7 Vide, por exemplo, Aron (2002, p. 53) “Contudo, enquanto a humanidade não se tiver unido num Estado universal, haverá uma diferença essencial entre a política interna e a política externa. A primeira tende a reservar o monopólio da violência aos detentores da autoridade legítima; a segunda admite a pluralidade dos centros de poder armado. Enquanto se dirige à organização interna das coletividades, a política tem por objetivo imanente a submissão dos homens ao império da lei; na medida em que diz respeito às relações entre Estados, parece significar a simples sobrevivência dos Estados diante da ameaça virtual criada pela existência dos outros Estados - este é o seu ideal e o seu objetivo.”

10
Essa percepção reflete-se na organização do poder no âmbito interno do Estado,
como pode ser observado na distribuição interna de competências entre os poderes para
condução da política externa. Nota-se que, desde a Constituição dos Estados Unidos da
América (EUA) e da Revolução Francesa, ou seja, desde as primeiras experiências modernas
de distribuição dos poderes com vista ao estabelecimento de uma ordem fundamentada no
poder do povo, tem-se atribuído ao Executivo as competências relacionadas à ação externa
do Estado (RODAS, 1972; HENKIN, 1990; SIDOU, 2003). Ao Legislativo, embora lhe
coubesse conforme a teoria constitucionalista, o poder de edição de normas gerais que
vinculassem a todos, no que se refere à política externa, foi reservado apenas um papel
pontual de ratificação dos tratados eventualmente celebrados por aquele8 – enquanto a
celebração de tratados representava e ainda representa apenas uma pequena parte do
universo de mecanismos de condução da política externa9.
No caso do Brasil, tradicionalmente, o discurso oficial do Executivo é de que a política
externa brasileira é uma política de Estado. Nesse sentido, o chanceler Lampreia (1999): “[...]
A força de nossa presença internacional se deve, em boa medida, ao fato de que a política
externa brasileira sempre foi uma política de Estado, fortemente ancorada nos interesses
maiores e permanentes do País, e jamais se submeteu às vicissitudes das conjunturas
domésticas”. Mas não apenas pelos ministros de carreira, como é o caso do referido
chanceler, mas também por estranhos à burocracia, como foi o caso do ministro Celso Lafer
(2001), que dedicou um livre para demonstrar as linhas estáveis da política externa brasileira
desde a fundação do Estado. Mesmo com a tentativa do reconhecimento de seu caráter
político implementada pelo ministro Celso Amorim (2010), no entanto, antigos membros do
Itamaraty criticam este reconhecimento com base na proposição altamente normativa sem
qualquer ancoramento prático de que a política externa não pode representar as divisões
internas, como é o caso, por exemplo, de Ricupero (2010).
8 “Teoricamente — assenta Masquelin —o consentimento legislativo pode ser considerado como simples medida de controle do Parlamento sobre os atos particularmente importantes do Executivo, assim como uma autorização habilitando o chefe de Estado a proceder à troca de ratificações, ou uma medida permitindo submeter definitivamente o Estado em fase das outras partes contratantes, formalidade destinada a introduzir a letra do ato internacional no direito interno.” (SIDOU, 2003, p. 46-47).
9 Interessante notar que, embora o sistema vestifaliano fosse baseado na não intervenção em assuntos internos no Estado, as normas consuetudinárias internacionais, ao atribuir ao soberano e, posteriormente, ao Executivo a prerrogativa de representação do Estado nas relações internacionais, acabavam por cristalizar essa distribuição interna do poder. É esta percepção que baseia, por exemplo, o artigo 7(2)(a) da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969), instrumento já reconhecido como reflexo do costume internacional e que prevê que os Chefes de Estado e de Governo podem representar seus Estados, ainda que sem plenos poderes (REUTER, 1995).

11
O resultado é encontrado na distribuição dos poderes no Brasil. Como evidencia
estudo coordenado por Ratton e Silva (2006) entre alunos da graduação da Faculdade de
Direito da USP, a regulamentação da política externa nas diversas Constituições brasileiras,
do Império à redemocratização do Brasil, pouca alteração sofreu, permanecendo as mesmas
linhas gerais10. O quadro abaixo demonstra, por exemplo, os dispositivos relativos a tratados
internacionais das constituições brasileiras a partir de 1824:
Quadro 1: Dispositivos das Constituições Brasileiras (1824-1988) sobre Tratados
Internacionais
Constituição Dispositivo Constitucional
1824 Art. 102, O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado. São suas principaes atribuições.
VII. Dirigir as Negociações Politicas com as Nações estrangeiras.
VIII. Fazer Tratados de Alliança offensiva, e defensiva, de Subsidio, e Commercio[...]
1891 Art 48 - Compete privativamente ao Presidente da República:
16º) entabular negociações internacionais, celebrar ajustes, convenções e tratados, sempre ad referendum do Congresso[...].
1934 Art 56 - Compete privativamente ao Presidente da República:
§ 6º) celebrar convenções e tratados internacionais, ad referendum do Poder Legislativo;
1937 Art 74 - Compete privativamente ao Presidente da República:
d) celebrar convenções e tratados internacionais ad referendum do Poder Legislativo;
n) determinar que entrem provisoriamente em execução, antes de aprovados pelo Parlamento, os tratados ou convenções internacionais, se a isto o aconselharem os interesses do País.
1946 Art 87 - Compete privativamente ao Presidente da República:
VII - celebrar tratados e convenções internacionais ad referendum do Congresso Nacional;
1967 Art 83 - Compete privativamente ao Presidente:
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, ad referendum do Congresso Nacional;
EC n. 1/1969 Art. 81. Compete privativamente ao Presidente da República:
X - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, ad referendum do Congresso Nacional;
1988 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
Fonte: elaboração própria com base nos textos constitucionais.
10 Para o mesmo assunto, vide também Almeida (1990).

12
A política externa, desde a Constituição outorgada por Dom Pedro I até a
Constituição de 1988, continua uma prerrogativa geral do Executivo federal. Não obstante,
enquanto, no Império, negociavam-se, principalmente, estabelecimento de amizade e
abertura de portos, hoje, negociam-se de normas técnicas aplicáveis do momento em que
ligamos nossos computadores à regulação de armas atômicas.
A literatura internacionalista brasileira tradicionalmente associou a situação como
uma delegação de poderes do Legislativo para o Executivo11. Pesquisas mais recentes, no
entanto, têm questionado a explicação tradicional com base em pesquisas empíricas sobre a
diversidade das formas de atuação efetiva do Legislativo na política externa brasileira, como
é o caso, por exemplo, de Pinheiro (2003), Oliveira (2003), Maia e Cesar (2004) e Fares
(2009).
A percepção realista da política externa como uma política de Estado reflete-se
também na tese de “insulamento burocrático” do Ministério das Relações Exteriores, o qual
seria marcado pela eficiência, profissionalismo, coerência e estabilidade etc. que justificariam
ter em suas mãos a condução da política externa (CHEIBUB, 1985) e, de maneira geral, teria
se mantido imune às tentativas de modernização administrativa pelas quais as demais
agências do Executivo passaram na história (FIGUEIRA, 2011). Também de caráter altamente
normativo, é a ideia de que a política externa deve ser conduzida, não apenas pelo Executivo,
mas pelo Itamaraty, que estão na base das críticas à diplomacia presidencial dos presidentes
Fernando Henrique Cardoso e, em especial, Luís Inácio Lula da Silva, como fica claro na
análise de Ricupero (2010). No entanto, a literatura mais recente demonstra que a tese não
se reflete na prática (CASON, POWER, 2009; FARIAS, 2009; SILVA, SPÉCIE, VITALE, 2010).
Além de afastar a condução da política externa do canal tradicional de representação
popular na formação da vontade do Estado, a posição realista também oferece razões para
excluí-la do controle social, marcando todo o processo decisório pelo sigilo e não participação
11 Vide, por exemplo, Lima e Santos (2001, p. 121): “A política externa e, especialmente, a de comércio exterior são objeto natural de delegação de poder decisório do Legislativo para o Executivo.” Vide, também, Lima (2003, p. 46-49): “Então por que o Legislativo buscaria participar da política externa se esta tem sido um objeto natural de delegação de poder decisório do Legislativo para o Executivo? Inicialmente é necessário que se enfatize que delegar não significa abdicar. Assim, se no futuro se modificam as condições presentes no momento da delegação, é esperado que se modifique também o padrão de delegação com respeito à política externa. [...] O Legislativo ratificou esta política por ocasião da elaboração da Constituição de 1988 em dois aspectos relevantes para a presente discussão. Em primeiro lugar, manteve o princípio constitucional da competência do Executivo na condução da política externa, cabendo ao Legislativo o poder de ratificação ex-post dos acordos internacionais. [...] Ao manter o status quo constitucional em uma dimensão crucial do processo decisório da política externa, os constituintes ratificaram a sua concordância com a política externa em curso.”

13
de atores sociais. Tal sigilo poderia ser fundamentado com base em três diferentes razões. A
primeira estaria relacionada à acima citada natureza estratégica da política externa
(MORGENTHAU, 1943; ARON, 2002). A segunda seriam ameaças internas: os líderes que
tomam decisões relativas à política externa precisariam disseminar seletivamente
informações sobre suas decisões, de forma a evitar que dissensos em âmbito interno
coloquem em risco a força de sua decisão ou atrasem o processo de tomada de decisão,
ameaçando, ao fim, a eficiência na condução da política externa. Como nota Gibbs (1995), no
entanto, com a notável exceção do Schumpeter, ainda que sempre implícita, esta posição
raramente é manifestada expressamente. A terceira razão seria identificada pelas teorias de
análise burocrática do processo de tomada de decisão em política externa: o sigilo decorreria
da concorrência entre núcleos burocráticos pelo domínio da política externa, mesmo em
reuniões do próprio governo, em especial, no que se refere às informações que possam
identificar as posições adotadas a interesses políticos mais transitórios não claramente
associados com uma ideia tradicional de interesse nacional.
Não surpreende portanto que a aproximação do Itamaraty com a sociedade civil
brasileira tenha sido iniciada apenas na década de 1990 por meio da organização de um
evento pela FUNAG para estabelecer um diálogo e discutir, de maneira “informal e preliminar”,
o papel das ONGs no sistema internacional e nos processos de formulação da política externa
(OLIVEIRA, 1999). Tal aproximação se deu com base numa certa desconfiança que pode ser
evidenciada na descrição do convite enviado pela FUNAG aos representantes da sociedade
civil selecionados para participar: “as ONGs atuam a partir de valores universais e a
diplomacia a partir de valores nacionais: como se conciliam?” (apud OLIVEIRA, 1999). Não
se incluem aqui as formas de participação de representantes do setor privado, em especial,
no que se refere à formação da política de comércio exterior e participação em organizações
internacionais econômicas, porque, ao contrário do que ocorre com os movimentos de defesa
de direitos o setor privado representa o “interesse nacional” e atuaria de forma bem próxima
– o que pode ser observado, por exemplo, na concessão de passaportes diplomáticos a
representantes da iniciativa privada, na organização de missões diplomáticas com sua
participação para visitas a novos mercados e na atuação próxima nos órgãos de política
comercial12 .
Pesquisas já realizadas sobre a participação do empresariado e dos sindicatos na
formulação de políticas executadas pelo Itamaraty demonstram, no entanto, que o processo
de construção dos consensos ou de convergência de interesses tem sido marcado pelo
12 Para a variedade de formas da participação deste tipo de ator no caso específico da Organização Mundial do Comércio (OMC), vide, em especial, Shaffer, Sanchez e Rosenberg (2008).

14
controle do poder da agenda e pela seleção dos interlocutores (CARVALHO, 2000;
SANTANA, 2001). Assim, a falta de institucionalização adequada dos canais de comunicação
entre sociedade civil e Estado para política externa, num cenário de ainda alto grau de
credibilidade do Itamaraty, elevado nível de capacitação de seu corpo, concentração de poder
nas mãos do Presidente da República, ausência de mecanismos de responsabilização,
permite-lhe, como defende Pinheiro (2003, p. 55-56), “criar uma imagem de crescente
desinsulamento e representatividade para a política externa brasileira sem abrir mão de sua
autonomia, ao se favorecer da inexistência de mecanismos que o tornem – mesmo que
indiretamente – responsabilizável perante os eleitores”.
O padrão pode ser observado na reação do Itamaraty tanto ao CBPEDH quanto à
proposta do GRRI de criação de um Conselho Nacional de Política Externa. Inicialmente, o
Itamaraty deu indícios de que incorporaria as sugestões em alguma medida, respondendo
com a realização de uma série de eventos (novamente) pela FUNAG intitulados “Diálogos de
Política Externa” entre fevereiro e abril de 2014, com convidados selecionados pela própria
instituição. Em novembro seguinte, recebeu também propostas por escrito. Desde então,
contudo, não houve nenhuma ação no sentido de formalizar modificações que poderiam ser
feitas por iniciativa do próprio Ministério, lembrando, por exemplo, o caso da SENALCA, que
trata de organização interna e, portanto, não depende de Lei. Em dezembro de 2015, a
Conectas apresentou, com base na Lei de Acesso à Informação, um pedido para
esclarecimento do status do documento e indicação dos prazos oficiais – a resposta obtida foi
de que o documento estava em consultas internas, sem indicação de prazos a serem
observados (CONECTAS, 2015).
4 Redifinição dos Limites do Político: do Estatismo ao Cosmopolitismo
As propostas e a atuação do CBPEDH e do GRRI requerem a desconstrução do fundamento
que justifica o afastamento da política externa da práxis democrática e do controle social,
demonstrando que demandas de controle das ações externas do Estado no contexto brasileiro
refletem uma nova percepção das formas do político no Brasil, mas ainda se encontram em
processo de mobilização para mudança do arcabouço constitucional e infraconstitucional
pertinente – como parte da estrutura do sistema internacional em que se insere.
O direito internacional, desde sua origem, foi um projeto liberal, reflexo de uma cultura
específica, a europeia, que, não obstante, pretendia-se universal por meio da edição de
normas abstratas, neutras ideologicamente e aplicáveis a todos os Estados. O formato foi
estabelecido com o objetivo de afirmar a soberania nacional tanto em âmbito interno quanto
externo do Estado nacional. Portanto, a partir do princípio de respeito mútuo pela sua

15
soberania e da suposição de que não estão subordinados a qualquer autoridade superior
nacional ou internacional foram desenvolvidos os pilares da ordem vestifaliana: a igualdade
formal dos Estados, que têm os mesmos direitos e obrigações, a não intervenção nos
assuntos internos, o consentimento como base da obrigação e a imunidade diplomática.
Como observa Jouannett (2007, p. 396 e 402), no entanto, este direito supostamente abstrato,
neutro e universal permitiu a reprodução do imperialismo europeu e a submissão das colônias
ao modelo de comunidade política e de economia presente na metrópole – a começar pela
própria imposição da forma de Estado e consequente extermínio das formas de sociabilidade
tradicionais existentes.
A partir do século XIX, esse arcabouço normativo começou a ser progressivamente
questionado13, e o modelo que reconhece o Estado como ator único no campo das relações
internacionais e de normas liberais, típico do direito do direito de coexistência passou a
coexistir com um de características diferentes. Como evidenciado por Silva (2011), as
instituições internacionais atualmente vigentes refletem uma tensão entre um arcabouço
formal baseado no princípio de que o Estado é o único ator legítimo no meio e suas normas
devem ter caráter liberal, de um lado, e uma regulação mais ampla com a inclusão de atores
não estatais e temas que requerem a intervenção do Estado na vida social, como a proteção
dos direitos humanos e do meio ambiente, de outro14. Os conflitos entre as normas dos dois
polos não poderiam ser deixados exclusivamente para a solução em mecanismos de solução
de controvérsias vigentes, porque, devido às características institucionais prevalentes, as
primeiras prevalecem sobre as segundas, no sentido contrário aos anseios sociais de
mudança. Uma resposta efetiva às demandas atualmente em jogo passa necessariamente
pela identificação de um novo paradigma de legitimidade nas relações entre os povos,
representados por seus Estados, que possa substituir o modelo antigo na fundamentação das
instituições internacionais.
13 Indicam-se, em especial, três diferentes momentos que atingiram as bases dessa estrutura (BEDJAOUI, 1991, p. 4): em primeiro lugar, o processo de independência dos países latino-americanos e a doutrina Monroe de 1823, que deram início à ampliação geográfica daquele direito predominantemente europeu; em segundo lugar, a Revolução Russa de 1917 apresentou contraponto ideológico que colocou em questão o papel do direito internacional num mundo em que coexistem regimes ideológicos opostos; e, em terceiro lugar, os países descolonizados e em desenvolvimento colocaram na agenda, na segunda metade do século XX, a questão distributiva nas relações internacionais.
14 No mesmo sentido, por exemplo, Cohen (2012, p. 3): “From a more disenchanted and critical political perspective, it seems that the organizing principle of sovereign equality with its correlatives of non-intervention, self-determination, domestic jurisdiction, consent-based customary and treaty law, is being replaced not by justice-oriented cosmopolitan law, but rather by a different bid, based on power politics, to restructure the international system.”

16
A saída para este dilema passa necessariamente pelo resgaste da ideia de
legitimidade em nossa sociedade15. A proposição básica do modelo da ética do discurso e da
teoria da democracia deliberativa (HABERMAS, 1990; BENHABIB, 1992) defende que são
válidas apenas as normas e os arranjos institucionais normativos que podem ser objeto de
comum acordo por todos os possíveis atingidos em situações especiais de argumentação
(i.e., discurso) (HABERMAS, 1990; BENHABIB, 1992, p. 29 e s.), de forma a efetivar o
princípio de que os membros que se associam uns aos outros para formar uma comunidade
política o fazem livremente para estabelecer um regime de governo no qual cada um é
considerado o autor e o destinatário das normas (BENHABIB, 2004, p. 43). Assim, apenas a
democracia poderia criar legitimidade, na medida em que “os direitos subjetivos que garantem
a autonomia privada, cuja substância é própria dos direitos humanos fundamentados
moralmente, se constituem como condições formais de possibilidade da autonomia pública”
(REPA, 2013, p. 111).
Isso implicaria um sistema com categorias de direitos fundamentais que determinam
o status das pessoas de direito (garantindo sua autonomia privada, por meio do
reconhecimento mútuo de destinatários da lei), atribuem-lhe a condição de cidadãos (isto é,
autores da própria ordem jurídica, portanto, garantindo sua autonomia pública) e as condições
materiais para o exercício de sua autonomia (por meio dos direitos sociais) (REPA, 2013, p.
113-114). A legitimidade do poder soberano foi fundamentada no respeito aos direitos
15 Não apenas a diferença efetiva de representação entre Estados que se propõem formalmente iguais (como no caso da concessão de poder de veto a apenas cinco membros do Conselho de Segurança, em relação a um total de 193 membros), mas também o déficit de legitimidade democrática em relação aos indivíduos tornaram-se fundamento de críticas. Em trabalhos recentes, tanto Held (1995) quanto Held e Archibugi (1995) e Habermas (2001) assinalam o déficit de legitimidade aberto pelos efeitos diversos da globalização, ao verificar um contingente cada vez maior de pessoas afetadas por ações cuja formulação não conta com sua participação. Além de colocar em debate o quanto a configuração territorial das unidades nacionais continua adequada a responder aos novos dilemas que se apresentam (HABERMAS, 2001), o próprio desenho institucional mais adequado para canalizar e dirimir os conflitos atuais passou a ser analisado com base, agora, na ideia de uma democracia cosmopolita (HELD, 1995; ARCHIBUGI, 2004). Ao mesmo tempo, o afloramento e a intensificação de movimentos sociais que se organizam em torno de questões regionais ou globais, para além das fronteiras nacionais, inspiram o surgimento de uma nova configuração social mundial, de uma de uma “esfera pública global”, de uma “sociedade civil internacional” (COHEN, 2003), e de uma “globalização a partir de baixo” (FALK, 1997). Também com base na modelo do Estado nacional, o rearranjo político global passou a ser visto em termos de uma nova constitucionalização transnacional (NEVES, 2009; FISCHER-LESCANO, 2004). Embora a constituição seja um elemento das comunidades políticas organizadas na forma de Estado, esses autores apresentam uma nova normatividade não mais orientada em função das comunidades políticas, mas em função da conexão entre esferas funcionais da sociedade mundial, descartando a lógica hierárquica e unitária. Mesma razão pela qual são críticos, como o faz, por exemplo, Cohen (2012).

17
humanos de uma comunidade política específica, não obstante a pretensão de universalidade
desses mesmos direitos (BENHABIB, 2004, p. 44).
Esta tensão na composição da legitimidade do Estado moderno se deriva da não
efetivação por completo do processo de democratização e de regulação do poder soberano,
ao reconhecer como sujeitos morais apenas os nacionais de uma mesma comunidade
política, e que as demandas atuais de regulação da ação externa do Estado nacional são um
desenvolvimento tardio do processo de democratização que se iniciou com o movimento
constitucionalista, mas se restringiu apenas à face do poder dirigida a seus próprios cidadãos
e não logrou regular o poder com relação a quem não faz parte do mesma comunidade (o
“outro” político). Portanto, a regulação da ação do Estado perante esses “outros” envolve
necessariamente a redefinição dos limites do político em nossa sociedade.
Por um lado, tal redefinição já podia ser observada pela reação dos Estados aos
atuais movimentos migratórios. Como observado por Benhabib (2004), a experiência das
migrações transnacionais coloca em questão os direitos de indivíduos enquanto, não
membros de uma comunidade política, mas seres humanos. O fenômeno, como observa a
autora, traria para o centro do debate aquela tensão na base da legitimidade do Estado
enquanto uma comunidade soberana fundamentada em princípios de direitos universais e
requer, em sua visão, a definição de questões não apenas redistributivas, mas de
reconhecimento, ou da justa composição de uma comunidade política.
Por outro lado, as propostas da sociedade civil brasileira para disputa do processo
decisório em política externa evidenciam um outro aspecto daquela mesma redefinição: sem
sair do próprio Estado, buscam uma organização e distribuição do exercício do poder
condizente com os imperativos atuais de legitimidade democrática, porque a política externa
não é mais (se algum dia o foi efetivamente) vista e aceita como algo que escape do controle
democrático. Nesse sentido, fui alertada por uma das entrevistadas, ao final da entrevistas,
que não deveria apresentar minha pesquisa para as demais como uma investigação do
controle da política externa, porque sua primeira reação ao ver minha apresentação foi de
negar que ela tivesse qualquer ação nesse sentido, o que ela faz, e o que os demais fazem,
é promover e defender direitos de pessoas oprimidas, em todas as esferas possíveis de
defesa.
Não mais se sustentam, portanto, declarações como as do Ministro interino de
Relações Exteriores no Brasil em 2016 de que a política externa brasileira deve ser uma
política de estado – o que as experiências descritas acima indicam é que passamos por uma
revolução normativa que deverá ser refletida nas instituições sociais (entre as quais, as
jurídicas), se é para sermos chamados de democracia.

18
Referências bibliográficas [falta completar]
ALMEIDA, Paulo Roberto. A Estrutura Constitucional das Relações Internacionais e o Sistema Político Brasileiro. Contexto Internacional, v. 12, p. 53-69, 1990. AMORIM, Celso. Entrevista à revista Desafios ao Desenvolvimento. Brasília: IPEA, 2010. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content& view=article&id=6458>. ARON, Raymond. Paz e Guerra entre as Nações. Brasília: IPRI, UNB, 2002. BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1995. BEDJAOUI, Mohammed. Droit international : bilan et perspectives. t. I. Paris : Pedone, 1991. BENHABIB, Seyla. Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics. Nova Iorque: Routledge, 1992. ______. The Rights of Others: aliens, residentes, and citizens. Cambridge: CUP, 2004. CARDOSO, Evorah. L. C. . Ciclo de vida do litígio estratégico no Sistema Interamericano de Direitos Humanos: dificuldades e oportunidades para atores não-estatais. Revista Electrónica (Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja), v. V, p. 363-378, 2011. CASON, Jeffrey W.; POWER, Timothy J. . Presidentialization, Pluralization, and the Rollback of Itamaraty: Explaining Change in Brazilian Foreign Policy Making in the Cardoso-Lula Era. International Political Science Review, v. 30, n. 2, p. 117-140, 2009. CBPEDH [COMITÊ BRASILEIRO DE POLÍTICA EXTERNA E DIREITOS HUMANOS]. Carta de Princípios. 2005. Disponível em: < http://dhpoliticaexterna.org.br/?page_id=127>. Acesso em: 20.jul.2016. ______. "Ministro, eu #QueroSaber": Senado ecoa questões da Conectas e Patriota promete maior interlocução. 01.abr.2013. Disponível em: <http://www.conectas.org/pt/acoes/politica-externa/noticia/ministro-eu-querosaber>. Acesso em: 20.jul.2016. ______. CBDHPE cobra informações sobre o Livro Branco da Política Externa Brasileira. 26.set.2014a. Disponível em: < http://dhpoliticaexterna.org.br/?p=485>. Acesso em: 20.jul.2016. ______. Participando da política externa: População sugeriu temas a deputados. 11.nov.2014b. Disponível em: <http://www.conectas.org/pt/acoes/politica-externa/noticia/26523-participando-da-politica-externa>. Acesso em: 20.jul.2016. COHEN, Jean. . Sociedade civil e globalização: repensando categorias. Dados – Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 46, n. 3, p. 419-459, 2003. ______. Globalization and Sovereignty: rethinking legality, legitimacy, and constitucionalismo. Cambridge: CUP, 2012.

19
CONECTAS. Três anos da Lei de Acesso à Informação: em seminário, organizações cobram maior transparência do Itamaraty. 19.maio.2015. Disponível em: <http://www.conectas.org/pt/acoes/politica-externa/noticia/40040-tres-anos-da-lei-de-acesso-a-informacao>. Acesso em: 20.jul.2016. DINIZ, Simone (org.). Política Externa e o Poder Legislativo no Brasil pós-redemocratização. São Paulo: EdUFSCAR, 2014. FALK, Richard. Resisting 'globalisation-from-above' through 'globalisation-from-below'. New Political Economy, v. 2, n. 1, 1997, p. 17-24. FARES, Seme Taleb. Democratização da Política Externa Brasileira: O papel do legislativo. Dissertação (Mestrado em Gestão Legislativa) – Universidade de Brasília, 2005. 86 p. FARIAS, Rogerio Souza. O Brasil e o GATT - (1973-1993): Unidades Decisórias e Política Externa. Curitiba: Juruá, 2009. FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías: la ley del más débil. 7 ed. Madrid: Editorial Trotta, [1994] 2010. Capítulo 5, tradução de: Andrea Greppi. FIGUEIRA, Ariane Roder. Introdução à Análise da Política Externa. São Paulo: Saraiva, 2011. FISCHER-LESCANO, Andreas ; TEUBNER, Gunther. Regime-Collisions: The Vain Search For Legal Unity In The Fragmentation Of Global Law. Michigan Journal of International Law, v. 25, 2004, 999-1046. GIBBs, D. N.. Secrecy and International Relations. Journal of Peace Research, v. 32, n. 2, 1995, p. 220 GRRI [GRUPO DE REFLEXÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS]. Conferência Nacional “2003 – 2013: Uma nova política externa”. 24.abr.2013a. Disponível em: <http://brasilnomundo.org.br/tag/conferencia-nacional-2003-2013-uma-nova-politica-externa/>. Acesso em: 20.jul.2016. ______. Pela criação de um órgão institucional permanente de consulta, participação e diálogo sobre a Política Externa Brasileira. 16.jul.2013b. Disponível em: <http://brasilnomundo.org.br/comunicados-gr-ri/pela-criacao-de-um-orgao-institucional-permanente-de-consulta-participacao-e-dialogo-sobre-a-politica-externa-brasileira/>. Acesso em: 20.jul.2016. ______. Relatório sobre a Conferência Nacional: 2003-2013 Uma Nova Política Externa. São Bernardo do Campo, 2013c. Disponível em: <http://www.conferenciapoliticaexterna.org.br/index.php/2013-05-14-20-19-34 >. Acesso em: 20.jul.2016. ______. A criação do Conselho Nacional de Política Externa fortalece o Itamaraty e consolida a inserção soberana do Brasil no Mundo. 10.set.2014a. Disponível em: <http://brasilnomundo.org.br/comunicados-gr-ri/a-criacao-do-conselho-nacional-de-politica-externa-fortalece-o-itamaraty-e-consolida-a-insercao-soberana-do-brasil-no-mundo/>. Acesso em: 20.jul.2016. ______. Carta Aberta à Excelentíssima Presidenta Dilma Rousseff. 15.dez.2014b. Disponível em: <http://brasilnomundo.org.br/comunicados-gr-ri/carta-aberta-a-excelentissima-presidenta-dilma-rousseff/>. Acesso em: 20.jul.2016.

20
HABERMAS, Jürgen. Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge: MIT Press, 1990. ______. The postnational constellation. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2001. HELD, David. Democracy and the global order. Stanford: Stanford University Press, 1995. ______; ARCHIBUGI, D. (eds). Cosmopolitan democracy. Cambridge: Polity, 1995. HENKIN, Louis. Constitutionalism, democracy, and foreign affairs. New York, Oxford: Columbia University Press, 1990. HONNETH, Axel. El derecho de la libertad: esbozo de una eticidad democrática. Trad.: Graciela Calderón. Madrid: Clave Intelectual, 2014. JOUANETT, Emmanuelle. Universalism and Imperialism: The True-False Paradox of International Law? European Journal of International Law, v. 18, n. 3, 2007, p. 379-407. LAFER, Celso. A identidade internacional do Brasil e a política externa brasileira: passado, presente e futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001. ______. Participação ampla na formulação de posições de negociação e de políticas internacionais. Pontes entre o Comércio e o Desenvolvimento Sustentável, v. 1, n. 0, p. 1, 2004. LAMPREIA, Luiz Felipe. Entrevista ao jornal O Globo. Rio de Janeiro, 19.out.1999. LIMA, Maria Regina Soares de. O Legislativo e a Política Externa. In: REBELO, Aldo; FERNANDES, Luis; CARDIM, Carlos Henrique (orgs.). Seminário Política Externa do Brasil para o Século XXI. Brasília: Centro de Documentação e Informação/Coordenação de Publicações, 2003, p. 41-52. ______; SANTOS, Fabiano. O Congresso e a Política de Comércio Exterior. Lua Nova, n. 52, 2001, p. 121-149. LOPES, Dawisson Belém. A política externa brasileira e a “circunstância democrática”: do silêncio respeitoso à politização ruidosa. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 54, n. 1, p. 67-86, 2011. ______. Política Externa e Democracia no Brasil. São Paulo: UNESP, 2013. MAIA, Clarita Costa; CESAR, Susan Elizabeth Martins. A Diplomacia Congressual: análise comparativa do papel dos legislativos brasileiro e norte-americano na formulação da política exterior. Revista de Informação Legislativa, v. 41, n. 163, 2004, p. 363-388. MEARSHEIMER, John. The Tragedy of Great Power Politics. Nova Iorque: Norton, 2001. MILANI, Carlos R. S. . Atores e Agendas no Campo da Política Externa Brasileira de Direitos Humanos. In: PINHEIRO, Leticia; MILANI, Carlos (orgs.). Política externa brasileira: as práticas da política e a política das práticas. Rio de Janeiro: FGV, 2012, p. 33-70. MORGENTHAU, Hans. Politics Among Nations. New York: Knopf, 1948. NEVES, Marcelo. Transconstucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

21
NEVES, Raphael; LUBENOW, Jorge. Entre Promessas e Desenganos: lutas sociais, esfera pública e direito. In: NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo (orgs.). Direito e Democracia: um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 249-267. OLIVEIRA, Amâncio Jorge. Legislativo e Política Externa: das (in)conveniências da abdicação. Working Papers Caeni, n. 3, 2003. ONU. Report of the Panel of Eminent Persons on United Nations-Civil Society Relations, We the peoples: civil society, the United Nations and global governance (A/58/817). Aprovado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 11 de junho de 2004. Nova Iorque: 2004. Disponível em: http://www.unric.org/en/unric-library/29050. Acesso em: 09.nov. 2015. PINHEIRO, Letícia. Os Véus da Transparência: Política Externa e Democracia no Braisl. In: REBELO, Aldo; FERNANDES, Luis; CARDIM, Carlos Henrique (orgs.). Seminário Política Externa do Brasil para o Século XXI. Brasília: Centro de Documentação e Informação/Coordenação de Publicações, 2003, p. 53-73. RABELO, Ana Maria Prestes. Três estrelas do sul global: o fórum social mundial em Mumbai,Nairóbi e Belém. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, 2011. RATTON, Michelle S.; SILVA, Elaini C. G.. Política externa como política pública: uma análise pela regulamentação constitucional brasileira. São Paulo: USP, 2006. [mimeo]. REPA, Luiz. A Cooriginariedade Entre Direitos Humanos e Soberania Popular: a crítica de Habermas a Kant e Rousseau. Trans/Form/Ação, v. 36, . 103-120, 2013, edição especial. REUTER, Paul. Introductin au Droit des Traites. Paris: PUF, 1995. RICUPERO, Rubens. À sombra de Charles de Gaulle: uma diplomacia carismática e intransferível - A política externa do governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010). Novos Estudos, vol. 87, 2010, p. 35-58. ROCHA, Jean Paul C. Veiga da. Separação dos Poderes e Democracia Deliberativa. In: NOBRE, Marcos; TERRA, Ricardo (orgs.). Direito e Democracia: um guia de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 173-197. RODAS, João Grandino. Alguns Problemas de Direito dos Tratados, Relacionados com o Direito Constitucional à luz da Convenção de Viena. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, 1972. SCHMITT, Carl. O Conceito do Político/Teoria do Partisan. Belo Horizonte: DelRey, 2009. Tradução: Geraldo de Carvalho. SHAFER, Gregory; SANCHEZ, Michelle R.; ROSENBERG, Barbara. The Trials of Winning at the WTO: What Lies Behind Brazil’s Success. Cornell International Law Journal, vol. 41, n. 2, 2008, p. 383-501. SIDOU, J. M. Othon. O Controle dos Atos Internacionais pelo Poder Legislativo: apontamentos de direito constitucional internacional. SILVA, E. C. G. . A Expansão do Direito Internacional: uma Questão de Valores. Tese (Doutorado em Direito Internacional) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 299 f. : fig.

22
______. Direito internacional em expansão: encruzilhada entre comércio internacional, direitos humanos e meio ambiente. São Paulo : Saraiva, 2015. ______; SPECIE, P.; VITALE, D. R.. Um novo arranjo institucional para a política externa brasileira. Textos para Discussão CEPAL - IPEA, v. 3, 2010. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs_Ipea_Cepal/tdcepal_003. pdf>. Acesso em: 04 nov. 2014. TAVARES, Ricardo Neiva. As organizações não-governamentais nas Nações Unidas. Brasília: Instituto Rio Branco; Fundação Alexandre Gusmão; Centro de Estudos Estratégicos, 1999. VITALE, Denise; SPÉCIE, Priscila; MENDES, José S. R.. Democracia Global: a sociedade civil do Brasil, da Índia e África do Sul na Formulação da Política Externa Ambiental de seus Países. Revista de Gestão Social e Ambiental, v. 3, n. 2, 2009. VOIROL, Olivier. Teoria Crítica e Pesquisa Social. Novos Estudos, n. 93, 2012, p. 81-99. WALTZ, Kenneth. Man, The State, And War. Nova Iorque: Columbia University Press, 1959. Apêndice 1 – Lista de entrevistas
Organizações com incidência direta
Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) –
área: mulheres);
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas
(CONAQ) - área: quilombolas;
Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI-MT) - área: trabalhadores rurais;
Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) - área: direitos sociais;
Instituto Socioambiental (ISA) - área: indígenas;
União Brasileira de Mulheres (UBM) - área: mulheres;
União de Negros pela Igualdade (UNEGRO-DF) - área: negros;
União de Negros pela Igualdade (UNEGRO-MT) - área: negros;
União Nacional dos Estudantes (UNE) - área:estudantes.
Coordenações de ação conjunta
Associação Brasileira de Associações Não Governamentais (ABONG)
Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos (CBPEDH)
Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (FBOMS)
Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP)