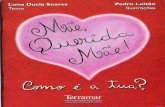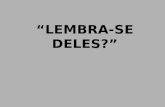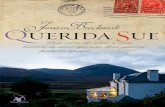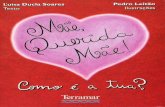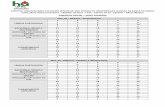PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO …...lembram todos os dias que posso ser sempre melhor...
Transcript of PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO …...lembram todos os dias que posso ser sempre melhor...

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP
Leonardo Monteiro Xexéo
OS IMPACTOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO NA CAPACIDADE
NEGOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Mestrado em Direito
São Paulo
2019

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP
Leonardo Monteiro Xexéo
OS IMPACTOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO NA CAPACIDADE
NEGOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Mestrado em Direito
Dissertação apresentada à Banca
Examinadora da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo,
como exigência parcial para obtenção
do título de Mestre em Direito, sob a
orientação do Prof. Dr. Mairan
Gonçalves Maia Júnior.
São Paulo
2019

Banca Examinadora
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Dedico este trabalho àqueles que tiveram
seu tempo furtado para que eu pudesse
realizar um sonho há muito tempo sonhado
e cuja realização parecia ser impossível de
se alcançar.
À Isabel, esposa amada e companheira leal
de todos os momentos.
À André e Adriano, filhos amados que me
lembram todos os dias que posso ser
sempre melhor do que ontem.
À querida amiga Inês Polydoro, exemplo de
carinho e cuidado, grande incentivadora do
mestrado, mas que não conseguiu ver a
conclusão desse trabalho.

Gratidão é o reconhecimento de uma
pessoa que lhe prestou um benefício, e há
muitas que preciso agradecer.
Ao Professor Mairan, que me acolheu e
acreditou em mim durante a graduação, em
um momento em que quase ninguém mais o
fazia. Exemplo de mestre educador, que me
inspirou a ser professor. Agradeço ao
reencontro acadêmico, que em uma aula
rendeu mais do que em anos de estudo.
Ao irmão de caminhada Guga, por me
convencer a realizar um sonho esquecido, e
que me acompanhou madrugadas adentro
rumo ao mestrado.
À Professora Rosa, pela demonstração do
amor à matéria que nos fazia querer mais.
Aos amigos que fiz durante o mestrado: a
Turma de Metodologia, de Filosofia, à de
Direito Civil e os agregados que a nós se
juntaram.
À amiga e “chefe” Neusa, que deu todas as
oportunidades para que eu pudesse fazer os
créditos e escrever esta dissertação.
Às Instituições que tenho orgulho de fazer
parte e que incentivaram a fazer o mestrado:
Universidade de Taubaté e Advocacia Geral
da União.
À minha família que sempre me apoiou,
mesmo sendo o único que seguiu o caminho
do Direito.
E à família que formei: os queridos iniciados,
representados pelos nossos mestres Bruno
e Patrícia, que deram o ânimo necessário
para que eu perseguisse o meu propósito
inabalável, sem esmorecer, às minhas
tutoras de vida, Aline e Cássia e ao meu
coach irmão, Artur, que me lembrou de meu
propósito inabalável.

"Deficiente" é aquele que não consegue
modificar sua vida, aceitando as imposições
de outras pessoas ou da sociedade em que
vive, sem ter consciência de que é dono do
seu destino.
"Louco" é quem não procura ser feliz.
"Cego" é aquele que não vê seu próximo
morrer de frio, de fome, de miséria.
"Surdo" é aquele que não tem tempo de
ouvir um desabafo de um amigo, ou o apelo
de um irmão.
"Mudo" é aquele que não consegue falar o
que sente e se esconde por trás da máscara
da hipocrisia.
"Paralítico" é quem não consegue andar na
direção daqueles que precisam de sua
ajuda.
"Diabético" é quem não consegue ser doce.
"Anão" é quem não sabe deixar o amor
crescer.
E "Miserável" somos todos que não
conseguimos falar com Deus.
Renata Vilella

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar os efeitos da Lei Brasileira de
Inclusão na capacidade negocial da pessoa com deficiência. O estudo é iniciado com
o questionamento sobre a existência ou não de microssistema próprio para tutela dos
direitos das pessoas por deficiência. Para esta finalidade parte das lições de Niklas
Luhmann. Com o resultado dessa investigação, verificar-se-á os impactos dessa
constatação no ordenamento jurídico, especialmente nos institutos da personalidade,
da capacidade e incapacidade, que foram alterados pela edição da Lei nº 13.146, de
2015. O foco reside no exame da alteração do sistema de incapacidades, com a
inclusão do respeito da vontade da pessoa, e seus impactos nos negócios jurídicos
praticados pela pessoa com deficiência mental ou intelectual.
PALAVRAS-CHAVE: Pessoas com Deficiência. Capacidade negocial. Declaração de
vontade.

ABSTRACT
The present study aims to analyze the effects of the Brazilian Inclusion Law on
the negotiation capacity of the disabled person. The study starts with the questioning
of whether or not a micro system is in place to protect the rights of people with
disabilities. For this purpose part of the lessons of Niklas Luhmann. With the result of
this investigation, the impact of this finding in the legal system will be verified,
especially in the institutes of the personality, of the capacity and incapacity, that were
modified by the edition of Law nº 13,146, of 2015. The focus resides in the examination
of the alteration of the disability system, with the inclusion of respect for the person's
will, and its impact on the legal business practiced by the mentally or intellectually
disabled person.
KEY WORDS: People with Disabilities. Business capacity. Declaration of will.

SUMÁRIO
Introdução ....................................................................................................... 12
1 O Direito como Sistema ............................................................................... 15
1.1 Proteção legal da pessoa com deficiência ............................................ 15
1.2 A Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann ........................................... 17
1.3 Construção da autorreferencialidade .................................................... 19
1.4 A autopoiese dos sistemas ................................................................... 21
1.5 O Direito como sistema social ............................................................... 23
1.6 Microssistema jurídico de tutela das pessoas com deficiência ............. 28
2 Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) ................ 33
2.1 Contexto ................................................................................................ 33
2.2 Finalidade .............................................................................................. 37
2.3 Estrutura da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ...... 37
2.4 O reconhecimento da igualdade perante a lei ....................................... 41
2.5 O reconhecimento da igualdade no Direito Comparado ........................ 45
2.6 Deficiência ............................................................................................. 50
2.7 Grave enfermidade ................................................................................ 55
2.8 Barreiras jurídicas ................................................................................. 57
3 Capacidade Jurídica das Pessoas Naturais ................................................ 59
3.1 Conceito de Pessoa Natural e de Personalidade .................................. 59
3.2 Conceito de capacidade ........................................................................ 63
3.3 Presunção de capacidade ..................................................................... 64
3.4 Espécies de capacidade ....................................................................... 65
3.5 Incapacidade ......................................................................................... 67
3.5.1 Conceito de incapacidade .............................................................. 67
3.5.2 Causas de incapacidade ................................................................ 69

3.5.3 Espécies de incapacidade .............................................................. 73
3.6 Liberdade e autonomia privada ............................................................. 75
4 Ato jurídico ................................................................................................... 78
4.1 Conceito de vontade ............................................................................. 78
4.2 A vontade como formadora dos fatos humanos lícitos .......................... 80
4.3 Ato jurídico em sentido amplo e suas espécies .................................... 81
4.3.1 Ato-Fato Jurídico ............................................................................ 83
4.3.2 Ato Jurídico em Sentido Estrito ....................................................... 86
4.3.3 Negócio Jurídico ............................................................................. 88
4.4 Existência, Validade e Eficácia dos negócios jurídicos ......................... 91
4.5 A Declaração da Vontade na formação dos negócios jurídicos ............ 93
5 O novo sistema de incapacidades e seus reflexos nos negócios jurídicos
praticados pela pessoa com deficiência mental ou intelectual .................................. 97
5.1 A autodeterminação da Pessoa Natural ................................................ 98
5.2 A plena capacidade civil da pessoa com deficiência ........................... 101
5.3 Discernimento X Vontade .................................................................... 106
5.4 Autodeterminação da pessoa com deficiência .................................... 112
5.5 Auxílios para formação e para a emissão de declaração de vontade . 115
5.5.1 Tomada de decisão apoiada......................................................... 117
5.5.2 Curatela ........................................................................................ 125
5.5.3 Interdição ...................................................................................... 127
5.6 A vontade da pessoa com deficiência mental ou intelectual e seus
reflexos na capacidade negocial .......................................................................... 129
5.7 A interpretação do negócio jurídico celebrado pela pessoa com
deficiência mental ou intelectual .......................................................................... 134
5.8 Aplicação do princípio da boa-fé objetiva aos negócios jurídicos
celebrados pela pessoa com deficiência mental ou intelectual............................ 137

5.9 Averiguação dos defeitos dos negócios jurídicos celebrados pela pessoa
com deficiência mental ou intelectual .................................................................. 138
5.10 Tutela diferenciada da pessoa com deficiência mental ou intelectual
............................................................................................................................. 139
6 CONCLUSÃO ............................................................................................ 142
REFERÊNCIAS ............................................................................................ 147

12
Introdução
“A verdadeira deficiência é aquela que prende o ser humano por dentro e não por fora, pois até os incapacitados de andar podem ser livres para voar”. Thaís Moraes
O resultado do CENSO de 2010 com relação às pessoas com deficiência foi
impactante: 23,9% da população brasileira declarou possuir algum tipo de deficiência,
pelo menos em grau mínimo.
Isso significa mais de 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência
residindo em território nacional no ano de 2010. Esse número foi surpreendente
porque no CENSO anterior, realizado em 2000, o percentual era de 14,5%, com 24,6
milhões de pessoas com deficiência.
Em uma década o número absoluto de pessoas com deficiência quase dobrou.
Mas não só: seu percentual sobre o total da população também aumentou
consideravelmente, em quase dez pontos percentuais.
Segundo a Cartilha do CENSO 2010 sobre pessoas com deficiência, esse
acréscimo de mais de dez pontos percentuais pode ser consequência das mudanças
no método de investigação, que é reflexo da evolução do próprio conceito de pessoa
com deficiência.
Não obstante a alteração da sistemática de investigação, esses números
servem para mostrar a importância do tema para a análise do Direito, já que abarca –
segundo o IBGE – quase um quarto da população brasileira.
Dessa gama de pessoas com deficiência outro número merece destaque: 1,4%
do total da população nacional, em 2010, possuía algum tipo de deficiência mental ou
intelectual, o que corresponde a quase 2,6 milhões de pessoas.
Só para trazer uma forma de comparação, segundo o CENSO de 2010, a
população de Brasília era de 2,6 milhões de pessoas. Seria como se a capital do Poder
Nacional fosse habitada exclusivamente por pessoas com algum grau de deficiência
mental ou intelectual.
Quando se pensa na pessoa com deficiência, a exclusão da vida em sociedade
é, infelizmente, a realidade que deve ser combatida. Há obstáculos – físicos, jurídicos

13
e sociais – que impedem a sua plena participação na sociedade em igualdade de
condições com as pessoas sem deficiência. Mas a exclusão da pessoa com
deficiência mental ou intelectual é ainda mais grave, já que ela era vista pelo direito
quase como uma coisa, que não possuía vontade a ser considerada.
Essa abordagem excludente não era, apenas, do Direito. O CENSO de 2010
apontou que cerca de 52,8% das pessoas com deficiência com mais de 5 anos de
idade eram alfabetizadas. A título de comparação, essa taxa de alfabetização era de
92,1% para as pessoas sem deficiência com mais de 5 anos de idade.
Os resultados apresentados pelo CENSO de 2010 só demonstraram a
necessidade de se alterar completamente a forma que a pessoa com deficiência era
vista, especialmente a com deficiência mental ou intelectual.
O presente trabalho busca discorrer sobre a tutela legal das pessoas com
deficiência, à luz da teoria dos sistemas sociais para verificar se há ou não a
configuração de um microssistema jurídico de tutela das pessoas com deficiência.
Isso porque, caso configurada a presença de microssistema jurídico, haverá o
necessário reconhecimento de institutos próprios e a ressignificação de determinados
conceitos.
Como o foco é a pessoa com deficiência, é necessário a conceituação de
pessoa e de capacidade, bem como estudar as causas que geram incapacidade. Isto
porque a legislação em vigor alterou completamente o sistema de incapacidades até
então consagrado, reconhecendo a capacidade civil da pessoa com deficiência.
A ênfase do estudo reside na capacidade negocial da pessoa com deficiência
mental ou intelectual. Para se chegar a esse ponto, se abordará a vontade das
pessoas e os seus impactos nos atos jurídicos. Analisar-se-á, então, as espécies de
atos jurídicos em sentido amplo, e, detidamente, o negócio jurídico, bem como o papel
da declaração da vontade na sua formação.
Firmados os conceitos necessários, passar-se-á para o exame do conceito
moderno de deficiência, suas espécies e os elementos que o compõe. Retomar-se-á
a discussão acerca da capacidade civil da pessoa com deficiência, a possibilidade de,
mesmo com impedimento de natureza mental ou intelectual, autodeterminar-se.
Após, o trabalho observará se a vontade da pessoa com deficiência mental ou
intelectual é externada conscientemente, avaliando o instituto da tomada de decisão

14
apoiada, introduzido como instrumento jurídico no sistema de proteção de
incapacidades do Código Civil.
Por derradeiro, buscar-se-á explorar os reflexos da vontade da pessoa com
deficiência mental ou intelectual na sua capacidade negocial, discutindo se sua
autonomia pode ser limitada.

15
1 O Direito como Sistema
Achar em tudo desordem é prova de supina ignorância; descobrir ordem e sistema em tudo é demonstração de profundo saber. Marquês de Maricá
1.1 Proteção legal da pessoa com deficiência
A proteção legal das pessoas com deficiência cresceu muito nos últimos anos.
Isso fica claro pela própria nomenclatura utilizada para defini-las. No Século XX era
comum ver as expressões “inválido”, “incapacitado”, “defeituoso” ou “excepcional”
para definir a pessoa com deficiência.
Apenas a partir de 1971 é que o termo “deficiente” passou a ser amplamente
utilizado, com a promulgação pela Organização das Nações Unidas da Declaração de
Direitos do Deficiente Mental, que foi seguida pela Declaração dos Direitos das
Pessoas Deficientes, de 19751.
O termo “deficiente” foi substituído por “portador de deficiência”, visando trazer
maior dignidade à pessoa. Hoje é utilizada a expressão pessoa com deficiência, uma
vez que a deficiência não se porta; ela é intrínseca à pessoa.
A evolução da tutela legal da pessoa com deficiência também seguiu essa
ideia. Iniciou-se de forma tímida, até mesmo discriminatória. O Código Civil de 1916
não previa, expressamente, a figura da pessoa com deficiência, mas afirmava serem
absolutamente incapazes os loucos de todo o gênero2.
Essa discriminação é clara, por exemplo, no texto da Consolidação das Leis do
Trabalho, após a alteração operada pela Lei nº 5.798, de 1972, que incluiu o parágrafo
4º, no artigo 461, afirmando que a pessoa com deficiência mental ou intelectual não
servia de parâmetro para fins de equiparação salarial, ou seja, previa que o trabalho
1 Logo após, a Organização das Nações Unidas proclamou o ano de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, com a lema de “Participação Plena e Igualdade”. Como resultado direto dessa ação, foi criado no âmbito da ONU o Programa Mundial de Ação para as pessoas com deficiência, declarando o período entre os anos de 1983 e 1993 como sendo a Década Internacional das pessoas deficientes. 2 Art. 5º, III, Código Civil de 1916, Lei nº 3.071.

16
da pessoa com deficiência não possuía a mesma perfeição técnica ou a mesma
produtividade3.
A Constituição Federal de 1988 é marco na tutela das pessoas com deficiência,
trazendo em seu corpo vários dispositivos com direitos específicos a esse grupo. O
constituinte incluiu na competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios a “proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência"4, além
de prever na competência concorrente da União e dos Estados a “proteção e
integração social das pessoas portadoras de deficiência”5.
O sistema constitucional brasileiro de proteção da pessoa com deficiência
aumentou com a promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, através do Decreto nº 6.949, de
2009. Ressalte-se que essa convenção internacional é a única – até a presente data
– que versa sobre direitos humanos e que foi aprovada nos moldes do artigo 5º, § 3º,
da Constituição Federal, possuindo, portanto, status de emenda constitucional6.
É inegável que o legislador teve preocupação em garantir direitos mínimos às
pessoas com deficiência, mas esses direitos estavam previstos em legislações
esparsas. Não havia um conjunto, uma aglutinação em torno de um texto uniforme e
coeso.
Em janeiro de 2016 entrou em vigor a Lei nº 13,146, de 2015, que institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – o Estatuto da Pessoa com
Deficiência.
3 É o que se extrai da leitura do referido artigo da CLT, especialmente o conceito de trabalho equivalente: “Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. “§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a dois anos. “§ 2º Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento. “§ 3º No caso do parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por antiguidade, dentro de cada categoria profissional. “§ 4º O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial”. 4 CRFB, art. 22, II. 5 CRFB, art. 24, XIV. 6 CRFB, art. 5º § 3º: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.

17
Com a promulgação deste Estatuto se inicia a discussão acerca da
consagração de microssistema legal de tutela das pessoas com deficiência.
Ocorre que, para se examinar se há ou não microssistema, é imperativo
conceituar sistema jurídico, os requisitos de sua constituição e as consequências de
sua existência.
Só então é possível perquirir se há microssistema legal de tutela das pessoas
com deficiência e quais seriam os desdobramentos decorrentes dessa conclusão.
É justamente o que se buscará traçar no presente capítulo.
1.2 A Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann
Niklas Luhmann era um sociólogo alemão que questionava as soluções
trazidas pela sociologia clássica e contemporânea para explicar as relações sociais78.
Traçou sua própria teoria sociológica, cujo ponto de partida é a noção de sistema.
Como alertam RODRIGUES e NEVES (2017, p. 18-19), deve-se compreender
antes de tudo quais são as características do sistema luhmanniano:
“A dimensão interdisciplinar em que Luhmann se aventura não é por acaso, visto que a noção de sistema, desde o início da ciência moderna, tem servido de substrato para a descrição de toda a sorte de fenômenos científicos, de modo interdisciplinar... Foi exatamente este uso tão ‘democrático’ da noção de sistema, pela ciência, que fez com que este termo fosse objeto de inúmeras reflexões, que implicaram, pode-se assim dizer, seus avanços teóricos e epistemológicos, atingindo com Luhmann, a construção de uma verdadeira teoria sistêmica. É esta teoria que vai servir de fundamento para que Luhmann proponha uma forma diferente de se olhar não apenas a sociedade, como sistema social, mas também o indivíduo, o ator social (sujeito ou agente), que assume uma posição (sistêmica) inusitada, com relação àquele proposto por toda a tradição sociológica...”.
7 GONÇALVES e BÔAS FILHO (2013, p. 20) são claros ao afirmar que Luhmann estava insatisfeito com as possibilidades trazidas tanto pela sociologia clássica, quanto pela contemporânea: “Segundo ele [Luhmann], a primeira tinha o mérito de estabelecer uma teoria geral da sociedade, mas não dispunha de material conceitual compreensivo das recentes transformações. A segunda, para captar estas transformações, fragmentara-se em diversas disciplinas empíricas – sociologia do direito, da economia, da estética, da música, do conhecimento etc. – e, em função disso, não conseguia observar a complexidade como um todo. Para superar os limites destas abordagens, Luhmann dedicou-se à construção de um modelo que reunisse as duas perspectivas: uma teoria geral da sociedade (macrossociologia) capaz de apreender a complexidade de cada esfera social (sociologias especializadas)”. 8 GIORGI (2011, p. 185) repete a crítica luhmanniana de separação entre as teorias do Direito e a sociedade: “Constatada a distância que separa a teoria do direito do seu objeto, Luhmann a explica em razão da falta de referências de realidade que caracteriza a conceitualidade metajurídica da reflexão teórica. O limite da observação sociológica derivaria do fato de que a sociologia assume, como pressuposto das suas análises, a separação entre direito e sociedade, e do fato de que essas análises estão reduzidas à descrição dos contextos causais e de motivação da ação”.

18
Justamente esse olhar diferente do indivíduo é que distingue da análise
sociológica que vigia até então. Como descrevem GONÇALVES e BÔAS FILHO
(2013, p. 24-25), para Luhmann deveria haver “a separação de sociedade (sistema
social, cuja autopoiese se opera com base na comunicação) e homem (sistema
psíquico, cuja autopoiese tem por elemento a consciência) que, nesse sentido, tornar-
se-iam ambiente (Umwelt) uma para o outro”.
Para compreender a teoria dos sistemas, Luhmann estuda o funcionalismo
estrutural descrito na obra de Talcott Parsons para o qual a ação é sistema (action is
system), já que eles não existem separadamente9.
Seria necessário, então, observar a ação, para averiguar a existência de
sistema. Para isso, Parsons acreditava existir quatro componentes básicos, com dois
eixos: um horizontal e outro vertical.
No eixo horizontal se enquadravam as duas variáveis da ação: instrumental
(meios) e consumatório (satisfação adquirida). No vertical constavam as variáveis
exterior e interior, que dizem respeito às relações para fora e para dentro do próprio
sistema.
Do cruzamento dos dois eixos haveria quatro possibilidades, que foram
consagradas pela sigla AGIL – adaptation (adaptação), goal-attainment (obtenção de
fins), integration (integração) e latent pattern-maintenance (manutenção das
estruturas latentes).
Parsons observava, então, a ação, para enquadrá-la em um dos quatro
cruzamentos possíveis, localizando-a dentro de determinado sistema. Para tanto,
recorria à figura de um observador independente, responsável pela observação
externa da ação e do sistema.
A crítica de Luhmann é ser impossível – analisando os sistemas sociais – existir
observador humano externo, uma vez que ele mesmo integraria o sistema.
9 É o que afirma Luhmann (2011, p. 42): “Em contrapartida, Parsons especificou firmemente que ação e sistema não poderiam ser compreendidos separadamente; ou, em outras palavras: a ação só é possível sob a forma de sistema. Por trás dessa formulação, revela-se o propósito de Parsons em encontrar um denominador comum entre os clássicos da disciplina sociológica: Durkheim, Weber, Marshall, Pareto. A descoberta essencial foi a de que a construção de estruturas sociais se realiza sob a forma de sistema, e a operação basal sobre a qual esse sistema se constrói é a ação. Fazendo uma observação grosseira, Parsons extrai de Weber o componente da ação, e de Durkheim, o sistêmico. Nisso se percebe também, evidentemente, que Parsons obriga Weber a admitir componentes sistêmicos, e Durkheim, aqueles correspondentes à ação”.

19
O construtivismo radical – cujos expoentes são os biólogos Humberto Maturana
e Francisco Varela – vem neste momento para dar fundamentos teóricos para a teoria
de sistema que estava sendo criada por Luhmann. Segundo GONÇALVES e BÔAS
FILHO (2013, p. 35):
“O ponto de partida do construtivismo radical é o questionamento da distinção sujeito/objeto, ‘a relação entre aquilo que se percebe e aquilo que acontece na realidade’. Esse movimento demonstra que a tentativa da ciência moderna clássica de eliminar o subjetivismo e conhecer, racionalmente, o universo objetivo não pode ser concretizada em face da complexidade da relação entre observador e observado”.
Essa relação complexa entre observador e observado – no qual ambos se
encontram dentro do mesmo ambiente – gera interferência que fica impossível
conceber a figura do observador externo. Isso porque dessa interação há mudança
da realidade, já que o observador faz parte daquilo que está sendo observado10. Há
fusão entre as figuras do objeto e do sujeito.
Dessa maneira, a percepção não é externa, mas interna ao próprio sistema. A
informação se localiza dentro do próprio sistema, só podendo ser adquirida quando é
possível agir sobre ela.
A partir desse conceito nasce a ideia de autorreferencialidade do sistema.
1.3 Construção da autorreferencialidade
Para se entender a autorreferencialidade do sistema deve-se entender que toda
a Teoria parte da noção de diferença do sistema, que permite o seu fechamento em
relação ao meio11.
10 Sobre esse tema Luhmann (2011, p. 104) discorre, dentro da Teoria dos Sistemas, acerca da causalidade. Afirma o autor que a articulação entre o binômio causa-efeito formulada por um determinado observador tem dependência direta com o seu interesse sobre o determinado objeto. Assim, ele o ordena de acordo com os seus interesses. Daí sua afirmação no sentido de que “a causalidade é uma relação seletiva estabelecida por um observador; um julgamento que resulta da observação realizada por um observador”. E conclui (2011, p. 105): “A causalidade, portanto, é sempre uma seleção que se deve atribuir a um observador com determinados interesses, com um tipo específico de estrutura de observação, e com uma capacidade bastante determinada de processar informação”. 11 Sobre a diferença existente dos sistemas, Luhmann (2011, p. 80) explica que a diferença surge de um paradoxo: o sistema seria justamente a diferença entre o sistema e o meio. O conceito de sistema existe tanto no meio quanto no próprio sistema, decorrendo deste ponto o paradoxo. Mas o sistema integra o meio, interagindo com esse (apesar de possuir um fechamento), mas se distingue do meio justamente por dele diferir. Não é meio porque é sistema. Para explicar esse paradoxo, Luhmann (2011, p. 83) cita a expressão de Gregory Bateson, o qual afirma que “a informação é a difference that makes

20
GIORGI (2011, p. 185) explica a ideia de fechamento de sistema na teoria de
Luhmann, afirmando que “aos estímulos ou aos distúrbios que provenham do
ambiente, o sistema só reage entrando em contato consigo mesmo, ativando
operações internas acionadas a partir dos elementos que constituem o próprio
sistema”.12
Para explicar a autorreferencialidade, Luhmann se utiliza das teorias sobre a
diferença no campo da matemática, mais precisamente da constante na obra The
Laws of Form de George Spencer-Brown.
Spencer-Brown parte do pressuposto que para haver a distinção deve existir a
indicação de pelo menos parte da forma. Um traço em uma folha é uma forma, a qual
separa os dois lados do papel, distinguindo-os13.
A ideia desenvolvida foi justamente que tudo se inicia com uma forma. No
princípio não há como distinguir essa forma entre referência ou observação do meio
e autorreferência do sistema. Apenas a partir dessa forma inicial que se
desencadeiam as demais operações a ponto de – no futuro – poder se afirmar que
aquela primeira forma era a autorreferência.
O ponto de partida é a forma inicial, que serve como autorreferência para todas
as operações consequentes e subsequentes que formam o sistema. Essa forma inicial
deve se diferenciar do sistema. Na expressão luhmanniana, “draw a distinction” ou
“desenhar a distinção” entre o sistema e meio14.
a difference” ou seja, a informação – no sistema da comunicação – é a diferença que cria a diferenciação entre o sistema e o meio. 1212 CAMPILONGO (Política, Sistema Jurídico e Decisão Judicial, 2011, p. 67) discorre sobre os problemas oriundos dos sistemas operacionalmente fechados: “O problema posto pela teoria dos sistemas operativamente fechados (Luhmann) é de outra ordem. A questão é saber que tipo de operação interna capacita um sistema a formar uma rede que autorreproduz seus elementos, que se coliga a informações autogeradas pelo sistema e que é capaz de distinguir suas necessidades internas daquilo que vê como problemas de ambiente. O funcionalismo tradicional (Parsons) considera o sistema social como um todo composto por partes funcionalmente dispostas, de modo a manter o equilíbrio estável do sistema. O funcionalismo de Luhmann, ao contrário, parte da distinção sistema/ambiente para colocar como problema central a questão da rede de operações que permite ou interrompe a reprodução dos elementos internos do sistema (ou o seu fechamento operacional)”. 13 Nas palavras de Luhmann (2011, p. 86): “Indicar é, simultaneamente, distinguir, assim como distinguir é, ao mesmo tempo, indicar. Cada parte da forma é, portanto, a outra parte da outra. Nenhuma parte é algo em si mesma; e se atualiza unicamente pelo fato de que se indica essa parte, e não a outra. Nesse sentido, a forma é autorreferência desenvolvida; mas, mais precisamente, autorreferência desenvolvida no tempo. Assim, para atravessar o limite que constitui a forma, sempre se deve iniciar, respectivamente, da parte que se indica, necessitando-se de tempo para efetuar uma operação posterior”. 14 Na obra de LUHMANN (2011, p. 87): “Não se trata de qualquer distinção, mas precisamente a de sistema/meio; sendo que o indicador (pointer >) está posto do lado do sistema, e não do lado do meio. O meio está colocado fora, enquanto o sistema fica indicado do outro lado”.

21
A distinção é inicial. É dela que decorrem todas as operações subsequentes,
fazendo com que o sistema efetivamente se diferencie do meio que se encontra. Mas
todas essas operações possuem a mesma unidade. Por possuírem a mesma unidade
de operações é que acaba constituindo e construindo o próprio sistema15.
A grande questão é justamente delimitar essa unidade de operações que
distinguirá o sistema do meio, frisando novamente que todas essas operações
sucessivas decorrem de uma primeira forma que serve como autorreferência para
todas as subsequentes, que com a primeira se identificam.
Aliás, “a diferença entre sistema e meio resulta do simples fato de que a
operação se conecta a operações de seu próprio tipo, e deixa de fora as demais”
(LUHMANN, 2013, p. 89).
CAMPILONGO (Política..., 2011, p. 65/66) comunga desse entendimento,
afirmando que o ponto de partida do sistema luhmanniano é justamente a distinção
entre o sistema e ambiente, sendo que esta distinção permite a autoprodução do
sistema.
Para GONÇALVES e BÔAS FILHO (2013, p. 43), “os sistemas são capazes de
organizar e mudar suas estruturas internas a partir de suas referências internas,
produzir seus elementos e determinar suas próprias operações. Os sistemas se
autoproduzem”. É justamente desse ponto que nasce a ideia de autopoiese dos
sistemas: na autoprodução de seus elementos e regras.
1.4 A autopoiese dos sistemas
Como já analisado, o sistema se diferencia do meio justamente porque é
sistema, ou seja, porque se conecta entre si através da unidade de operações. Ele se
autorreferencia e para isso deve se autocriar.
Para justificar a autopoiese – ou a autocriação – dos sistemas, LUHMANN
(2011, p. 90) se socorre das lições de biologia, assim enunciando
15 Em sua obra “Introdução à Teoria dos Sistemas”, Luhmann (2011, p. 89) explica esse fenômeno, assim enunciando: “Fala-se, por exemplo, em relacionamento entre os elementos, ou na relação entre estrutura e processo, ou em um autoprocesso estrutural que se conduz a si mesmo. Mas, em tudo isso – relação, limite estrutura, processo -, a pergunta fundamental consiste em qual é a unidade de operação que designa o sistema... Ou seja, na base dessas considerações reside o princípio de que um único tipo de operação produz o sistema, sempre e quando medeie o fator tempo (uma operação sem tempo não constitui sistema, mas fica reduzida a um mero acontecimento)”.

22
Com o conceito de autopoiesis (Maturana) colocado no centro da teoria biológica, não se pretende explicar (no sentido causal) absolutamente nada, mas somente evidenciar que a autorreferência é uma operação com capacidade de articulações subsequentes.
Transportar esse corpo teórico para os sistemas sociais faz identificar a operação que cumpra os requisitos mencionados: operação que deva ser única, a mesma, e que tenha a capacidade de articular as operações anteriores com as subsequentes. Ou seja, a capacidade de prosseguir sua operação, e de descartar, excluindo-as, as operações que não lhe pertencem.
Ou seja, a autopoiese parte do pressuposto “que o sistema reproduz todos os
seus elementos a partir de suas próprias operações”16. A partir das lições de
Luhmann, GONÇALVES e BOAS FILHO (2011, p. 50), afirmam que a ideia de
autopoiese possui três fases bem definidas: autorreferência de base, reflexividade e
reflexão17.
Para que exista um sistema – segundo as lições de Luhmann – deve-se
observar que ele se autocriou, através do surgimento de operações que possuem
unidade entre si (primeira etapa), que durante o processo as operações referenciam
a própria cadeia (autorreferencialidade – segunda etapa) e que possuem
autodescrição própria que a diferem do meio em que se encontra (terceira etapa).
Mas, para que o sistema seja realmente diferenciado do seu meio e
reconhecido como sistema em si, é necessária a apreensão do conceito do
“encerramento operativo”, o qual é assim definido por Luhmann (2011, p. 102)
O sistema estabelece seus próprios limites, mediante operações exclusivas, devendo-se unicamente a isso que ele possa ser observado.
Esse procedimento tão específico é indicado com o conceito de encerramento operativo, segundo o qual o sistema produz um tipo de operação exclusiva...
16 GONÇALVES e BOAS FILHO, 2013, p. 50. 17 É o que asseveram ao discorrer (2011, p. 50): “A primeira refere-se à autorreprodução dos elementos. Para Luhmann, como um elemento só existe em relação a outros, eles se remetem necessariamente entre si como redes recursivas, que, ao se diferenciarem confirme as possibilidades de relação, reduzem as alternativas disponíveis no mundo (diminuição de complexidade). Note-se o paradoxo: da necessidade de relação, os elementos constroem sua unidade, mas como é a própria unidade que possibilita a conexão, os elementos também são por ela construídos. A segunda etapa, por sua vez, consiste na capacidade de um processo referir-se a si mesmo. Luhmann denominou-a reflexividade, pois exprime a possibilidade de o processo se submeter aos seus meios para escolher seus atos. A terceira fase, denominada reflexão, diz respeito a autodescrição do sistema, isto é, à sua necessidade de se reconhecer como diverso. Trata-se, em outras palavras, da elaboração de uma “teoria do sistema no sistema”, produzida discursivamente por meio de conceitos e argumentos próprios. Depende de construção conceitual que descreva sua identidade e, por conseguinte, demarque sua diferença. Quando essas três fases operam simultaneamente, tem-se a estabilização de um sistema autopoiético diferenciado de seu ambiente”.

23
Essa operação exclusiva do sistema é que o distingue do meio e dá a unidade
necessária a reconhecê-lo como um sistema em si. Ressalte-se que essas operações
não podem ser reproduzidas no meio, sob pena de não haver a distinção e o
reconhecimento do sistema.
O sistema não está isolado do meio, mas não usa de suas operações
exclusivas para com ele se conectar. Pode empregar outras espécies de operações
para com o meio interagir, sem ferir sua unidade.
Cada sistema pode ser “irritado” pelo meio ou por outro sistema. Essa irritação
(ou estimulação) pode fazer com que o sistema crie determinada operação interna,
solucionando a questão posta, sem romper com o fechamento do próprio sistema. Os
sistemas, portanto, não são isolados, processando as informações do meio.18
Assim, no meio há vários sistemas, cada qual com sua unidade, mas que
podem se irritar mutuamente, gerando novas operações internas em cada um. Essa
estimulação cria novas operações que possibilitam, até mesmo, a criação de
microssistemas dentro do sistema. O sistema seria, então, o meio no qual existem
microssistemas próprios.
Mas, antes de adentrar na análise dos microssistemas, é imperativo analisar o
sistema social do Direito.
1.5 O Direito como sistema social
Se, de acordo com Luhmann, o Direito é um sistema social, ele deve preencher
todos os requisitos descritos na Teoria dos Sistemas. Assim, ele deve ser ação, com
uma operação exclusiva que lhe dê unidade, ao mesmo tempo que interage com o
meio que está inserido, sem com ele se confundir.
O Direito, então, deve ser autocriar. GONÇALVES e BÔAS FILHO (2013, p.
62/63), ao discorrerem sobre os subsistemas sociais e sua configuração, indagam
sobre a sua origem.
Como se organizam os subsistemas sociais? Como eles produzem seus elementos? Exatamente como a comunicação geral. Eles são autopoiéticos,
18 Essa relação entre meio e sistema social é abordada por GIORGI (2011, p. 173), quando assevera: “De outra parte, o direito garante prestações à sociedade, assim como a sociedade oferece material para o direito na forma de conflitos, expectativas, fatos, fenômenos e sedimentações de sentido. Sob a etiqueta ‘função social do direito’ ou ‘relação entre o direito e a sociedade’ trata-se empiricamente, da incidência do direito sobre a sociedade e da sociedade sobre o direito, enquanto entre ambos pode-se pretender ativar, reciprocamente, fatores de transformação ou de adequação”.

24
capazes de se reproduzirem sem qualquer interferência externa. São operativamente fechados no sentido de que essas operações não são determinadas pelo ambiente. Esse fechamento operativo é condição para sua abertura cognitiva em reação ao ambiente, assim como o sistema social, os subsistemas são sistemas abertos-fechados. Os subsistemas podem sentir, ser irritados, estimulados pelo ambiente à medida que se autodeterminam, conforme adquirem autonomia. Neste sentido, não são isolados ou solipsistas, mas podem observar e processar informações ambientais. Tais informações, entretanto, são incapazes de determinar sua estrutura. Não há relação de causalidade. Tal abertura refere-se ao conhecimento, não afeta as operações internas do sistema. Ao contrário, é submetida a essas operações. Vale lembrar que o ambiente de um subsistema social é formado pelos sistemas psíquico, vivo e demais subsistemas da sociedade.
Dessa maneira, é indispensável para a configuração do Direito como um
subsistema próprio, separado do meio e dos demais subsistemas sociais, a
caracterização de um tipo de operação exclusiva, como consequência essencial do
encerramento operativo19.
GUERRA FILHO (1997, p. 63), analisando as lições de Luhmann, discorre
sobre a configuração do Direito como sendo um sistema social autopoiético, partindo
do pressuposto da necessidade de configuração de um sistema binário Direito/não-
Direito ou Lícito/Ilícito para criação de um código próprio capaz de unir todas as
operações desse sistema20.
Esse código seria, então, a cola aglutinadora das operações em torno do seu
eixo. Se provocado, irritado ou estimulado, seja por uma fonte externa, seja interna,
pode desencadear uma operação interna, criando um normativo para que aquele
determinado fato seja classificado dentro desse código binário como sendo lícito ou
ilícito.
O caso do assassinato da atriz Daniela Perez é um exemplo de como a irritação
externa (do meio) é capaz de criar um normativo dentro do sistema social. O autor do
19 Deve-se relembrar as lições de LUHMANN (2011, p. 103) ao afirmar que “as operações são acontecimentos que apenas surgem no sistema, e não podem ser empregadas para defender ou atacar o meio”. Isso porque o sistema não pode operar no meio. O sistema pode ser provocado pelo meio (ou irritado), e, como consequência, cria operações internas que visem a sua adaptação e, consequentemente, a obtenção de seus fins. A ação é sistema. As operações são as ações descritas. Elas são internas ao sistema, mas podem gerar reflexos no meio, bem como internamente. Mas isso não significa que as operações ocorreram no meio. Elas ocorrem dentro do sistema, dando a resposta interna para uma irritação cuja origem pode ser externa ou gerada dentro do próprio sistema (re-entry). 20 GIORGI (2011, p. 186) também ressalta a existência do código binário lícito/ilícito para caracterizar o sistema jurídico: “A diferenciação de um sistema de funções, como o direito, produz-se com base no código binário ao qual se orientam as operações do sistema. Esse código organiza, portanto, a autopoiese do próprio sistema. No caso do sistema jurídico o código binário é lícito/ilícito. Quando pelo uso do código se aplica o código, ou, melhor dizendo, a aplicação do código a si mesmo traz uma combinação de autorreferência e uso da negação, é produzido um paradoxo no sistema”.

25
crime foi seu colega de novela, que o cometeu em conjunto com sua esposa, sem dar
qualquer oportunidade de defesa para a atriz.
O clamor social por uma punição diferenciada para casos similares irritou o
sistema, que respondeu com a alteração da Lei de Crimes Hediondos.
A possibilidade de criação desses normativos dentro do sistema fazem com
que Luhmann afirme que uma das características do direito positivo fique ressaltada:
a variabilidade21.
Mas a provocação externa não faz com que o sistema jurídico perca a sua
identidade ou autonomia, já que o mero clamor não altera o sistema, criando lei. O
clamor não se traduz automaticamente em uma operação com o código binário
lícito/ilícito. A provocação é necessária, porque o sistema não é fechado; ele é aberto-
fechado, apto a traduzir as irritações trazidas pelo meio22.
GIORGI (2011, p. 186) também discorre sobre o paradoxo23 do sistema aberto-
fechado
Os sistemas fechados são, porém, ao mesmo tempo, sistemas abertos, na medida em que a própria reprodução se dá em um ambiente sem o qual o sistema não poderia nem existir, nem se autorreproduzir. Autonomia dos sistemas sociais, então, significa que os sistemas autorregulam as formas da própria dependência e da própria independência. Nisso os sistemas devem autodeterminar-se e, portanto, autoidentificar-se. Devem, em outras palavras, observar a própria identidade. Mas, uma vez que os sistemas dispõem, só da diferença entre si mesmos e o ambiente, eles observam a própria identidade como tautologia.
21 É o que afirma CAMPILONGO (Política..., 2011, p. 77): “Os programas do sistema jurídico são normativos. Incluem textos e precedentes, leis e contratos, regulamentos e práxis jurisprudenciais. Assim como os programas políticos, também os programas jurídicos podem ser alterados. Aliás, a característica do direito positivo, para Luhmann, é exatamente a variabilidade. O sistema jurídico deve organizar sua validade enquanto símbolo circulante e em contínua mudança de conteúdo”. 22 Nas palavras de GUERRA FILHO (1997, p. 68/69): “O sistema jurídico como um todo, para a teoria dos sistemas autopoiéticos, é uma criação dos membros da sociedade em interação comunicativa... A autonomia do Direito, portanto, resulta não apenas da auto-produção de suas normas, mas também da auto-constituição de figuras jurídico-dogmáticas, que permitam reformular, em termos especificamente jurídicos, uma problemática extrajurídica... “O Direito, para se auto-produzir, necessita, obviamente, como todo sistema, de elementos do meio ambiente. Para que haja um ordenamento jurídico regulando condutas, é preciso ter não só normas para fornecer essa regulamentação, como também condutas que estabeleçam essas normas, e em sendo esse ordenamento autônomo, as condutas que estabelecem novas normas já são elas próprias reguladas por normas anteriores”. 23 CAMPILONGO (Política..., 2011, p. 67) também discorre sobre o paradoxo: “Segundo Luhmann, os problemas de abertura e fechamento do sistema não podem ser respondidos em termos causais ou com base no esquema input/output. A clássica contraposição entre sistemas abertos e fechados perde sentido nesse contexto. Fechamento operacional não é sinônimo de irrelevância do ambiente ou de isolamento causal. Por isso, paradoxalmente, o fechamento operativo de um sistema é condição para sua abertura”.

26
O sistema social Direito não pode ser reduzido a, apenas, um conjunto de
normas ou de leis. Ele é mais amplo do que isso. REALE (2001, p. 179) discorre sobre
o ordenamento jurídico como sistema, afirmando que ele é ação, é “o sistema das
normas em sua concreta realização, abrangendo tanto as regras explícitas como as
elaboradas para suprir as lacunas do sistema, bem como as que cobrem os claros
deixados ao poder discricionário dos indivíduos (normas negociais)”2425.
Dessa maneira, em que pese as situações advindas do meio ou dos outros
sistemas, através de irritações, o sistema jurídico se mantém separado do meio. Suas
operações podem ser provocadas pelo meio, mas elas serão internas, criando novas
operações sequenciais, que se referenciam a normas do próprio sistema, sempre
levando em conta o código binário do lícito/ilícito.
O próprio sistema jurídico se organizará para condicionar os comportamentos,
visando o seu cumprimento. Irá agir para garantir que suas operações sejam
respeitadas e obedecidas, mantendo suas estruturas intactas. GONÇALVES e BÔAS
FILHO (2013, p. 64), afirmam que a função do sistema social do Direito será a
“generalização congruente de expectativas normativas” através da utilização de
programas condicionais, garantindo o respeito do código binário característico.
Para GUERRA FILHO (1997, p. 72), essa garantia da generalização
congruente de expectativas normativas é justamente o fato que caracterizará o
sistema jurídico como sendo autopoiético e autorreferente. Esta é sua
especificidade26.
24 Prossegue o autor afirmando, então, que o sistema seria formado por vários elementos constitutivos que se articulam entre si, aglutinando-se. Esses elementos se expressam através de categorias, figuras, institutos ou instituições, a depender de sua complexidade. Categorias seriam os conceitos gerais usados pelo sistema jurídico, como, por exemplo, a definição de “tipicidade” ou “capacidade“. São conceitos gerais que permeiam o sistema. Em alguns casos as normas de mesma natureza acabam por se aglutinar em torno de um determinado foco dentro do sistema, buscando uma mesma finalidade. Essa estrutura normativa complexa e homogênea Reale denomina de instituto, como, por exemplo, o “penhor” e a “hipoteca”. “Quando um instituto jurídico corresponde, de maneira mais acentuada, a uma estrutura social que não oferece apenas uma configuração jurídica, mas se põe também como realidade distinta, de natureza ética, biológica, econômica etc., tal como ocorre com a família, a propriedade, os sindicatos etc., costuma-se empregar a palavra instituição” (Aut. cit., 2001, p. 180). Já figura será empregada devido às várias modalidades que um determinado instituto pode assumir, como ocorre com o instituto “posse”, que pode ser de boa-fé ou de má-fé (figuras). 25 GUERRA FILHO (1997, p. 69/70) complementa esse raciocínio: “Há uma organização (jurídica) produzindo os elementos (atos jurídicos, normas jurídicas) de sua estrutura (jurídica), pelas relações que se estabelecem entre eles, formando unidades (as “Leis Federais” de um país, as normas de Direito Privado etc.). O sistema (jurídico) é autopoiético e diferenciado de outros pois estabelece conexões que conferem sentido (jurídico) a condutas referidas, assim, umas às outras e delimitadas, no sistema, em relação ao ambiente”. 26 É o que afirma o referido autor (1997, p. 72): “Para que se caracterize o sistema jurídico, de forma definitiva, como um sistema social autopoiético, é necessário identificar sua especificidade na

27
Dessa maneira, fica evidente que o sistema social do Direito é um sistema tal
qual definido na teoria de Luhmann, já que possui o fechamento operacional com uma
operação exclusiva, baseada no código binário lícito/ilícito, visando a regulamentação
das condutas de acordo com as expectativas normativas.
Mas o sistema social Direito é muito vasto, abrangendo vários focos de
atuação. Há o campo do Direito Público e do Direito Privado. Dentro deles há diversos
ramos do estudo do direito, cada qual com sua especificidade. O Direito Empresarial
tutela as relações entre empresas, empresários e os atos decorrentes dessa atuação.
O Direito Administrativo tutela a atuação estatal e suas relações com os
administrados.
São eles subsistemas dentro do Sistema Social do Direito, mas que seguem o
mesmo código binário (lícito/ilícito) e visam a regulamentação das condutas de acordo
com as expectativas normativas. Mas cada qual com sua especificidade própria, que
a distingue dos demais subsistemas.
Assim, o sistema jurídico poderia ser comparado ao meio, no qual cada
subsistema se desenvolve a partir de irritações externas, dando a resposta
necessária.
Esses subsistemas normalmente possuem uma norma aglutinadora em forma
de Código. É a codificação dos subsistemas do direito.
Ocorre que há, dentro desse sistema social Direito, determinados sistemas que
interpenetram nos subsistemas. Se assenhoram de parcela da regulamentação dos
diversos ramos constantes dos subsistemas, para fazer um sistema próprio com uma
unidade de operações. São os chamados microssistemas, que exatamente como os
subsistemas (e como os sistemas) devem possuir uma operação exclusiva que a
diferencie do meio em que se encontra.
Deve, também, passar pelas três fases da autopoiese: autorreferência de base,
reflexividade e reflexão. Além disso, deve-se recordar que o sistema é ação, e – de
acordo com as lições de Parsons já enunciadas – pode-se observar a ação para
averiguar a existência de um sistema (ou microssistema, no caso), através de seu
realização do que é próprio de todo sistema social, ou seja, sob que forma exclusiva a esse sistema, o do Direito, se veiculam comunicações, forma essa pela qual as mais diversas maneiras de se fazer circulá-las podem ser representadas... “No sistema jurídico, por seu turno, se transmite a regulamentação de conduta, garantindo expectativas de comportamentos, através de aplicações das normas do sistema, feitas por juízes ao decidirem lides, e também por particulares ao fazerem um contrato, pelos legisladores ao elaborarem novas leis etc”.

28
enquadramento nas quatro variáveis (AGIL). Ademais, por ser um sistema social
jurídico, o código binário a ser utilizado é o lícito/ilícito, exercido através de programas
condicionantes de condutas que buscam a generalização congruente de expectativas
normativas.
Dessa maneira, com base nessas lições, pode-se verificar se realmente está
configurado um microssistema legal de tutela das pessoas com deficiência, ou se ele
não se distingue do meio.
1.6 Microssistema jurídico de tutela das pessoas com deficiência
Para que o microssistema se distinga dos Sistema Social do Direito (que é o
meio no qual se insere) e dos demais subsistemas jurídicos existentes, os mesmos
requisitos para a configuração de um sistema têm que existir.
O primeiro passo é justamente traçar a distinção (draw a distinction) entre o
meio e o sistema. Essa distinção deve ser suficiente para que se encontre a operação
exclusiva desse microssistema, que a diferencie do meio e dos demais
subsistemas/microssistemas.
É exatamente essa distinção que permitirá a configuração de um sistema
próprio, inserido no meio, sem com ele se confundir27.
Microssistema deve reunir certos elementos que se relacionam, formando uma
unidade.
Deve-se lembrar que, na origem, não há diferença entre a observação do meio
(referência) e a autorreferência. Há uma forma, com um indicador (pointer), e apenas
após uma série de operações sucessivas e consequentes é que se configura a
autorreferência.
Para se pensar em um microssistema de tutela das pessoas com deficiência
deve-se identificar a distinção. Até o ano de 2009, não estava clara a sua
27 Nas palavras de GUERRA FILHO (1997, p. 57/58): A “diferenciação sistêmica” entre “sistema” e “ambiente” é o artifício básico empregado pela teoria, diferenciação essa que é trazida “para dentro” do próprio sistema, de modo que o sistema total, a sociedade, aparece como “ambiente” dos próprios sistemas parciais, que dele (e entre si) se diferenciam por reunirem certos elementos, ligados por relações, formando uma unidade. Uma “unidade”, além de diferenciada no “ambiente”, também pode aparecer como “meio” para outras “unidades”, permitindo, assim, que por ela se aplique, recorrentemente, um número mais ou menos grande de vezes, a diferença sistema/ambiente, sem com isso perder sua organização.

29
configuração, uma vez que as normas esparsas se enquadravam nos subsistemas
que eram editados.
Assim, uma norma previdenciária voltada para a pessoa com deficiência era,
apenas, uma regra especial dentro do subsistema do Direito Previdenciário. Da
mesma maneira, as regras protetivas do trabalho do subsistema do Direito do
Trabalho ou as limitações administrativas impostas pela legislação do subsistema do
Direito Administrativo.
Em 25 de agosto de 2009 foram promulgadas a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo através do Decreto nº 6.949,
cujos dispositivos são equivalentes às emendas constitucionais em virtude da
aprovação por meio da sistemática do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal28.
A referida Convenção era utilizada como referência, integrante do próprio
sistema. Como a Convenção enuncia muitos direitos e princípios, sem trazer a sua
efetivação, faria parte dos direitos fundamentais constitucionais, a serem observados
pelo meio (sistema social do Direito Brasileiro) e por todos os subsistemas dele
integrantes.
Em que pese a eficácia direta da referida Convenção sobre os direitos privados,
não trazia no seu corpo os instrumentos de implementação, fazendo com que o
Judiciário se pronunciasse se e quando provocado. Se não o fosse, os direitos
acabavam não sendo garantidos.
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.146, de 2015, que instituiu a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) há a
necessidade de reavaliar esse posicionamento. Isto porque o microssistema de tutela
das pessoas com deficiência estaria sim configurado.
A distinção necessária à sua configuração é trazida no caput do artigo 1º do
Estatuto da Pessoa com Deficiência
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
28 Art. 5º... § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

30
O referido Estatuto consagra programas condicionantes impostos à toda
sociedade para assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades das
pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. A
expectativa normativa generalizada é, justamente, a inclusão social e a garantia da
cidadania das pessoas com deficiência.
A distinção necessária à configuração do microssistema social seria, então, a
própria presença da pessoa com deficiência, que será protegida de forma diferenciada
e especial.
O código binário é o mesmo do sistema social do Direito: lícito/ilícito. Todavia,
traz para dentro de seu microssistema todas as regras de licitude e ilicitude dos
diversos ramos do Direito, unindo-as sob um mesmo prisma: buscando garantir o
exercício dos direitos das pessoas com deficiência em igualdade de condições.
CAMPILONGO (Política..., 2011, p. 78)29 afirma que caberia ao sistema (no
presente caso, microssistema) identificar os interesses por si protegidos e repelidos,
mantendo a consistência de operações internas para tutelá-los.
Nesse ponto que a busca da garantia do exercício dos direitos das pessoas
com deficiência em igualdade de condições pode ser a operação exclusiva que gera
o fechamento do sistema.
Para se certificar da existência desse Microssistema, é imperativo verificar se
ele é um sistema autopoiético, através das três etapas descritas na obra de Luhmann:
autorreferência de base, reflexividade e reflexão.
A primeira fase diz respeito, justamente, à autorreprodução dos elementos, ou
seja, a presença do encerramento operativo, no qual as operações exclusivas do
sistema surgem sequencialmente, e acabam por construir estruturas específicas. É
exatamente isso que está, atualmente, ocorrendo.
Apenas após a edição do Estatuto das Pessoas com Deficiência que foi criado
o Cadastro-Inclusão, o qual só foi efetivamente instituído com a edição do Decreto
8.954, de 2017.
A reflexividade se traduz na possibilidade do próprio sistema poder se referir a
ele mesmo. É a autorreferencialidade.
29 “Cabe ao sistema jurídico distinguir os interesses protegidos e os interesses repelidos pelo direito. Justiça, nesses termos, não seria a pura correspondência entre a decisão e os interesses externos, mas sim a consistência das operações internas que reconhecem e qualificam os interesses como protegidos ou repelidos pelo direito”.

31
A autorreferencialidade é explícita ao longo de todo o texto do Estatuto das
Pessoas com Deficiência. Está presente quando, por exemplo, em seu parágrafo
único do artigo primeiro, afirma ter por base a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados pelo Decreto nº
6.949, de 2009.
Há também a autorreferência ao próprio microssistema quando o Estatuto
remete o benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência aos
termos da Lei Orgânica da Assistência Social (art. 40, Lei nº 13.146, de 2015) e
quando remete os termos da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do
Regime Geral da Previdência Social aos termos da Lei Complementar nº 142, de 2013
(art. 41, Lei nº 13.146, de 2015).
Ressalte-se que não se trata de mera referência a texto de lei anteriormente
editado, mas sim a criação de uma nova norma, com uma mesma operação, que
referencia à norma que pertence ao microssistema.
A terceira fase que atesta a autopoiese do microssistema é a reflexão, a qual
consiste na autodescrição do sistema, ou seja, na construção conceitual da identidade
do microssistema e de suas estruturas.
É no microssistema de tutela das pessoas com deficiência que há a
conceituação de pessoa com deficiência, suas espécies e a forma pela qual ela será
avaliada. Há também a construção de estruturas visando garantir a plena e efetiva
participação da pessoa na sociedade em igualdade de condições, através da
acessibilidade, de utilização de tecnologias assistivas e da garantia da plena
capacidade civil.
Na realidade se verifica que ao longo de todas as normas que integram o
microssistema de tutela das pessoas com deficiência há a descrição de conceitos e
criação de estruturas, estando presente a reflexão.
Ressalte-se que as três etapas estão sempre repetindo a mesma operação
exclusiva: usar o código binário lícito/ilícito para assegurar e promover o exercício dos
direitos e das liberdades das pessoas com deficiência em igualdade de condições com
as demais pessoas.
Como todo e qualquer Microssistema, o da Tutela das Pessoas com Deficiência
não é imune às regras do sistema (meio) que se insere, tampouco ao meio em que o

32
sistema social do Direito está inserido. Ele pode ser irritado pelo meio e, com isso,
produzir nova norma inserida no Microssistema.
Apesar de estar inserido no meio Sistema Social Direito e dele depender, é
também independente na medida em que suas normas podem excepcionar as normas
gerais constantes do meio que está inserido. Isso porque as normas do
Microssistemas seriam especiais em relação às normas do meio em que se inserem30.
Isso não acarreta a preponderância do sistema sobre o ambiente, uma vez que
o sistema não consegue determinar o ambiente, já que o ambiente é infinitamente
mais complexo e cheio de possibilidades do que o sistema em si31.
Assim, estando configurado o Microssistema de Tutela das Pessoas com
Deficiência, todas as operações ocorrerão dentro do sistema. Reitere-se que ação é
sistema, mas as operações são internas ao microssistema, podendo refletir no meio
ou em outros subsistemas.
Isso ocorre através da conformação dos institutos, instituições e figuras à ótica
do Microssistema, efetuando-se uma releitura dentro do encerramento operativo
esperado do sistema.
No campo do direito civil, houve profunda alteração no conceito de capacidade
imposta pelo Microssistema. Essa conformação terá reflexos profundos, que serão
abordados neste trabalho. Não obstante, antes de avançar, é necessário discorrer
acerca dos conceitos civilistas que sofreram conformação.
30 É a expressa dicção do parágrafo segundo, do artigo segundo, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 1942), ao dispor que “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”. 31 CAMPILONGO, Política..., 2011, p. 68.

33
2 Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
Foi pra diferenciar que Deus criou a diferença
Que irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa
Se cada ser é só um, e cada um com sua crença
Tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença
Lenine
O presente trabalho já abordou a existência do microssistema jurídico de tutela
dos direitos das pessoas com deficiência, cuja configuração só foi possível após a
edição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência32.
A edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe profundas alterações
no sistema jurídico nacional, inclusive no tocante ao sistema de capacidades do
Código Civil (objeto de estudo central deste trabalho).
A relevância dessa lei não se limita, apenas, à capacidade civil, sendo
importante o estudo do seu impacto geral para, posteriormente, analisar a alteração
do sistema de incapacidades e as consequências na edição dos atos jurídicos.
2.1 Contexto
A Lei Brasileira de Inclusão foi publicada em 7 de julho de 2015, mas a
preocupação do legislador com a proteção da pessoa com deficiência sempre esteve
em voga.
O constituinte de 1988 teve esse cuidado, prevendo em seu texto várias
passagens em que a proteção fica evidente, como na vedação de qualquer
discriminação salarial na relação de emprego em virtude da deficiência33, na reserva
de vagas no serviço público34, na garantia de um salário mínimo mensal a título de
benefício assistencial para a pessoa com deficiência que não tenha condições de se
32 Lei nº 13.146, de 2015, também denominada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. 33 CRFB, art. 7º, XXXI. 34 CRFB, art. 37, VIII.

34
manter35, e no dever do Estado em prover o atendimento educacional especializado
às pessoas com deficiência36.
Esses direitos estão previstos desde a redação original da Constituição da
República de 1988, mas sua implementação até os dias de hoje não é completa.
Em 1989 foi editada a Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência (Lei
nº 7.853), cujo escopo principal era o de “assegurar às pessoas portadoras de
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à
educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância
e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem
seu bem-estar pessoal, social e econômico”37.
Para efetivar esses direitos, impôs deveres, como o da matrícula compulsória
nos cursos regulares de ensino38 e o da prestação de atendimento domiciliar de saúde
à pessoa com deficiência grave não internada39.
A efetivação desses direitos, contudo, encontrava resistência na reserva do
possível, uma vez que havia recusa à matrícula sob o argumento de falta de preparo
da unidade de ensino em incluir a pessoa com deficiência, ou a não prestação do
atendimento domiciliar por ausência de equipamentos e de pessoal adequados no
sistema de saúde.
Em que pese as condutas configurarem crime pela referida lei, havia a previsão
de “justa causa” como excludente de tipicidade. Nessa “justa causa” acabou por se
enquadrar a falta de preparo ou de equipamentos na unidade de ensino. Com isso, o
direito previsto não era efetivado.
O primeiro conceito legal de pessoa portadora de deficiência no Brasil foi
trazido pela redação original da Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 8.742, de
1993), que afirmava ser deficiente aquele incapacitado para o trabalho e para a vida
independente40.
Esse conceito era por demais limitativo, excluindo da tutela da assistência
social aquele que possuísse um impedimento de longo prazo de natureza física ou
sensorial que gerasse incapacidade laborativa, mas ainda permitia o exercício de atos
35 CRFB, art. 203, V. 36 CRFB, art. 208, III. 37 Art. 2º, Lei 7.853, de 1989. 38 Art. 2º, parágrafo único, I, “a” e “f”, Lei 7.853, de 1989. 39 Art. 2º, parágrafo único, II, “e”, Lei 7.853, de 1989. 40 Lei nº 8.742, de 1993, art. 20, § 2º, redação original.

35
para a vida independente. Ademais, misturou o conceito de incapacidade laborativa
(que se traduz na impossibilidade momentânea ou temporária de exercer atividade
laborativa) com o de deficiência.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, editada em 1996 (Lei nº 9.394), trouxe
um capítulo reservado exclusivamente à educação especial para os educandos
“portadores de necessidades especiais”41, assegurando a criação de “currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender” às
necessidades pessoais42.
A Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência (editada em 1989) só foi
regulamentada dez anos após sua edição, através do Decreto nº 3.298, de 1999, que
criou a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,
estruturando uma rede nacional de apoio, trazendo critérios objetivos de
enquadramento das pessoas com deficiência, princípios, diretrizes, objetivos e
instrumentos visando a integração.
Em que pese toda a regulamentação buscada pelo Poder Público, os direitos
por ela elencados não eram plenamente garantidos. Só para se exemplificar, a Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS, só foi reconhecida como meio legal de expressão e de
comunicação através da edição da Lei nº 10.436, de 2002, quase catorze anos após
a edição da Constituição da República.
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo foram assinados pelo Brasil em 30 de março de 2007, mas
apenas foi promulgada em 25 de agosto de 2009, por meio do Decreto nº 6.94943.
Reitere-se que essa Convenção possui status de emenda constitucional, já que
aprovada pelo Congresso Nacional de acordo com o procedimento especial previsto
no art. 5º, § 3º, da CRFB.
O texto convencional impõe aos Estados aderentes uma série de obrigações,
inclusive a de alteração da legislação interna para adequação ao disposto no pacto.
Além disso, criou a obrigatoriedade de os Estados Partes submeterem ao Comitê
41 Art. 58, Lei nº 9.394, de 1996, redação original. 42 Art. 59, I, Lei nº 9.394, de 1996. 43 A referida Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional, sendo publicado o Decreto Legislativo º 186, de 9 de julho de 2008, havendo o Brasil ratificado o texto da Convenção apenas em 1º de agosto de 2008.

36
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência44 relatórios periódicos com as medidas
adotadas para efetivar os direitos previstos no pacto internacional.
O prazo para a submissão do primeiro relatório era de dois anos após a entrada
em vigor da Convenção para o Estado Parte aderente. O primeiro relatório brasileiro
foi entregue ao Comitê no ano de 2012, mas foi submetido à análise apenas na
reunião realizada no mês de agosto de 2015.
Como preparativo da sessão que seria realizada em 2015, o Comitê
encaminhou ao Brasil em maio de 2015 uma lista de questionamentos que deveriam
ser respondidos.
O primeiro questionamento foi a necessidade de revisão da legislação interna
para que se alinhasse com o texto da Convenção45.
O Comitê entendeu que a alteração legislativa era essencial para implementar
no Brasil os direitos previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência.
Esse questionamento pelo Comitê sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência era formulado para todos os Estados Membros desde a entrada em vigor
do referido Pacto, mas fora expressamente cobrado do Brasil ante a ausência de
aprovação – até a referida data – de qualquer ato normativo que visasse a garantia
dos direitos previstos na Convenção.
Era esse o contexto quando da aprovação da Lei Brasileira de Inclusão: havia
a necessidade de comprovação perante o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência a alteração da legislação brasileira para efetivar os direitos previstos na
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Ressalte-se que a Lei Brasileira da Inclusão foi aprovada na Câmara dos
Deputados no dia 5 de março de 2015, no Senado Federal em 10 de junho de 2015,
sendo publicada em 7 de julho de 2015, a tempo de constar do relatório com as
respostas aos questionamentos trazidos, o qual foi apresentado em agosto de 2015
na 14ª Sessão Ordinária do Comitê.
44 Comitê este criado pela mesma Convenção, nos termos do art. 34. 45 Nos exatos termos proferidos: “Please inform the Committee of measures to review domestic legislation and public policies and align them with the Convention and to ensure that discussions in Congress on draft laws include the human rights approach to disability”. Em tradução livre: “Por favor, informe o Comitê as medidas para revisar a legislação nacional e políticas públicas e para alinhá-las com a Convenção e assegurar que as discussões no Congresso sobre projetos de lei incluam a abordagem dos direitos humanos de deficiência”.

37
2.2 Finalidade
A Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) foi editada
não para atender aos ditames do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
mas sim para responder aos anseios sociais que demandavam a melhor proteção às
pessoas com deficiência.
Com a edição do Estatuto inaugurou-se a nova ordem, com a configuração do
microssistema legal de tutela das pessoas com deficiência.
O caput do artigo primeiro da Lei Brasileira de Inclusão deixa claro que o escopo
é “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania”.
Verifica-se pelo escopo que o Estatuto busca trazer instrumentos que permitam
à pessoa com deficiência o gozo dos direitos que são garantidos a toda e qualquer
pessoa (mesmo sem deficiência), mas que lhe são negados pelas barreiras sociais
que impedem o pleno e efetivo exercício em igualdade de condições.
Deve-se destacar, ainda, que o Estatuto vem regulamentar o texto da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, que foram aprovados com status de emenda constitucional.
Assim, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência veio
regulamentar dispositivo com força de norma constitucional, buscando garantir a
efetividade à norma convencional.
2.3 Estrutura da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência foi organizada em dois
Livros, que correspondem à Parte Geral e à Parte Especial do Estatuto.
O Livro I é dividido em quatro diferentes títulos, sendo o primeiro destinado às
disposições preliminares. O Título I, por sua vez, é subdividido em dois capítulos, um
com as disposições gerais, e um que versa sobre a desigualdade e não discriminação.
O Capítulo I, das Disposições Gerais, traz panorama introdutório do Estatuto.
Apresenta seu escopo e fundamento constitucional, bem como alguns conceitos
relevantes para a aplicabilidade da norma.

38
O conceito de pessoa com deficiência é trazido neste capítulo, e utiliza da
concepção moderna, através da qual “considera-se pessoa com deficiência aquela
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas”46.
Se for necessária a avaliação da deficiência, será ela biopsicossocial, efetivada
por equipe multidisciplinar que analisará os impedimentos nas funções e estruturas
do corpo e sua interação com o ambiente da pessoa.
A adoção desse modelo pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência mereceu
críticas do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É o que se extrai
das observações conclusivas sobre o relatório inicial do Estado Brasileiro, quando
recomenda que o Brasil desenvolva uma estratégia voltada para implementar o
modelo de direitos humanos para deficiência47.
PETERSON (2018, p. 702 e 704) discorre sobre os diferentes modelos de
abordagem da deficiência, afirmando que se utilizava, originalmente, modelo
paternalista, no qual preponderava o critério médico em que se limitava a análise da
pessoa apenas no impedimento. O modelo moderno, baseado na abordagem
biopsicossocial (adotada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência) deixa a análise do
impedimento a segundo plano, preponderando o foco nas barreiras sociais que
impediriam a plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições.
O referido autor traz, ainda, a abordagem mais atual, denominada de modelo
de direitos humanos (cuja adoção foi requerida pelo Comitê ao Brasil) na qual não se
centra no impedimento ou nas barreiras, mas sim nas potencialidades e capacidades
da pessoa com deficiência, buscando maior dignidade e autonomia à pessoa com
deficiência48.
46 Lei nº 13.146, de 2015, art. 2º. 47 Item 7 do relatório, disponível em <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_174.pdf>, acesso em 23-set.-2018. 48 É exatamente essa a ideia trazida pelo autor: “The medical model of disability is oerhaps the oldest permutation, formnf the basis for many charitable and welfare-style programs for persons with desability. This model is paternalistic, and attachés a heavy burden of stigma to the individual who is viewed through its lens. Simply put, this model uses disability and impairment interchangeably and defines a person exclusively by her impairment. The medical model has promptedsocieties to ‘treat’ or use medical intervention to help persons with disabilities but it also influences societies to exclude such individuals through institutional methods that reinforce the marginalizations of such persons even while helping them.

39
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência já
possuía esse modelo em seu corpo, mesmo que não fosse expresso na conceituação
(ainda mais porque a própria Convenção afirmava em seu preâmbulo que deficiência
é um conceito em evolução).
Quando aborda o direito à educação inclusiva da pessoa com deficiência, a
referida Convenção impõe como objetivo dos Estados Partes garantir “o pleno
desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima”49, além
de buscar “o máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da
criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e
intelectuais”50.
O conceito trazido pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
pode não ser o decorrente do modelo dos direitos humanos, mas essa abordagem
“The modern disability rights movement, which has given rise to the social na civil rights approaches to understanding disability, balances ‘that physical or medical conditions do not thenselves disable, but instead that environmental and atitudinal barriers keep people with physical and mental conditions from full and equal participation in daily life. The social model emphasizes the difference between na ‘impairment’, which is a specific physical or mental condition or a sensory (vision, hearing) deprivation, and “disability’, which is the consequence of society reacting to the impairment... “Professor Michael Stein coined the term ‘disability human rights’ and describes the formulation of this paradigm as one that ‘combine components of the social model of disability, the human right to development, and philosopher Martha Nussbaum’s version of the ‘capacity approach’, but filters these frameworks through a disability rights perspective to preserve that which provides for individual flourishing and modify that which does not’. Rather than focus on the capabilities of persons with disabilities, or the lack thereof, disability human rights focuses in the talents of person with disabilities and thereby places greater enphasis on dignity and autonomy”. Em tradução livre: “O modelo médico da deficiência talvez seja a mais antiga permutação, forma a base de muitos programas de caridade e de bem-estar social para pessoas com deficiência. Este modelo é paternalista e atribui um pesado fardo de estigma ao indivíduo que é visto através de sua lente. Simplificando, este modelo usa a deficiência e o comprometimento de maneira intercambiável e define uma pessoa exclusivamente por sua deficiência. O modelo médico levou as organizações a "tratar" ou usar intervenções médicas para ajudar pessoas com deficiências, mas também influencia as sociedades a excluir tais indivíduos por meio de métodos institucionais que reforçam a marginalização de tais pessoas, mesmo enquanto as ajudam. “O movimento moderno pelos direitos das pessoas com deficiência, que deu origem às abordagens sociais e de direitos civis à compreensão da deficiência, equilibra que as condições físicas ou médicas não devem ser excluídas, mas que as barreiras ambientais e atitudinais impedem as pessoas com deficiências físicas e mentais igual participação na vida diária. O modelo social enfatiza a diferença entre um "impedimento", que é uma condição física ou mental específica ou uma privação sensorial (visão, audição) e "deficiência", que é a consequência da sociedade reagir à deficiência ... “O professor Michael Stein cunhou o termo 'direitos humanos da deficiência' e descreveu a formulação desse paradigma como uma que 'combina componentes do modelo social da deficiência, o direito humano ao desenvolvimento, e a versão da' abordagem da capacidade 'da filósofa Martha Nussbaum. mas filtra essas estruturas por meio de uma perspectiva de direitos das pessoas com deficiência para preservar aquilo que prevê o florescimento individual e modificar o que não é '. Em vez de enfocar as capacidades das pessoas com deficiência, ou a falta delas, os direitos humanos da deficiência enfocam os talentos das pessoas com deficiência e, com isso, colocam maior ênfase na dignidade e autonomia”. 49 Art. 24, 1, a, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 50 Art. 24, 1, b, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

40
permeia todo o sistema, e está calcada na dignidade que é um dos objetivos do
microssistema.
O Capítulo II do Título I do Livro I do Estatuto aborda a igualdade e a não
discriminação, e possui importância para o presente estudo, já que é nele que consta
o princípio da plena capacidade civil da pessoa com deficiência, que será objeto de
abordagem específica.
O Título II, do primeiro Livro do Estatuto tem por enfoque os Direitos
Fundamentais da Pessoa com Deficiência, e reserva um capítulo específico para cada
um dos direitos que elenca serem mais relevantes: vida; habilitação e reabilitação;
saúde; educação; moradia; trabalho; assistência social; previdência social; cultura,
esporte, turismo e lazer; e transporte e mobilidade.
Cada um desses capítulos mereceria pesquisa própria, ante a riqueza e
profundidade dos temas trazidos pelo Estatuto, mas isso comprometeria o objetivo do
trabalho e o estudo do tema ora proposto. Merecem destaque certos direitos
assegurados pelo Estatuto que reafirmam a autonomia existencial da pessoa com
deficiência e sua dignidade, como a possibilidade de recusa de tratamento médico e
a educação inclusiva. No caso das pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, é
garantida a oferta de educação bilíngue, sendo a Libras a primeira língua, e a
modalidade escrita da Língua Portuguesa a segunda.
O Título III desse primeiro Livro versa sobre a Acessibilidade, sendo ela
entendida da maneira mais ampla possível. Não só a acessibilidade física, mas
incluídos o acesso à informação e à comunicação, o uso de tecnologia assistiva, além
de garantir o exercício de todos os direitos políticos em igualdade de condições com
as demais pessoas.
Já o quarto e último Título do Livro I do Estatuto aborda a Ciência e Tecnologia,
impondo o dever do Estado em fomentar o desenvolvimento científico voltado à
melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e sua inclusão social.
O Livro II da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência trata da parte
especial do Estatuto, e se divide em três Títulos: do Acesso à Justiça, dos Crimes e
Infrações Administrativas e das Disposições Finais e Transitórias.
Novamente deve se asseverar que há vários institutos e direitos relevantes que
poderiam ser abordados, mas, para o presente estudo, deve ser mencionado o

41
reconhecimento da igualdade da pessoa com deficiência perante a lei que será objeto
do próximo item juntamente com o princípio da plena capacidade civil.
2.4 O reconhecimento da igualdade perante a lei
Talvez a maior alteração do ordenamento jurídico nacional trazido com a edição
da Lei Brasileira de Inclusão tenha ocorrido no sistema de incapacidades do Código
Civil, inserindo o princípio da plena capacidade civil da pessoa com deficiência,
independentemente do grau da deficiência ou da espécie.
Essa mudança teve por base o artigo 12 da Convenção Internacional sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência51, que reconhece a igualdade perante a lei.
Essa igualdade deve ser exercida em todos os seus aspectos da vida, incluindo o
exercício por si só dos seus direitos, de sua autodeterminação.
O Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência expediu, em 2014, o
Comentário Geral nº 1, o qual versa exclusivamente sobre o reconhecimento igual da
pessoa com deficiência perante a lei. Parte do pressuposto que esse reconhecimento
não é uma inovação legislativa, mas que sua previsão na Convenção era
indispensável, já que as pessoas com deficiência compõem um dos grupos que mais
tem sofrido a negação de seus direitos.
51 “Artigo 12 - Reconhecimento igual perante a lei “1.Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. “2.Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. “3.Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. “4.Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa. “5.Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de seus bens”.

42
Afirma, ainda, que é indispensável o reconhecimento da “capacidade legal”
para exercício de todos os seus direitos, garantindo às pessoas com deficiência a
possibilidade de fazerem as escolhas fundamentais para as suas vidas52.
Poderia ser levantada, neste momento, a ideia de que a capacidade legal que
se busca garantir às pessoas com deficiência seria melhor traduzida para o
ordenamento jurídico brasileiro como sendo a capacidade de direito (de titularizar
direitos e obrigações), não englobando a capacidade de fato (exercício dos atos da
vida civil por si só). Porém, o próprio Comitê, no parágrafo 12, do Comentário Geral
nº 1, deixa claro que a capacidade legal engloba tanto a possibilidade de ser titular de
direitos, como também de ser ator de seus atos perante a lei53.
5252 É exatamente o espírito do parágrafo 8, da Introdução, do Comentário Geral nº 1: “8. Article 12 of the Convention affirms that all persons with disabilities have full legal capacity. Legal capacity has been prejudicially denied to many groups throughout history, including women (particular upon marriage) and ethnic minorities. However, persons with disabilities remain the group whose legal capacity is most commonly denied in legal systems worldwide. The right to equal recognition before the law implies that legal capacity is a universal atribute inherent in all persons by virtue of their humanity and must be upheld for persons with disabilities on an equal basis with others. Legal capacity is indispensable for the exercise of civil, political, economic, social and cultural rights. It acquires a special significance for persons with disabilities when they have to make fundamental decisions regarding their health, education and work. The denial of legal capacity to persons with disabilities has, in many cases, led to their being deprived of many fundamental rights, including the right to vote, the right to marry and found a family, reproductive rights, parental rights, the right to give consent for intimate relationships and medical treatment and the right to liberty”. Em tradução livre: “8. O Artigo 12 da Convenção afirma que todas as pessoas com deficiência têm plena capacidade legal. A capacidade legal tem sido prejudicada negativamente em muitos grupos ao longo da história, incluindo mulheres (particularmente no casamento) e minorias étnicas. No entanto, as pessoas com deficiência continuam a ser o grupo cuja capacidade jurídica é mais comumente negada nos sistemas jurídicos em todo o mundo. O direito ao reconhecimento igual perante a lei implica que a capacidade jurídica é um atributo universal inerente a todas as pessoas em virtude de sua humanidade e deve ser mantido para pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. A capacidade jurídica é indispensável para o exercício dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Adquire um significado especial para as pessoas com deficiência quando elas precisam tomar decisões fundamentais em relação à sua saúde, educação e trabalho. A negação da capacidade legal às pessoas com deficiência levou, em muitos casos, à privação de muitos direitos fundamentais, incluindo o direito de votar, o direito de casar e fundar uma família, direitos reprodutivos, direitos à paternidade, o direito de dar consentimento para relações íntimas e tratamento médico e o direito à liberdade”. 53 “12. Article 12, paragraph 2, recognizes that persosns with disabilities enjoy legal capacity on equal basis with others in all áreas of life. Legal capacity includes the capacity to be both a holder of rights and na actor under the law. Legal capacity to be a holder of rights entitles a person to full protection of his ou her rights by the legal system. Legal capacity to act under the law recognizes that person as na agente with the power to engage in transactions and create, modify or end legal relatinships”. Em tradução livre: “12. O artigo 12, parágrafo 2, reconhece que as pessoas com deficiência gozam de capacidade jurídica em igualdade de condições com os demais em todas as áreas da vida. A capacidade jurídica inclui a capacidade de ser simultaneamente detentor de direitos e um ator perante a lei. A capacidade jurídica de ser titular de direitos confere ao indivíduo a plena proteção de seus direitos pelo sistema legal. A capacidade legal de agir de acordo com a lei reconhece essa pessoa como um agente com o poder de se envolver em transações e criar, modificar ou encerrar relacionamentos legais”.

43
Foi nesse espírito, orientado pelo Comentário Geral, que a Lei Brasileira de
Inclusão consagrou, em seu artigo 6º, o princípio da plena capacidade civil da pessoa
com deficiência, expressamente garantindo o exercício dos direitos de casar e
constituir união estável, de exercer direitos sexuais e reprodutivos, de escolher se e
quantos filhos pretende ter, de conservar sua fertilidade, de exercer o direito à
convivência familiar além daqueles decorrentes do pátrio poder.
Essa ideia de reconhecimento igual perante a lei da pessoa com deficiência é
reforçada na parte especial do Estatuto da Pessoa com Deficiência, trazendo a
excepcionalidade da submissão à curatela54, e que essa restrição não atinge o direito
ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação e ao voto55.
TERRA e TEIXEIRA (2018, p. 226) afirmam que esse espírito traz o
empoderamento à pessoa com deficiência, já que a regra é a plena capacidade civil.
Mas isso não impede de, excepcionalmente, haver a restrição, limitada à prática de
atos e negócios jurídicos referentes às situações patrimoniais, nunca existenciais56.
A regra é a plena capacidade civil da pessoa com deficiência, mas essa pode
ser limitada através da submissão ao regime da curatela, que atingirá, apenas, alguns
atos de disposição patrimonial, mantendo a integridade das escolhas no tocante aos
atos existenciais.
SLOBOGIN (2016, p. 298 e ss.) discorre sobre sua preocupação com essa
igualdade das pessoas com deficiência, especialmente as com deficiência mental ou
intelectual, já que todas as proteções do sistema legal a elas aplicadas deveriam ser
54 Lei nº 13.146, de 2015, art. 84, §§ 3º e 4º. 55 Lei nº 13.146, de 2015, art. 85, § 1º. 56 É essa a opinião das Autoras: “No direito brasileiro, portanto, a regra passou a ser a plena capacidade civil da pessoa com deficiência. Trata-se de mudança fundamental, voltada a garantir a considerável parcela da população brasileira a necessária autonomia par ao controle sobre suas próprias decisões, interrompendo um perverso ciclo de desempoderamento. Isso não significa, contudo, que não seja possível limitação pontual da capacidade. “O Estatuto admite, excepcionalmente, que a pessoa com deficiência seja submetida à curatela, que ‘constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível’, nos termos do art. 84, caput, §§ 1º e 3º... “Constata-se, assim, que o próprio Estatuto admite que a restrição da capacidade de fato das pessoas com deficiência para a prática de atos e negócios jurídicos relativos a situações jurídicas patrimoniais, admitindo que a curatela os alcance. De todo o modo, se a regra é a capacidade, e a curatela é excepcional e proporcional às necessidades e às circunstâncias do caso concreto (art. 84, § 2º), parece vedado o estabelecimento de curatela genérica, que afirme, simplesmente, a sua extensão a todos os ‘atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial’ (art. 85). A restrição da capacidade passa a ser construída e delimitada no caso concreto, a partir das circunstâncias particulares da pessoa com deficiência, fazendo-se imperioso que o juiz elenque e justifique, um por um, os atos e negócios patrimoniais que estão submetidos à curatela”.

44
revistas, inclusive as defesas na esfera criminal baseadas na insanidade mental57.
Para o autor, essas orientações seriam contraditórias aos próprios princípios da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (e que constam da Lei
Brasileira de Inclusão), já que a proteção a esse grupo estaria visivelmente ameaçada.
Não é esta a visão do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
que se traduz em sua jurisprudência já produzida sobre a questão. No caso da
comunicação nº 7, de 2012, adotada em sua 16ª sessão (e, setembro de 2016),
decidiu-se sobre uma reclamação aberta contra a Austrália, em virtude à imposição
de medida de segurança a uma pessoa com deficiência mental sem lhe dar a
oportunidade de escolher ser julgado e de se declarar inocente perante o juiz.
A Austrália afirmava que, ao submeter a pessoa com deficiência à medida de
segurança, estaria visando a proteção do suposto autor do crime, tratando-o ao invés
de puni-lo.
O Comitê, por sua vez, decidiu no sentido de ter ocorrido uma violação à
Convenção pelo país, a partir do momento em que não permitiu ao reclamante o direito
de exercer sua plena capacidade civil, optando pelo julgamento no qual poderia,
perante um juiz, declarar-se inocente. O Estado deveria ter garantido a assistência ao
reclamante para exercer o seu direito e, não o fazendo, violou os dispositivos da
Convenção58.
57 É o que afirma (p. 299): “In sum, under the CRPD, mental disability per se should play no role in fashioning laws thar deprive people of liberty (oro f porperty or any other significant interest). Civil commitment laws, incompetency statutes, and mental disability defenses must all be abolished, ora t least very substantially revised. Preventive detention and involuntary treatment rules must be drafted so as to apply to everyone. People with impaired decision-making abilities are to be assisted in, not prevented from, making decisions, and if the decisions they make violate criminal law, they are to pay the consequences to the extent everyone else does”. Em tradução livre: “Em suma, de acordo com a CDPD, a deficiência mental em si não deve desempenhar nenhum papel na criação de leis que privem as pessoas da liberdade (ou da privacidade ou de qualquer outro interesse significativo). Leis de natureza civil, estatutos de incompetência e defesas por deficiência mental devem ser todas abolidas, ou pelo menos substancialmente revisadas. As regras de detenção preventiva e tratamento compulsório devem ser elaboradas de forma a serem aplicadas a todos. As pessoas com deficiências na aptidão de decidir devem ser assistidas, não impedidas, tomar decisões e, se as decisões que tomarem violarem o direito penal, elas deverão pagar as consequências na medida em que todos os outros o façam”. 58 É o que se extrai da decisão do Comitê: “8.2 As regards the author’s complaint under article 5 of the Convention, the Committee notes his submission that Mental Impaired Defendants Ac tis discriminatory as it applies only to persons with cognitive impairment, and provides for their indefinite detention without any finding of guilt when they are charged with criminal offences, while persons without cognitive impairments are protected from such treatment throught the application of the rules of due process and fair trial... “8.6 In the present case, the decision that the author was unfit top lead because of his intelectual and mental disability resulted in a denial of his right to exercise his legal capacity to plead not guilty and to

45
Concluiu o Comitê, portanto, que a possibilidade de exercer o seu direito de
defesa e de se declarar inocente é inerente à plena capacidade civil da pessoa com
ou sem deficiência, e é previsto pela Lei Brasileira de Inclusão no momento em que
afirma ser garantido à pessoa com deficiência todos os direitos assegurados aos
apenados sem deficiência59.
O reconhecimento da igualdade da pessoa com deficiência perante a lei é a
inovação mais controversa trazida pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, adotada pela Lei Brasileira de Inclusão. Para melhor entender sua
extensão, far-se-á a análise de como o Direito Comparado inseriu esse regramento
na ordem interna.
2.5 O reconhecimento da igualdade no Direito Comparado
Conforme já asseverado neste trabalho, a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência impôs aos Estados Membros que alterassem sua legislação
interna, a fim de incluir e garantir o reconhecimento da igualdade da pessoa com
deficiência perante a lei na extensão prevista no texto do tratado.
Frise-se que apenas nove Estados integrantes da Organização das Nações
Unidas não assinaram a referida Convenção, que já possui cento e setenta e sete
Estados Parte. Some-se o fato da imposição da alteração normativa, e a necessidade
de comprovação perante o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência do
cumprimento das regras do pacto e se tem como resultado o campo de pesquisa para
verificar como essa alteração ocorreu nos demais países.
test the evidence against him. Furthermore, no adequate formo f support was provided by the State party’s authorities to enable him to stand trial and plead not guilty, dispite his clear intention to do so...”. Em tradução livre: “8.2 No que diz respeito à queixa do autor, nos termos do artigo 5 da Convenção, o Comitê observa que os Ato de Réus com Deficiência Mental é discriminatório, pois se aplica somente a pessoas com deficiência cognitiva, e prevê sua detenção por tempo indeterminado sem a condenação quando são acusados por ofensas criminais, enquanto pessoas sem deficiências cognitivas são protegidas de tal tratamento através da aplicação das regras do devido processo e julgamento justo... “8.6 No presente caso, a decisão de que o autor era incapaz de optar por causa de sua deficiência intelectual e mental resultou em uma negação de seu direito de exercer sua capacidade jurídica de se declarar inocente e contradizer as provas contra ele. Além disso, nenhum apoio formal adequado foi fornecido pelas autoridades do Estado Parte para permitir que ele seja julgado e declarar-se inocente, apesar de sua clara intenção de fazê-lo...”. 59 Lei 13.146, de 2015, art. 79, § 2º.

46
TERRA e TEIXEIRA (2018, p. 224) analisaram as alterações normativas
ocorridas na Espanha, Itália e Portugal, concluindo que nenhum deles teve
transformação tão significativa quanto o Brasil.
Essa conclusão é corroborada pela análise dos relatórios expedidos pelo
Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência após o exame dos relatórios
preliminares encaminhados por cada Estado Parte.
Para o presente estudo, escolheu-se dez Estados-Parte60 que ratificaram a
Convenção, analisando o relatório inicial, as conclusões do Comitê e a legislação
interna.
Dos dez Estados-Parte selecionados, alguns possuem legislação totalmente
desconexa com o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Em que pese o Reino Unido ter editado em 2010 o Equality Act, fica evidente
desde o conceito de pessoa com deficiência que ele ainda adota o critério médico, ao
invés do biopsicossocial ou a abordagem dos direitos humanos61.
A adoção do critério médico é evidente inclusive, na tabela 1, da Seção 6, do
referido Ato, quando determina que o câncer, a infecção do vírus HIV e a esclerose
múltipla são consideradas deficiência, independentemente de qualquer outro fator.
O problema na fixação desse critério não é a parte médica (já que são doenças
– até o presente momento – incuráveis). O que se questiona é ignorar os fatores
sociais que interagem para determinar se alguém doente é pessoa com deficiência.
Doença, por si só, não é deficiência.
O Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ao examinar o
relatório inicial do referido Estado-Parte trouxe mais uma crítica: o Reino Unido
permite o aborto seletivo do feto com deficiência, mas não em outras situações. Por
essa razão houve a recomendação para adequação da legislação sobre o tema,
60 A escolha teve por critérios a distribuição territorial e cultural, trazendo a maior divergência possível. Assim, elencou-se um país de origem muçulmana localizado no Oriente Médio, bem como outro do Sudeste Asiático. Buscou-se que as regiões geográficas fossem representadas, mas optou-se por escolher, também, países que possuem organização legal similar à brasileira. Além disso, levou-se em consideração os relatórios mais recentes analisados pelo Comitê. Os referidos países são: Argentina, Áustria, Canadá, Chile, Irã, Itália, Portugal, Reino Unido, Rússia e Tailândia. 61 O referido conceito consta do artigo 6, do referido Equality Act: “6 Disability – (1) A person (P) has a disability if – (a) P has a physical or mental impairment, and (b) the impairment has a substantial and long-term adverse effect on P’s ability to carry out normal day-to-day activities”. Em tradução livre: “6 Deficiência – (1) A pessoa (P) possui uma deficiência se – (a) P tem um impedimento físico ou mental, e (b) o impedimento tem um efeito de longo prazo na habilidade da P para as atividades diárias”.

47
garantindo os direitos reprodutivos e a autonomia sexual da mulher, mas não o aborto
seletivo apenas dos fetos com deficiência.
No Chile a situação não é muito diferente. Apesar do referido Estado-Parte ter
incluído a deficiência na Lei Anti-Discriminação, o Comitê apontou que a legislação
interna ainda não foi adaptada aos termos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência, ainda utilizando termos como “inválido” e “doentes mentais” ao se
referir à pessoa com deficiência.
Isso é claro na redação do Código Civil Chileno, que continua a considerar
como incapaz o surdo-mudo que não consegue se exprimir por escrito (ignorando a
existência da língua de sinais). Afirma, ainda, que os “dementes” são considerados
incapazes.
Essa inadequação terminológica também ocorre no Irã. O Comitê sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, ao analisar o relatório inicial do referido Estado-
Parte, apontou que a legislação usa as expressões “doente mental”, “retardado” e
“insano” para se referir à pessoa com deficiência.
Aliás a deficiência ali é considerada “desordem” e a legislação foca no
tratamento como se doença fosse. Outro ponto desabonador é a previsão da
realização compulsória de teste genético pré-matrimonial, para evitar o nascimento de
crianças com deficiência, não reconhecendo a capacidade das pessoas com
deficiência para quaisquer atos.
A crítica realizada pelo Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
ao relatório inicial da Tailândia foi a necessária adequação da legislação interna aos
ditames da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ressaltando que
deve haver a troca do sistema de interdição por outro que permita o apoio na tomada
de decisão pela pessoa com deficiência.
A observação da troca do sistema de interdição por um que apoie a pessoa
com deficiência na tomada de decisão também foi feita pelo mesmo Comitê ao
relatório inicial apresentado pela Federação Russa, sendo acrescida a crítica para se
corrigir a tradução realizada ao texto da Convenção, que converteu a expressão
“pessoa com deficiência” em “inválido”.
O Canadá ratificou a Convenção com reserva do artigo 12, que determina o
reconhecimento igual perante a lei. Apesar disso, editou a Lei Canadense de Direitos

48
Humanos, na qual incluiu a definição de deficiência baseada na concepção dos
direitos humanos, proibindo a discriminação em qualquer grau em sua decorrência.
O Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ao analisar o relatório
inicial canadense, criticou a reserva realizada ao artigo 12, afirmando que ela contraria
o objeto e o propósito da Convenção. Também ressaltou que o sistema baseado em
substituição da vontade da pessoa com deficiência utilizado pelo Estado Parte
contraria a Convenção, cabendo a criação de um sistema de apoio para a tomada de
decisão.
Em seu relatório inicial apresentado a Itália informou que alterou sua legislação
em 2004, criando o instituto da “Amministrazione di Sostegno”, que pode ser
livremente traduzido como “Administração do Apoio” ou “Apoio Gerenciado”.
Segundo o exposto pelo relatório inicial apresentado, seria uma forma de apoio
à pessoa com deficiência à sua tomada de decisão, mas o Comitê sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência expôs o seu receio de que o suposto suporte se
transforme em uma espécie de interdição.
Frise-se que, apesar da suposta adequação ao texto da Convenção pela
legislação interna, o Comitê ressaltou que a Itália continua a utilizar o critério médico
para definição de deficiência, e não o biopsicossocial ou a abordagem de direitos
humanos, devendo haver a adequação da legislação interna.
Ao avaliar o relatório inicial apresentado pela Áustria, o Comitê sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência elogiou o referido Estado-Parte por ter lançado
um projeto de decisão apoiada, mas ressaltou que – no ano de 2013 – mais de
cinquenta e cinco mil austríacos estavam sob algum tipo de interdição.
Hoje se discute a profunda alteração no sistema austríaco, visando a
adequação ao texto da Convenção. GANNER (2016, p. 9) aponta que uma das razões
é justamente a demanda trazida pela Convenção dos Direitos das Pessoas com
Deficiência em reduzir os instrumentos de substituição de vontade (como a interdição),
adotando alguma forma de decisão apoiada. Esse é o objetivo da alteração
apresentada que ainda não foi aprovada que, dentre outras inovações, cria a figura
do substituto escolhido (Gewählter Erwachsenenvertreter), o qual pode ser apontado
por aquele que possui nível cognitivo mais baixo, que o auxiliaria nas tomadas de
decisão.

49
A situação na Argentina é um pouco diferente. Houve a alteração na legislação
interna com a edição, no ano de 2015, do novo Código Civil, que buscou atender
algumas demandas apontadas pelo Comitê sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência nas observações efetuadas ao relatório inicial.
O referido Código Civil fixou que a capacidade geral de exercício é presumida,
sendo que as eventuais limitações serão sempre excepcionais62. Apesar da
capacidade presumida ser a regra, o artigo 32 permite a restrição por ordem judicial
nos casos de vício ou de alteração mental permanente ou prolongada. Mas nestes
casos deve o juiz providenciar os apoios necessários à pessoa com deficiência.
Apoio foi definido pelo artigo 43 do Código Civil Argentino e, em tradução livre,
entende-se por “qualquer medida de natureza judicial ou extrajudicial que facilite à
pessoa que dela necessita tomar decisões para dirigir sua pessoa, administrar seus
bens e celebrar atos jurídicos em geral”. Ela busca garantir a autonomia da pessoa
com deficiência, facilitando a comunicação com a sociedade.
Nos casos em que a pessoa for absolutamente incapaz de interagir com o meio
e de manifestar a sua vontade o artigo 32 permite ao juiz que, excepcionalmente,
declare a incapacidade da pessoa com deficiência, designando um curador para
representá-la.
A alteração mais atual na codificação civil foi a ocorrida em Portugal – que é
um dos Estados-Parte da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
A alteração foi publicada em agosto de 2018, e que entrou em vigor em fevereiro de
62 É o que afirma o artigo 31 do referido Código: “ARTICULO 31.- Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales: a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial; b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona; c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial; d) la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión; e) la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios; f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades”. Em tradução livre: “ARTIGO 31. - Regras gerais. A restrição ao exercício da capacidade jurídica rege-se pelas seguintes regras gerais: a) a capacidade geral de exercício da pessoa humana é presumida, mesmo quando em um estabelecimento de assistência; b) as limitações de capacidade são excepcionais e são sempre impostas em benefício da pessoa; c) a intervenção do Estado tem sempre caráter interdisciplinar, tanto no tratamento quanto no processo judicial; d) a pessoa tem o direito de receber informações através de meios e tecnologias adequados para o seu entendimento; e) a pessoa tem o direito de participar no processo judicial com assistência jurídica, que deve ser fornecida pelo Estado se não tiver meios; f) alternativas terapêuticas menos restritivas de direitos e liberdades devem ser priorizadas”.

50
2019. Por ela foi criado o regime jurídico do maior acompanhado, eliminando os
institutos da interdição e da inabilitação.
O regime de acompanhamento é direcionado não apenas à pessoa com
deficiência, mas ao “maior impossibilitado, por razões de saúde, deficiência, ou pelo
seu comportamento, de exercer, plena, pessoal e conscientemente, os seus direitos
ou de, nos mesmos termos, cumprir os seus deveres”63. O acompanhamento se
restringe ao necessário, sendo fixado pela nova redação do artigo 147 que “o exercício
pelo acompanhado de direitos pessoais e a celebração de negócios da vida corrente
são livres”, sendo que os direitos pessoais são aqueles personalíssimos, destinados
à autodeterminação da pessoa humana, como o direito de casar (ou fixar união
estável) e de procriar.
Mas há o risco do regime de acompanhamento ser na realidade espécie de
interdição, uma vez que a nova redação do artigo 1.601º do Código Civil Português
prevê que a decisão de acompanhamento pode ser um impedimento dirimente
matrimonial absoluto se a decisão judicial assim o firmar, ou seja, o direito da pessoa
com deficiência de casar não é absoluto.
Verifica-se na realidade a movimentação mundial em buscar a adequação da
legislação interna aos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, mas aparentemente não há qualquer outro Estado-Parte que tenha
realizado alterações tão profundas em seu ordenamento como o brasileiro. Resta
perguntar é se essas alterações são suficientes para garantir a igualdade à pessoa
com deficiência.
2.6 Deficiência
A conceituação de deficiência é necessária neste momento, a fim de se
delimitar justamente os desafios enfrentados pela Lei Brasileira de Inclusão.
Conforme já asseverado no primeiro capítulo, a tutela das pessoas com
deficiência sofreu profundas alterações ao longo do tempo, evoluindo o conceito dos
sujeitos que seriam protegidos.
63 Nova redação parcial do artigo 138º do Código Civil Português, com as alterações trazidas pela Lei nº 49, de 2018.

51
Não retroagindo muito na evolução legislativa, o conceito legal de pessoa com
deficiência que foi largamente utilizado no Brasil decorreu do disposto na redação
original do parágrafo segundo, do artigo 20 da Lei nº 8.742, de 1993 (Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS), que a definia como sendo “aquela incapacitada para a
vida independente e para o trabalho”.
O que se vislumbra com a análise do dispositivo legal acima transcrito é que o
conceito de pessoa com deficiência era – por força de lei – equiparado ao conceito de
incapacidade laborativa, acrescido da incapacidade para os atos da vida
independente.
Frise-se que este conceito era por demais restritivo: excluía de sua tutela a
pessoa com deficiência que tinha capacidade para o trabalho. Além disso, o
impedimento à prática de atos de vida independente restringia ainda mais a tutela das
pessoas com deficiência. SANTOS (2013, p. 125) critica a conceituação de pessoa
com deficiência trazida pela redação original da Lei Orgânica de Assistência Social, já
que ela não tem relação com a aptidão ao exercício de atividade laborativa64.
Independentemente das críticas, fato é que – na época de sua edição – o
conceito trazido pela Lei Orgânica de Assistência Social era uma tentativa de trazer
maior segurança jurídica. Em que pese as falhas da redação do artigo, a interpretação
jurisprudencial houve, por bem, tentar adequá-la à realidade.
Cite-se, por exemplo, a edição da Súmula 29 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que mitigou a ideia
de impossibilidade de prática de atos de vida independente65.
O conceito legal de pessoa com deficiência era, então, criticado, mas era o
dispositivo legal aplicável.
Em 2007 o Brasil assinou a Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, os quais foram ratificados66
64 É o que afirma: “A CR de 1988 quis dar proteção às pessoas com deficiências físicas e psíquicas em razão das dificuldades de colocação no mercado de trabalho e de integração na vida em comunidade. Não tratou de incapacidade para o trabalho, mas, sim, de ausência de meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida pela família, situações que não são sinônimas. “Então, parece-nos que o conceito trazido pela LOAS era equivocado e acabava por tornar iguais situações de desigualdade evidente...”. 65 Súmula 29 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: “Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento”. 66 Tanto a Convenção quanto o Protocolo Facultativo foram promulgados através do Decreto nº 6.949, de 2009.

52
através da sistemática prevista no parágrafo terceiro, do artigo quinto, da Constituição
da República Federativa do Brasil67, equivalendo, portanto, às emendas
constitucionais. Em seu artigo 1º a referida Convenção conceitua pessoa com
deficiência aquela que possui “impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas”.
Dessa maneira, a análise da deficiência deixa de ser exclusivamente médica e
passa a englobar o aspecto social. Mudou-se o paradigma de classificação da pessoa
como sendo com deficiência. Na realidade essa alteração paradigmática já ocorrera
em 2001, com a edição pela Organização Mundial da Saúde da Classificação
Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF68.
Com a adoção internacional da CIF como critério para apuração da existência
da deficiência, constata-se que a avaliação não é mais, apenas, biomédica; passa,
também, por uma análise do aspecto social (presença ou não de barreira), que impede
a pessoa a participar na sociedade em igualdade de condições com os demais.
Talvez o maior mérito no referido conceito seja, justamente, a retirada do foco
da conceituação da pessoa em si, passando para a existência de barreiras e os
impactos que elas podem trazer à pessoa com o impedimento69.
67 Art. 5º ... § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 68 Sobre essa alteração de paradigmas SILVA (2012, p. 115/116) leciona: “Durante 25 anos a classificação biomédica foi adotada, até que, em 2001, a OMS revisou o modelo e publicou a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), que representa um avanço no estudo do tema, pois passa a considerar não somente a questão biomédica, mas também os aspectos sociológicos e políticos da deficiência, o que se pode chamar de modelo social de deficiência. “Conforme o modelo estabelecido pelo ICF, as desvantagens infligidas às pessoas com deficiência não resultam pura e simplesmente da lesão, mas da sociedade e da incapacidade de todos – meio social e Poder Público – em tratar da questão. “A deficiência é uma forma de exclusão social, que somente será superada com a movimentação da coletividade e a adoção de políticas públicas efetivas. Não se pode tolerar a visão de deficiência como carma, tragédia pessoal ou desvantagem determinada pela natureza, e sim como experiência a ser compartilhada. “Ademais, se a deficiência é uma limitação física, psíquica e/ou motora que pode ou não restringir as funções de uma pessoa, a desvantagem é uma questão social, que pode ser evitada, com acesso a uma adequada assistência à saúde e aos mecanismos de apoio...”. 69 RIBEIRO (2012, p. 148/149) argumenta exatamente neste mesmo sentido: “Esse conceito social da deficiência tem o grande mérito de deslocar o debate sobre a questão da deficiência para o meio social, retirando-o da pessoa, uma vez que há um inter-relacionamento entre a pessoa com deficiências, as

53
O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 2015), preocupou-se
com a definição do que seriam barreiras
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
...
IV – barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;
b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;
c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;
d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia de informação;
e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;
f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiências às tecnologias;
Os entraves existentes na sociedade, sejam físicos ou atitudinais, são o que
realmente impedem a plena e efetiva participação da pessoa com deficiência em
igualdade de condições e oportunidades. Justamente por essa razão que FONSECA
(2012, p. 27)70 defende que a deficiência não está no impedimento, mas sim na
barreira71.
barreiras atitudinais (preconceito) e o ambiente, que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de condições e de oportunidades”. 70 É o que leciona: “Se a deficiência é tida como algo inerente à diversidade humana, é possível afirmar, sem qualquer jogo de palavras, que as pessoas cegas, surdas, paraplégicas e tetraplégicas apresentam atributos, como já disse, que devem ser equiparados aos demais atributos humanos, como gênero, raça, idade, orientação sexual, origem, classe social, entre outros. Tais atributos, porém, não contém qualquer deficiência. A deficiência está, doravante, nas barreiras sociais que excluem essas pessoas do acesso aos direitos humanos básicos. Trocando em miúdos, quero dizer que a deficiência não está na pessoa e sim na sociedade, que deve, como determinam todos os demais dispositivos da Convenção da ONU, buscar políticas públicas para que os detentores daqueles atributos outrora impeditivos emancipem-se”. 71 No mesmo sentido: ARAÚJO (2013, p. 56): “Diferentemente do que rezava o Decreto Regulamentar n. 5.296/2004, a questão da deficiência deixou de ser relacionada com uma patologia, e passou a ser considerada questão ambiental, de interação com a sociedade e com o ambiente. Claro que o conceito de dificuldade ainda encontra a necessária acentuação. Mas o forte é a inteiração com o ambiente”.

54
Os impedimentos, sob esta ótica, são atributos da pessoa com deficiência72
que a qualificam, tal qual cor dos olhos, sexo ou nome. Fazem parte da própria
pessoa, integrando-a73. Apenas a interação desses impedimentos com as barreiras
porventura existentes que acabam por determinar se alguém é pessoa com
deficiência.
Fato é que, em determinadas situações, a eliminação de barreira pode não ser
suficiente para incluir a pessoa com deficiência na sociedade. Não é porque uma
prefeitura colocou piso táctil em toda cidade que a pessoa com deficiência visual é
automaticamente incluída na sociedade em igualdade de condições.
Sem embargo, é com a eliminação das barreiras porventura existentes que se
abre o caminho para a inclusão da pessoa com deficiência.
O tema central deste trabalho, contudo, é a capacidade da pessoa com
deficiência mental ou intelectual. Assim, é imperativo, neste momento, definir o que é
impedimento de natureza mental e intelectual.
GUGEL (2012, p. 413), ao diferenciá-las afirma que a deficiência mental “está
ligada às funções mentais do corpo e que podem gerar transtornos mentais”, enquanto
que a deficiência intelectual está ligada ao déficit cognitivo da pessoa74.
72 FONSECA, 2012, p. 24: “Os impedimentos de caráter físico, mental, intelectual e sensorial são, a meu sentir, atributos, peculiaridades ou predicados pessoais, os quais, em interação com as diversas barreiras sociais, podem excluir as pessoas que os apresentam da participação na vida política, aqui considerada no sentido amplo. As barreiras de que se trata são os aspectos econômicos, culturais, tecnológicos, políticos, arquitetônicos, comunicacionais, enfim, a maneira como os diversos povos percebem aqueles predicados. O que se nota culturalmente é a prevalência da ideia de que todas pessoa surda, cega, paraplégica, amputada ou com qualquer desses impedimentos foge dos padrões universais e por isso tem um ‘problema’ que não diz respeito à coletividade. É com tal paradigma que se quer romper”. 73 ARAÚJO, 2012, p. 55: “Há uma simbologia importante no novo tratamento. A deficiência passa a ser parte da pessoa, integrando-se a ela, e não algo que estava perto em virtude de posse ou portabilidade. Ela não carrega; ela é. Mas, antes de tudo, é uma pessoa. Logo, houve um ajuste de contemporaneidade à expressão empregada no Texto Constitucional”. 74 É o que leciona: “A CDPD mantém as mesmas definições para as pessoas com deficiência de natureza física e sensorial. Consolida em seu texto a designação de deficiência de natureza intelectual seguindo as decisões de associações internacionais e da própria agência da Organização Mundial da Saúde e introduz a deficiência de natureza mental que está relacionada à saúde (ou falta dela = doença) mental. “A nova concepção de deficiência mental está ligada às funções mentais do corpo e que podem gerar transtornos mentais, exemplo de pessoas que têm esquizofrenia ou depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, paranoia, manias, controlados por meio de medicamentos. “As pessoas com deficiência de natureza intelectual, antes designadas de deficiência mental, continuam sendo aquelas de comprovado déficit cognitivo porque o seu funcionamento intelectual é significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoitos anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho”.

55
Dessa maneira, fica evidente que, enquanto os impedimentos de natureza
mental estão relacionados à falta de saúde mental (ou presença de transtornos
mentais), os de natureza intelectual se restringem ao déficit cognitivo que alguém
possa ter. Apesar disso, não há tratamento diferenciado trazido pela lei à pessoa com
deficiência mental ou intelectual.
O grande desafio da Lei Brasileira de Inclusão é a eliminação das barreiras
porventura existentes que impedem o exercício dos direitos das pessoas com
deficiência em igualdade de condições com as pessoas sem deficiência. Barreiras
essas de qualquer natureza, inclusive jurídicas (cujo conceito será abordado adiante).
Porém, antes deve ser analisada a grave enfermidade, que – em certas
situações – seu titular pode se encontrar em situação de similaridade com a pessoa
com deficiência, mas sem a mesma proteção.
2.7 Grave enfermidade
Enfermidade é uma alteração biológica do estado de saúde de alguém, que se
manifesta através de sintomas que podem afetar a qualidade de vida. Há doenças que
podem gerar pequenos inconvenientes (como leve coriza ou dor de cabeça), mas há
sintomas de certas patologias que podem impedir o convívio social.
Há muito a legislação tem se preocupado em tratar diferenciadamente a pessoa
acometida de grave enfermidade, dando-lhe maior proteção.
Tanto é assim que a redação original da Lei nº 8.213, de 1991 (que institui o
plano de benefício do Regime Geral da Previdência Social) garantia ao portador de
grave enfermidade a isenção de carência para concessão de benefícios por
incapacidade de natureza previdenciária.
A lista de doenças graves sofreu alterações75, mas hoje consta do artigo 151
da Lei nº 8.213, de 1991, com a redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. São
75 O Plano de Benefícios da Previdência Social não pretendia elevar à sede de lei a normatização do que seria uma grave enfermidade, remetendo à edição de uma lista de patologias pelo Ministério da Saúde. Todavia, a fim de garantir o direito às pessoas portadoras de graves enfermidades, a redação original da referida Lei trouxe uma lista de patologias a ser considerada até a edição do referido ato. O ato normativo só foi editado em 23 de agosto de 2001, pela Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2.998, mas o rol ali constante não está mais atualizado, uma vez que houve ampliação do mesmo através da Lei nº 13.135, de 2015, que alterou a redação do art. 151, da Lei nº 8.213, de 1991. Ressalte-se, ainda, que é possível a alteração desse rol por ato infralegal, sem que isso viole o princípio da legalidade, já que a redação do Plano de Benefícios continua a remeter a edição da lista de doenças graves a ato do Ministério da Saúde.

56
consideradas enfermidades graves as seguintes patologias: tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia
maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da
doença de Pager (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida
(aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada.
O que se indaga é se possível enquadrar uma pessoa com grave enfermidade
como sendo com deficiência?
Em determinadas situações a grave enfermidade pode configurar o
impedimento (médico) necessário à configuração da situação de deficiência,
passando à análise da presença de barreiras sociais. Deve-se, entretanto, analisar o
caso concreto, não existindo uma solução padronizada a priori para todas as
situações.
Ocorre que, caso não seja equiparada a pessoa com deficiência, o portador de
doença grave pode ficar em situação de desvantagem, já que não seria protegido pela
Lei Brasileira de Inclusão.
Uma pessoa com a síndrome da deficiência imunológica adquirida em estágio
inicial da doença pode, através do tratamento medicamentoso, viver sem muitas
restrições. Estaria incluído na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.
Porém, há ainda muito preconceito em relação aos portadores do vírus HIV,
quiçá em relação aos que está com a síndrome ativa. Nestes casos há uma barreira
atitudinal que exclui o convívio social.
Não se pode afastar, de plano, a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão às
pessoas portadoras de grave enfermidades; mas também não se pode aplicar a
referida Lei de forma irrestrita a todos os casos.
Deve o intérprete, à luz do caso concreto, analisar se o estágio da grave
enfermidade é compatível com o de um impedimento de longo prazo para, então,
passar à análise da presença de barreira, concluindo pela aplicação, ou não, do
Estatuto das Pessoas com Deficiência.

57
2.8 Barreiras jurídicas
Não há a conceituação na Lei Brasileira de Inclusão das barreiras jurídicas,
mas elas são a realidade que impede o pleno exercício dos direitos pelas pessoas
com deficiência em igualdade de condições.
Barreira é, portanto, qualquer entrave ou obstáculo que limite a participação
social da pessoa com deficiência ou o exercício de seus direitos. Elas são
classificadas em algumas espécies pelo texto de lei, mas esse rol é meramente
exemplificativo.
Isso porque há obstáculos que não podem ser classificados pela sistemática
proposta em qualquer das espécies, como a existência de entraves legais, por
exemplo.
Deve-se lembrar que – até a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão – a
ótica da legislação nacional era extremamente protecionista, tutelando a pessoa com
deficiência (especialmente a deficiência mental ou intelectual) através de institutos
que substituíam a vontade do considerado incapaz.
Em que pese a mudança desse paradigma, ainda há resquícios legais da
restrição do direito de igualdade da pessoa com deficiência. Um exemplo a ser trazido
é a possibilidade da pessoa com deficiência servir como testemunha em processo
judicial.
A redação original do Código Civil não admitia como testemunha “aqueles que,
por enfermidade ou retardamento mental, não tiverem discernimento para a prática
dos atos da vida civil”76 ou “os cegos e surdos, quando a ciência do fato que se quer
provar dependa dos sentidos que lhes faltam”77.
Essas previsões foram alteradas pela Lei Brasileira de Inclusão, revogando os
referidos dispositivos e incluindo parágrafo no artigo determinando que “A pessoa com
deficiência poderá testemunhas em igualdade de condições com as demais pessoas,
sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva”78.
76 Redação original do Código Civil, art. 228, II. 77 Redação original do Código Civil, art. 228, III. 78 Código Civil, art. 228, § 2º.

58
Ocorre que o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor após a Lei
Brasileira de Inclusão, trouxe como incapaz para depor como testemunha a pessoa
com deficiência em certas situações79.
Fica claro que há um obstáculo na lei que dificulta à pessoa com deficiência de
servir de testemunha em processo judicial, restrição essa que não é colocada à
pessoa sem deficiência. Ela existe simplesmente pela pessoa ter deficiência80.
Esse é um exemplo claro de barreira jurídica que existe no nosso ordenamento,
fazendo com que a almejada igualdade seja o ideal a ser perseguido.
Foi com o objetivo de eliminar as barreiras jurídicas que a Lei Brasileira de
Inclusão trouxe o princípio da plena capacidade civil da pessoa com deficiência. O que
se deve analisar é se esse princípio é suficiente para eliminar ou minimizar o impacto
das barreiras jurídicas existentes.
O referido princípio, já mencionado, será abordado em capítulo próprio.
A Lei brasileira de Inclusão tem como objetivo principal buscar a igualdade da
pessoa com deficiência na sociedade. Para isso, trouxe uma série de inovações e
alterações legislativas, buscando sempre a eliminação das barreiras porventura
existentes.
A profunda alteração do sistema de incapacidades, lastreada na ideia de plena
capacidade civil da pessoa com deficiência, foi uma das ações tomadas. Deve-se,
contudo, verificar as modificações ocorridas e se elas foram suficientes para eliminar
as barreiras jurídicas até então existentes.
79 É o que assevera o Código de Processo Civil em seu art. 447, § 1º: “Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. “§ 1º São incapazes: “I - o interdito por enfermidade ou deficiência mental; “II - o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções; “... “IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam”. 80 Não é essa a única crítica que cabe. A própria redação do novo Código de Processo Civil é reprovável, uma vez que utiliza a expressão “retardamento mental” e não “pessoa com deficiência mental ou intelectual”, qualificando a pessoa com deficiência como atrasada ou retardada. É um retrocesso que merecia correção.

59
3 Capacidade Jurídica das Pessoas Naturais
É capaz quem pensa que é capaz. Buda
O presente trabalho tem por escopo analisar os impactos da edição do Estatuto
das Pessoas com Deficiência sobre a capacidade negocial da pessoa com deficiência
mental ou intelectual.
Para tanto, é indispensável discorrer um pouco sobre os conceitos básicos
relacionados à personalidade e à capacidade da pessoa natural, bem como sobre os
impactos por ele sofridos.
Isto porque a entrada em vigor do Estatuto das Pessoas com Deficiência trouxe
profundas alterações no sistema de incapacidades do Código Civil, das quais
decorreram os problemas levantados para a presente pesquisa.
Mas, antes de examinar qualquer categoria, é indispensável perquirir o próprio
conceito de pessoa natural, já que é dele que decorre todos os demais a serem
estudados.
3.1 Conceito de Pessoa Natural e de Personalidade
O conceito de pessoa sempre esteve atrelado à possibilidade de atribuição a
ela de direitos e obrigações. Esse é o conceito clássico trazido por BEVILAQUA (1916,
p. 166), ao afirmar que “Pessôa é o ser, a que se atribuem direitos e obrigações.
Equivale, assim, a sujeito de direitos”81.
Pessoa seria, então, o sujeito de direitos; o senhor dos seus atos. Nas palavras
de NERY e NERY JUNIOR (2015, v. I, t. II, p. 7) é aquele “que tem o domínio exclusivo
de seus atos, que os exerce como autor e não mais como ator, é sujeito de direitos”.
81 Esse é o conceito clássico de pessoa que é repetido, como na obra de J. M de Carvalho Santos (1963, p. 229) que o repete, mas que ecoa até a doutrina mais moderna, como a de GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2012, p. 128) que referenciam o clássico Clóvis Bevilaqua.

60
Seriam, então, “elementos fundamentais do direito privado”82, aplicando-se o princípio
da dignidade humana em todas as suas relações.
MONTEIRO (1990, p. 55/56) afirma que a palavra “pessoa” pode ser
compreendida em três diferentes acepções: vulgar (correspondente a ente humano),
filosófica (ente que realiza o fim moral) e jurídica. Na versão jurídica da palavra que
se encontra a ideia de sujeito da relação jurídica83.
REALE (1983, p. 211), ao analisar a pessoa como Valor Fonte do Direito, segue
a mesma ideia de domínio dos atos, tendo consciência de que existe como ser
próprio84.
Essa é a definição antropológica de pessoa, lastreada na sua liberdade
espiritual. Ou seja, a partir do momento em que o homem toma consciência de sua
própria existência, passa a ser pessoa, centro de imputação das normas jurídicas,
sujeito de direitos.
A visão antropológica acima descrita, que foca no estudo do homem como ser
social, cultural e biológico, aproxima-se da visão metafísica do conceito de pessoa, a
qual busca as respostas no plano de existência e da natureza das coisas.
Ao analisar a visão metafísica do conceito de pessoa, MIGLIORE (2009, p. 80)
cita as lições de Walter Moraes para afirmar que ela seria a “substância individual da
natureza racional”85.
82 NERY e NERY JUNIOR, 2015, v. I, t. II, p. 7. 83 Para tanto, MONTEIRO (1990, p. 55) parte da origem da palavra para analisar as acepções que encontra: “A palavra pessoa advém do latim persona, emprestada à linguagem teatral na antigüidade romana. Primitivamente, significava máscara. Os atores adaptavam ao rosto uma máscara, provida de disposição especial, destinada a dar eco às suas palavras. Personare queria dizer, pois, ecoar, fazer, ressoar. A máscara era uma persona, porque fazia ressoar a voz da pessoa. “Por curiosa transformação no sentido, o vocábulo passou a significar o papel que cada ator representava e, mais tarde, exprimiu a atuação de cada indivíduo no cenário jurídico. Por fim, completando a evolução, a palavra passou a expressar o próprio indivíduo que representa esses papéis. Nesse sentido é que a empregamos atualmente”. 84 É a lição de REALE: “Mas o homem representa algo que é um acréscimo à natureza, a sua capacidade de síntese, tanto no ato instaurador de novos objetos do conhecimento, como no ato constitutivo de novas formas de vida. O que denominamos poder nomotético do espírito consiste em uma faculdade de outorgar sentidos aos atos e às coisas, faculdade essa de natureza simbolizante, a começar pela instauração radical da linguagem. “No centro de nossa concepção axiológica situação, pois, a ideia do homem como ente que, a um só tempo, é e deve ser, tendo consciência dessa dignidade. É dessa consciência que nasce a ideia de pessoa, segundo a qual não se é homem pelo mero fato de existir, mas pelo significado ou sentido da existência”. 85 É exatamente essas as palavras do referido Autor (2009, p. 80): “Os teólogos da filosofia cristã da Schola – Boecio, Alberto Magno, São Tomás de Aquino – foram buscar na visão aristotélica e platônica da metafísica a definição de pessoa, que lhes possibilitou encontrar explicações racionais para os mistérios da fé... “A pessoa é, portanto, na definição tomista, a ‘substância individual da natureza racional’.

61
Foi exatamente esse o conceito de pessoa – segundo a visão metafísica – que
abordei em outro trabalho (2017, p. 18), ao afirmar que ela “é o que de mais completo
existe na natureza racional (seres com consciência de sua própria natureza, com
liberdade espiritual), e sustenta-se em si mesma, ou seja, sem depender de outro.
Existe por si só”.
Mas neste ponto deve-se retomar a visão clássica do conceito de pessoa como
sujeito de direitos. Dela decorre, necessariamente, o conceito de personalidade.
Na definição clássica de BEVILAQUA (1916, p. 166), a personalidade seria “a
aptidão, reconhecida pela ordem jurídica a alguém, para exercer direitos e contrahir
obrigações. Todo sêr humano é pessoa, porque não há homem excluído da vida
jurídica, não há criatura humana, que não seja portadora de direitos”.
Personalidade seria o que há de mais importante na pessoa natural, já que nela
reside a capacidade de possuir direitos e contrair obrigações86. Nas palavras de
RODRIGUES (2007, p. 1) personalidade nesta visão clássica é “a possibilidade de um
determinado indivíduo poder atuar no cenário jurídico, ou seja, para ser pessoa não é
necessário ter direitos, mas sim poder vir a tê-los”87.
Não há, portanto, pessoa desprovida de personalidade, já que esta é inerente
à situação de ser pessoa. No entanto há entes despersonalizados que podem ser
titulares de certos direitos88.
“Substância, na metafísica, deve ser entendida como sujeito individual, ‘ser’, ou gênero a que esse sujeito pertence. Ou, como disse Walter Moraes, substância é aquilo que é essencialmente independente, ‘não carece de outro fundamento’ ou que ‘na expressão lapidar de S. Tomás, sustentatur in se ipso’”. 86 É justamente essa a posição de SANTOS (1963, p. 245), quando afirma que “A personalidade constitui o mais importante ‘estado’ de pessoa; basta lembrar que ela existe de direito em qualquer pessoa natural, como um corolário necessário desta outra verdade referida pelo brilhante comentador do Código Suíço [Curti Forrer]: a capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações pressupõe, excetuadas as disposições concernentes às pessoas jurídicas, a existência de um ser humano”. 87 Mas este mesmo autor (2007, p. 2), critica a aplicação desse conceito nos dias atuais, especialmente após a promulgação da Constituição da República de 1988, a qual impõe uma releitura dos institutos. Isso porque o conceito de personalidade da doutrina clássica é muito próximo da noção de capacidade (a qual será abordada no próximo item). 88 Em sua obra COELHO (2016, p. 173) traz essa ideia ao diferenciar personalidade e capacidade. Isto porque lembra dos entes despersonalizados, que titularizam direitos sem serem pessoas: “A distinção entre sujeito de direito e pessoa, bem como a decorrente consideração da categoria dos sujeitos despersonificados, importa a atribuição de significado específico para a personalidade jurídica, totalmente desconhecido nas tecnologias que não fazem tal diferenciação. Para os que consideram sinônimos sujeito de direito e pessoa, a personalidade jurídica (também chamada capacidade de direito) é a aptidão genérica para titularizar direitos e deveres. Para os que, como eu, distinguem sujeito de direito e pessoa e consideram como categoria conceitual própria os sujeitos despersonificados, a aptidão para titularizar direitos e deveres é atributo de todos os sujeitos, personificados ou não. Personalidade jurídica, por consequência, deve ter significado diverso, mais restrito. E tem: é a autorização genérica para a prática dos atos jurídicos não proibidos. Essa autorização falta aos entes

62
Deve-se frisar que a personalidade, em seu conteúdo, sofre o influxo do
princípio da dignidade da pessoa humana, valor fundamental do ordenamento jurídico
brasileiro. Isso porque a pessoa humana é um dos elementos centrais do direito
privado89.
Partindo do conceito metafísico de pessoa, personalidade, nas palavras de
MIGLIORE (20009, p. 82) seria a “aptidão, qualidade, como aparência, subsistência”.
A relação entre pessoa e personalidade seria, nos dizeres de MORAES (2000, p. 191),
aquela existente entre substância e subsistência.
ABBAGNANO (1962, p. 692) conceitua substância como sendo “aquilo cujo
conceito não precisa do conceito de uma outra coisa pelo qual deva ser formado”, ou
seja, subsiste por si só. Já a subsistência, seria “na realidade, qualidade da
substância. É a qualidade que permite a independência da substância ... É ela que
permite a substância ser sem depender do outro”90.
Desta maneira, enquanto que pessoa seria o que existe de mais perfeito e
completo na natureza racional, na personalidade reside a própria independência da
pessoa, ou, nas nossas palavras em outra obra (2017, p. 19) “personalidade é
qualidade de pessoa, na qual reside justamente sua liberdade espiritual, sua
individualidade, sua independência”91.
despersonificados, que só podem praticar os atos ínsitos às suas finalidades, se as possuírem, ou expressamente autorizados por lei”. 89 É o que lecionam FARIAS e ROSENVALD (2015, p. 131): “Surge, pois, em razão dessa nova perspectiva jurídica proporcionada pela Lex Mater, um conceito contemporâneo de personalidade jurídica, desenhada a partir de um ‘mínimo ético’ e de um ‘mínimo existencial’, que não podem ser violados nem pelo Poder Público, nem pelos demais membros da sociedade privada. Portanto, a personalidade jurídica não pode mais estar represada na ideia pura e simples de aptidão para ser sujeito de direito. Muito mais do que isso, a personalidade jurídica, antenada no valor máximo da dignidade humana, diz respeito ao reconhecimento de um mínimo de garantias e de direitos fundamentais, reconhecidos à pessoa que possa viver dignamente”. 90 Essa foi nossa observação em outra obra (2017, p. 19). 91 É justamente esse o posicionamento de FARIAS e ROSENVALD (2015, p. 135/136): “A personalidade jurídica é, assim, muito mais do que, simplesmente, poder ser sujeito de direitos. Titularizar a personalidade jurídica significa, em concreto, ter uma tutela jurídica especial, consistente em reclamar direitos fundamentais, imprescindíveis ao exercício de uma vida digna. “Em necessária perspectiva civil-constitucional, a personalidade não se esgota, destarte, na possibilidade de alguém (o titular) ser sujeito de direitos, mas, por igual, relaciona-se com o próprio ser humano, sendo a consequência mais relevante do princípio da dignidade da pessoa humana... “Cuida-se de uma aptidão genericamente reconhecida: toda pessoa é dotada de personalidade. É a possibilidade de ser titular de relações jurídicas e de reclamar o exercício da cidadania, garantida constitucionalmente, que será implementada (dentre outras maneiras) através dos direitos da personalidade. “Nesse sentido, a personalidade é parte integrante da pessoa. É uma parte juridicamente intrínseca, permitindo que o titular venha a adquirir, exercitar, modificar, substituir, extinguir ou defender interesses”.

63
Nesta visão verifica-se que o conceito de personalidade sofre o influxo do
princípio da dignidade da pessoa humana, incluindo o direito de fazer as próprias
escolhas decorrentes do exercício desse princípio, de se autodeterminar de acordo
com a sua visão de vida digna.
Essa aptidão de se autodeterminar que reside a liberdade espiritual de cada
ser humano, trazendo a dignidade à essência de cada um.
A aptidão inerente à condição de pessoa humana de se autodeterminar é que
diferencia a personalidade da capacidade. Mas capacidade é um conceito que
também precisa ser analisado.
3.2 Conceito de capacidade
O presente trabalho já afirmou que há certa confusão entre os conceitos de
personalidade e capacidade92, sendo indispensável a realização da distinção entre
eles.
ALVES (1983, p. 115), referenciando o Direito Romano, aponta a necessidade
de diferenciação e a realiza, afirmando que “a personalidade jurídica é a
potencialidade de adquirir direitos ou de contrair obrigações; a capacidade jurídica é
o limite dessa potencialidade”93.
Isso se dá porque, enquanto a personalidade permite que a pessoa faça as
suas próprias escolhas, exteriorizando o seu querer, a capacidade irá definir os limites
de cada um em poder exercitar essas escolhas por si só.
92 Para se exemplificar, FIUZA (2015, p. 163), ao discorrer sobre a capacidade, a define como sendo “a aptidão inerente a cada pessoa para que possa ser sujeito ativo ou passivo de direitos e obrigações”. Ou seja, usa quase as mesmas palavras de BEVILAQUA (1916, p. 166) quando este define personalidade (“personalidade é a aptidão, reconhecida pela ordem jurídica a alguém, para exercer direitos e contrahir obrigações”). 93 Essa conclusão ele extrai após uma crítica a autores que consideram sinônimas as expressões: “Personalidade jurídica é a aptidão de adquirir direitos e de contrair obrigações. Em geral, os autores consideram sinônimas as expressões personalidade jurídica e capacidade jurídica. Parece-nos, entretanto, que é mister distingui-las. Com efeito, enquanto personalidade jurídica é conceito absoluto (ela existe, ou não existe), capacidade jurídica é conceito relativo (pode ter-se mais capacidade jurídica, ou menos). A personalidade jurídica é a potencialidade de adquirir direitos ou de contrair obrigações; a capacidade jurídica é o limite dessa potencialidade. No direito romano, há exemplos esclarecedores dessa distinção. Basta citar um: no tempo de Justiniano, os herédicos (que eram pessoas físicas; logo possuíam personalidade jurídica) não podiam receber herança ou legado (por conseguinte sua capacidade jurídica era menor do que a de alguém que não fosse herédico).”

64
Dessa maneira, a capacidade seria a medida da personalidade94, sendo que
ambas se complementam. ASCENSÃO (2010, p. 108), por sua vez, afirma que a
personalidade seria um conceito qualitativo, uma vez que seria “uma suscetibilidade
abstrata da titularidade” de direitos e obrigações, não fazendo referência a sua
extensão. Já a capacidade, para o autor lusitano (2010, p. 116), seria um conceito
quantitativo, tratando da “medida das situações de que uma pessoa pode ser titular
ou que pode atuar”.
A personalidade seria qualitativa pois traz a possibilidade de ser titular; já a
capacidade seria quantitativa porque determina até que ponto pode cada pessoa
realizar, sozinha, as escolhas de vida.
A medida da capacidade jurídica que a distingue da personalidade é,
justamente, a “aptidão para adquirir direitos e assumir deveres pessoalmente”95, ou
seja, a possibilidade de não depender de terceiros para assumir as rédeas de sua
própria vida. A capacidade é, portanto, o limite da personalidade.
MONTEIRO (1990, p. 57/58), afirma que a capacidade se traduziria na aptidão
de titularizar direitos e obrigações e exercê-los por si só, enquanto que o conjunto
desses poderes se traduziriam na personalidade. E pessoa seria o ente que concentra
todos esses poderes96.
3.3 Presunção de capacidade
Outro aspecto que deve ser trazido neste estudo, é que há presunção da
capacidade, sendo esta a regra geral97.
94 É o que defende GONÇALVES (2012, p. 95), o qual referencia a obra de José Carlos Moreira Alves, justificando esse posicionamento ao afirmar que, para uns, ela seria plena e, para outros, limitada. 95 FARIAS e ROSENVALD (2015, p. 271). 96 É o que leciona: “Com efeito, os diversos elementos da primeira [capacidade] constituem a segunda [personalidade], que se concretiza ou se realiza na terceira [pessoa]. Capacidade é aptidão para adquirir direitos e exercer, por si ou por outrem, atos da vida civil. O conjunto desses poderes constitui a personalidade, que, localizando-se ou concretizando-se num ente, forma a pessoa. “Assim, capacidade é elemento da personalidade. Esta, projetando-se no campo do direito, é expressa pela idéia de pessoa, ente capaz de direitos e obrigações. “Capacidade exprime poderes ou faculdades; personalidade é a resultante desses poderes; pessoa é o ente a que a ordem jurídica outorga esses poderes”. 97 SANTOS (1963, p. 260) afirma justamente isso: “A capacidade se presume. É a regra. Sendo a capacidade o quod plerumque fit, como consequência normal da personalidade, a presunção da capacidade do agente é um corolário lógico. De modo que, até prova em contrário, tôda pessoa se presume capaz. E, enquanto não há sentença de interdição, a pessoa não incide em incapacidade absoluta, continuando, ao invés disso, a gozar de todos os seus direitos”.

65
A presunção da capacidade seria um dos dois grandes princípios que regem a
matéria, destacados por LOPES (1953, p. 223). O segundo princípio, para o autor,
corresponde à afirmação de que a capacidade se restringiria, apenas, à prática de
atos jurídicos, já que “os fatos jurídicos, mesmo os voluntários, não exigem senão
discernimento e não capacidade, tanto que os incapazes respondem pelos atos
ilícitos”.
A definição do conceito de discernimento é importante para o presente trabalho.
Ele será aprofundado em capítulo próprio, mas é necessário trazer, neste momento,
definição singela para a continuidade do estudo.
Assim, discernimento seria a possibilidade da pessoa, diante da situação posta,
conseguir avaliar as consequências possíveis de seus atos, decidindo de acordo com
o que entende ser o seu melhor interesse.
Consequência básica da capacidade é, justamente, a possibilidade de praticar
os atos e negócios jurídicos por si só, independentemente do auxílio de outra pessoa.
Isto se dá porque a pessoa “é considerada, pelo direito, como dotada de condições
psíquico-físicas suficientes à compreensão dos seus atos”98, validando-os.
3.4 Espécies de capacidade
A capacidade, conforme já exposto, é a medida da personalidade, sendo que
seu conteúdo é quantitativo.
Por ser quantitativo, é possível dosar a quantidade de capacidade a ser
atribuída a cada pessoa. Para tanto, é indispensável a distinção entre a capacidade
de direito e a capacidade de fato99.
Pode-se afirmar que enquanto a capacidade de direito é “o potencial inerente a
toda pessoa para o exercício dos atos da vida civil”, a capacidade de fato é,
98 COELHO (2016, p. 173). 99 LOPES (1953, p. 222) assim distingue essas duas acepções: “Consequentemente, a palavra capacidade é susceptível de dupla acepção: 1º) significa uma aptidão a se tornar sujeito de direitos, ou de todos os direitos ou de alguns entre êles, o que se costuma denominar capacidade de direito; 2º) aptidão ao exercício dêsses direitos, isto é, a capacidade de exercício ou capacidade de fato. Assim a capacidade de gôzo não deve ser confundida com a capacidade de exercício. Na primeira, é inaptidão para fruir o próprio direitos, como uma pessoa que se encontre sob um impedimento matrimonial absoluto; no segundo, trata-se apenas das condições legais necessárias à validade da efetivação de um ato”.

66
justamente, o “poder efetivo que nos capacita para a prática plena de atos da vida
civil”100. A capacidade de fato é a exteriorização da capacidade de direito.
Fica claro o vínculo estreito entre essas espécies de capacidades, razão pela
qual FARIAS e ROSENVALD (2015, p. 271) afirmam que “a capacidade de fato
presume a capacidade de direito, mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo aquele
que dispões de capacidade de direito tem, a outro giro, a capacidade de fato”101.
À somatória dessas duas espécies de capacidade na mesma pessoa
denomina-se de capacidade plena ou geral, que “corresponde à efetiva possibilidade,
concedida pela ordem jurídica, de que o titular de um direito atue, no plano concreto,
sozinho, sem qualquer auxílio de terceiros”102.
Retomando os conceitos já apresentados, a capacidade de direito consistiria
na possibilidade de uma pessoa titularizar direitos e deveres bastando, para isso,
apenas que a pessoa natural esteja viva.
As incapacidades – que serão abordadas mais à frente neste capítulo –
restringiriam a capacidade de fato.
Ocorre que há a possibilidade também de restrição da capacidade de direito,
sem que isso gere a incapacidade da pessoa natural; apenas a impossibilidade de
titularizar certo direito.
Obviamente que – como não é admitida a escravidão nos dias atuais – não é
possível obliterar todos os direitos de uma determinada pessoa, mas certas restrições
são possíveis103.
PEREIRA (1990, p. 173/174) também traz como exemplo de restrição à
capacidade de direito a “conditio aetatis para adotar um filho”, na qual apenas a
aptidão para adotar determinada criança é extraída de determinada pessoa natural,
que mantém os seus demais direitos e deveres104.
100 FIUZA (2016, p. 163). 101 AZEVEDO (2012, p. 15) compartilha desse posicionamento, afirmando que “a capacidade de direito confunde-se, atualmente, com a personalidade, já que toda pessoa é capaz de direitos, ensina Orlando Gomes, ao passo que a capacidade de fato está condicionada à de direito. Não é possível exercer um direito sem que possa adquiri-lo. Todavia, a pessoa pode adquirir um direito, sem que possa exercê-lo; daí as limitações que a lei estabelece, relativamente a esse exercício”. 102 FARIAS e ROSENVALD (2015, p. 27). 103 É exatamente essa a lição de LOPES (1953, p. 223): “...Todavia, mesmo nos Estados mais liberais, certas restrições se impõem em razão das causas de uma justeza incontestável, como a distinção entre nacionais e estrangeiros, em relação aos direitos políticos, como no estado de falência, de certos crimes, casos em que a lei estabelece, como penalidade, a cassação de direitos ou a sua suspensão durante determinado período de tempo, enquanto durarem os efeitos da penalidade”. 104 Há, ainda, uma outra forma de classificar a capacidade em genérica e específica, trazida por ASCENSÃO (2010, p. 118): “A capacidade genérica e aquela que se refere a generalidade das

67
Fica claro pela análise das classificações das capacidades que elas são
restritas a parcela de situações jurídicas, não se estendendo para a parte do conceito
de personalidade que não se encaixa em sua medida. É a autodeterminação
decorrente dos preceitos constitucionais.
3.5 Incapacidade
Conforme já mencionado, o sistema de incapacidades do Código Civil de 2002
foi profundamente alterado pela entrada em vigor do Estatuto das Pessoas com
Deficiência.
Com esse fato em foco, deve-se analisar o conceito de incapacidade, suas
espécies e causas.
3.5.1 CONCEITO DE INCAPACIDADE
LOPES (1953, p. 224), ao discorrer sobre a ideia de incapacidade, afirma que
nela ocorre o oposto da capacidade. Para tanto, assevera que “É considerado incapaz
não só o que se encontra privado do gôzo de um direito, como ainda o tolhido em seu
exercício. Neste último caso, a incapacidade de exercício, pode ela manifestar-se sob
forma absoluta ou sob aspecto relativo”. Mas esse conceito clássico não é o que
melhor reflete a ideia de incapacidade, já que ela não pode ser considerada como o
oposto da capacidade.
Toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na ordem civil, sendo a todos
assegurada a capacidade de direito. Essa é a base da nossa sistemática vigente.
A possibilidade de restrição da capacidade, então, só pode abarcar a
capacidade de fato ou de exercício. É com base nesta premissa que GAGLIANO e
situações jurídicas. É pois a capacidade comum, aquela que se recebe independentemente de especificação particular. “A capacidade específica é a que se refere a um setor especial de situações jurídicas. Supõe portanto uma qualificação adequada do sujeito para a possuir. “As pessoas singulares têm capacidade de direito genérica. Não é preciso especificar que esta capacidade se estende a compra e venda ou à atuação em juízo. Esso é abrangido pela capacidade genérica. Mas o comerciante tem uma capacidade específica. Há um setor de situações jurídicas que supõe a qualidade particular de comerciante. O médico tem capacidade específica para a celebração de contratos médicos. E assim por diante”.

68
PAMPLONA FILHO (2016, p. 146) concluem que “a previsão legal da incapacidade
traduz a falta de aptidão para praticar pessoalmente atos da vida civil”.
O que se vislumbra é que a capacidade de titularizar direitos e obrigações não
é excluída pela incapacidade. O que, eventualmente, pode ser restrito é a
possibilidade de praticar pessoalmente os atos na ordem civil105. Assim, fica evidente
que a pessoa incapaz é aquela na qual não se reconhece a possibilidade de praticar
sozinha os atos na ordem civil106.
Tanto é assim que mesmo o incapaz pode contrair obrigações. Isso se dá
porque a incapacidade não gera a irresponsabilidade patrimonial (exatamente como
preconiza o artigo 928 do Código Civil: “O incapaz responde pelos prejuízos que
causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não
dispuserem de meios suficientes”).
Se a incapacidade gerasse a irresponsabilidade, o incapaz não responderia
patrimonialmente pelo ato ilícito por ele cometido que gerasse prejuízo. Mesmo que
essa responsabilização possa, a depender do caso, ser equitativa107, ela existe, ou
seja, gera obrigação ao incapaz.
A capacidade é a regra, princípio; a incapacidade é a exceção só permitida
quando expressamente prevista em lei. Para que uma pessoa natural seja
considerada incapaz de exercer pessoalmente os atos da ordem civil, deve haver a
previsão em lei dos requisitos que a impedirão.
105 Em que pese as definições e conceitos afirmarem que a restrição trazida pela incapacidade é ao exercício dos atos da vida civil, com o influxo das normas constitucionais ao direito civil seria mais correto a utilização do termo “ordem civil”. Isso porque, a expressão “vida civil” é muito ampla, e pode ser entendida como todo e qualquer ato dentro da vida civil de uma pessoa natural. Já a expressão “ordem civil”, que é a constante do Código Civil, permite uma interpretação mais restritiva, excluindo os atos de ordem constitucional, como os decorrentes da autodeterminação da pessoa humana. 106 É a lição de RODRIGUES (2003, p. 39): “Já foi dito que todo ser humano, desde seu nascimento até sua morte, tem capacidade para ser titular de direitos e obrigações na ordem civil. Mas isso não significa que todos possam exercer, pessoalmente, tais direitos. A lei, tendo em vista a idade, a saúde ou o desenvolvimento intelectual de determinadas pessoas, e com o intuito de protegê-las, não lhes permite o exercício pessoal de direitos. Assim, embora lhes conferindo a prerrogativa de serem titulares de direitos, nega-lhes a possibilidade de pessoalmente os exercerem. Classifica tais pessoas como incapazes. Portanto incapacidade é o reconhecimento da inexistência, numa pessoa, daqueles requisitos que a lei acha indispensáveis para que ela exerça seus direitos”. 107 Código Civil, art. 828, parágrafo único: “A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem”.

69
Deverá ocorrer o preenchimento dos requisitos previstos em lei pela pessoa
natural. Só quando houver a coincidência entre a situação hipotética prevista na lei e
o fato concreto realizado é que o juiz poderá declarar a incapacidade108.
Fica claro, portanto, que “as incapacidades só existem quando a lei as
estabelece e na medida nela preceituada”109.
Reitere-se que a incapacidade não atinge a possibilidade de titularizar direitos,
mas apenas o exercício pessoalmente de alguns atos na ordem civil. Além disso, não
se configura como restrição à personalidade110.
Novamente fica claro que a restrição deve decorrer diretamente do texto da lei.
Os requisitos para configuração de uma pessoa como incapaz devem estar previstos
em lei, bem como quais as restrições aplicáveis. E essas restrições não implicam em
diminuição da personalidade, mas apenas no exercício pessoalmente de certos atos
da ordem civil.
As restrições possuem causas, as quais merecem análise específica.
3.5.2 CAUSAS DE INCAPACIDADE
Conforme já explanado, a pessoa natural que não possui sua plena capacidade
civil pode ser enquadrada em absolutamente ou em relativamente incapaz.
ASCENSÃO (2010, p. 140), afirma que três são os aspectos que caracterizam as
incapacidades: são fundadas em “diminuições naturais das faculdades das pessoas”,
“são restrições tabeladas da capacidade que atingem uma universalidade de
aspectos” e o escopo do regime é a proteção dos incapazes.
Ou seja, a ideia por detrás da teoria das incapacidades é a proteção dos
incapazes. Essa proteção é efetivada por meio da redução de alguns aspectos,
retirando a possibilidade de exercício pessoalmente de certos direitos
108 É a lição de PEREIRA (1990, p. 179): “O que é necessário frisar é que, pelo direito brasileiro, na linha de orientação do direito alemão e do suíço, a incapacidade resulta da coincidência da situação de fato em que se encontra o indivíduo, e a hipótese jurídica da capitis deminutio definida na lei”. 109 GONÇALVES (1951, p. 201). 110 COELHO (2016, p. 175) afirma exatamente isso: “A incapacidade não é restrição à personalidade. O incapaz continua genericamente autorizado a praticar os atos e negócios jurídicos para os quais não esteja expressamente proibido... “A diferença entre ter ou não capacidade diz respeito, em suma, a mediação dos atos e negócios jurídicos. Só a pessoa capaz pode praticá-los imediatamente. O incapaz só pode praticar o ato ou negócio por meio de seu representante ou mediante o auxílio de seu assistente”.

70
predeterminados, e é justificada em virtude da diminuição natural da capacidade da
pessoa natural.
O referido autor lusitano prossegue em sua obra, afirmando que as
incapacidades podem ser automáticas ou dependentes de decretação judicial. A
“incapacidade automática é a resultante de menoridade. Todas as outras são
dependentes de decretação judicial”111.
Esse também é o posicionamento de COELHO (2016, p. 177 e ss.), que afirma
ser a incapacidade causada devido à idade (automática) ou através da interdição
(dependente de decretação judicial).
O sistema de incapacidades brasileiro sofreu profundas alterações com a
promulgação do Estatuto das Pessoas com Deficiência. Após a entrada em vigor
desse diploma legal, há apenas uma hipótese de incapacidade absoluta, e esta é
automática. Ela decorre do critério etário.
Assim, de acordo com a atual redação do artigo 3º, do Código Civil, serão
absolutamente incapazes apenas os menores de dezesseis anos.
Esse critério – etário – é automático e não permite prova em contrário. Se a
pessoa natural ainda não completou dezesseis anos será considerada absolutamente
incapaz, por maior que seja seu amadurecimento ou entendimento dos fatos da vida.
Nada obstante, sua vontade será considerada em algumas situações, conforme já
afirmado.
Na redação do Código Civil pretérita à entrada em vigor do Estatuto das
Pessoas com Deficiência, havia outras hipóteses de incapacidade absoluta, mas elas
foram excluídas do sistema.
Dessa maneira, a única causa que gera a incapacidade absoluta é a idade da
pessoa natural, e essa incapacidade é automática, ou seja, independe de declaração
judicial.
Já as causas de incapacidade relativa estão previstas no artigo 4º, do Código
Civil, com a redação dada pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
111 ASCENSÃO, 2010, p. 141/142

71
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
IV - os pródigos.
Pela leitura do referido artigo se percebe que há também uma hipótese de
incapacidade automática decorrente do critério etário: o maior de dezesseis anos e
menor de dezoito será considerado como relativamente incapaz independentemente
de declaração judicial.
Por outro lado, essa espécie de incapacidade relativa pode ser afastada pelas
hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 5º do Código Civil112, dentre as quais
pode-se citar a emancipação, mas que não serão analisadas uma vez que não
traduzem o escopo principal deste trabalho.
As demais espécies de incapacidade relativa dependem de decretação judicial,
ou seja, dependem da interdição, cujos fundamentos são a prodigalidade, a
embriaguez habitual ou vício em tóxico, ou o impedimento permanente ou temporário
para a expressão da vontade113.
Pródiga é aquela pessoa que gasta imoderadamente, sem controle114. A
restrição da capacidade a ser aplicada ao pródigo não pode ser completa, sob pena
112 CC, “Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; II - pelo casamento; III - pelo exercício de emprego público efetivo; IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria”. 113 Sobre as espécies de incapacidade relativa assevera COELHO (2016, p. 182/183): “A incapacidade com interdição tem causas diversas da insuficiência de idade legal. Nos casos desse gênero de incapacidade, o direito a suprime ou limita porque considera que a pessoa, pelo estado em que se encontra, é merecedora de proteção semelhante à liberada em favor do menor púbere. As enfermidades ou vícios da pessoa impedem-na de defender seus interesses diretamente, tal como ocorre com os menores relativamente incapazes. “Quando a lei define a pessoa como incapaz em razão da idade, dispensa-se qualquer pronunciamento judicial... Nas demais hipóteses legais, porém, a incapacidade não se pode perceber de modo singelo. Reclama formalidades que confiram segurança às relações jurídicas. Em outros termos, a incapacidade deve ser objeto de um processo judicial (de “interdição”), no qual reste demonstrado o fato caracterizador da supressão ou limitação da capacidade. O juiz, ao sentenciar o processo de interdição, nomeia um curador para representar ou assistir o incapaz, conforme seja respectivamente absoluta ou relativa a incapacidade... “São fundamentos para a interdição: a) prodigalidade; b) embriaguez habitual ou vício em tóxico; c) impedimento permanente ou temporário para a expressão da vontade”. 114 BEVILAQUA (1916, p. 185/185), ao discorrer sobre o pródigo, traça as raízes históricas da sua interdição, assim lecionando: “As Ordenações do reino, liv. IV, tit. 103, consideram prodigo o que desordenadamente gasta e destroe a sua fazenda, e para elles decreta a interdicção. MELLO FREIRE, porém, explicou, plausivelmente, que se deveria restringir a qualificativo áquelle que desperdiçasse os seus bens sem fim, e como um louco, ponderação que se conforma com a mente da lei, pois que a

72
se ser um atentado à própria pessoa. É a lição de RODRIGUES (2003, p. 52), ao
afirmar que impedir o pródigo “de livremente agir na vida civil representa violência à
liberdade individual”.
Se o pródigo for interditado, será a ele nomeado um curador, que será
responsável por assisti-lo nos atos que acarretem disposição patrimonial.
Outra causa de incapacidade relativa que depende de decretação judicial é a
embriaguez habitual e o vício em tóxicos. Aqui o objetivo do legislador é claro: o de
proteção ao patrimônio da família, que corre o risco de dilapidação para sustento de
um vício de determinada pessoa natural.
Por isso o juiz, ao interditar a pessoa natural por esta hipótese, deve delimitar
a restrição apenas aos atos que também acarretem a disposição patrimonial.
A terceira causa de incapacidade relativa que depende de decretação judicial
é a impossibilidade de exprimir vontade por causa transitória ou permanente.
Até a entrada em vigor do Estatuto das Pessoas com Deficiência, a
impossibilidade de exprimir vontade por causa transitória ou permanente era hipótese
de incapacidade absoluta. COELHO (2015, p.185/186) defende que essa alteração foi
um equívoco, pois o impedido de exprimir vontade deveria ser considerado
absolutamente incapaz, uma vez que “precisará sempre de alguém que a represente”.
Em que pese a crítica embasada trazida, fato é que o legislador alterou a
sistemática da incapacidade. Isto porque se a pessoa natural está impossibilitada de
exprimir vontade, qualquer ato por ela praticado não padece de vício de validade; ele
simplesmente não existe.
Mas isto não significa que a pessoa natural incapacitada de exprimir vontade
em algum momento não fora capaz de fazê-lo. Se a impossibilidade for temporária,
por exemplo, pelo estado de “coma” em virtude de acidente, a vontade por essa
pessoa explanada em momento anterior tem que ser respeitada. É a base, por
exemplo, para o médico seguir as diretrizes antecipadas de vontade115 como, por
exemplo, o pedido de não ressuscitação.
Ordenação do livro 103 une as idéas de alienação e prodigalidade em sua inscripção – Dos curadores, que se dão aos pródigos e aos mentecaptos”. 115 As diretivas antecipadas de vontade estão previstas na Resolução nº 1.995, de 2012, do Conselho Federal de Medicina, cujo artigo 1º assim as define: “o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade”.

73
As demais causas de incapacidade previstas antes da entrada em vigor do
Estatuto das Pessoas com Deficiência foram obliteradas da legislação, restando o
questionamento acerca da capacidade da pessoa com deficiência mental ou
intelectual. Porém, como este é o tema do presente trabalho, será ela tratada a parte,
em capítulo próprio.
3.5.3 ESPÉCIES DE INCAPACIDADE
Antes de se analisar as espécies de incapacidade, é imperativo reiterar uma
observação: as espécies de incapacidade limitam a capacidade de fato, e não a de
direito. Assim, as pessoas consideradas incapazes são titulares de direitos, mas não
podem exercê-los por si só116.
Ou seja, a pessoa natural sempre possuirá capacidade de direito, sendo
possível, apenas, a restrição de sua capacidade de fato. E mesmo esta restrição será
graduada de acordo com a extensão da incapacidade.
Dessa maneira, a incapacidade será absoluta ou relativa. A incapacidade
absoluta “consiste em não poder a pessoa ter o exercício dos seus direitos civis, por
lhe faltar a necessária aptidão”117, enquanto que a incapacidade relativa implica na
pessoa natural “não poder exercer certos atos da vida civil senão assistido ou
autorizado legalmente”118119.
Assim sendo, de acordo com a doutrina clássica, o absolutamente incapaz é
aquele que não pode praticar qualquer ato sozinho, pois sua vontade é desprezada
pela Lei, que não lhe dá o efeito criador de relações jurídicas. Assim, se o
absolutamente incapaz pratica um ato jurídico manifestando sua vontade por si só,
este ato será considerado nulo120.
116 É o que afirma BEVILAQUA (1916, p. 176) ao comentar o Código Civil de 1916: “As incapacidades, de que tractam este artigo e o seguinte, são de facto e não de direito. As pessôas aqui consideradas, por isso que o são, no sentido jurídico, têm direitos, mas não os podem exercer, ou de modo absoluto (art. 5) ou relativamente a um certo numero delles (art. 6)”. 117 SANTOS, 1963, p. 252 118 SANTOS, 1963, p. 269 119 LOPES (1953, p. 224) assim diferencia a incapacidade absoluta da incapacidade relativa: “Há então incapacidade absoluta, quando, de modo algum, o ato jurídico pode ser exercido pelo incapaz; há incapacidade relativa, quando tal exercício é possível, mediante certas condições. Diferem, ainda, uma e outra forma de incapacidade tendo em vista a sanção que a lei estabelece em cada uma dessas hipóteses. Na incapacidade absoluta, produz-se uma nulidade de pleno direito; na incapacidade relativa, há uma anulabilidade, susceptível o ato jurídico de ser confirmado ou ratificado”. 120 É o que leciona RODRIGUES (2033, p. 40/41): “São absolutamente incapazes aqueles que não podem, por sai mesmos, praticar quaisquer atos jurídicos. O direito, tendo em vista a condição do menor

74
A vontade do absolutamente incapaz, portanto, seria desprezada pela lei, só
sendo possível a celebração de qualquer ato jurídico se ele estiver representado, sob
pena de nulidade.
Entretanto, atualmente a lei faz algumas ressalvas a esse desprezo da vontade
do absolutamente incapaz, especialmente nas situações jurídicas existenciais. Pode-
se exemplificar com a exigência constante do artigo 1.621, do Código Civil, que
determina a expressa concordância do maior de doze anos de idade para ser
adotado121.
Fica evidente que a lei prevê, em determinadas situações, que a vontade do
absolutamente incapaz será considerada. Mas estas situações em que a vontade do
absolutamente incapaz são consideradas não se referem aos atos jurídicos
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, mas sim aos atos de
natureza existencial, relacionados à sua autodeterminação.
Deve-se, contudo, reiterar que a lei impõe que o ato praticado isoladamente
pelo absolutamente incapaz será considerado nulo122, sendo impossível, inclusive, a
sua convalidação123.
O relativamente incapaz, por sua vez, é aquele que possui a “capacidade
limitada, vale dizer, não poder exercer certos atos da vida civil senão assistido ou
autorizado legalmente”124.
Essas pessoas naturais estão “entre um termo médio entre a incapacidade e o
livre exercício dos direitos”125. A vontade do relativamente incapaz é levada em
impúbere, a do psicopata, ou a do surdo-mudo que não se pode externar, despreza sua vontade, e não lhe dá qualquer efeito como criadora de relações jurídicas. “Se o negócio jurídico é ato de vontade humana a que a lei empresta conseqüências, e se alei despreza a vontade do absolutamente incapaz, é evidente que este não pode, pessoalmente, ser a mola criadora de um ato jurídico. “Se por acaso um absolutamente incapaz pratica um ato jurídico através de sua própria manifestação volitiva, tal ato é nulo. Por faltar a referido negócio um elemento substancial. Com efeito, aquela vontade manifestada é como se não existisse, pois a lei desconsidera inteiramente a vontade do absolutamente incapaz, de sorte que, repito, o ato dela emanado é nulo”. 121 É o que lecionam FARIAS e ROSENVALD (2015, p. 279): “Eventualmente, porém, os atos praticados pelos menores de 16 anos (inciso I, art. 3º, do Código Civil) podem surgir efeitos jurídicos quando disserem respeito à concretização de situações jurídicas existenciais, se o incapaz demonstra discernimento suficiente para tanto. Exemplo interessante pode ser lembrado com a declaração de vontade do menor para fins de adoção, valendo lembrar, inclusive, no que tange aos maiores de 12 anos de idade, que a própria legislação (CC, art. 1.621) exige a sua expressa concordância para o deferimento da colocação em família substituta”. 122 CC, art. 166, I. 123 CC, art. 169. 124 SANTOS, 1963, p. 269. 125 PEREIRA, 1990, p. 188.

75
consideração, sendo que sua participação é indispensável à prática do ato. Mesmo
assim, ela será sempre acompanhada de seu assistente, sob pena de anulabilidade
do ato126. Ressalte-se que o ato jurídico praticado isoladamente pelo relativamente
incapaz é passível de convalidação127, ao contrário do ato praticado pelo
absolutamente incapaz.
A diferença entre a necessidade participação do relativamente incapaz (que
deve unir sua vontade com a de seu assistente para a prática do ato) e o desprezo da
vontade do absolutamente incapaz (cuja vontade será externada apenas pelo seu
representante) ocorre devido à presunção trazida pela lei de que o absolutamente
incapaz não possui discernimento suficiente para a prática do ato.
O discernimento, já mencionado no presente trabalho, será abordado no último
capítulo, considerando que a Lei Brasileira de Inclusão excluiu esse conceito do
sistema de incapacidades.
Há outro conceito que, antes de se prosseguir, deve ser analisado: o da
autonomia privada, a seguir tratado.
3.6 Liberdade e autonomia privada
A ideia de personalidade, de ser reconhecido como pessoa perante uma
sociedade, passa necessariamente pelo conceito de liberdade de se autorregular.
Essa é a ideia de LARENZ (1958, p. 65), que impõe o reconhecimento de uma
determinada personalidade pela sociedade apenas se houver a possibilidade de
autorregulamentação pela pessoa128.
A possibilidade de autorregulamentação decorre da liberdade de fazer as
próprias escolhas e se comportar de acordo com elas. É a ideia de autonomia trazida
por KANT (2002, p. 70), ao afirmar que “o princípio da autonomia é, portanto, não
126 CC, art. 171, I. 127 CC, art. 172. 128 É a lição do referido autor: “El individuo sólo puede existir socialmente como personalidad cuando le sea reconocida por los demás no sólo su esfera de la personalidad y de la propriedade, sino cuando, además, pueda en principio reglamentar por sí mismo sus cuestiones personales y, en tanto com ello quede afectada otra persona, pueda reglamentar sua relaciones con ella con carácter jurídicamente obligatorio mediante un concierto libremente estabelecido”. Em tradução livre: “O indivíduo só pode existir socialmente como uma pessoa quando é reconhecida pelos outros não apenas sua esfera de personalidade e propriedade, mas também quando, em princípio, ele pode regular por si mesmo suas questões pessoais e, desde que seja afetado por outra pessoa, pode regular suas relações com ela com um caráter legalmente vinculante através de um acordo livremente estabelecido”.

76
escolher senão de modo a que as máximas da escolha no próprio querer sejam
simultaneamente incluídas como lei universal”.
É a liberdade como princípio estrutural do sistema que permite que a pessoa
faça as suas próprias escolhas e sofra as consequências decorrentes de suas
condutas (benéficas ou não)129.
Dessa liberdade de se autorregular que nasce a ideia de autonomia privada,
traduzida na “amplitude deixada aos particulares para disciplinarem os seus
interesses”130.
A liberdade como princípio é prevista na Constituição da República em seu
artigo 5º, II, ao afirmar que “ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude da lei”, daí decorrendo a autonomia privada (e a contratual)131.
Da liberdade contratual derivam várias consequências descritas por COSTA
(2009, p. 229): “os contraentes são inteiramente livres, tanto para contratar ou não
contratar, como na fixação do conteúdo das relações contratuais que estabeleçam,
desde que não haja lei imperativa, ditame de ordem pública ou bons costumes que se
oponham”.
Neste ponto que reside, justamente, uma das maiores críticas à alteração do
sistema de incapacidades trazida pela Lei Brasileira de Inclusão: até então o limite da
plena liberdade contratual (da própria autonomia privada) era o discernimento para a
prática do ato jurídico a ser celebrado.
A partir do momento em que todas as pessoas com deficiência se tornam
plenamente capazes (independentemente do seu grau de discernimento), gera
situações de incerteza jurídica132. Esse ponto será abordado no último capítulo do
129 É exatamente essa a lição de BETTI (2003, p. 96) ao discorrer sobre a autonomia privada e o seu reconhecimento jurídico: “Tanto o direito subjectivo privado, como o negócio jurídico, são dominados pelo princípio da liberdade e da consequente auto-responsabilidade privada (de que mais adiante falaremos). O indivíduo é livre para agir segundo a sua maneira de ver: isto desde que, por outro lado, só ele sofra as consequências de sua conduta, quer elas sejam, para ele, vantajosas ou onerosas”. 130 COSTA (2009, p. 228). 131 BEZERRA (2017, p. 110) afirma exatamente isso: “Na verdade, é do próprio princípio geral da liberdade previsto no artigo 5º, caput, da Constituição de 1988, inspirado na capacidade de autodeterminação para o desenvolvimento das pessoas, que se pode extrair o princípio da autonomia contratual, como sendo uma expressão específica concernente ao exercício de direitos civis negociais”. 132 ALVES, FERNANDES e GOLDIM (2017, p. 257) trazem exatamente essa crítica: “Porém, o EPD rompeu com a teoria das incapacidades no Direito Civil brasileiro ao retirar o necessário discernimento do texto legal e ao modificar o regime de incapacidade civil daqueles que não podem exprimir a vontade para incluí-los nas hipóteses de incapacidade relativa. Dessa maneira, o EPD criou um sistema abstrato e formal (NEVARES; SCHREIBER, 2016), no qual todas as pessoas sem discernimento são sempre capazes e, por isso, ainda que não tenham autonomia e não consigam criar regras para si e segui-las,

77
presente trabalho, mas é necessário analisar os atos jurídicos antes de se aprofundar
no problema.
poderão praticar todo e qualquer ato jurídico, sejam eles totalmente prejudiciais aos seus interesses ou não”.

78
4 Ato jurídico
A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável. Mahatma Gandhi
O objeto do capítulo anterior é a capacidade das pessoas naturais e o sistema
de incapacidades.
Neste capítulo se faz necessário estudar o conceito de vontade que a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (e a Lei Brasileira de
Inclusão) busca, bem como seu impacto na criação de atos jurídicos.
4.1 Conceito de vontade
É fácil encontrar conceitos sobre a declaração de vontade, seus elementos, sua
formação. Mas a vontade, isoladamente, não é de fácil análise. Apesar de existir no
interior de cada ser um conceito próprio, é importante a fixação de parâmetro a ser
usado como base para o presente estudo.
O vocábulo “vontade” no léxico tem diversas acepções: querer, ânimo,
determinação, decisão133. Mas o significado trazido nos diversos dicionários134 não é
suficiente para determinação de seu significado.
SILVA (1986, p. 1301), ao analisar o vocábulo, assim dispõe:
O termo vontade é às vezes usado para designar qualquer impulso de agir, a personalidade em ação, ou a totalidade das reações irracionais, emocionais e conativas que têm primazia sobre a atividade intelectual. Mas é empregado mais comumente no sentido de decisão consciente em contraste com ação impulsiva. Neste último sentido, há no ato da vontade a escolha de uma entre várias alternativas, e frequentemente há uma referência consciente ao eu do
133 HOUAISS assim define vontade “1 faculdade que tem o ser humano de querer, praticar ou não certos atos 2 ânimo, determinação firmeza <com v. de ferro, conseguiu sua casa> 3 empenho, interesse, zelo <a v. política de um governo> 4 desejo motivado por um apelo físico, fisiológico, psicológico ou moral; querer <v. de comer, dormir> 5 sensação de prazer; gosto <comia e dançava com v.> 6 capricho, fantasia, veleidade <criança cheia de v.> 7 deliberação, determinação, decisão <escreveu no testamento suas v.>”. 134 O AURÉLIO, por sua vez, assim define vontade “1. Faculdade de representar mentalmente um ato que pode ser ou não praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. 2. Sentimento que incita alguém a atingir o fim que essa faculdade propõe. 3. Capacidade de escolha, de decisão. 4. Firmeza, ânimo. 5. Capricho, veleidade. 6. Desejo ou determinação expressa. 7. Necessidade fisiológica”.

79
sujeito. Nesse sentido mais restrito, vontade designa uma sequência de atos mentais que resulta em decisão ou escolha. Um ato de vontade pode então ser decomposto em: a) encarar alternativas de cursos de ação; b) deliberar, examinar e comparar as alternativas com referência especial aos ideais predominantes do eu; e c) decidir.
A vontade que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
busca garantir está ligada ao conceito estrito trazido na citação acima: no ato de
escolha de uma determinada ação em detrimento de outras possibilidades. Da
escolha consciente do rumo a seguir135.
É esse o sentido de vontade dado por ABBAGNANO (1962, p. 969), quando a
define como sendo o “princípio racional da ação”, ou ainda como “o princípio da ação
em geral”. É o aspecto que imediatamente precede a ação; é a escolha formulada no
momento anterior.
O filósofo italiano (1969, p. 970) prossegue na sua análise, afirmando que o
princípio racional da ação se traduziria no “apetite racional”, que o distingue do apetite
sensível que seria afeto ao desejo.
E por princípio da ação em geral ABBAGNANO (1969, p. 971) afirma que a
vontade seria, então, o “último apetite em deliberar”, definindo o último apetite como
sendo “aquele que está mais perto da ação e ao qual a ação segue”.
Essa é a essência da racionalidade humana: a possibilidade de analisar as
opções existentes escolhendo a que entende ser melhor para aquele momento.
Vontade, então, é exatamente esse apetite racional, de escolher o caminho.
Exatamente a mesma solução trazida por AQUINO (2001, p. 2001), quando
afirma que “somos dueños de nuestros proprios actos en cuanto que podemos eligir
esto o aquello”136. Se a pessoa natural tem a capacidade racional de escolher isto ou
aquilo, ela possui vontade, independentemente das consequências de seu ato.
135 É a leitura que se faz do artigo 12, parágrafo 4, do texto convencional: “Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa”. A vontade a ser resguardada no exercício da capacidade legal está ligada ao querer consciente, na escolha entre as várias possibilidades que, em muitos casos, deve ser orientado (ou apoiado), sem, contudo, restringir a capacidade legal da pessoa com deficiência. 136 Em tradução livre: “somos donos de nossos próprios atos na medida em que podemos escolher isso ou aquilo”.

80
Isto porque “no se elige el fin, sino lo que lleva al fin”137. A consequência do ato
não está separada da vontade que o precede. Ela “não é oposta às consequências ou
separada delas. É a causa das consequências; é a causação no seu aspecto pessoal;
o aspecto que imediatamente precede a ação”138.
Fica evidente, portanto, que vontade é o apetite da pessoa que tem o poder de
racionalmente escolher uma dentre as opções de ação existentes; é a escolha que
precede a ação dela decorrente.
4.2 A vontade como formadora dos fatos humanos lícitos
Nem todo fato da vida é relevante para o Direito. O nascer do sol ou a chuva
que cai podem ser indiferentes para o ordenamento jurídico, se não gerar efeitos no
mundo jurídico.
GONÇALVES (2012, p. 316), define fato jurídico em sentido amplo como sendo
“todo acontecimento da vida que o ordenamento jurídico considera relevante no
campo do direito”. É o mesmo sentido do apurado por PERLINGIERI (2002, p. 89), ao
afirmar que “o fato jurídico pode ser definido como qualquer evento que seja idôneo,
segundo o ordenamento, a ter relevância jurídica”.
Essa relevância é apurada através de juízo de valor, para verificar que esse
fato interferiu de alguma maneira nas esferas de direitos das pessoas ou, nas palavras
de CASTRO (1985, p. 25) “só o fato externo, capaz de percussão social, interessa o
direito... O fato social é o que interfere, de maneira direta ou indireta, no
relacionamento dos homens”.
GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2012, p. 340) conceituam de maneira
similar, afirmado que o fato jurídico em sentido amplo seria “todo acontecimento
natural ou humano capaz de criar, modificar, conservar ou extinguir relações
jurídicas”139.
Mas nem todo fato jurídico é revestido de vontade. E a vontade é o cerne do
objeto do estudo deste trabalho. O fato jurídico dotado de vontade é denominado de
137 AQUINO (2001, p. 747) – em tradução livre: “não se escolhe o fim, mas aquilo que leva ao fim. 138 ABBAGNANO (1969, p. 971). 139 CASTRO (1985, p. 27) assim conceitua como sento “todo evento apto a produzir conseqüências no mundo jurídico. Todo fato jurídico é fato juridicizado pela norma que é posta pelas fontes do direito – seja a lei, o costumo ou a jurisprudência”.

81
fato humano140, ato humano141, ação humana142 ou ato jurídico em sentido amplo143,
a depender da doutrina escolhida. Mas todos possuem, basicamente, o mesmo
sentido: é o fato jurídico provido de vontade humana.
RÁO (1999, p. 28), classifica os fatos jurídicos em três categorias, levando em
consideração a vontade humana
O conceito de fato jurídico em três categorias compreende, a saber: os fatos ou eventos exteriores que da vontade do sujeito independem; os fatos voluntários cuja disciplina e cujos efeitos são determinado exclusivamente por lei; os fatos voluntários (declarações de vontade) dirigidos à consecução dos efeitos ou resultados práticos que, de conformidade com o ordenamento jurídico, deles decorrem144.
NERY e NERY JUNIOR (2015, p. 147), seguem a mesma tripartição do fato
jurídico, afirmando que os fatos jurídicos em sentido estrito são os que independem
da vontade do sujeito. Os atos jurídicos e os negócios jurídicos são aqueles que
dependem da vontade.
Assim, fica claro que a vontade é essencial para que o fato jurídico seja
qualificado em fato humano. Faz-se necessário, portanto, explorar as diversas
espécies de fatos humanos, averiguando o papel da vontade em cada um deles.
4.3 Ato jurídico em sentido amplo e suas espécies
Conforme já asseverado, o fato jurídico – quando qualificado pela vontade – é
denominado de fato humano ou, simplesmente, ato jurídico em sentido amplo.
Não há uma teoria única e geral do ato jurídico145.
140 GONÇALVES (2012, p. 317). 141 CASSETARI (2017, p. 121). 142 GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2012, p. 341). 143 LÔBO (2017, p. 249). 144 Essa tripartição clássica é também seguida por CARRIDE (1997, p. 3), que replica as ideias de Savigny: “Segundo a definição clássica de Savigny, fatos jurídicos são os acontecimentos em virtude dos quais as relações de direito nascem e se extinguem. Alguns desses fatos são acontecimentos naturais, que produzem efeitos jurídicos, como o nascimento e a morte do homem, o decurso do tempo, o desvio do curso de um rio; outros são ações humanas. “As ações humanas, que influem sobre a criação, a modificação ou a extinção dos direitos, ora atuam independentemente da vontade do agente, ora os seus efeitos resultam da vontade por ela manifestada e garantida pela lei. “São ações humanas desta segunda categoria que constituem os atos jurídicos, cuja característica está na combinação harmônica do querer individual com o reconhecimento da sua eficácia por parte do direito positivo” 145 É o que destacam NERY e NERY JÚNIOR (2015, p. 151): “Não existe uma teoria geral e unitária do ato jurídico e seus efeitos, estes são denominados por uma rigorosa heteronomia. Não se deve dar a essa categoria unidade, se ela não é possível”.

82
Se não é possível dar unidade à teoria geral do ato jurídico, é igualmente
irrealizável precisar um único conceito absoluto. Por essa razão serão trazidos neste
trabalho alguns apontamentos – que ora se contradizem – justamente devido à
discrepância decorrente desta falta de unicidade conceitual.
RÁO (1999, p. 37), conceitua o ato jurídico como sendo a “declaração
dispositiva e preceptiva da vontade autônoma do agente, dirigida direta e
imediatamente à consecução dos resultados práticos, individuais e sociais, produzidos
pelos efeitos que o ordenamento lhe confere”.
Dentro dessa classificação os atos jurídicos em sentido amplo podem ser
considerados atos lícitos ou ilícitos, a depender do fato de sua prática ter observado
os ditames legais.
Para este trabalho apenas os atos jurídicos em sentido amplo lícitos serão
analisados, já que nestes a declaração de vontade é inerente à sua prática146.
Mesmo restringindo o campo de análise apenas para os atos jurídicos em
sentido amplo lícitos há dissenso sobre quais seriam as espécies de atos jurídicos
humanos cuja vontade integra a sua formação.
FARIAS e ROSENVALD (2015, p. 489/490) defendem que em todo fato
humano a vontade é formadora, mas este se subdivide em ato jurídico em sentido
amplo “que têm no seu suporte fático (tipificação) a presença do elemento volitivo” e
em ato-fato jurídico, o qual surge da vontade humana para, logo em seguida, o Direito
a desprezar. Os atos jurídicos em sentido amplo para os referidos autores se
subdividiriam em ato jurídico em sentido estrito e em negócio jurídico.
Opinião parecida é partilhada por GONÇALVES (2012, p. 317/318), que coloca
como expressões sinônimas “fato humano” e “ato jurídico em sentido amplo”, na qual
a vontade é criadora dos atos, sendo subdividido em atos lícitos e ilícitos. Os atos
146 Exatamente esse é o sentido dado por GONÇALVES (2012, p. 318) ao analisar os atos ilícitos: “Os ilícitos, por serem praticados em desacordo com o prescrito no ordenamento jurídico, embora repercutam na esfera do direito, produzem efeitos jurídicos involuntários, mas impostos por esse ordenamento. Em vez de direito, criam deveres, obrigações. Hoje se admite que os atos ilícitos integram a categoria dos atos jurídicos pelos efeitos que produzem”. Opinião similar possui VENOSA (2014, p. 346): “Os atos jurídicos dividem-se em atos lícitos e ilícitos. Afasta-se, de plano, a crítica de que o ato ilícito não seja jurídico. Nessa classificação, como levamos em conta os efeitos dos atos para melhor entendimento, consideramos os atos ilícitos como parte da categoria de atos jurídicos, não considerando o sentido intrínseco da palavra, pois o ilícito não pode ser jurídico. Daí por se qualificam melhor como atos humanos ou jurígenos, embora não seja essa a denominação usual dos doutrinadores”.

83
lícitos sofrem classificação tripartida: serão atos jurídicos em sentido estrito, negócios
jurídicos ou atos-fatos jurídicos.
VENOSA (2014, p. 346/347) tem opinião diversa: entende que ato-fato jurídico
não possui classificação autônoma, integrando alguma outra espécie. Assim, os atos
jurídicos teriam a vontade como fonte criadora, dividindo-se em atos lícitos ou ilícitos.
Os atos lícitos teriam classificação bipartida: ou são atos jurídicos meramente lícitos,
ou negócios jurídicos.
LÔBO (2017, p. 247), CASSETTARI (2017, p. 121/122) e GAGLIANO e
PAMPLONA FILHO (2012, p. 341) possuem opinião similar: o ato-fato jurídico não
integra as espécies de ação humana ou de atos jurídicos em sentido amplo, mas são
uma das espécies dos fatos jurídicos em sentido amplo, já que desprovidos de
vontade juridicamente relevante. Assim, os autores reconhecem a existência de atos-
fatos jurídicos, mas os colocam fora da esfera do ato humano volitivo. O ato humano
lícito, assim, teria classificação bipartida em atos jurídicos em sentido estrito e
negócios jurídicos.
TARTUCE (2011, p. 173), por sua volta, nega a existência do ato-fato jurídico
como categoria autônoma – posição esta que este autor compartilha – afirmando ser
desnecessária a criação de “uma categoria própria para solucionar ou enquadrar tais
situações. As categorias de fato, ato e negócio parecem ser suficientes para tanto”.
Exposto o dissenso, em que pese a opinião pessoal deste autor já exposta,
este trabalho partirá da classificação tripartida dos atos humanos, como exposta por
GONÇALVES e FARIAS e ROSENVALD, descrevendo as três espécies de atos
jurídicos em sentido amplo.
Não obstante a convicção da negativa da existência do ato-fato jurídico como
categoria autônoma, é importante trazer sua conceituação para a fluência do trabalho.
4.3.1 ATO-FATO JURÍDICO
Conforme já pontuado, há dissenso sobre a classificação do ato-fato jurídico
como espécie de ato jurídico em sentido amplo ou como espécie de fato jurídico. De
qualquer forma, para o presente trabalho, é necessária sua conceituação,
independentemente de classificá-lo.

84
MIRANDA (2000, p. 242) é talvez o primeiro a conceituar ato-fato jurídico,
partindo do que ele não seria, encontrando uma categoria de fatos ou atos
excludentes147.
GONÇALVES (2012, p. 319), ao explicar esse conceito de Pontes de Miranda,
afirma que “há certas ações humanas que a lei encara como fatos, sem levar em
consideração a vontade, a intenção ou a consciência do agente, demandando apenas
o ato material de achar”. Exemplifica com o achado do tesouro pelo “louco”148, que
gera consequências jurídicas (a aquisição da propriedade), mas a vontade em
executar o ato (antecedente ao ato) é juridicamente irrelevante.
Aqui não se trata do achado do tesouro decorrente da busca planejada, mas
sim da figura clássica, em que o achado é acidental.
Na verdade, verifica-se que o ato-fato jurídico é “fato jurídico qualificado pela
atuação humana”149, ou seja, é fato jurídico (por ter relevância no ordenamento
jurídico) em que há um agir humano, mas a vontade, o querer, a intenção do agente,
é juridicamente irrelevante.
Mas se a vontade fosse juridicamente irrelevante, o pagamento estaria no
limbo, já que a vontade do devedor é relevante para a quitação. Esse é mais um indício
que não há consenso na doutrina.
A vontade existe (já que o fato é qualificado pela atuação humana), mas ela é
desconsiderada pelo ordenamento. O foco é a consequência do ato, e não na intenção
perseguida ou querida pelo agente150.
147 É o que assevera PONTES DE MIRANDA (2000, p. 242): “Os atos-fatos jurídicos são os fatos jurídicos que escapam às classes dos negócios jurídicos, dos atos jurídicos strictu sensu, dos atos ilícitos, inclusive atos de infração culposa das obrigações, da posição do réu e de excetuado (licitude infringente contratual), das caducidades por culpa, e dos fatos jurídicos strictu sensu... Ainda quando, no suporte fático, de que emanam, haja ato humano, com vontade ou culpa, esses atos são tratados como ato-fato. Os fatos ou atos excludentes (não os confundamos com os fatos ou atos extintivos) não entram nessa classe, porque o direito somente se preocupa com eles, para enunciar, ainda no terreno fático, que se o suporte fático A é suficiente, ocorrendo o fato a ou o ato, positivo ou negativo, b, o suporte fático fica diminuído de a, OU de b, e, pois, é insuficiente. O direito, por isso mesmo que, a propósito de tais fatos excludentes, se mantém no plano fático (= na descrição do suporte fático suficiente), pode entender que o suporte fático do momento A somente entra no mundo jurídico se a, ou b, não ocorre”. 148 Expressão essa totalmente desatualizada e em desencontro com os termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e com o texto da Lei Brasileira de Inclusão, mas que aqui foi mantida já que consta da obra do referido autor. Na verdade, deve ser lida como “absolutamente incapaz”, e não como “louco”. 149 GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2012, p. 347. 150 Novamente GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2012, p. 347) assim explicam o ato-fato jurídico: “A ideia que deve presidir a compreensão dos atos-fatos jurídicos é a de que, para a sua caracterização, a vontade humana é irrelevante, pois é o fato humano, por si só, que goza de importância jurídica e eficácia social.

85
Para GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2012, p. 347), a compra e venda de
doces realizada por criança seria um exemplo de ato-fato jurídico. Para eles, essa
compra gera consequências jurídicas, mesmo sendo juridicamente irrelevante a
vontade que a teria motivado151. Também acreditam existir ato-fato jurídico na
hipótese da ocupação152 e no desforço imediato do possuidor para se manter na
posse153.
NERY e NERY JUNIOR (2015, p. 52) afirmam que – nos casos de compra por
menor – essas “ocorrências devem ser tidas como ‘fatos’, com consequências
jurídicas extraídas dessas contingências especiais, em que o fenômeno – embora
fruto da energia humana – não se manifesta como ato”154.
151 “Excelente exemplo de ato-fato jurídico encontramos na compra e venda feita por crianças. Ninguém discute que a criança, ao comprar o doce no boteco da esquina, não tem a vontade direcionada à celebração do contrato de consumo. Melhor do que considerar, ainda que apenas formalmente, esse ato como negócio jurídico, portador de intrínseca nulidade por força da incapacidade absoluta do agente, é enquadrá-lo na noção de ato-fato jurídico, dotado de ampla aceitação social”. Essa compra deixa uma série de questionamentos. O Código Civil, sem eu artigo 166, I, preceitua ser nulo o negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz (a criança citada no exemplo). Se a compra de balas pela criança é nula, o pagamento por ela realizado seria válido? Evidentemente que sim, já que o pagamento também seria considerado um ato-fato jurídico. A vontade que antecede o ato é juridicamente irrelevante, e o fato (pagamento) gera efeitos jurídicos. Outra indagação que advém desse exemplo decorre da falta de pagamento pela criança. Se ela efetua a “compra” da bala mas não faz o pagamento, pode o baleiro cobrar do pai da criança? A resposta é positiva, sendo o fundamento para essa cobrança a responsabilidade civil. A criança realizou um ato ilícito em prejuízo do baleiro, que pode cobrar de seus pais, nos termos dos artigos 186, 187, 928 e 932, I, todos do Código Civil. 152 CC: “Art. 1.263. Quem se assenhorear de coisa sem dono para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei”. 153 CC: “Art. 1.210... § 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse”. Aqui cabe uma crítica: será que a vontade, no caso do desforço imediato, não é juridicamente relevante? O possuidor turbado ou esbulhado tem a escolha de não agir. Pode não usar da faculdade do desforço imediato e buscar a sua tutela através do Poder Judiciário (ou não). Há um querer, uma vontade propulsora do ato do desforço. Por isso que esse não é o melhor exemplo, apesar do entendimento dos referidos doutrinadores. 154 TARTUCE (2011, p 173) também rejeita a classificação da compra e venda por menor como ato-fato jurídico, afirmando que ela será negócio válido, desde que demonstrado o suficiente discernimento (na hipótese de ausência de discernimento o autor não discorre, mas cremos estar diante de um fato jurídico). Já na hipótese da ocupação e do achado do tesouro, estaríamos diante de atos jurídicos em sentido estrito.

86
Para Pontes de Miranda há outras espécies de atos-fatos jurídicos, como o
abandono da posse155 e a criação intelectual do absolutamente incapaz156.
Resumindo: para a parcela da doutrina que aceita o ato-fato jurídico como
categoria autônoma, este pode ser conceituado como sendo “aquele em que a
hipótese de incidência pressupõe um ato humano, porém os efeitos decorrem por
conta da norma, pouco interessando se houve, ou não, vontade em sua prática”157.
4.3.2 ATO JURÍDICO EM SENTIDO ESTRITO
O ato jurídico em sentido estrito é aquele fato jurídico decorrente da vontade
válida do seu autor, mas cujos efeitos não são por ele controlados ou desejados; são
impostos pela lei. “Constituiu simples manifestação de vontade, sem conteúdo
negocial, que determina a produção de efeitos legalmente previstos”158159.
155 Para justificar a perda da posse, assim afirma (1954, p. 377/378): “A posse perde-se, entre outros casos, pelo abandono do poder fáctico (art. 520, I). É preciso, portanto, que se perca o poder fáctico; não basta a perda do direito à posse (daí haver ações de outrem, contra o possuidor, para imissão na posse). Se é certo que a manifestação de vontade de transmitir a posse pode bastar à perda, não basta ao abandono dizer o possuidor que o quer deixar de ser... A vontade sòmente é suficiente se o possuidor não tem mais o poder fáctico, ou não o exerce efetivamente, ou se adquiriu a posse pelo constituto possessório. A manifestação de vontade não é necessária; por isso, o abandono da posse é ato real, subclasse dos atos-fatos jurídicos. Abandono da posse não é declaração de vontade, nem, sequer, manifestação de vontade”. Ressalte-se que o abandono da coisa é uma das causas de perda de propriedade previstas no Código Civil (art. 1.275, III). Com o mesmo raciocínio se pode afirmar que o perecimento da coisa – por ato real, desprovido de vontade – seria também um ato-fato jurídico, e sua consequência é, também, a perda da propriedade (prevista no art. 1.275, IV, do CC). 156 No conceito de “criação intelectual”, Pontes de Miranda inclui tanto os direitos autorais de obras artísticas e literárias, quanto à propriedade industrial. Ato-fato jurídico de criação intelectual seria apenas o realizado pelo absolutamente incapaz. É o que afirma (1954, p. 380): “A criação científica, literária, ou artística, é ato-real. A pintura, a escultura, ou livro, ou a descoberta científica, ou o trabalho de ourives, feito pelo louco, ou pelo surdo-mudo, que não pode exprimir a vontade, ou pelo menor de dezesseis anos, é aquisição originária dêle. Os efeitos provenientes de registro são relativos à segurança jurídica, e já se passam noutro plano que o capítulo do direito das coisas concernente à aquisição pelo ato real”. Assim sendo, um quadro pintado por uma criança (ou um livro por ela escrito) seria um exemplo de ato-fato jurídico, em que o ato é desprovido de vontade juridicamente relevante, mas o fato geraria direitos (no caso, o direito autoral titularizado pelo absolutamente incapaz). 157 FARIAS e ROSENVALD, 2015, p. 496. 158 GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2012, p.349. 159 CARRIDE (1997, p.5/6) assim conceitua o ato jurídico em sentido estrito: “Por seu turno, os simples atos jurídicos são ações humanas lícitas cujos efeitos jurídicos, embora eventualmente – ou até normalmente – concordantes com a vontade de seus autores, não são determinados pelo conteúdo desta vontade, mas direta e imperativamente pela lei, independentemente daquela eventual ou normal concordância. “Nesse sentido se diz que os efeitos destes atos se produzem ex lege, não ex voluntate. “Assim a interpelação do credor ao devedor, nos termos da lei. Por meio deste ato o credor comunica ao devedor, nas obrigações sem prazo (puras), que pretende o pagamento imediato”.

87
Verifica-se, portanto, que ato jurídico em sentido estrito é a ação humana que
produz efeitos jurídicos independentemente do querer do agente. As consequências
são previstas em lei, e não podem ser afastadas pela vontade das partes.
O ato se projeta na órbita jurídica de outra pessoa, mas nem o agente,
tampouco o terceiro, acordam para produzir – ou não – os efeitos, pois esses são
decorrentes diretamente da lei. É a lição de LÔBO (2017, p. 252/253), ao afirmar que
esse ato decorre da manifestação unilateral da vontade de alguém, e se projeta na
órbita de terceiro, sendo que o autor não consegue definir os limites dos efeitos a
serem produzidos, já que decorrem diretamente da lei160.
A formação do ato jurídico em sentido estrito é muito mais simples do que o
negócio jurídico, já que independe da conjugação de vontades. Muitas vezes decorre
simplesmente do comportamento humano volitivo161. Basta o autor agir em
determinado sentido que a lei lhe trará as consequências jurídicas do seu ato.
Há, ainda, uma parcela da doutrina, capitaneada por GOMES162 e com adesão
de GAGLIANO e PAMPLONA FILHO163, que dividem os atos jurídicos em sentido
estrito em atos materiais e participações, mas essa divisão é contestada por FARIAS
e ROSENVALD164. De acordo com esses últimos autores, o dito ato material seria, na
160 É o que afirma em sua obra: “O ato jurídico em sentido estrito promana de manifestação ou declaração unilateral de vontade, projetando-se na órbita jurídica de terceiros. Não depende de assentimento ou concordância do destinatário ou beneficiário para que seja considerado válido e eficaz. Quando um genitor biológico ou um pai socioafetivo reconhece voluntariamente a paternidade, os efeitos são imediatos e automáticos, não podendo haver retratação, permitindo a averbação no registro civil do reconhecido. “Outra nota determinante e peculiar do ato jurídico em sentido estrito é que seu autor não pode definir seus efeitos, seus limites e o alcance. A vontade é sua, podendo ou não exteriorizá-la, mas desde o momento que o faz perde o controle de sua destinação. A lei é que define para que serve essa vontade exteriorizada, qual ou quais pessoas podem ser afetadas por ela, positiva ou negativamente, e seus precisos fins. Por isso é que se diz que os efeitos são necessários, ou ex lege”. 161 É o que afirmam GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2012, p. 350): “Vale lembrar ainda que o processo formativo do ato jurídico em sentido estrito é mais simplificado, prescindindo de um complexo ciclo cognitivo-deliberativo. “Isto porque, em sua grande maioria, consoante já anotamos, os atos jurídicos strictu sensu traduzem simples comportamentos humanos (a percepção de uma fruta, v.g.), diferentemente do que ocorre nas manifestações declarativas de vontade, formadoras dos negócios jurídicos (um contrato de locação, v.g.)”. 162 1990, p. 253. 163 2012, p. 350. 164 2015, p. 500: “Não é demais registrar, concluindo a abordagem do ato jurídico em sentido estrito, que alguns doutrinadores de escol, como os eminentes mestres baianos Orlando Gomes e José Abreu, optam por uma subdivisão dos mesmos, encontrando as figuras dos atos materiais e das participações. Para eles, os atos materiais (ou reais) resultariam da atuação da manifestação volitiva corporificada em ato material (exemplo da tomada de posse), englobando um elemento psíquico (vontade) e outro concreto (a prática do ato correspondentes). Não teriam destinatário, consistindo na simples atuação da vontade corporificada, que já lhes dá existência imediata. São, na realidade, os atos-fatos jurídicos

88
realidade, o ato-fato jurídico, em que o ato humano – cuja vontade não é relevante –
produz efeitos.
Por outro lado, GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2012, p. 350) rebatem essa
crítica, ao colocarem como requisito do ato material a “vontade consciente”, que
inexiste no ato-fato jurídico. Mas, “embora haja vontade consciente na atuação do
sujeito (na origem), esta não é orientada à consecução dos efeitos, que se produzem
independentemente do seu querer”. Para estes autores, então, a diferenciação
residiria justamente na presença da vontade consciente no ato material que não
existiria (ou seria desprezada) no caso do ato-fato jurídico.
O ponto de diferenciação entre ato-fato jurídico e o ato jurídico em sentido
estrito (na modalidade ato material) seria justamente a relevância jurídica da vontade.
No ato-fato jurídico há o ato humano que gera efeitos, mas a vontade não existe ou é
juridicamente desprezada (como no caso da criação de obra literária por criança).
Já no ato material a vontade humana que integra o ato humano é considerada.
Ela é juridicamente relevante e, se viciada, pode gerar a invalidade do ato.
De qualquer modo, independentemente da posição doutrinária a ser seguida,
ato jurídico em sentido estrito é aquele representado pela vontade humana
consciente, cujas consequências estão previstas em lei e ocorrem
independentemente do querer dos envolvidos.
4.3.3 NEGÓCIO JURÍDICO
A última espécie de ato jurídico em sentido amplo lícito a ser analisada no
presente trabalho é o negócio jurídico. GOMES (1990, p. 280) conceitua-o como
sendo “toda declaração de vontade destinada à produção de efeitos jurídicos
correspondentes ao intento prático do declarante, se reconhecido e garantido pela lei”.
Pelo que se vislumbra do conceito, o negócio jurídico é a declaração de vontade
consciente que pretende criar, modificar ou extinguir um determinado direito; frise-se
que esse efeito não é decorrente da lei (como ocorre com o ato jurídico em sentido
estrito), mas sim da vontade criadora das partes.
que estudamos alhures. Por seu turno, as participações se caracteriza, pela exteriorização de vontade para a ciência de fatos ou intenções, como na interpelação. Buscariam produzir efeito psíquico”.

89
Essa distinção entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico é
necessária para demonstrar os efeitos possíveis decorrentes da manifestação da
vontade. Ora eles decorrem diretamente da lei (atos jurídicos em sentido estrito), ora
da própria declaração, que cria efeitos não previstos no texto (negócio jurídico).
Para conceituar negócio jurídico LOTUFO (2004, p. 271) parte da necessidade
de distinção para o ato jurídico em sentido estrito, afirmando que no negócio jurídico
há a vontade qualificada em atingir um fim predeterminado165.
Aliás, MIRANDA166 frisava que a necessidade de conceituar o negócio jurídico
surgiu para permitir a criação de efeitos pela declaração de vontade das partes.
Esse autorregramento previsto por Pontes de Miranda traz a ideia do “querer”
das partes em produzir determinado efeito jurídico. Essa é a essência do negócio
jurídico.
BETTI (2003, p. 102) atesta que o negócio jurídico é “instrumento de autonomia
privada”, uma vez que permite que as partes organizem seus próprios interesses,
escolhendo os efeitos que pretendem atingir167.
AZEVEDO parte da análise estrutural do negócio jurídico para, ao final, chegar
à mesma conclusão: é o fato jurídico traduzido em uma declaração de vontade168.
165 É exatamente essa ideia do referido autor (2004, p. 271): “Ato jurídico e negócio jurídico são manifestações de vontade, mas diferem quanto à estrutura, à função e aos respectivos efeitos. Quanto à estrutura, enquanto nos atos jurídicos temos uma ação e uma vontade simples, nos negócios jurídicos temos uma ação e uma vontade qualificada, que é produzir um efeito jurídico determinado, vontade caracterizada por sua finalidade específica, que a constituição, modificação ou extinção de direitos. “O negócio jurídico, para nós, é o meio para a realização da autonomia privada, ou seja, a atividade e potestade criadoras, modificadoras ou extintoras de relações jurídicas entre particulares, porquanto o pressuposto e causa geradora de relações jurídicas, abstratamente e genericamente admitidas pelas normas do ordenamento”. 166 2012, p. 55: “O conceito surgiu exatamente para abranger os casos em que a vontade humana pode criar, modificar ou extinguir direitos, pretensões, ações, ou exceções, tendo por fito êsse acontecimento do mundo jurídico. Naturalmente, para tal poder fáctico de escolha supõe-se certo auto-regramento de vontade, dito “autonomia da vontade”, por defeito da linguagem (nomos é lei); com êsse auto-regramento, o agente determina as relações jurídicas em que há de figurar como termo”. 167 Afirma o doutrinador italiano que “O negócio é instrumento de autonomia privada, precisamente no sentido de que é posto pela lei à disposição dos particulares, a fim de que possam servir-se dele, não para invadir a esfera alheia, mas para comandar na própria casa, isto é, para dar uma organização básica aos interesses próprios de cada um, nas relações recíprocas” (2003, p. 102). 168 É o que afirma o autor (2002, p. 16): “O negócio jurídico, estruturalmente, pode ser definido ou como categoria, isto é, como fato jurídico abstrato, ou como fato, isto é, como fato jurídico concreto. Como categoria, ele é a hipótese de fato jurídico (às vezes dita “suporte fático”), que consiste em uma manifestação de vontade cercada de certas circunstâncias (as circunstâncias negociais) que fazem com que socialmente essa manifestação seja vista como dirigida à produção dos efeitos jurídicos; negócio jurídico como categoria, é, pois, a hipótese normativa consistente em declaração de vontade (entendida esta expressão em sentido preciso, e não comum, isto é, entendida como manifestação de vontade, que, pelas suas circunstâncias, é vista socialmente como destinada à produção de efeitos jurídicos). Ser declaração de vontade é a sua característica específica primária. Segue-se daí que o direito, acompanhando a visão social, atribui, à declaração, os efeitos que foram manifestados como

90
Não se deve olvidar que há visível influência das transformações sociais na
elaboração do conceito de negócio jurídico169.
Em que pese a influência social na elaboração dos negócios jurídicos170, a
declaração da vontade consciente é o centro de sua estrutura, merecendo análise
detida ante sua importância e relevância para o presente trabalho.
queridos, isto é, atribui a ela efeitos constitutivos de direito – e esta é a sua característica específica secundária. “In concreto, negócio jurídico é fato jurídico consistente em declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele incide”. 169 É a observação trazida por MAIA JÚNIOR (2004, p. 20): “Indiscutivelmente, o conceito de negócio jurídico é técnico, científico, não se podendo, porém, negar a influência das transformações sociais na sua elaboração. “O negócio jurídico influencia a conduta e o comportamento dos integrantes da sociedade, pois é por esta legitimado como fonte de obrigações e direitos. “Constitui expressão da autonomia da vontade, reconhecida juridicamente aos integrantes da sociedade, para disciplinarem seus direitos e interesses, dentro da esfera de disponibilidade que lhes assegura o ordenamento jurídico”. 170 Trazidos os conceitos de ato-fato jurídico, de ato jurídico em sentido estrito e de negócio jurídico, há algumas figuras que devem ser analisadas, já que causam discussão no tocante ao seu enquadramento. São elas o casamento, o perdão, a renúncia, a compensação de ofício e a posse. O primeiro ponto que deve ser focado é se há nessas figuras a relevância jurídica da vontade, ou se ela inexiste e, por isso, caberia seu enquadramento como ato-fato jurídico. No casamento, no perdão e na renúncia há um agir expresso, decorrente da vontade, a qual não pode ser ignorada pelo ordenamento. Pessoa absolutamente incapaz não pode realizar, por si só, qualquer desses atos. Dúvida surgiria no tocante ao casamento excepcional da pessoa que ainda não atingiu a idade núbil (art. 1.520 – pessoa absolutamente incapaz). Neste caso a vontade seria desprezada pelo direito, mas ela é excepcionalmente considerada. É uma das hipóteses em que o juiz deve considerar a vontade do absolutamente incapaz para, só então, conceder a autorização para o casamento. Indaga-se: na compensação de ofício e na posse há vontade consciente? Sim. Em ambos há um querer antecedente à ação humana. Na compensação há a vontade de contrair uma obrigação (ou o cometimento de um ato ilícito que gera o dever) que irá gerar a extinção de dívidas recíprocas entre credor e devedor. Já na posse há um querer de possuir o bem, de agir como possuidor, exteriorizando essa situação fática. Essas duas hipóteses não são, portanto, atos-fatos jurídicos. São atos jurídicos em sentido estrito. Há a vontade consciente preexistente, que gera impactos decorrentes diretamente da lei sobre a esfera jurídica de si e de terceiros. Não se controla os efeitos dos atos, tampouco sua extensão. O casamento e o perdão são atos mais complexos, que necessitam de uma conjugação de vontades. Seus efeitos estão previstos na lei, mas podem ser alterados. O regime de bens no casamento é livremente escolhido, assim como é possível a concessão de perdão parcial. Os efeitos são queridos pelas partes, que agem conjugando sua vontade para obtê-los. Resta a renúncia. Renúncia é ato unilateral que decorre do querer de uma parte, gerando consequências jurídicas decorrentes diretamente da lei. Seus efeitos não são alterados. Difere do perdão porque enquanto neste o devedor deve aceita-lo para ser válido (art. 385, CC), naquele independe da conjugação de vontade ou da aceitação de alguém. É unilateral. Por isso deve ser classificada a renúncia como sendo ato jurídico em sentido estrito.

91
4.4 Existência, Validade e Eficácia dos negócios jurídicos
Pontes de Miranda, ao analisar a estrutura do negócio jurídico, concebeu171 que
ele pode ser estudado de acordo com três distintos planos: o de existência, o de
validade e o de eficácia.
O estudo do negócio jurídico é realizado em degraus: primeiro se verifica que
há a presença dos elementos necessários à sua constituição, passando-se para a
análise da adequação aos requisitos legais para, só então, verificar-se a aptidão a
produção de efeitos.
MONTEIRO (1990, p. 176) estuda os elementos constitutivos do negócio
jurídico, socorrendo-se do Direito Romano, para identificá-los nas figuras da
essentialia negotti (“os elementos essenciais, a estrutura do ato; que lhe formam a
substância e sem os quais o ato não existe”), da naturalia negotti (“consequências que
decorrem do próprio ato, sem que haja necessidade de expressa menção”) e da
accidentalia negotti (“estipulações que facultativamente se adicionam ao ato para
modificar-lhe uma ou algumas de suas consequências naturais, como a condição, o
termo e o modo ou encargo ... o prazo para entregar a coisa ou pagar o preço”).
AZEVEDO (2002, p.23/24) traz exatamente a concepção Ponteana ao afirmar
que o exame dos fatos jurídicos se dá em dois planos: o da existência (onde se
verificaria a reunião dos elementos de fato para que exista) e o da eficácia (que seria
a aptidão para produzir efeitos). No caso do negócio jurídico, como há a “dependência
dos efeitos que foram manifestados como queridos”, a declaração de vontade deve
atender a certos requisitos para ser considerada válida. Daí a análise em seus três
diferentes planos.
Nesses planos se deve verificar a presença dos elementos de existência, os
requisitos de validade e os fatores de existência172.
171 SCHMIDT (2014) ao comparar a obra de Pontes de Miranda à doutrina alemã conclui reconhece que sua concepção não encontrava paralelo na literatura jurídica, mas que possuía uma visível inspiração alemã (especialmente nas obras de Leonhard, Figge, Windschied e Zitelmann), da qual extraiu os elementos para distinguir os planos da existência, validade e eficácia. Essa análise foi rebatida por MELLO (2016), que descreveu os equívocos da lógica de Schmidt, trazendo a unicidade da ideia criada por Pontes de Miranda, que descreveu todos os degraus necessários a um negócio jurídico: do seu nascimento, passando pelos atributos para possuir validade, até culminar na produção de seus efeitos, que não encontra par na doutrina alemã. 172 Esse é o ensinamento de AZEVEDO (2002, p. 29/30), quando afirma que “elemento é tudo aquilo de que algo mais complexo se compõe (pense-se nos elementos simples, ou puros, da química), que, por outro lado, requisitos (de requirire, requerer, exigir) são condições, exigências, que se devem satisfazer para preencher certos fins, e, finalmente, que fatores é tudo que concorre para determinado

92
O primeiro plano é o da existência. Nele se foca na ocorrência dos fatos reais
sobre os quais há incidência da lei. É o plano do ser173, daquilo que é. Nele são
investigados os elementos necessários à existência do negócio jurídico. Elemento,
retome-se, como sendo “tudo aquilo que compões sua existência no campo do
direito”174.
Aqui, como elementos de todos os negócios jurídicos, podem-se destacar três:
agente, objeto e forma. Para o negócio jurídico existir, alguém (agente) deve
exteriorizar sua vontade (forma) em produzir determinado efeito jurídico (objeto).
A exteriorização da vontade demonstra a preponderância da teoria da
declaração sobre a da vontade. Contudo, o querer também deve existir como um
quarto elemento autônomo. É o que se extrai da própria obra de MIRANDA (2012, p.
59)
A falta de vontade de negócio jurídico exclui a existência da declaração de vontade ou da manifestação de vontade (=ato adeclarativo) para compor suporte fáctico do negócio jurídico: não há negócio jurídico... Quando não há vontade, ou quando não há consciência da exteriorização da vontade, não há declaração de vontade, ou ato volitivo adeclarativo que possa ser suporte fáctico de negócio jurídico.
Ultrapassado o plano de existência, passa-se à análise da validade dos
negócios jurídicos. “O plano da validade se refere aos requisitos que o ordenamento
jurídico estabelece para que o negócio jurídico possa produzir os efeitos manifestados
como queridos”175.
Há visível relação de interdependência entre os planos da existência e de
validade dos negócios jurídicos. Os elementos são por si só. Existem como
substância. São substantivos.
resultado, sem propriamente dele fazer parte, temos que o negócio jurídico, examinado no plano da existência, precisa de elementos, para existir; no plano da validade, de requisitos, para ser válido; e, no plano da eficácia, de fatores de eficácia, para ser eficaz. “Elementos, requisitos e fatores de eficácia são respectivamente os caracteres de que necessita o negócio jurídico para existir, valer e ser eficaz”. 173 Nas exatas palavras de MELLO (2011, p. 134): “Ao sofrer a incidência de norma jurídica juridicizante, a parte relevante do suporte fáctico é transportada para o mundo jurídico, ingressando no plano de existência. Neste plano, que é o plano do ser, entram todos os fatos jurídicos, lícitos ou ilícitos. No plano da existência não se cogita de invalidade ou eficácia do fato jurídico, importa, apenas, a realidade da existência. Tudo, aqui, fica circunscrito a saber se o suporte fáctico suficiente se compôs, dando ensejo à incidência. Naturalmente, se há falta, no suporte fáctico, de elemento nuclear, mesmo completante do núcleo, o fato não tem entrada no plano da existência, donde não haver fato jurídico”. 174 AZEVEDO, 2002, p. 31. 175 SCHMIDT, 2014, p. 140.

93
Já no plano de validade os elementos substantivos serão qualificados,
adjetivados, trazendo “as qualidades que os elementos devem ter”176. Assim sendo, o
agente tem que ser capaz e legitimado; o objeto, lícito, possível, determinado ou
determinável; a forma, prescrita ou não defesa em lei; e a vontade, livre de qualquer
vício.
No plano da eficácia o enfoque dado é na aptidão para produzir efeitos. Todo
negócio jurídico existente e válido deve, naturalmente, produzir efeitos. Mas a
produção pode ser alterada ou condicionada pela vontade das partes. Daí nasce o
estudo dos elementos acidentais (porque não são naturais; dependem da vontade
expressa das partes) dos negócios jurídicos: condição, termo e encargo.
4.5 A Declaração da Vontade na formação dos negócios jurídicos
Conforme já asseverado neste trabalho, a declaração da vontade consciente é
o alicerce do negócio jurídico. É elemento de existência, e sua liberdade é requisito
de validade. Sem ela, não há negócio jurídico existente, válido ou eficaz.
Não é outra a lição de MIRANDA (2012, p. 56)
A manifestação de vontade é elemento essencial do suporte fáctico, que é o negócio; com a entrada dêsse no mundo jurídico, tem-se o negócio jurídico. Daí o êrro de se identificarem manifestação de vontade, que é acontecimento do mundo fáctico, e negócio jurídico, que é juricidização do suporte fáctico (manifestação de vontade + x + incidência da lei). Há manifestações de vontade que entram no mundo jurídico sem produzirem negócio jurídico. Tão-pouco, precisa ela, para produzir negócio jurídico, ser “clara” (= declarada).
Fica evidente pelas lições expostas que a manifestação de vontade de
determinado agente, com a incidência da lei sobre ela, forma um negócio jurídico. A
manifestação de vontade é o “elemento essencial” do suporte fático do negócio
jurídico. “É pressuposto do negócio jurídico a declaração de vontade do agente em
conformidade com a norma legal, e visando a produção de efeitos jurídicos. Elemento
específico é, então, a emissão de vontade”177.
176 AZEVEDO, 2002, p. 42. 177 CARRIDE, 1997, p. 8.

94
Para RUGGIERO (1934, p. 244/245), a vontade é o cerne do negócio jurídico
(vontade manifesta), pois somente com ela é que a reação jurídica desejada (e
prevista no ordenamento) é alcançada178.
GONÇALVES (1951, p. 206/207), ao discorrer sobre a declaração de vontade
dos atos jurídicos, discorre sobre a necessidade do mútuo consenso para sua criação,
entendendo por consenso “que as partes devem sentir conjuntamente o mesmo,
entrar num acôrdo de vontades. Não há contrato, se faltar êste acôrdo, convergindo
as duas ou tôdas as vontades para o mesmo fim”.
Assim, para a formação do negócio jurídico, deve haver consenso, união de
vontades dos agentes.
A vontade é elemento do negócio jurídico. Mas qual é o papel dela no negócio
jurídico? A vontade é o elemento essencial ou a sua declaração? Esses
questionamentos não são recentes179.
A discussão entre a preponderância da declaração ou da vontade é essencial,
e não secundária, já que faz com que o critério interpretativo dos negócios jurídicos
seja completamente diferente180.
178 É a lição do doutrinador italiano (1934, p. 244/245): “O momento central e prevalecente é a vontade. Se eu quero satisfazer o interêsse e conseguir um fim e o ordenamento dá eficácia a essa minha vontade, obtém-se o fim desejado reconhecendo-se nascida a nova relação ou, extinta ou modificada, uma relação já existente. Se é a própria vontade ou a lei que produz esse efeito, é uma questão em meu entender ociosa, visto que nem só a vontade o podia produzir sem a tutela do ordenamento, nem este o podia fazer sem que do indivíduo tivesse partido uma iniciativa.- Mas a vontade deve ser manifestada, não tendo valor para o direito objectivo a que, pôsto que legitimamente formada, se não exteriorizou. Sòmente com a sua manifestação o agente pode provocara desejada reacção jurídica e esta exteriorização, que torna visível a vontade e lhe dá existência objectiva, é o que nós chamamos declaração ou manifestação, sendo indiferente que se faça com palavras, com gestos ou até com o simples silêncio”. 179 GOMES (1990, p. 283) pontua a controvérsia da seguinte forma: “A determinação do papel da vontade nos atos jurídicos é problema que ainda hoje divide os estudiosos do Direito. “Duas teorias confrontam-se: a da vontade e a da declaração. “Sustenta a teoria voluntarista que a exteriorização da vontade vale apenas na medida em que traduz a intenção dirigida a determinadas conseqüências jurídicas. No negócio jurídico é necessária a intenção do resultado, como se exprime Zittel-Mann. Se a vontade se manifesta por puro gracejo, não cria obrigação para o declarante, exatamente porque não foi declarada para suscitar esse resultado jurídico. “Para a teoria declaracionista o que conta é a declaração, pouco importando que o resultado jurídico produzido corresponda à real intenção do declarante”. 180 RODRIGUES (1959, p. 21/22) traz a mesma discussão, manifestando sua predileção pela teoria da declaração: “...Com efeito, a teoria da vontade real, prestigiando a intenção das partes, visa a proteger o autor da declaração, permitindo o desfazimento do ato quando sua forma externa não representar a vontade do agente. Mas esta é uma posição excessivamente individualista, que destoa, talvez, da vocação do direito atual. Êste parece mais preocupado com o bem do maior número, e a ampliação da idéia de ordem pública, ou o fastígio da noção do abuso de direito, entre outros fatores, de um certo modo revelam tal tendência. “Reagindo contra a teoria da vontade real, a teoria da declaração atinge um extremo oposto, pois tem em vista assegurar, de preferência, uma proteção ao destinatário daquela. Desconsidera a vontade, para ater-se ao reflexo externado, almejando garantir a estabilidade das relações negociais. A

95
Essa discussão continua atual. Em que pese a ideia de segurança jurídica
trazida pela teoria da declaração, fato é que a intenção, o querer por detrás da ação,
será relevante para a interpretação do negócio jurídico181.
O intérprete do negócio jurídico deve buscar a real intenção por detrás do ato,
muito além do sentido semântico do declarado para poder corretamente interpretá-lo.
Isto ocorre porque “como a vontade é o fundamento do negócio jurídico, ela prevalece
sobre a expressão literal da linguagem quando com ela conflitar”182.
Essa – repita-se – é uma regra de interpretação, que se socorre quando há
dúvidas no tocante à aplicação do negócio jurídico. Mas aplicar a preponderância da
vontade por detrás do ato com aquela que foi declarada seria trazer a incerteza ao
campo dos negócios jurídicos, fim este que não se busca.
Por isso que há a preponderância da vontade declarada sobre aquela querida.
À primeira vista essa discussão pode parecer desatualizada ou antiga. Isso
porque já se debruçou à exaustão sobre ela, sendo pacífico que hoje o que
prepondera é, justamente, a teoria da declaração. Ela se sobrepõe sobre a intenção
para trazer ao sistema maior segurança jurídica.
Ocorre que, com o advento da Lei Brasileira de Inclusão, suprimiu-se o conceito
de “necessário discernimento” para considerar alguém incapaz. Mais do que isso: o
conceito incluído no sistema de incapacidades foi o da possibilidade de “exprimir
vontade”183, mas essa discussão será retomada adiante.
Outra discussão acerca da vontade nos negócios jurídicos que deve ser trazida
neste trabalho é se o agente deve conscientemente querer o efeito jurídico decorrente
de seu ato. RÁO traduz a questão no seguinte questionamento: “deve, ou não, o
agente querer conscientemente e tais quais a lei os define e disciplina, os efeitos
jurídicos que de seu ato resultam, ou podem resultar?”184.
declaração, uma vez externada, separa-se da vontade de quem a emite, da mesma forma que a lei, depois de publicada, fica independente da vontade do legislador. Julgar-se-á a declaração com objetividade, depois de devidamente interpretada; tal interpretação não visa a descobrir o que seu autor eventualmente queria, mas apurar a maneira como uma pessoa normal, de acordo com os princípios da boa-fé, a entenderia”. 181 Repita-se: a intenção por detrás, o real querer, vai ser levado em consideração para a interpretação do negócio jurídico (e não para sua formação). É o que reza o Código Civil: “Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. 182 BENHAME, in FUJITA et al (coord.), 2014, p. 259. 183 CC, art. 4º, III. 184 Continua o referido Autor (1999, p. 53/55), enunciando: “Os sequazes da teoria subjetiva entendem que a vontade consciente do agente há de abranger tais efeitos. Mas segundo pensam autores outros, inclusive os objetivistas, quando se diz que o ato jurídico, como ato voluntário, deve visar aos efeitos jurídicos que as normas lhe atribuem, não se quer significar que ao agente incumbe declarar

96
Para o referido autor, o agente não precisa querer especificamente
determinado efeito, que decorre naturalmente do negócio jurídico firmado por força da
lei.
Ou seja, é evidente que a vontade, como elemento estrutural, depende de sua
exteriorização por meio da declaração para firmar o negócio jurídico, mas a intenção
não será completamente abandonada; quando a intenção se chocar com o texto literal
da declaração, deve-se levar em consideração o real querer na interpretação.
Ademais, a manifestação específica em querer determinados efeitos
decorrentes do negócio jurídico é despicienda, uma vez que decorrem naturalmente
da fattispecie negocial.
Resta analisar os requisitos para que a declaração de vontade seja considerada
válida pelo ordenamento jurídico. AZEVEDO (2002, p. 43), traz quatro requisitos para
que a declaração de vontade seja válida: “a) resultante de um processo volitivo; b)
querida com plena consciência de realidade; c) escolhida com liberdade; d) deliberada
sem má-fé”
Ou seja, para que a declaração de vontade seja válida, ela deve ser fruto da
decisão consciente, livre e de boa-fé. O questionamento que se faz é, justamente, se
a pessoa com deficiência mental ou intelectual consegue emitir a declaração de
vontade nestes termos, o que será analisado no próximo capítulo.
expressamente tais efeitos, nem, tampouco que deles deva ter um conhecimento preciso, como se fora perfeito conhecedor das normas legais... “... “Com relação à generalidade dos atos jurídicos, já dissemos, basta que a vontade do agente se dirija à consecução dos efeitos práticos protegidos pelo ordenamento. Mas, preciso é reconhecer-se que essa regra não é absoluta, pois casos existem nos quais a vontade deve dirigir-se, efetivamente, à realização dos efeitos jurídicos e não, apenas, à dos efeitos práticos. Em tais casos, “o propósito jurídico entra como elemento constitutivo de algumas construções negociais” (Cariota Ferrara, Il Negozio Giuridico nel Diritto Privato Italiano, n. 18). Entre os casos dessa natureza figuram os negócios indiretos e, mais particularmente, os fiduciários...”.

97
5 O novo sistema de incapacidades e seus reflexos nos negócios jurídicos
praticados pela pessoa com deficiência mental ou intelectual
A vontade é a mudança conscientemente controlada. Anodea Judith
Neste trabalho foram examinados os requisitos para o reconhecimento de um
microssistema jurídico, concluindo-se pela existência do microssistema jurídico de
tutela dos direitos das pessoas com deficiência. Por essa razão, é imperativa a
releitura de alguns institutos, adequando-os para correta aplicação no microssistema.
Assim, verificou-se os conceitos de capacidade (e incapacidade) e a vontade
como elemento constitutivo do negócio jurídico celebrado.
Entrementes, deve-se adentrar na legislação que compõe o microssistema,
cotejando-a com os institutos até então postos para adequá-los à realidade das
pessoas com deficiência.
O conceito de deficiência previsto na Convenção sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência foi devidamente abordado, sendo ressaltado que o que vai definir se
a pessoa tem ou não deficiência é a preponderância da existência de barreiras.
Com a criação do microssistema legal de tutela das pessoas com deficiência,
buscou-se a eliminação das barreiras jurídicas que impedem a plena e efetiva
participação da pessoa com deficiência na sociedade em igualdade de condições com
as pessoas sem deficiência.
O instrumento utilizado foi a criação do princípio da plena capacidade civil da
pessoa com deficiência. Mas será que esse princípio foi suficiente para eliminar as
barreiras jurídicas que impedem o exercício da capacidade negocial pela pessoa com
deficiência? A resposta a essa indagação é o fio que conduzirá esse capítulo.
Antes é relevante discutir a ideia de autodeterminação e o próprio princípio da
plena capacidade civil da pessoa com deficiência.

98
5.1 A autodeterminação da Pessoa Natural
O limite da capacidade foi sempre tema de discussão. O Código Civil de 2002,
em seu artigo 1º, trata da capacidade ao enunciar que “Toda pessoa é capaz de
direitos e deveres na ordem civil”185. BEVILAQUA (1916, p. 167), ao comentar o artigo
similar presente no Código Civil de 1916 discorre que “O Código Civil não se ocupa
sinão (sic) das relações de ordem privada. Os direitos e as obrigações de ordem
política não entram na sua esfera (sic), como dela se acham excluídas as relações
públicas de direito internacional, que somente (sic) competem aos Estados nos seus
contatos recíprocos”.
SANTOS (1963, p. 232) repete o ensinamento de BEVILAQUA, afirmando que
os direitos que a lei confere às pessoas (e as obrigações) podem possuir uma das
seguintes naturezas: política, pública e civil. A capacidade se refere, apenas, aos
direitos abarcados pela ordem civil. Assim, o limite da capacidade residiria justamente
na restrição de sua aplicabilidade à esfera da ordem civil.
Restaria perquirir qual é exatamente o objeto dos direitos da ordem civil. Para
SANTOS (1963, p. 233), seriam todos os direitos decorrentes das relações de ordem
privada.
A relação privada abarcaria – segundo a visão clássica – inclusive a
autodeterminação da pessoa natural. Se faltasse capacidade, a autodeterminação
deveria ser, também, restringida186.
Nessa visão clássica de capacidade a autodeterminação integrava a ideia de
exercício dos direitos civis. Isso porque o conceito da personalidade estava ligado
justamente à titularização de direitos e de obrigações, sendo a capacidade apenas a
medida dessa personalidade.
Conforme já asseverado, houve o influxo de normas constitucionais no conceito
de personalidade, especialmente do princípio da dignidade de pessoa humana,
185 Essa redação e preocupação não é novidade. O Código Civil de 1916 possuía artigo quase idêntico (art. 2º. Todo homem é capaz de direitos e obrigações, na ordem civil), o que evidencia a preocupação em limitar a capacidade à ordem civil. 186 PEREIRA (1990, p. 174) defendia justamente a possibilidade de restrição da autodeterminação no caso de abstenção da capacidade plena: “Aos indivíduos, às vezes, faltam requisitos materiais para dirigirem-se com autonomia no mundo civil. Embora não lhes negue a ordem jurídica a capacidade de gozo ou a aquisição, recusa-lhes a autodeterminação interdizendo-lhes o exercício dos direitos, pessoas e diretamente, porém condicionando sempre à intervenção de uma outra pessoa, que os representa ou assiste”.

99
fazendo com que a personalidade seja apresentada sob duas perspectivas: como
valor jurídico187 que decorre da própria condição de pessoa humana, e como a
atribuição decorrente do ordenamento que confere a possibilidade de titularizar
direitos e obrigações188.
Fato é que o ordenamento jurídico, ao discorrer sobre a capacidade (e a
incapacidade), sempre teve o foco eminentemente patrimonial. Visava tutelar as
relações patrimoniais na ordem privada. Mas fazia com que essa tutela acabasse por
se voltar também para a restrição da autodeterminação da pessoa humana, já que a
vontade do incapaz não era levada em consideração para a formação dos atos
jurídicos (mesmo que extrapatrimoniais)189.
A capacidade de autodeterminação da pessoa humana seria, justamente, a
possibilidade de efetuar as próprias escolhas no exercício de seus interesses
existenciais.
PERLINGIERI (2008, p. 764/765) discorre sobre as situações subjetivas
existenciais, as quais não se traduziriam em um direito subjetivo com conteúdo
patrimonial (baseadas na ideia do ter), mas que correspondem ao exercício dos
direitos da personalidade (lastreados no ser). O que seria tutelado é o valor que cada
pessoa possui190.
187 REALE (1983, p. 187) ao discorrer sobre o valor, traz a dificuldade de conceitua-lo, ante seu caráter atemporal e a-espacial. Afirma que, caso fosse necessário trazer uma conceituação lógico-formal, acabaria por afirmar que “valor é o que vale”. Discorre, então, sobre a natureza e características do valor, até afirmar que “Os valores não são uma realidade ideal que o homem contempla como se fosse um modelo definitivo, ou que só possa realizar de maneira indireta, como quem faz uma cópia. Os valores são, ao contrário, algo que o homem realiza em sua própria experiência e que vai assumindo expressões diversas e exemplares, através do tempo. “No plano da história, os valores possuem objetividade, porque, por mais que o homem atinja resultados e realize obras de ciência ou de arte, de bem e de beleza, jamais tais obras chegarão a exaurir a possibilidade dos valores que representam sempre uma abertura para novas determinações do gênio inventivo e criador. Trata-se, porém, de uma objetividade relativa, sob o prisma ontológico, pois os valores não existem em si e de per si, mas em relação aos homens, com referência a um sujeito”. (op. Cit., p. 208) 188 RODRIGUES (2007, p. 12). 189 Essa é a crítica de FARIAS e ROSENVALD (2015, p. 297): “É que se detecta uma disparidade injustificável, um verdadeiro despautério jurídico. Afastar um sujeito da titularidade de seus direitos, obstando-lhe a prática de quaisquer atos da vida civil e dos próprios direitos fundamentais reconhecidos constitucionalmente, concedendo-lhe tutela tão somente aos interesses patrimoniais, a ser efetivada por intermédio de terceiros (o representante legal), relegando a um segundo plano os seus interesses existenciais. “Daí a necessidade premente de dedicar-se proteção jurídica à pessoa humana sob a perspectiva do que ela é, e não pela ótica do que ela tem”. 190 É o que assevera o referido autor: “A personalidade, portanto, não é um direito, mas sim um valor (o valor fundamental do ordenamento) e está na base de uma série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente exigência mutável de tutela. Tais situações subjetivas não assumem necessariamente a forma do direito subjetivo e não devem fazer que se perca de vista a

100
A autodeterminação seria, então, o exercício da parcela da personalidade que
não corresponde a conteúdo patrimonial. É a exteriorização daquilo que a própria
pessoa sente e acredita.
A recusa a tratamento médico é exemplo de autodeterminação que era
extirpada do âmbito da pessoa natural que não possuía capacidade civil plena, mesmo
não sendo uma relação eminentemente privada. Versa na realidade sobre a situação
subjetiva existencial, que não deve se atrelar à plena capacidade da pessoa, mas sim
à possibilidade de discernimento e exteriorização de seu querer, de sua vontade.
O discernimento entendido como a possibilidade da pessoa analisar
conscientemente as próprias decisões, antevendo as consequências de um ato sobre
sua vida. Mas o discernimento será analisado em item próprio neste capítulo.
Ao exercitar um direito de personalidade, desprovido de qualquer conteúdo
patrimonial (como a recusa a tratamento médico), a pessoa consegue se
autodeterminar, impondo suas crenças àqueles que a cercam. Também assim age ao
exigir o reconhecimento de gênero diverso do biológico.
RODRIGUES (2007, p. 24) descreve essa situação, ao afirmar que não há
sentido em reconhecer a titularidade dos direitos existenciais sem a possibilidade da
pessoa natural em exercê-los. Justamente por essa razão que prossegue o Autor
(2007, p. 27), para sugerir a revisão da relevância da vontade da pessoa incapaz191.
Nada obstante, essa revisão deve ser analisada com cuidado, o que se fará adiante.
Ocorre que esse foi o espírito da concepção do Estatuto das Pessoas com
Deficiência. É visível o trabalho desenvolvido pelo legislador em separar as situações
existenciais da pessoa com deficiências daquelas situações patrimoniais.
Tanto é assim que a submissão à curatela da pessoa com deficiência é medida
excepcional192, restringindo-se, apenas, aos atos de natureza patrimonial e
unidade do valor envolvido. Não existe um número fechado de hipóteses tuteladas: tutelado é o valor da pessoa sem limites, salvo aqueles colocados no seu interesse e naqueles de outras pessoas. A elasticidade da tutela se torna instrumento para realizar formas de proteção também atípicas, fundadas no interesse à existência e no livre desenvolvimento da vida de ralação”. 191 É o que defende: “Não se trata, portanto, de afirmar que a manifestação de vontade do incapaz é elemento suficiente para a criação de vínculos jurídicos. Aliás como afirma Perlingieri, nem mesmo para aqueles considerados capazes a mera manifestação de vontade é elemento suficiente à criação de vínculos pois: “A autonomia não é arbítrio: o ato de autonomia em um ordenamento social não se pode eximir de realizar um valor positivo”. Porém, frente a situações que toquem diretamente ao desenvolvimento de sua própria personalidade, não pode mais ser admitido em nosso sistema que a vontade do incapaz seja irrelevante ou desprezada pelo Direito”. 192 Lei nº 13.146, de 2015, Art. 84, § 3º “A definição de curatela da pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”, e art. 85, § 2º “A curatela constitui medida extraordinária, devendo

101
negocial193. Aliás, é expressa no Estatuto que a curatela “não alcança o direito ao
próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao
trabalho e ao voto”194, ou seja, a curatela não atinge as situações existenciais da
pessoa com deficiência.
O que se vislumbra é que há no microssistema jurídico de tutela das pessoas
com deficiência o respeito à autodeterminação da pessoa humana,
independentemente da sua capacidade civil plena (mas sendo necessário o
discernimento para exprimir sua vontade).
Há a separação das ideias de capacidade de fato e de autodeterminação:
capacidade de fato no sentido de exercício dos direitos e obrigações por si só,
enquanto autodeterminação como possibilidade de externar a sua vontade nas suas
situações existenciais, naquele contexto de exercício de direito da personalidade. A
exteriorização da vontade com discernimento seria, então, elemento necessário a ser
estudado e compreendido.
Todavia, antes de se prosseguir na perquirição da vontade, é indispensável a
análise do princípio da plena capacidade civil da pessoa com deficiência.
5.2 A plena capacidade civil da pessoa com deficiência
Conforme já asseverado, a alteração do paradigma conceitual de pessoa com
deficiência, saindo do impedimento para centralizar na existência de barreiras mudou
a forma de se enxergar esse grupo de pessoas. A deficiência passa a integrar a
própria pessoa, sendo dever de todos eliminar as barreiras porventura existentes,
permitindo a participação na sociedade em igualdade de oportunidades.
Especialmente em um Estado cujas barreiras jurídicas existentes trazem
requisitos diversos para as pessoas com deficiência exercerem seus direitos em
igualdade com as demais pessoas, deve-se estudar se os instrumentos criados foram
suficientes.
O novo conceito trazido é contraditório com a atual sociedade brasileira, que
tem por costume “coisificar” a pessoa com deficiência mental ou intelectual,
constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado”. 193 Lei nº 13.146, de 2015, Art. 85 “A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. 194 Lei nº 13.146, de 2015, Art. 85, § 1º.

102
desprovendo-a de qualquer autonomia ou vontade. Essa é, sem sombra de dúvida, a
maior barreira a ser eliminada: a barreira atitudinal.
A alteração do paradigma é por demais complexo. Passa pela necessidade de
compreensão da pessoa com deficiência de forma mais ampla, procurando dar mais
voz a esse grupo195. Apesar disso, para sua efetiva aplicação é imperativa a alteração
da sistemática de cuidado com esse grupo, devendo o Judiciário utilizar de equipe
multidisciplinar apta a dar fundamentos ao magistrado para decidir quando há
interesses em conflito.
Com esse novo entendimento, é complexo afirmar que a deficiência reduz a
capacidade civil da pessoa, pois considerar-se-ia o impedimento como sendo o centro
da deficiência, e não a barreira em si (que pode ser eliminada)196.
Com a eliminação da barreira não se elimina o impedimento em si, mas é
facilitada a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. Esse é o fim a ser buscado: a plena e total
inclusão.
A presença de barreiras jurídicas, com a criação de requisitos diversos para o
exercício de direitos entre pessoas com e sem deficiência é um entrave a ser
eliminado.
O fundamento para a crítica está justamente nos princípios norteadores da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que, no Brasil, não custa
repetir, possui status de emenda constitucional. Os referidos princípios constam do
artigo terceiro da Convenção, destacando-se o respeito pela dignidade inerente, a
autonomia individual (inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas) e a
independência.
195 Em uma expressão que caiu no gosto da sociedade atualmente, deve-se buscar empoderar a pessoa com deficiência, dando-lhe o controle sobre as próprias escolhas. 196 É justamente neste sentido a lição de FERRAZ (2012, p. 325) “Sob a ótica humanista, a ideia de que a deficiência reduz a capacidade do indivíduo para ser considerado sujeito de relações jurídicas é considerada plenamente ultrapassada, pois a concepção de deficiência à luz da interpretação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007) encontra respaldo em não delimitar a deficiência em si como doença, pois a pessoa com deficiência nada mais é do que um indivíduo que sofre restrições físicas, sensoriais, mentais ou intelectuais. Parte dessa análise encontra guarida na interpretação dos princípios norteadores da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, uma vez que esta está fulcrada no princípio da dignidade, inerente à independência da pessoa com deficiência, inclusive com a liberdade de fazer as próprias escolhas, inclusão na sociedade, do respeito pela diferença, da igualdade de oportunidades, da acessibilidade, da igualdade entre homem e mulher e do respeito pelas capacidades em desenvolvimento das crianças com deficiência”.

103
Esse é o espírito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
reconhecendo desde o preâmbulo “a importância, para as pessoas com deficiência,
de sua autonomia e independência individuais, inclusive da liberdade para fazer as
próprias escolhas”197. Repita-se: o propósito da referida Convenção é promover o
respeito pela dignidade inerente da pessoa com deficiência.
A dignidade é a base da tutela; “tal dignidade é atingida sempre que a pessoa
concreta (indivíduo) for rebaixada a objeto, mero instrumento, tratada como uma
coisa, seja descaracterizada e desconsiderada como sujeito de direitos”198.
A dignidade inerente às pessoas com deficiência impõe que elas sejam
consideradas capazes perante a lei, da mesma forma que todas as demais pessoas.
É o que impõe, inclusive, o artigo 12 da Convenção199.
Ora, desde a promulgação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência o Brasil reconheceu a capacidade civil da pessoa com deficiência em
igualdade de condições com as demais pessoas, possuindo esse comando status de
norma constitucional.
Mesmo assim, a pessoa com deficiência – após a promulgação da referida
Convenção – continuava a ser tratada de forma diferenciada. Partia-se do pressuposto
que toda pessoa com deficiência mental ou intelectual era civilmente incapaz, sendo
clara a violação ao novel comando constitucional
Isto porque a pessoa com deficiência deveria ter o mesmo tratamento da
pessoa sem deficiência: o pressuposto básico é a capacidade, sendo a incapacidade
medida de exceção a ser reconhecida judicialmente.
O Código Civil de 2002, por sua vez, continuava a ser integralmente aplicado
(sem qualquer ressalva), considerando aquele que possuísse “enfermidade ou
deficiência mental”200 como absolutamente incapaz, e relativamente incapaz “os
excepcionais, sem desenvolvimento mental completo”201.
197 Alínea n, do Preâmbulo da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada no Brasil através do Decreto nº 6.949, de 2009. 198 RIBEIRO, 2012, p. 157. 199 “Artigo 12 – Reconhecimento igual perante a lei. “1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. “2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida...”. 200 Redação original do art. 3º, II, do Código Civil de 2002, que possuiu vigência até janeiro de 2016. 201 Redação original do art. 4º, III, do Código Civil de 2002, que possuiu vigência até janeiro de 2016.

104
Apenas com a entrada em vigor do Estatuto das Pessoas com Deficiência, em
janeiro de 2016, é que houve alteração do Código Civil, aplicando o comando
constitucional imposto pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência202.
Ressalte-se que não houve avanço ou retrocesso no sistema de incapacidades
com a alteração do texto do Código Civil; houve a sua adequação ao paradigma
trazido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Nos próprios termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, a deficiência é um conceito em evolução203, devendo os Estados
promoverem e protegerem os direitos humanos desse grupo204.
O que se deve indagar é se a previsão legal que coloca a pessoa com
deficiência com a mesma capacidade da sem deficiência, por si só, é suficiente para
eliminar as barreiras jurídicas que impedem o tratamento igual com a pessoa sem
deficiência. Partir do pressuposto da plena capacidade civil não torna a pessoa com
deficiência mais vulnerável?
Obviamente que a simples alteração do arcabouço legal não muda a realidade
imediata da pessoa com deficiência. Uma lei não é suficiente para eliminar as barreiras
existentes, mas é o ponto de partida para a mudança efetiva e real.
Ao se colocar no ponto focal do microssistema a plena capacidade civil da
pessoa com deficiência, põe-se no centro da ordenação justamente a dignidade da
pessoa com deficiência, dando-lhe o controle sobre sua autonomia existencial.
202 Eis a atual redação do Código Civil: “Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) “Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) “I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; “II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) “III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) “IV - os pródigos. “Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)”. 203 Alínea “e” do Preâmbulo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgado pelo Decreto nº 6.949, de 2009. 204 Alínea “j” do Preâmbulo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgado pelo Decreto nº 6.949, de 2009.

105
Para fixar a ideia da plena capacidade civil da pessoa com deficiência, o
Estatuto das Pessoas com Deficiência (Lei nº 13.146, de 2015) trouxe isso claro na
redação do caput do seu artigo sexto205.
Pela leitura desse artigo fica evidente o espírito do legislador: reconhecer a
capacidade civil da pessoa com deficiência206 especialmente para os atos de
autodeterminação.
Evidente, pois, que a pessoa com deficiência, independentemente da natureza
do impedimento, possui a plena capacidade civil, a qual só poderá ser restringida na
hipótese de impossibilidade de exprimir vontade207.
COSTA FILHO (2016, p. 366/367), ao comentar a autonomia existencial da
pessoa com deficiência, conclui que a interdição não é mais aplicável à pessoa com
205 “Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: “I - casar-se e constituir união estável; “II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; “III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; “IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; “V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e “VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”. 206 FERRAZ e LEITE (2016, p. 79), ao verificar a extensão do comando do princípio da plena capacidade civil da pessoa com deficiência e a ideia de autonomia, lecionam: “Ao considerar autonomia a possibilidade de decidir por si mesmo, de tomar as próprias decisões, é forçoso concluir que a pessoa com deficiência ostenta essa qualidade. É necessário não confundir a possibilidade de fazer escolhas com a aptidão para, pessoalmente e sem auxílio, colocar em prática certos atos ou executar determinadas ações... “Portanto, eventuais dificuldades no desempenho de movimentos, de comunicação ou de outras espécies não podem ser confundidas com falta de capacidade para tomar decisões. É certo que, na quase totalidade dos casos, feitas as adaptações apropriadas, a pessoa com deficiência estará apta a manifestar sua vontade e a expressar o seu querer. “Nesse sentido, a LBI [Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto das Pessoas com Deficiência] estabelece que, em regra geral, toda pessoa com deficiência tem capacidade para exercer os seus direitos. Vale observar que a lei não faz distinção quanto ao tipo de deficiência, de modo que estão incluídas nesse preceito as pessoas com deficiência mental e intelectual”. 207 Sobre esse ponto o Estatuto das Pessoas com Deficiência é claro em algumas passagens: “Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. “§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. “... “§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível... “... “Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. “§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. “§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado...

106
deficiência208, em que pese a redação do novo Código de Processo Civil assim o
prever209. Essa não parece a melhor alternativa ou interpretação. A interdição ainda é
um instrumento a ser usado, mas ele é exceção, e será utilizado nas mesmas
hipóteses quando da aplicação à pessoa sem deficiência (conforme se abordará
adiante).
De toda a sorte, verifica-se que a restrição é a exceção, e ela será realizada
preferencialmente através da curatela. Isso se dá justamente porque a pessoa com
deficiência mental ou intelectual ainda mantém sua capacidade civil (eventualmente
restringida no tocante aos atos de disposição patrimonial), principalmente o poder de
determinar os rumos da sua própria vida. Isso quando possui vontade consciente.
É o reconhecimento da vontade da pessoa com deficiência, a qual deve ser
respeitada. Aqui cabe o questionamento: a Lei Brasileira de Inclusão efetivamente
alterou o paradigma da capacidade da pessoa, afastando o discernimento e fixando a
possibilidade de emitir vontade? É que se deve verificar.
5.3 Discernimento X Vontade
A Lei Brasileira de Inclusão trouxe profundas alterações no sistema de
incapacidades. Excluiu a “enfermidade ou deficiência mental” do rol de incapacidade
absoluta, incluindo a impossibilidade de exprimir vontade como hipótese de
reconhecimento de incapacidade relativa.
Com isso será que o sistema de incapacidades abandonou a ideia de
discernimento para os atos, focando exclusivamente na possibilidade de emissão de
vontade? Mesmo que essa vontade não seja consciente?
ALVES, FERNANDES e GOLDIM (2017, p. 242) observam com razão que a
Lei Brasileira de Inclusão “cita a palavra autonomia onze vezes; em nenhum momento
cita a palavra autodeterminação; e menciona cinco vezes a palavra vontade”. Sem
208 Assim se posiciona: “Assim, a LBI, por força da Constituição e da Convenção [dos Direitos das Pessoas com Deficiência], trouxe um novo paradigma para a teoria das incapacidades, ao garantir às pessoas com deficiência o reconhecimento de suas habilidades e capacidades, oportunizando sua autonomia e o seu reconhecimento humano, o que nas legislações anteriores era desvirtuado. “A partir da LBI, não falaremos mais em interdição ... mas em curatela, em medidas protetivas restritivas a atos negociais e patrimoniais, resguardando-se demais direitos das pessoas com deficiência, como votar, trabalhar e casar”. 209 É o que prevê os artigos 747 e seguintes, ao atribuir ao Ministério Público, por exemplo, a titularidade de ação para promover a interdição da pessoa com “doença mental grave”

107
embargo, em nenhum momento, a referida lei traz aquilo que entende por
“autonomia”, “vontade” ou “autodeterminação”, o que gera inúmeras indagações,
como as trazidas no presente momento. A função da lei não é a de trazer conceitos,
mas ela traz alguns indícios de como deve ser interpretada.
A base para o sistema de incapacidades que vigia até o advento da Lei
Brasileira de Inclusão era o “necessário discernimento” para a prática dos atos da vida
civil (redação original do artigo 3º, caput e inciso III, do CC de 2002).
LAKS e SUDO (2016), usando o enfoque da psiquiatria forense, atestam que –
até os dias de hoje – não há consenso sobre a definição de capacidade de
discernimento que era a base da interdição civil. Mas acabam por definir o ato de
discernir como sendo “a possibilidade conferida – ou não – a cada pessoa para decidir
com base em distinções, em avaliação de consequências, em ponderação de fatos,
circunstâncias e valores”.
O discernimento, então, seria para os mesmos autores, a “capacidade de agir
voluntária, livremente e com autodeterminação”210.
A aptidão de escolher a melhor opção para si, com base em suas vivências,
ponderando as possíveis consequências – cuja avaliação seria médica – é que servia
como norte para a interdição da pessoa natural, declarando a sua incapacidade
absoluta.
Com a alteração do Código Civil, o foco passou a ser a possibilidade de exprimir
vontade.
O presente trabalho já abordou o papel da vontade na formação do negócio
jurídico. Partiu-se do pressuposto que a vontade consciente é essencial para que um
negócio jurídico seja existente, válido e eficaz.
O próprio conceito de vontade é fluido. ASCENSÃO (2003, p. 114) não gosta
da utilização de tal palavra, porque permite ambiguidades, preferindo a expressão
intenção. Isso porque vontade poderia “referir-se à potência anímica geral” e não
propriamente “a uma manifestação determinada” dessa potência.
210 ALVES, FERNANDES e GOLDIM (2017, p. 244) afirmam que “O discernimento é critério multifacetado e deve considerar a condição da pessoa de forma integrada, considerando aspectos biológicos, psiquiátricos, físicos, psicológicos, sociais e jurídicos. Este critério foi objeto de normatização, justamente porque está diretamente conectado com a autonomia e a autodeterminação dos seres humanos”. A problemática reside justamente porque esse critério normatizado foi abandonado, não constando mais de forma expressa no Código Civil.

108
A vontade como potência anímica é o querer; é a intenção interior de cada um,
que vem ao mundo através da manifestação. O que qualifica a vontade, tornando-a
apta a criar o negócio jurídico, é a sua consciência.
Há várias acepções possíveis para o termo “consciente”211. Perquirir seu
conteúdo é tarefa a ser desenvolvida.
PONTES DE MIRANDA (2012, p. 59) afirma que a consciência da vontade é
elemento essencial do negócio jurídico212. Para o referido autor, a falta de consciência
da vontade afeta a existência da própria declaração. Se a pessoa não tinha
consciência que estava realizando um negócio jurídico com sua declaração, a
declaração inexiste213.
Aqui deve-se lembrar que a vontade possui dois momentos: a de sua formação
e a de sua exteriorização. Na formação, é essencial que a pessoa consiga perceber a
realidade que a cerca, com entendimento das relações humanas existentes. Já na
declaração, o que foi exteriorizado deve corresponder com os anseios decorrentes
dessa percepção da realidade.
Nestes dois momentos a vontade pode e deve ser aferida, para verificar que
ela está livre e consciente.
A atual redação do Código Civil, ao falar dos relativamente incapazes, afirma
que o são quem não consegue exprimir a sua vontade. A redação não é a das
melhores. Quem não consegue exprimir vontade? Aquele em estado de coma com
certeza não o consegue. Será que a pessoa com deficiência mental ou intelectual
consegue? E o idoso em estado de senilidade?
Ao excluir do texto da lei o “necessário discernimento”, passa-se a pensar que
toda e qualquer pessoa que consegue falar exprime seu querer e, consequentemente
211 HOUAISS assim define consciente: “1 que tem consciência de sua existência 2 que tem capacidade de pensar, desejar, perceber, raciocinar etc. 3 cônscio, ciente, informado <c. dos perigos que corria> 4 acordado, desperto 5 nível superior da vida mental do que uma pessoa sem percepção”. 212 É o que assevera ao discorrer: “O elemento “consciência” é essencial à declaração de vontade e à manifestação de vontade (ato adeclarativo, que basta ao negócio jurídico). A manifestação de vontade de negócio há de ser, por exigência da teoria mesma do auto-regramento da vontade (dita da autonomia privada), consciente. De modo que é suporte fáctico do negócio jurídico assim a declaração de vontade como o ato volitivo (adeclarativo), desde que a vontade, que ali se “declara” e aqui se “indicia”, seja de negociar (= concluir negócio jurídico). Se falta a manifestação da vontade, o negócio jurídico é nenhum... A falta de consciência da exteriorização da vontade de negócio jurídico exclui a existência da declaração de vontade, ou da atuação de vontade (= ato volitivo adeclarativo) para compor suporte fáctico de negócio jurídico...”. 213 É também a conclusão de VELOSO (2015), afirmando que para alguém transmitir vontade “tem de ter um mínimo de liberdade, compreensão, discernimento”.

109
será capaz214. Obviamente que esse não pode ser o espírito da Lei Brasileira de
Inclusão.
E realmente não é. A base da Lei Brasileira de Inclusão é a Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência que, em seu artigo 12, versa sobre o
reconhecimento igual perante a lei e impõe a “capacidade legal em igualdade de
condições comas demais pessoas em todos os aspectos da vida”215.
O Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu Comentário
Geral nº 1, de 2014, distingue a denominada capacidade legal (que engloba a
possibilidade de titularizar os direitos e obrigações e de exercê-los por si só) e a
capacidade mental.
A capacidade mental estaria voltada para a habilidade de tomada de decisões,
que varia de pessoa a pessoa, de acordo com suas aptidões individuais216. É
exatamente a ideia de GHERSI (2006, p. 64), quando afirma que essa faculdade é
adquirida por “absorção cultural”, variando de pessoa para pessoa217. Nesta faculdade
que reside a aptidão para formar a vontade a ser posteriormente declarada.
214 Neste ponto não se quis excluir os mudos. O exemplo aqui posto visa, apenas, afirmar que se assim fosse o espírito da Lei Brasileira de Inclusão e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, todos que conseguissem emitir um mínimo de som ou apontar exprimiriam sua vontade. Até uma criança recém-nascida, ao chorar, estaria emitindo sua vontade (de comer ou de se limpar). 215 Artigo 12, 3., da Convenção. 216 É exatamente o texto do comentário: “Legal capacity and mental capacity are distinct concepts. Legal capacity is the ability to hold rights and duties (legal standing) and to exercise those rights and duties (legal agency). It is the key to accessing meaningful participation in society. Mental capacity refers to the decision-making skills of a person, which naturally vary from one person to another and may be different for a given person depending on many factors, including environmental and social factors... Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, however, makes it clear that “unsoundedness of mind” and other discriminatory labels are not legitimate reasons for the denial of legal capacity (both legal standing and legal agency). Under article 12 of the Convention, perceived or actual deficits in mental capacity must not be used as justification for denying legal capacity”. Em tradução livre: “Capacidade legal e capacidade mental são conceitos distintos. Capacidade legal é a capacidade de titularizar direitos e deveres (capacidade de direito) e exercer esses direitos e deveres (capacidade de fato). Esta é a chave para acessar a participação significativa na sociedade. Capacidade mental refere-se às habilidades de tomada de decisão de uma pessoa, que naturalmente variam de uma pessoa para outra e podem ser diferentes para uma determinada pessoa, dependendo de muitos fatores, incluindo fatores ambientais e sociais ... Artigo 12 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no entanto, deixa claro que “deficiente mental” e outros rótulos discriminatórios não são razões legítimas para a negação da capacidade legal (de fato ou de direito). Nos termos do artigo 12 da Convenção, os déficits percebidos ou reais na capacidade mental não devem ser usados como justificativa para negar a capacidade legal”. 217 Leia-se o que afirma: “La facultad genérica, desde nuestro punto de vista, es ‘adquirida por absorción cultural’ en el más amplio sentido del vocablo; por ende, variará no sólo a grupos de individuos dentro de una misma comunidad y aun, en algunos supuestos, de individuo a individuo”. Em tradução livre: “A faculdade genérica, do nosso ponto de vista, é ‘adquirida por absorção cultural’ no sentido mais amplo da palavra; portanto, variará não apenas para grupos de indivíduos dentro da mesma comunidade e até, em alguns casos, de indivíduo para indivíduo.”

110
Ressalte-se que não é a deficiência mental ou intelectual que restringe a
capacidade mental, mas sim a extensão dessa deficiência, e até que ponto atinge a
habilidade de fazer suas escolhas.
Doença não é deficiência. Mas há algumas doenças que podem afetar a
aptidão da pessoa sem deficiência em formar a sua vontade. É o que ocorre, por
exemplo, nos casos avançados de doença de Alzheimer ou de senilidade.
Tanto no caso da pessoa com deficiência, quando naquela sem deficiência, a
aferição da aptidão em perceber a realidade que a cerca e para agir de forma
voluntária e livre (com autodeterminação) será a mesma.
A restrição dessa capacidade é possível, na mesma extensão da pessoa sem
deficiência. Assim a análise da capacidade mental da pessoa com deficiência será
realizada da mesma forma que da pessoa sem deficiência.
Aquele que não tem consciência da sua própria vontade não a exprime. Seus
atos não terão vício de invalidade, mas inexistirão.
Mas há uma gama de pessoas – com ou sem deficiência – que possuem
consciência do que realmente querem, mas não conseguem exprimir sua vontade.
Conseguem formar de forma correta a vontade, mas possuem alguma restrição
no momento de declarar sua percepção da realidade.
Esses serão considerados relativamente incapazes, cujo reconhecimento
dependerá de sua prévia interdição (ou curatela, a depender do caso, como se
abordará a seguir).
O que determina a capacidade (ou não) da pessoa com deficiência será,
justamente, o grau de deficiência existente. Nos casos de deficiência mental grave,
nos quais a pessoa não consegue exprimir vontade, será ela considerada como
relativamente incapaz, mas cujo reconhecimento demanda prévia interdição.
A base para interdição será, justamente, a capacidade de exprimir vontade
consciente, ou seja, se possui a plena habilidade de ponderar as opções abertas para,
com base em sua experiência pessoal, livremente decidir e de, posteriormente,
exteriorizá-la. É conteúdo do necessário discernimento que existia.
Ou seja, em que pese o necessário discernimento ter desaparecido do texto
legal, ele continua a subsistir como base para definir se a pessoa possui “capacidade
mental” para exprimir vontade. É a possibilidade de emitirem a vontade consciente.

111
Esse discernimento será analisado tanto no tocante à formação da vontade,
quanto na aptidão de declará-la. Caberá a interdição ou a curatela se a pessoa (com
ou sem deficiência) não conseguir compreender a realidade que a cerca ou se não
conseguir externar sua percepção.
O que a Lei Brasileira de Inclusão fez foi alterar a regra básica, igualando as
pessoas com ou sem deficiência. Parte-se do pressuposto que todos têm o necessário
discernimento, o qual pode ser apurado em ação para essa finalidade.
Essa era a regra para as pessoas sem deficiência: o de discernimento (ou
faculdade de entendimento218). O que a Lei Brasileira de Inclusão fez foi colocar no
mesmo patamar a pessoa com deficiência. Inverteu-se o paradigma, atestando que
todas as pessoas possuem discernimento, podendo este ser aferido em ação para
esse fim.
Parece que não é um avanço normativo significativo, mas é uma vitória
impactante para as pessoas com deficiência. Isso porque elas não são mais incapazes
apenas pelo simples fato de terem deficiência. Elas são tão capazes quanto qualquer
outra pessoa, sendo que seu discernimento pode ser aferido da mesma maneira da
aferição aplicável à pessoa sem deficiência.
Eliminou-se uma barreira jurídica fazendo com que o tratamento legal da
pessoa com deficiência seja idêntico à pessoa sem deficiência, possibilitando sua
proteção nas situações em que for aferido que há déficit na formação ou da
exteriorização da vontade.
Outro objetivo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
ao efetuar o reconhecimento igual perante a lei, foi o de buscar a eliminação das
situações de substituição de vontade da pessoa com deficiência, introduzindo
sistemas de apoio. A Lei Brasileira de Inclusão veio dar efetividade a esse direito
garantindo na Convenção, merecendo análise como ficou o sistema brasileiro de
218 É a expressão cunhada por FREITAS apud GHERSI (2006, p. 63): “Entiendo por discernimiento la facultad de conocer en geral, la facultad que suministra motivos a la voluntad en todas sus deliberaciones, y no en el conocimiento en particular em relación a un acto praticado por él... El discernimiento o facultad de conocer constituye la regla general de nuestra existencia en la plenitud de su desenvolvimiento”. Em tradução livre: “Entendo por discernimento a faculdade de entendimento em geral, a faculdade que fornece motivos à vontade em todas as suas deliberações, e não no conhecimento em particular em relação a um ato praticado por ela ... O discernimento ou a faculdade de conhecer constitui a regra geral de nossa existência na plenitude de seu desdobramento”.

112
salvaguardas para a tomada de decisão da pessoa com deficiência, o que será
realizado mais adiante.
É imperativo, neste momento, discorrer sobre os limites do respeito da vontade
da pessoa com deficiência, especialmente sobre a sua possibilidade de
autodeterminação.
5.4 Autodeterminação da pessoa com deficiência
Até o advento da entrada em vigor do Estatuto das Pessoas com Deficiência,
aquele que possuísse impedimento mental ou intelectual era, por vezes, interditado,
e acabava tendo os direitos referentes à sua própria existência delegados ao arbítrio
de outros.
Por mais que a ideia não fosse restringir os direitos de natureza não econômica,
isso acabava ocorrendo, pois retirava da esfera da pessoa com deficiência sua
autonomia em exprimir sua vontade219.
Com a consagração, através do texto do artigo 6º, do Estatuto das Pessoas
com Deficiência, do princípio da plena capacidade civil da pessoa com deficiência, fica
claro a impossibilidade de restringir outros direitos que possuam natureza diversa da
patrimonial. Isso porque os incisos do referido artigo garantem uma série de direitos
relacionados à sua autodeterminação. Buscou-se a eliminação da barreira jurídica que
impedia o exercício da autodeterminação da pessoa com deficiência.
Por outro lado, a restrição à autonomia da vontade da pessoa com deficiência
através de sua substituição pela declarada por outrem ainda é permitida. Essa
substituição ocorre através da instituição da curatela, mas, e acordo com a Lei
Brasileira de Inclusão, esta “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial”220. Aqui reitere-se o entendimento que o instituto da
interdição não foi abolido do sistema, mas não pode ser utilizado apenas pelo fato da
ser pessoa com deficiência, sendo esta a exceção que será abordada adiante.
A regra trazida pela Lei Brasileira de Inclusão é que a eventual restrição da
capacidade da pessoa com deficiência (quando decorrente dos limites trazidos por
219 Essa é a lição de LEITE (2012, p. 314): “Em outras palavras, as restrições ao exercício da capacidade civil para fins negociais acabam por restringir igualmente o exercício de direitos não econômicos, relativos ao nome, à saúde, à integridade física, ao credo religioso, à intimidade, à educação, a questões afetivas e familiares”. 220 Art. 84, Lei nº 13.146, de 2015 – Estatuto das Pessoas com Deficiência

113
sua deficiência), deve se restringir aos atos de natureza patrimonial e negocial, jamais
a atos de natureza existencial (autodeterminação).
Ante a impossibilidade de restrição de direitos existenciais da pessoa com
deficiência mental ou intelectual, mas sendo permitida a limitação do exercício dos
direitos de natureza patrimonial, REQUIÃO (2016, p. 26 e 31) distingue as espécies
de autonomia entre privada e existencial. A primeira se refere aos atos de natureza
patrimonial, e a segunda ao exercício dos direitos da personalidade221.
Ou seja, para o referido autor a autonomia existencial – presente na pessoa
com deficiência mental ou intelectual – está diretamente relacionada com o exercício
dos direitos da personalidade e de sua autodeterminação.
Essa leitura é totalmente compatível com o texto do artigo 6º do Estatuto das
Pessoas com Deficiência e com o espírito da referida Lei e da Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Aliás, o próprio artigo 22
da Convenção prevê o respeito à privacidade e a outros direitos inerentes à
personalidade222.
Essa ideia foi reforçada pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência, quando,
no parágrafo primeiro do artigo 85, determina que a curatela não alcançaria “o direito
ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde,
ao trabalho e ao voto”.
Há consequências dessas escolhas. O direito ao matrimônio não pode ser
restringido, mas será possível a escolha do regime de bens? Não há causa legal no
Código Civil para impor o regime de separação obrigatória (já que é dispensável o
suprimento judicial), mas essa escolha (eminentemente patrimonial) é garantida
221 É o que assevera o autor: “Neste sentido é que se realiza distinção entre duas espécies de autonomia, aqui denominadas autonomia privada e autonomia existencial. A primeira expressão é tema certamente mais debatido na doutrina. A segunda, por sua vez, se propõe neste texto com o intuito de mostrar diferenças sensíveis no que toca à atuação da autonomia existencial, em contraponto ao modo como funciona no campo patrimonial... “A autonomia existencial, portanto, se identifica com a liberdade do sujeito em gerir sua vida, sua personalidade, de forma digna. É nesse ponto que se encontram questões delicadas como o uso ativo dos direitos da personalidade em situações não negociais e as discussões sobre o direito à morte digna, eutanásia, aborto, manipulação de embriões, direitos pessoais de família, sexualidade e identidade de gênero”. 222 Artigo 22 – Respeito à privacidade 1.Nenhuma pessoa com deficiência, qualquer que seja seu local de residência ou tipo de moradia, estará sujeita a interferência arbitrária ou ilegal em sua privacidade, família, lar, correspondência ou outros tipos de comunicação, nem a ataques ilícitos à sua honra e reputação. As pessoas com deficiência têm o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 2.Os Estados Partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos à saúde e à reabilitação de pessoas com deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas.

114
àquele submetido à curatela? Essa pergunta será retomada adiante, ao se analisar a
curatela.
Fica evidente, no texto da Lei Brasileira de Inclusão, a garantia da vida privada
da pessoa com deficiência e o direito de exercitá-la da melhor forma que lhe convier.
É a garantia de sua autodeterminação223.
A autodeterminação é o exercício da autonomia existencial; é a possibilidade
de exercício dos direitos sobre seu próprio corpo, sua sexualidade, sua saúde e de
tomar a decisão de constituir família. Alijar esse direito da pessoa com deficiência
apenas por ela possuir impedimento de natureza mental ou intelectual é fortalecer a
presença de barreiras que impedirão que se integre à sociedade.
Sobre a eventual crítica de que a vulnerabilidade da pessoa com deficiência
mental ou intelectual faz com que ela deva ser protegida também nas relações não
patrimoniais FERRAZ (2012, p. 329) rebate, afirmando que para a pessoa com
deficiência ser efetivamente protegida, deve-se resguardar o seu direito de manter
relações humanas, decorrentes de sua dignidade224.
223 Vida privada na exata definição de ARAÚJO (2012, p. 205): “Sob o manto da vida privada, inserem-se a intimidade e o direito à própria imagem. Costuma-se, inclusive, falar em círculos concêntricos, o da vida privada (maior) e o da intimidade (menor), para mostrar que a vida privada é uma ideia mais ampla que a própria intimidade. Assim, a conta que se paga em uma lanchonete está no espaço da vida privada. Já o resguardo do lar está no âmbito da intimidade. “O contorno jurídico da vida privada foi sendo desenhado por decisões do Supremo Tribunal Federal. Alguns exemplos podem ser aqui citados, como o caso da ‘liberdade para dispor da própria sexualidade, inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é da autonomia de vontade1”. 224 É o que afirma: “A enorme vulnerabilidade da pessoa com deficiência reforça a tese de que, além da proteção dos seus direitos fundamentais, como direito à moradia, ao agrupamento familiar, à vida privada, à honra, entre outros, ela deve encontrar proteção também quando se trata de relações mantidas com outros particulares, como empregadores, fornecedores de bens ou serviços ou até mesmo em face de membros da própria família, na hipótese de existir abusos, coação, segregação ou negligência e desrespeito à pessoa com deficiência em seu próprio grupo familiar. “O nosso entendimento é de que o agrupamento é indispensável à própria condição de ser humano. O homem é um ser gregário e tem essa necessidade de “ajuntamento” para perseguir o afeto e a felicidade. Nada mais natural que nessa perspectiva haja a construção de seu vínculo familiar, ou que seja diante do seu grupo familiar que o ideal de felicidade seja encontrado. “Sobre o tema é profícua a lição de Sérgio Resende de Barros, quando apregoa que o afeto familiar enlaça e comunica as pessoas, mesmo quando estejam distantes no tempo e no espaço, por uma solidariedade íntima e fundamental de suas vidas – de vivência, convivência e sobrevivência – quanto aos fins e meio de existência, subsistência e persistência de cada um e do todo que formam. “O que se justifica a possibilidade de constituição de família para a pessoa com deficiência? Se contextualizarmos a deficiência como sendo um conjunto de impedimentos, mas que não retira do indivíduo os seus atributos de pessoa humana, por que não a admissão de constituição de casamento ou união estável? A deficiência não obsta a perseguição a felicidade, muito menos incapacita o indivíduo para trocas de afeto”.

115
Reitere-se: a pessoa com deficiência mental ou intelectual, antes de qualquer
coisa, é pessoa humana, e como ser humano possui os direitos inalienável que lhe
são atribuídos pelo simples fato de pertencer à raça humana.
Retirar da sua esfera de influência a sua autonomia existencial é retirar a sua
própria essência de ser humano, “coisificando” a pessoa. Destitui-lhe a vontade e a
possibilidade de autodeterminação.
Assim, todas as vezes em que a pessoa com deficiência demonstrar que possui
consciência da sua vontade, devem-lhe ser garantidos todos os direitos inerentes à
sua condição. Se consegue exprimi-la, deve-se respeitá-la.
No entanto, nas hipóteses em que há dificuldade em expressar essa vontade
consciente, ou que ela inexiste, é necessária a intervenção do Estado, para garantir
os direitos inerentes. É o que se deve, agora, analisar.
5.5 Auxílios para formação e para a emissão de declaração de vontade
Conforme já asseverado, a Lei Brasileira de Inclusão alterou o paradigma até
então vigente sobre a capacidade da pessoa com deficiência.
A deficiência, independentemente da espécie, não pode por si só afetar a plena
capacidade civil da pessoa que a possui, nos exatos termos do artigo 6º do Estatuto
das Pessoas com Deficiência.
Este ponto gera inúmeras discussões, especialmente se o Estatuto é um
retrocesso, que desprotegeria a pessoa com deficiência. A conclusão que se pode
tirar até o presente momento é que, em realidade, não houve desproteção; houve,
apenas, a colocação no mesmo patamar a pessoa com deficiência à pessoa sem
deficiência.
É possível a restrição da capacidade civil da pessoa sem deficiência?
Obviamente que sim, desde que ela não consiga formar ou exprimir sua vontade
consciente. E o caminho para isso, trazido pelo Código de Processo Civil, é a
interdição.
A regra, porém, é a capacidade da pessoa natural – com ou sem deficiência.
Essa regra só será afastada se comprovada, em processo judicial, a impossibilidade
de exprimir vontade.

116
A visão trazida pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
foi a de garantir o respeito da vontade da pessoa com deficiência. Tanto que o
Comentário Geral nº 1, de 2014, do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência fala da indispensável mudança de paradigma, consagrando o dever dos
Estados Partes em criar salvaguardas para prover o apoio que necessários ao
exercício da capacidade legal das pessoas com deficiência225.
O referido comentário impõe aos Estados Partes substituam a ideia de buscar
o “melhor interesse” da pessoa com deficiência para o paradigma da “vontade e das
preferências” da pessoa com deficiência, principalmente no caso de pessoa com
deficiência adulta226.
Essa alteração paradigmática gera confusão na doutrina. Tanto é assim que na
VIII Jornada de Direito Civil foi aprovado o Enunciado nº 638, que mistura a ideia de
“melhor interesse” do curatelado com o respeito às suas “vontades e preferências”227.
Essa busca do respeito do querer da pessoa com deficiência pode ser
vislumbrada nas possibilidades que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe no tocante ao
auxílio à expressão de vontade da pessoa com deficiência.
Portugal também está alterando sua legislação para se adequar aos ditames
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em fevereiro de 2019
225 Artigo 12, 3, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 226 É o que afirma o Comitê nos parágrafos 20 e 21 do Comentário Geral nº 1, de 2014: “...It requires States parties to create appropriate and effective safeguards for the exercise of legal capacity. The primary purpose of these safeguards must be to ensure the respect of person's rights, will and preferences. In order to accomplish this, the safeguards must provide protection form abuse on an equal basis with others. “21. Where, after significant efforts have made, it is not practicable to determine the will an preferences of an individual, the 'best interpretatios of will and preferences' must replace the 'best interests' determinations... The 'best interests' principle is not a safeguard wich complies with article 12 in relation to adults. The 'will and preferences' paradigm must replace the 'best interests' paradigm to ensure that persons with disabilities enjoy the right to legal capacity on an equal basis with others”. Em tradução livre: “Isso requer que os Estados Partes criem salvaguardas apropriadas e efetivas para o exercício da capacidade legal. O objetivo principal dessas salvaguardas deve ser garantir o respeito aos direitos, à vontade e às preferências da pessoa. Para conseguir isso, as salvaguardas devem fornecer proteção à forma de abuso em igualdade de condições com os outros. “21. Onde, após esforços significativos, não é praticável determinar a vontade, as preferências de um indivíduo, as ‘melhores interpretações de vontade e preferências’ devem substituir as determinações de ‘melhores interesses’ ... O princípio do ‘melhor interesse’ não é uma salvaguarda que esteja em conformidade com o artigo 12 em relação aos adultos. O paradigma da ‘vontade e das preferências’ deve substituir o paradigma dos ‘melhores interesses’ para garantir que as pessoas com deficiência desfrutem do direito à capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas”. 227 Apesar de dizer respeito à ordem de preferência na nomeação do curador pelo magistrado, é o que o Enunciado acaba por fazer. Leia-se: “Enunciado 638 – A ordem de preferência de nomeação do curador do art. 1.775 do Código Civil deve ser observada quando atender ao melhor interesse do curatelado, considerando suas vontades e preferências, nos termos do art. 755, II, e § 1º, do CPC”.

117
entrou em vigor a Lei nº 49, de 2018, que criou o regime do maior acompanhado,
eliminando a interdição e a inabilitação do Código Civil.
Essa lei alterou o texto do artigo 138º do Código Civil Português, para inserir
as medidas de “acompanhamento” (ou apoio) do maior. O que merece destaque é que
essas regras serão aplicadas independentemente da razão que pode vir a
impossibilitar o exercício consciente de seus direitos: pode ser por razões de saúde
ou por deficiência228. Assim, coloca no mesmo nível as pessoas com e sem
deficiência.
Repita-se: regra é a total capacidade, só que é possível o fornecimento de
auxílios à pessoa com deficiência, que merecem análise detida.
5.5.1 TOMADA DE DECISÃO APOIADA
O estudo dos instrumentos que auxiliam à pessoa com deficiência na sua
tomada de decisão será realizado no presente trabalho a partir do menos restritivo de
direitos para o de maior restrição.
O primeiro instrumento a ser estudado, então, é o da tomada de decisão
apoiada, que traduz o espírito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência.
A tomada de decisão apoiada é instituto introduzido no ordenamento jurídico
pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência, que não encontra similar no sistema
jurídico pátrio.
O referido instituto busca realizar um dos pressupostos reconhecidos no
preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: a liberdade
para fazer as suas próprias escolhas229.
Mas reconhecer a liberdade para fazer as próprias escolhas não é garantia
delas serem realizadas. Justamente por essa razão que a própria Convenção, em seu
228 É o que se extrai da leitura do artigo: “Artigo 138º - Acompanhamento. O maior impossibilitado, por razões de saúde, deficiência, ou pelo seu comportamento, de exercer, plena, pessoal e conscientemente, os seus direitos ou de, nos mesmos termos, cumprir os seus deveres, beneficia das medidas de acompanhamento previstas neste Código”. 229 Alínea “n”, do preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (promulgado pelo Decreto nº 6.949, de 2009.

118
artigo 12, impõe aos Estados signatários a obrigação de tomar as medidas
necessárias para possibilitar essa liberdade de escolha230.
Essa necessidade dos Estados em garantirem o exercício dessa liberdade
impõe o reconhecimento de que o “exercício das liberdades negativas depende direta
e previamente da existência das liberdades positivas. É preciso antes ser autônomo
para exercer livremente seus direitos”231.
A garantia, pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da
liberdade para tomar as próprias decisões, impôs ao Estado brasileiro a obrigação de
criar os instrumentos necessários para possibilitar essa tomada de decisão.
Qual seria o instrumento para possibilitar que a pessoa com deficiência mental
e/ou intelectual que tenha dificuldades em entender as consequências de seus atos –
mas que tenha consciência dos mesmos – tome suas decisões? O legislador nacional
criou, então, a tomada de decisão apoiada.
O Estatuto das Pessoas com Deficiência incluiu o artigo 1.783-A no texto do
Código Civil, criando o referido instituto232.
230 “Artigo 12 – Reconhecimento igual perante a lei “... “3.Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. “4.Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa”. 231 É o que leciona GALINDO (2012, p.100), que continua: “A título de exemplo, se reconhecemos a liberdade de locomoção, é necessário que o indivíduo tenha condições concretas de se locomover, do contrário seria uma liberdade vazia de conteúdo. Reconhecendo a liberdade de exercício profissional, é necessário garantir ao indivíduo efetivas condições de escolha de sua profissão ou trabalho. As liberdades, negativa e positiva são, portanto, interdependentes, e isso é de crucial importância para sua compreensão no âmbito das deficiências física e/ou mental que muitos cidadãos possuem. “As necessidades especiais das pessoas com deficiência precisam ser satisfeitas para que a deficiência ambiental seja menos relevante ou mesmo irrelevante e viabilize o exercício das liberdades por elas. Para isso, muitos países têm estabelecido políticas públicas de inclusão, caracterizadas notadamente por ações de justiça corretiva, tentando compensar as desvantagens que esses cidadãos possuem em relação ao ambiente natural e social”. 232 Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. § 1º Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar.

119
A pessoa com deficiência é capaz, tal qual a pessoa sem deficiência. Esse é o
pressuposto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do
Estatuto das Pessoas com Deficiência. Mas, em determinadas situações, a pessoa
com deficiência – em virtude das barreiras existentes – tem dificuldade em se
expressar, em se fazer entender ou expor ao terceiro a sua vontade. Consegue formar
sua vontade, pois consegue perceber a realidade social que a cerca. Não consegue,
contudo, externar corretamente essa vontade.
Antes da entrada em vigor do Estatuto das Pessoas com Deficiência, ela era
relegada a condição de pessoa sem vontade, interditada, sem direito ao respeito de
sua vontade. Agora, ante a garantia da liberdade em fazer suas próprias escolhas,
nos casos em que possui consciência da vontade, é possível a utilização deste
instituto.
O Comentário Geral nº 1, de 20014, do Comitê sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, traz o espírito do apoio no exercício da capacidade legal, afirmando
que ele deve respeitar a vontade da pessoa com deficiência, nunca substituindo o seu
processo de tomada de decisão233.
§ 2º O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. § 3º Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. § 4º A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. § 5º Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua função em relação ao apoiado. § 6º Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. § 7º Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. § 8º Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio. § 9º A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. § 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. § 11. Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas na curatela. 233 É o que afirma ao comentar o artigo, 12, parágrafo 2, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: “Support in the exercise os legal capacity must respect the rights, will and preferences of persons with disabilities and should never amount to substitute decision-making... 'Support' is a broad term that encompasses both informal and formal support arrangements, of varying types and intensity. For example, persons with disabilities may choose one or more trusted support persons to assist them in exercising their legal capacity for certain types of decisions, or may call on other forms of support, such as peer support, advocacy (including self-advocacy support), or assistance with communication”.

120
Deve o instituto auxiliar a pessoa com deficiência na realização das escolhas
sobre os fatos da sua vida, ajudando na comunicação desses desejos a terceiros234.
O espírito do instituto da tomada de decisão apoiada é justamente este: eliminar
as barreiras que impedem que a pessoa com deficiência tenha liberdade em tomar
suas próprias decisões. Além disso, busca trazer maior segurança jurídica aos atos
praticados pela pessoa com deficiência235.
Este ponto cabe uma reflexão: quando o processo da Tomada de Decisão
Apoiada é cabível?
O caput do artigo 1.783-A do Código Civil afirma que o instituto tem por
finalidade o apoio da pessoa com deficiência para tomada de decisões sobre atos da
vida civil.
Caberia, então, a sua aplicação em duas hipóteses: auxílio para decisões
dentro do exercício da autonomia existencial ou apoio para atos de natureza
patrimonial ou negocial para aqueles que não estão submetidos à curatela.
Conforme já asseverado, a submissão da pessoa com deficiência à curatela
não retira da pessoa com deficiência a sua capacidade para os atos da vida civil,
mantendo sua autonomia existencial, mas esse ponto será melhor analisado no
próximo tópico.
Em certos casos, a depender do grau do impedimento de natureza mental ou
intelectual da pessoa com deficiência, não haverá completo entendimento das
consequências do exercício dos atos da vida civil. Esta seria a primeira hipótese de
aplicação do instituto: tornar possível a correta compreensão das consequências dos
atos existenciais a serem praticados pela pessoa com deficiência mental ou intelectual
Em tradução livre: “O apoio no exercício da capacidade legal deve respeitar os direitos, a vontade e as preferências das pessoas com deficiência e nunca deve substituir a tomada de decisões ... 'Apoio' é um termo amplo que abrange arranjos informais e formais de apoio, de tipos variados e intensidade. Por exemplo, pessoas com deficiências podem escolher uma ou mais pessoas de apoio confiáveis para ajudá-las no exercício de sua capacidade legal para determinados tipos de decisões, ou podem recorrer a outras formas de apoio, tais como apoio de pares, de advogados (incluindo apoio para a advocacia em causa própria) ou assistência com comunicação”. 234 É essa a lição de BATTISTELLA (2016, p. 101) O processo assistido de tomada de decisões pode se apresentar de diversas formas. Ele envolve pessoas com deficiências que dispõem de assistentes e prepostos que os conhecem, capazes de compreendê-los, de interpretar suas escolhas e seus desejos, e de transmitir essas escolhas e desejos a outras pessoas. As formas de assistência à tomada de decisões podem incluir redes de apoio, um “ouvidor pessoal”, serviços comunitários, suporte dos pares, assistentes pessoais e um bom planejamento. 235 É o que afirma ALVIM (2015, p. 88/89): “O objetivo do pedido de decisão apoiada é autorizar a pessoa com deficiência a tomar qualquer decisão, desde que apoiada pelos apoiadores, que dão segurança a qualquer ato jurídico praticado pelo apoiado, ou mesmo negócio jurídico por ele celebrado, como uma decisão praticada por qualquer pessoa capaz, independentemente de apoio”.

121
submetida à curatela. Agiria, então, no primeiro momento da vontade: de sua
formação.
Serviria como auxílio para trazer à pessoa com deficiência todos os elementos
necessários à tomada de sua decisão, à formação de sua vontade.
A primeira crítica que se faz é que esse procedimento, neste caso, poderia
servir para manipulação da pessoa com deficiência. A partir do momento em que não
possui condições de perceber a realidade que a cerca estaria vulnerável a golpes de
outros que querem se aproveitar dessa dissociação com o mundo que a cerca.
Por essas razões que o juiz ocupa o papel essencial no procedimento,
utilizando-se de equipe multidisciplinar para aferir se há, realmente, possibilidade da
pessoa entender a sua realidade social (e submetê-la ao procedimento da Tomada de
Decisão Apoiada) ou se deve se socorrer de outro instrumento.
Frise-se que a pessoa com deficiência que pode utilizar esse expediente é
aquela que possui vontade consciente, mesmo submetido à curatela236. Consciência
essa, repita-se, que será aferida no caso concreto pela equipe multidisciplinar
nomeada pelo juiz responsável.
A segunda hipótese é a utilização do instituto pelas pessoas com deficiência
que não estão submetidas à curatela.
Toda a ótica do Estatuto das Pessoas com Deficiência está lastreada no
princípio da plena capacidade civil. O reconhecimento da incapacidade é exceção.
Dessa maneira, a pessoa com deficiência mental ou intelectual – a depender
do grau do impedimento – não precisa ser submetida à curatela. Mas isso não quer
dizer que o impedimento existente não traz consequências que não permitem a
completa verificação dos negócios jurídicos a serem celebrados por ela. Ou que há
barreira de comunicação entre a pessoa com deficiência e a sociedade.
Às vezes há certa dificuldade de compreensão decorrente de barreira de
entendimento, de comunicação. Alguém da confiança e do convívio da pessoa com
deficiência poderia auxiliá-la na correta extensão e compreensão do negócio ou do
ato jurídico a ser praticado.
Há um impasse: a pessoa com deficiência não submetida à curatela seria
considerada absolutamente capaz, mas como pode possuir algumas restrições à
236 As razões para isso serão retomadas no próximo tópico, mas isso se dá porque a curatela, nos termos do Estatuto das Pessoas com Deficiência, limita-se aos atos de natureza patrimonial.

122
completa compreensão das consequências de seus atos, há o risco de ser prejudicada
nos negócios que celebrasse. Mais do que isso: o procedimento da Tomada de
Decisão Apoiada pode servir de muleta para fraudar os direitos das pessoas com
deficiência.
Esse é um dos grandes problemas trazidos pelo Estatuto das Pessoas com
Deficiência: como reconhece a capacidade civil das pessoas com deficiência mental
ou intelectual, exigindo a prévia submissão ao regime da curatela (para que sejam
melhor “protegidas”), coloca-as em extrema desvantagem em relações negociais.
O instituto da Tomada de Decisão Apoiada traz mais segurança às relações
jurídicas, mas ele só é aberto pela própria pessoa com deficiência: pela redação do
artigo 1.783-A, do Código Civil, a pessoa com deficiência é quem deve formular,
perante o Juízo competente, o pedido de tomada de decisão apoiada, indicando o
nome dos dois apoiadores237.
Em um mundo ideal, essa formulação funciona. Agora, na prática, a pessoa
com deficiência não irá formular esse pedido.
Se o legislador trouxe o reconhecimento da existência das pessoas com
deficiência mental ou intelectual que possuem problemas no entendimento das
consequências de suas ações, deveria também trazer a possibilidade do
procedimento ser solicitado por terceiros interessados238 ou pelo Ministério Público.
O procedimento também merece algumas ressalvas. Apenas a própria pessoa
com deficiência pode indicar seus apoiadores, não cabendo impugnação. Além disso,
deve delimitar qual é o limite do apoio a ser exercido, os compromissos dos
apoiadores e o prazo de vigência do acordo.
O raciocínio que foi utilizado é justamente o que já foi frisado neste trabalho: a
pessoa com deficiência que se utilizará do processo de tomada de decisão apoiada
237 Foi este o teor do Enunciado 639, da VIII Jornada de Direito Civil: “A opção pela tomada de decisão apoiada é de legitimidade exclusiva da pessoa com deficiência. A pessoa que requer o apoio pode manifestar, antecipadamente, sua vontade de que um ou ambos os apoiadores se tornem, em caso de curatela, seus curadores”. 238 O terceiro interessado seria aquele que possui algum interesse jurídico na correta declaração de vontade da pessoa com deficiência. Um exemplo que pode ser trazido é aquele que manterá com a pessoa com deficiência alguma relação negocial. Nos termos do parágrafo quinto, do artigo 1.783-A do Código Civil, ele pode solicitar a assinatura dos apoiadores no contrato ou acordo, trazendo maior segurança jurídica. No entanto, nos casos em que a pessoa com deficiência mental ou intelectual com dificuldades de entendimento não requerer a abertura do processo da Tomada de Decisão Apoiada, não há a previsão de sua abertura pelo terceiro. O legislador, portanto, deveria ter trazido a possibilidade do processo ser formulado pelo Ministério Público ou or terceiro interessado.

123
possui plena consciência de seus atos, de sua vontade. Por isso pode escolher seus
apoiadores e o limite do apoio.
Se a previsão da existência do instituto decorreu justamente da necessidade
de aclarar as consequências dos atos a serem praticados pela pessoa com
deficiência, como acreditar que ela possui plena clareza sobre quem escolher como
apoiador e quais são os limites do apoio?
Ao colocar a escolha dos apoiadores como ato personalíssimo da pessoa com
deficiência, o legislador consagrou a sua plena capacidade civil, permitindo que ela
possua a liberdade de apontar aqueles que possui maior confiança.
O instituto busca garantir o exercício da liberdade de tomar as próprias
decisões à pessoa com deficiência, além de trazer maior segurança jurídica àquele
que com quem contrata239.
Ao discorrer sobre o tema, TARTUCE (2016, p. 59) elucida que o instituto da
tomada de decisão apoiada veio integrar o sistema de incapacidades dos maiores, a
ser utilizado em conjunto com a representação, com a interdição e com a curatela240,
239 É o que afirma COSTA FILHO (2016, p. 371/372): “Já a tomada de decisão apoiada, criação da LBI, a partir de seu art. 116 e do art. 12 da Convenção (CDPD), não restringe o exercício dos direitos da pessoa com deficiência, mas se trata de uma salvaguarda para que aquela pessoa, em situação pontual, principalmente em casos que necessite contratar, negociar ou transigir com terceiros, seja pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, tomar uma decisão importante em que uma situação de hipossuficiência possa interferir negativamente naquele ajuste, não seja prejudicada. Para isso, pode ela dispor e indicar duas pessoas de sua confiança para orientá-la e acompanhá-la na realização de atos da vida civil, fornecendo esses auxiliares com os quais ela mantém vínculos afetivos ou profissionais, os elementos e as informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Esses auxiliares ou acompanhantes na tomada de decisão deverão assumir compromisso formal perante a Justiça e prestar contas na mesma forma preconizada na interdição, sob pena de destituição e responder por danos na esfera cível e penal. “A tomada de decisão apoiada é prerrogativa personalíssima da pessoa com deficiência, só ela é legítima para solicitar esse apoio ao Judiciário. Agora é bom frisar que ela poderá fazê-lo por meio de advogado, defensor público ou até mesmo do Ministério Público. Mas a iniciativa, o pedido, parte da pessoa com deficiência interessada, inclusive indicando os dois acompanhantes de sua confiança. O que o juiz, com a equipe multiprofissional, e o próprio parecer do Ministério Público, vai avaliar é se o pedido é pertinente e se os acompanhantes indicados possuem condições legais, técnicas e morais para assumir a responsabilidade de orientar o interessado no ato que precise de apoio”. 240 Leia-se a lição do autor (2016, p. 59): “Essa tomada de decisão apoiada passou a constar também do emergente art. 1.783-A da codificação material, instituído pelo EPD. A categoria visa ao auxílio da pessoa com deficiência para a celebração de atos mais complexos, caso dos contratos. Nos termos da norma, essa tomada de decisão apoiada é o processo judicial pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. A este autor parece que a tomada de decisão apoiada tem a função de trazer acréscimos ao antigo regime de incapacidades dos maiores, sustentando pela representação, pela assistência e pela curatela. Todavia, com a sua adoção, a pessoa com deficiência continua a ser tratada como capaz. “A categoria é próxima da administração de sustento do Direito Italiano (amministrazione di sostegno), introduzida naquele sistema por força da Lei n. 6, de 9 de janeiro de 2004. Nos termos do seu art. 1º, a finalidade da norma é de tutelar, com a menor limitação possível da capacidade de agir, a pessoa

124
ou seja, os referidos institutos não estariam extintos, mas se adequam à realidade de
cada pessoa a ser considerada.
Essa adequação, contudo, não fica clara.
Ressalte-se, ainda, que não é dada pela lei a possibilidade de impugnar a
escolha dos apoiadores, ou o juiz substituir os escolhidos por outros de sua confiança.
Pode indeferir a instauração, mas não substituir os escolhidos. O ideal seria a
possibilidade, à luz do caso concreto, de se aceitar as impugnações oferecidas e de
permitir a substituição dos nomeados, desde que a pessoa com deficiência aceite, já
que a relação deve ser lastreada na segurança entre o apoiado e seus apoiadores.
A fiscalização do instituto, por outro lado, merece elogios. Qualquer pessoa que
perceber que a pessoa com deficiência está sofrendo alguma pressão indevida ou
excessiva por seu apoiador pode efetuar denúncia perante o Ministério Público ou
diretamente ao Juiz.
Esse é um instituto criado pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência para
trazer maior independência à pessoa com deficiência, evitando a sua interdição (ou
submissão à curatela). O que resta indagar é se esse instituto também pode ser
aplicado à pessoa sem deficiência que se encontre na mesma situação.
Há certas doenças em que a pessoa sem deficiência acaba possuindo certas
restrições na sua formação da vontade ou na forma de externá-la. Comum ocorrer nos
casos de senilidade, em que há momentos de ausência alternados com de lucidez. O
que pensou e quis em um momento foi externado, mas não corresponderia com seus
anseios decorrentes da percepção da realidade.
Nesses casos, a resposta dada pela legislação é a interdição da pessoa senil.
Passa-se, portanto, a substituição de sua vontade, mesmo que, em momentos de
lucidez, haja total discernimento na formação da vontade e na sua posterior
declaração.
privada no todo ou em parte da autonomia na realização das funções da vida cotidiana, mediante intervenções de sustento temporário ou permanente. Foram introduzidas, nesse contexto, modificações no Codice, passando a prever o seu art. 404 que a pessoa que, por efeito de uma enfermidade ou de um prejuízo físico ou psíquico, encontrar-se na impossibilidade, mesmo parcial ou temporária, de prover os próprios interesses, pode ser assistida por um administrador de sustento, nomeado pelo juiz do lugar de sua residência ou domicílio. Como exemplifica a doutrina italiana, citando julgados daquele País, a categoria pode ser utilizada em benefício ao doente terminal, ao cego e ao portador do mal de Alzheimer”.

125
Com a inovação trazida pelo instituto da Tomada de Decisão Apoiada seria
ideal a abertura da possibilidade da pessoa sem deficiência que tenha alguma
dificuldade na formação ou na declaração de sua vontade em acioná-la.
Frise-se, ainda, que a possibilidade de abertura do instituto às pessoas sem
deficiência seria uma conquista às pessoas com deficiência, já que não seria
instrumento voltado, exclusivamente, às situações de deficiência, mas a toda situação
da vida que implique na necessidade de garantia de apoio na formação ou na
declaração da vontade.
5.5.2 CURATELA
Conforme já asseverado no presente trabalho, a pessoa com deficiência tem
resguardado o direito ao exercício da capacidade legal em igualdade de condições
com as demais pessoas.
Em certas situações, em que o discernimento para a tomada de certas decisões
é conturbado, pode haver a submissão da pessoa com deficiência ao regime da
curatela241.
A curatela, nos exatos termos do artigo 84, § 3º, da Lei Brasileira de Inclusão,
é “medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias
de cada caso, e durará o menor tempo possível”.
Além disso, a curatela “afetará apenas os atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial”242, não podendo atingir os atos de natureza
existencial. Tanto é assim, que não pode atingir “o direito ao próprio corpo, à
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao
voto”243.
A curatela é uma espécie de substituição da vontade da pessoa com
deficiência. Isso seria, à primeira vista, contrário aos ditames da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, que busca sempre o sistema de decisão
apoiada. DINERSTEIN, GREWAL e MARTINIS (2016, p. 444) afirmam que o sistema
241 Exatamente por essa razão que foi aprovado o Enunciado nº 640, na VIII Jornada de Direito Civil: “A tomada de decisão apoiada não é cabível, se a condição da pessoa exigir aplicação da curatela”. 242 Art. 85, caput, da Lei Brasileira de Inclusão. 243 Art. 85, § 1º, da Lei Brasileira de Inclusão.

126
de curatela pode coexistir com o sistema de apoio à tomada de decisão, em que pese
a suposta contradição244.
A realidade é que a pessoa com deficiência (especialmente com impedimento
de ordem mental ou intelectual) pode possuir uma gama extrema de potencialidades.
Por vezes podem ser extremamente competentes em lidar com números, mas
péssimos em relações interpessoais, assim como o contrário também é possível.
A curatela manterá a parcela de autonomia das escolhas referentes aos atos
de natureza existencial, mas restringirá alguns atos de natureza patrimonial. É
exatamente o que ocorre com o pródigo: a interdição (que aqui se denomina curatela)
acaba por atingir alguns atos, os que versam sobre a disposição patrimonial.
Em Portugal, a alteração do Código Civil que entrou em vigor em fevereiro de
2019, traz exatamente essa possibilidade. Há casos em que haverá a restrição à
prática de atos de disposição patrimonial, mas a pessoa “acompanhada” (nos termos
da legislação lusitana) mantém o exercício dos direitos pessoais245.
Assim, garante-se, mesmo com a submissão à curatela, o exercício dos direitos
de natureza existencial; permite-se que a pessoa com deficiência exercite a sua
autodeterminação, seus direitos da personalidade, como o de casar.
A restrição é limitada às questões de natureza patrimonial. Então, a melhor
conclusão é que, em que pese haver a garantia do exercício dos direitos de natureza
existencial, se houver alguma questão patrimonial envolvida o curador deve participar
do ato.
244 Leia-se a lição dos autores (2016, p. 444): “...Article 12, by its termos, does not necessarily eliminate guardianship as an option that can co-exist with SDM [Support Decision-Making], though a contextual reading of the Article and its provenance certainly calls into question the continued viability of surrogate decision-making arrangements such as guardianship”. Em tradução livre: “... O artigo 12, por seus termos, não elimina necessariamente a curatela como uma opção que pode coexistir com a TDA [Tomada de Decisão Apoiada], embora uma leitura contextual do artigo e sua proveniência certamente põe em dúvida a viabilidade continuada das sucedâneas modalidades de tomada de decisão, como a curatela”. 245 É o que consta da redação do artigo 147º, do Código Civil Português, que entrará em vigor em fevereiro de 2019: “Artigo 147º - Direitos pessoais e negócios da vida corrente. “1 – O exercício pelo acompanhado de direitos pessoais e a celebração de negócios da vida são livres, salvo disposição da lei ou decisão judicial em contrário. “2 – São pessoais, entre outros, os direitos de casar ou de constituir situações de união, de procriar, de perfilhar ou de adotar, de cuidar e de educar os filhos ou os adotados, de escolher profissão, de se deslocar no país ou no estrangeiro, de fixar domicílio e residência, de estabelecer relações com quem entender e de testar”.

127
No casamento, então, a pessoa com deficiência curatelada pode externar sua
vontade de casar, mas o regime de bens a ser adotado pode ser controlado pelo
curador.
Outro ponto que a legislação lusitana que entrará em vigor traz que merece
destaque é que ela não faz distinção das razões para submissão da pessoa ao regime
de acompanhamento. Pode ser – ou não – decorrente de deficiência. Trata igualmente
as pessoas com ou sem deficiência, submetendo-as ao mesmo regime.
A Lei Brasileira de Inclusão tentou atingir esse mesmo fim, mas ficou aquém do
pretendido. Isso porque, poderia ter colocado todas as pessoas (com ou sem
deficiência) sob o mesmo regime, e não criar um sistema com instrumentos
específicos para a pessoa com deficiência.
Por que a pessoa sem deficiência não pode ser submetida à curatela,
mantendo a aptidão para o exercício dos seus direitos pessoais? Na interdição pela
prodigalidade isso acontece, mas o sistema o interdita, ao invés de submetê-lo à
curatela...
No caso da pessoa com deficiência submetida à curatela haverá a restrição,
apenas, dos atos de natureza patrimonial. Os de natureza existencial continuarão
sendo exercidos diretamente pela pessoa com deficiência, podendo se socorrer do
procedimento da tomada de decisão apoiada para auxiliar na compreensão da
extensão de seus atos (conforme explanado no tópico anterior).
Há, contudo, situações em que a curatela é insuficiente, já que a pessoa com
deficiência não consegue exprimir sua vontade consciente. São as hipóteses de
interdição, que se analisará a seguir.
5.5.3 INTERDIÇÃO
A interdição é instituto que substitui a vontade da pessoa a ela submetida pela
a de alguém que foi nomeado pelo juiz para fazê-lo.
O questionamento se dá no tocante à extensão da interdição, ante suposto
conflito aparente de normas entre a Lei Brasileira de Inclusão e o Código de Processo
Civil. Isto porque, em que pese o Codex Processual ter sido publicado antes do
Estatuto das Pessoas com Deficiência, acabou por entrar em vigor um mês após este

128
último, já que seu vacatio legis era de um ano (contra 180 dias da Lei brasileira de
Inclusão).
Assim, há a Lei Brasileira de Inclusão (especial e anterior) em confronto com o
Código de Processo Civil (geral e posterior). Mas as normas não são incompatíveis,
devendo ser fazer a aplicação conjunta.
O Código Processual é aplicado a todas as pessoas sem deficiência. Traz o
instituto da interdição, que – para esse público – pode atingir tanto os atos de
administração patrimonial, quanto os da vida civil246.
Dessa maneira, a pessoa sem deficiência pode ser interditada, limitando-se
apenas os atos de disposição de natureza patrimonial, permanecendo com os poderes
para a prática de atos de natureza existencial.
O que definirá se a pessoa com deficiência será – ou não – interditada, é a sua
capacidade de discernimento, a qual será aferida através de análise multidisciplinar.
A Lei Brasileira de Inclusão, ao consagrar o princípio da plena capacidade civil
da pessoa com deficiência, atestou que ela não pode ser limitada pelo simples fato da
existência de um impedimento. Deve ser apurada da mesma forma e procedimento
que se utiliza para a pessoa sem deficiência.
Assim sendo, nos casos em que a pessoa com deficiência não possui
discernimento necessário e, portanto, não consegue emitir vontade consciente, é
possível sua submissão ao processo de interdição, tal qual se submete a pessoa sem
deficiência.
O Código Civil Argentino traz exatamente essa previsão, ao afirmar que – nas
hipóteses em que há a impossibilidade da pessoa (com ou sem deficiência) em
interagir com o ambiente e de expressar a sua vontade, o juiz pode nomear um
curador para representa-lo247. É a interdição do Código de Processo Civil brasileiro.
246 É o que se extrai do artigo 749, do CPC: “Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou”. 247 Esse conteúdo é extraído da parte final do artigo 32 do Código Civil Argentino: “ARTICULO 32 - Persona con capacidad restringida y con incapacidad. “El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. “En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. “El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida.

129
Nestas hipóteses, se atestada a ausência de discernimento (ou seja, a falta de
vontade consciente), a interdição é medida que se impõe, sendo possível a restrição,
também da prática de atos da vida civil.
Da mesma maneira que se aplica o procedimento de interdição para a pessoa
sem deficiência, deve-se também aplicar o procedimento para levantamento da
interdição à pessoa com deficiência que foi interditada.
Isto porque o artigo 756, § 4º, do Código de Processo Civil, permite o
levantamento gradativo da interdição da pessoa sem deficiência, devolvendo os
poderes de exercício de direitos existenciais.
Dessa forma, nos casos em que a pessoa com deficiência for interditada, caso
constatado que recuperou ou adquiriu, ainda que parcialmente, seu discernimento, o
juiz poderá revogar a interdição, submetendo-a à curatela, devolvendo o direito de se
autodeterminar.
5.6 A vontade da pessoa com deficiência mental ou intelectual e seus reflexos na
capacidade negocial
Quando se fala sobre a vontade da pessoa com deficiência mental ou
intelectual, deve-se lembrar que o Estatuto das Pessoas com Deficiência alterou o
sistema de incapacidades ao dar efetividade à Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência.
Assim, para o texto do Estatuto, a pessoa com deficiência mental ou intelectual
tem a mesma capacidade da pessoa sem deficiência. Parte-se do pressuposto de que
“Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador”. Em tradução livre: “ARTIGO 32 - Pessoa com capacidade restrita e com incapacidade. “O juiz pode restringir a capacidade de certos atos de uma pessoa de treze anos que sofre de um vício ou uma alteração mental permanente ou prolongada, de gravidade suficiente, sempre que considerar que o exercício da sua plena capacidade pode gerar danos à sua pessoa ou seus ativos. “Em relação a tais atos, o juiz deve designar o suporte ou apoio necessário previsto no artigo 43, especificando as funções com ajustes razoáveis, dependendo das necessidades e circunstâncias da pessoa. “Os apoios designados devem promover a autonomia e favorecer decisões que respondam às preferências da pessoa protegida. “Por exceção, quando a pessoa é absolutamente incapaz de interagir com seu ambiente e expressar sua vontade por qualquer modo, meio ou formato apropriado e o sistema de apoio é ineficaz, o juiz pode declarar a incapacidade e designar um curador”.

130
ela é capaz, sendo possível a sua interdição nas mesmas hipóteses aplicáveis à
pessoa sem deficiência.
A incapacidade civil só será possível, portanto, na hipótese do artigo 4º, III, do
Código Civil: quando não puder exprimir vontade consciente por causa transitória ou
permanente. Para aferir essa consciência da vontade deve o juiz se utilizar de exame
multidisciplinar para verificar se há discernimento da pessoa com deficiência mental
ou intelectual.
O exemplo doutrinário trazido para os casos de impossibilidade de exprimir a
vontade consciente por causa transitória ou permanente é justamente da pessoa que
se encontra em estado de coma. Ela poderá ser interditada, reconhecendo-se a sua
incapacidade relativa (aqui existindo críticas sobre essa relatividade248).
Essa posição, a priori, parece fundamentada: se a pessoa natural está
impossibilitada de exprimir vontade (como no exemplo citado – estado de coma) não
seria correto enquadrá-la como absolutamente incapaz? Não é o que entendemos.
Ora, se a pessoa não pode exprimir vontade, não pratica qualquer ato. Eventuais atos
por ela praticados seriam, portanto, inexistentes, e não inválidos.
A melhor solução para esses casos seria resgatar a teoria dos planos de
existência, validade e eficácia concebida por Pontes de Miranda, e analisar o ato
considerando que a ausência de vontade o torna inexistente.
Isto porque a presença de vontade consciente integra exatamente o plano de
existência, sendo que sua higidez e liberdade integra o plano de validade249. Essa
proposta é capitaneada por VELOSO (2015), defendendo que nos casos de doenças
graves decorrentes da senilidade (como o mal de Alzheimer), ou da deficiência mental
248 Esta é a crítica, por exemplo, trazida por GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2018, p. 78/79): “De repente, o novo diploma converteu aqueles que eram absolutamente incapazes em relativamente capazes. “Sinceramente, não nos convence tratar essas pessoas, sujeitas a uma causa temporária ou permanente impeditiva da manifestação da vontade (como aquele que esteja em estado de coma) no rol dos relativamente incapazes. “Se não podem exprimir vontade alguma, a incapacidade não poderia ser considerada meramente relativa. “A impressão que temos é a de que o legislador não soube onde situar a norma”. 249 É exatamente a lição de LIMA, VIEIRA e SILVA (2017, p. 31): “... a vontade em si é precisamente a estruturação básica e elementar a que se refere o plano da existência, isto é, o suporte fático indispensável para que se possa falar que o negócio existe. Por outro lado, a higidez e a integridade dessa vontade são afetas ao plano da validade, uma vez que esse plano é o reduto da análise da existência ou não de um dos predicados do suporte fático – a qualidade da vontade manifestada, em última instância 0 para que o negócio seja considerado válido ou inválido (nulo ou anulável a depender da gravidade do defeito verificado)”.

131
ou intelectual grave, que impedem a emissão da vontade consciente, deve ser
invocada a teoria da inexistência do negócio jurídico. Isso porque, antes de se discutir
que o negócio é ou não válido (podendo ser nulo ou anulável), ele deve existir. Se
inexiste, não há que se apurar a validade.
Por esse motivo não há desproteção em reconhecer a pessoa com deficiência
mental ou intelectual que não exprime vontade consciente como relativamente
incapaz, já que os atos praticados sem a presença da vontade consciente serão
inexistentes, não se apurando a sua validade.
Mas fora desta hipótese (impossibilidade de exprimir vontade consciente),
repita-se, de acordo com o texto da lei, deve-se considerar a pessoa com deficiência
mental ou intelectual plenamente capaz.
Ressalte-se que o texto do Estatuto das Pessoas com Deficiência assim o
afirma sem levar em consideração o grau de deficiência mental ou intelectual. Isso
traz certa vulnerabilidade para a Pessoa com Deficiência não submetida à curatela ou
que não propõe o procedimento da Tomada de Decisão Apoiada.
Considerando que há instrumentos aptos a aferir o grau da deficiência mental
ou intelectual através da classificação das funcionalidades250, deveria o legislador ter
previsto alguma possibilidade de tutela diferenciada àquelas pessoas com deficiência
mental ou intelectual grave ou moderada.
A ideia do Estatuto das Pessoas com Deficiência – e que deve ser enaltecida –
foi entregar às pessoas com deficiência o direito ao exercício da autonomia
existencial, de sua autodeterminação. Mas o legislador deveria ter trazido algumas
salvaguardas para evitar as situações de vulnerabilidade em que colocou as pessoas
com deficiência.
Deveria o Estatuto garantir o exercício da autonomia existencial da pessoa com
deficiência mental ou intelectual, mas salvaguardá-la devido à presença de certas
barreiras intransponíveis, especialmente nos casos de deficiência grave.
250 O microssistema jurídico de tutela dos direitos das pessoas com deficiência já possui dentro de seu arcabouço normativo a previsão da diferenciação dos graus de deficiência em leve, moderada e grave. No direito previdenciário, os requisitos para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição levam em consideração justamente o grau de deficiência (Lei Complementar nº 142, de 2013, Art. 3º, I, II e III). O Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048, de 1999) traz a necessidade dessa avaliação, sendo que os instrumentos a serem utilizados para aferição dos graus foram fixados pela Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP nº 1, de 27 de janeiro de 2014, e estão de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, da Organização Mundial de Saúde.

132
Se o escopo é resguardar a autodeterminação, deveria ter afirmado o legislador
que a pessoa com deficiência mental ou intelectual seria obrigatoriamente submetida
à curatela, enquanto o procedimento de tomada de decisão apoiada seria obrigatório
nos casos de deficiência moderada (não se excluindo, nesta última hipótese, a
curatela).
O legislador, por sua vez, não agiu assim, impondo o reconhecimento da plena
capacidade civil da pessoa com deficiência mental ou intelectual, cabendo ao
aplicador a sua adequação.
Afirme-se que essa previsão decorre do texto da Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que reconhece a capacidade legal em
igualdade de condições com as demais pessoas.
Não obstante as críticas formuladas, deve-se questionar se, de acordo com o
disposto na redação do Estatuto das Pessoas com Deficiência, é possível a restrição
à autonomia da pessoa com deficiência mental ou intelectual para a prática de certos
atos (especialmente os negócios jurídicos).
Antes de tudo, deve-se recordar que os atos praticados pela pessoa (com ou
sem deficiência) podem ter natureza patrimonial ou existencial. A autonomia
existencial não pode ser restringida por força do artigo 6º do Estatuto das Pessoas
com Deficiência251. Excepcionalmente, na hipótese de ausência de discernimento
total, pode ser deferida a interdição, nomeando-se curador, de acordo com o já
exposto no item anterior. Neste caso, o ato seria praticado pelo representante do
interditado, que teria poderes para assim o fazer.
Retomando: em certos casos a autonomia da pessoa com deficiência mental
ou intelectual para a prática de certos atos de natureza patrimonial pode ser restringida
através do instituto da curatela.
A restrição será efetivada pelo instituto da curatela, mas esta será “medida
protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada
caso, e durará o menor tempo possível”252.
Esta curatela, pelo comando do artigo 85 do Estatuto das Pessoas com
Deficiência, só poderá afetar os atos de natureza patrimonial e negocial. Aliás, entre
251 Mas o procedimento da Tomada de Decisão Apoiada pode e deve ser utilizado, especialmente nos casos em que a pessoa com deficiência já está submetida à curatela. Se há submissão à curatela, significa que não possui pleno entendimento para gerir questões de natureza patrimonial, o que autorizaria a utilização do instituto da tomada de decisão apoiada para os atos de natureza existencial. 252 Art. 84, § 3º, Estatuto das Pessoas com Deficiência (Lei nº13.146, de 2015).

133
a promulgação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a
publicação do Estatuto das Pessoas com Deficiência, esta era uma das críticas da
doutrina ao sistema de incapacidades que vigia no Código Civil253.
Essa crítica foi superada com a edição do Estatuto das Pessoas com
Deficiência, uma vez que a instituição da curatela ficará restrita aos aspectos
patrimoniais ou negociais, não atingindo os atos de natureza existenciais.
Como agir, então, nas hipóteses em que o ato de natureza existencial gera
consequências patrimoniais? A escolha do regime de bens em matrimônio realizado
pela pessoa com deficiência foi abordada em tópico anterior. Como essa escolha
possui natureza patrimonial, no caso de submissão à curatela é possível que o ato
recaia sobre a pessoa do curador, escolhendo o regime de bens ideal para o caso
concreto.
Como a União Estável é uma situação de fato, essa escolha não existiria. A
decisão de constituir União Estável pela pessoa com deficiência mental ou intelectual
gera efeitos patrimoniais, mas não pode ser restringida pela curatela por força
expressa do artigo 6º, I. e 85, § 1º, ambos da Lei Brasileira de Inclusão.
Assim, o regime seria o de comunhão parcial, mesmo se o ideal no caso fosse
a instituição da separação total. Não há a possibilidade dessa escolha pelo curador,
submetendo a pessoa com deficiência aos efeitos patrimoniais de sua escolha
existencial.
Não há solução. Como critério interpretativo se pode utilizar a ideia de
maximizar a proteção da pessoa com deficiência, mas a realidade é que o instituto da
curatela, ao permitir o exercício de atos de natureza existencial de forma irrestrita,
pode fazer com que o patrimônio da pessoa com deficiência seja atingido.
A submissão à curatela traz certa segurança à pessoa com deficiência nos atos
de natureza patrimonial. Contudo, os atos existenciais que geram efeitos patrimoniais
precisam de algum mecanismo de proteção que falta à Lei Brasileira de Inclusão.
253É o que afirma FERRAZ (2012, p. 330): “Defendemos que os impedimentos aos exercícios dos atos da vida civil que decorrem do processo de interdição, não devem ser generalizados, ou seja, os atos jurídicos de natureza negocial podem ser eivados de obstáculos, sem que necessariamente sejam afetados os atos existenciais”. A mesma opinião crítica possuíam FARIAS e ROSENVALD (2015, p. 297): “Com isso, é preciso um compromisso do jurista do novo tempo com o instituto da interdição, de modo a compreendê-lo como um instituto de proteção da pessoa incapacitada, promocional de sua dignidade. Não se podendo pensar que a simples decretação da interdição, por si só, já é suficiente para proteger o incapaz. Ao revés, deve o juiz reconhecer a possibilidade do exercício de determinadas situações, fundamentalmente existenciais, pelo incapaz, garantindo os seus direitos e a sua cidadania”.

134
De qualquer forma, há uma série de indagações que devem ser analisadas no
tocante à execução e à interpretação dos negócios jurídicos celebrados pela pessoa
com deficiência mental ou intelectual.
5.7 A interpretação do negócio jurídico celebrado pela pessoa com deficiência
mental ou intelectual
As pessoas com deficiência mental ou intelectual são, pelo texto da Lei
Brasileira de Inclusão, presumidamente capazes a celebrar negócios jurídicos. Se,
devido às barreiras impostas, o seu entendimento estiver comprometido, pode-se
utilizar do instituto da tomada de decisão apoiada inclusive para a prática de atos
negociais.
O que se deve perquirir é como será executado o negócio jurídico celebrado
pela pessoa com deficiência mental ou intelectual não interditada, submetida à
curatela ou que não formule o procedimento de Tomada de Decisão Apoiada254?
Essa pergunta cabe porque a execução do negócio celebrado pela pessoa com
deficiência interditada é igual à celebrada pela pessoa sem deficiência. Isso porque
haverá a substituição de sua vontade.
Nos negócios de natureza patrimonial celebrados pela pessoa com deficiência
mental ou intelectual submetidos à curatela também haverá a substituição da vontade
pela do curador. Então não há alteração à sua execução.
As consequências dos atos de natureza existencial celebrados pela pessoa
com deficiência submetida à curatela, e que trazem reflexos patrimoniais, já foram
abordadas no tópico anterior. Não há solução pronta no texto da Lei, o que gera
incertezas.
O procedimento da tomada de decisão apoiada já foi analisado no presente
trabalho, e sua interpretação e execução também.
Resta pensar em como se dará a execução do negócio jurídico celebrado pela
pessoa com deficiência mental ou intelectual que não está submetida à interdição,
curatela ou à tomada de decisão apoiada.
254 A indagação se limita às hipóteses em que não há a decretação de interdição, de curatela ou a instituição da tomada de decisão apoiada porque, nas hipóteses em que elas estão presentes, integrará o ato de natureza patrimonial o curador ou o apoiador, que darão substrato à existência de declaração de vontade e à sua validade.

135
Pela leitura do texto do Estatuto das Pessoas com Deficiência, o negócio
jurídico por ela celebrado deve ser considerado válido. Há a presunção de capacidade
plena (em igualdade de condições com as demais pessoas), razão pela qual a vontade
existe e seria, a princípio, válida.
Seriam aplicáveis, por exemplo, as mesmas regras sobre o erro substancial em
negócio jurídico celebrado por pessoa com deficiência mental ou intelectual grave?
Qual será o procedimento nos casos de inadimplemento?
Não há qualquer menção no Estatuto das Pessoas com Deficiência sobre a
execução dos negócios jurídicos, exceto a possibilidade do terceiro que contratar com
a pessoa com deficiência apoiada de solicitar a assinatura dos apoiadores no
instrumento.
Se não existir a instituição do procedimento da tomada de decisão apoiada, o
terceiro que contrata com a pessoa com deficiência mental ou intelectual não possui
qualquer segurança jurídica que, posteriormente, seu ato não será invalidado ou
declarado inexistente.
A pessoa com deficiência mental ou intelectual tem sua capacidade civil
presumida. Se assim o é, seus atos possuem a presunção de serem válidos.
Conforme já afirmando, a incapacidade eventual da pessoa com deficiência será
relativa, ou seja, seus atos serão considerados válidos porque a decretação de
incapacidade produzirá efeitos ex nunc.
Se por um lado isso traz alguma segurança para aquele que contrata com a
pessoa com deficiência mental ou intelectual, por outro lado não afasta o perigo real
do negócio celebrado ser considerado inexistente, ante a ausência de vontade
consciente.
Nestes casos a melhor alternativa é averiguar, em primeiro lugar, a natureza
jurídica do negócio celebrado. Se o negócio for gratuito, cujo único beneficiário é a
pessoa com deficiência, não há porque se decretar a sua inexistência ou a invalidade,
pois não haverá qualquer prejuízo.
Contudo, caso estejamos diante de negócio jurídico oneroso, essa não deve
ser a solução a ser seguida. Deve-se apurar se houve efetivo prejuízo à pessoa com
deficiência decorrente do negócio celebrado. Em caso positivo, a decretação de sua
inexistência ou invalidade deve ser manejada pelo magistrado.

136
Por outro lado, não se pode consagrar o enriquecimento sem causa da pessoa
com deficiência mental ou intelectual, que se valeu de sua condição para se beneficiar
com eventual decretação de invalidade ou de inexistência do negócio celebrado.
O próprio instituto do enriquecimento sem causa, nesta hipótese, pode ser
utilizado, impondo a restituição do indevidamente auferido pela pessoa com
deficiência255, retornando as partes ao status quo ante.
Na execução do negócio jurídico celebrado pela pessoa com deficiência
também devem ser aplicadas as regras dos artigos 180 e 181 do Código Civil. Assim
sendo, caso a pessoa com deficiência (que é considerada relativamente incapaz, da
mesma forma do maior de 16 e menor de 18 anos) dolosamente oculta sua condição
de terceiro quando inquirido, não pode, posteriormente, invocar sua condição para
inquinar o ato.
Além disso, se o terceiro comprovar que o valor que pagou para a pessoa com
deficiência mental ou intelectual que posteriormente teve reconhecida sua
impossibilidade de exprimir vontade a proveito dela reverteu, pode reclamar esses
valores.
Já quando a pessoa com deficiência é executada pelo inadimplemento, será
que as regras aplicáveis são as mesmas? Pode ela ser chamada a responder pelos
prejuízos a que der causa?
A regra é que todo aquele que causar dano a outrem fica obrigado à reparação.
No caso do incapaz, este responde de forma equitativa, não podendo ser privado do
necessário à sua subsistência256.
Em uma primeira análise, na tentativa de se maximizar a proteção da pessoa
com deficiência, aplicar-se-ia o referido preceito. Não obstante, como a pessoa com
deficiência é considerada capaz para todos os fins, essa disposição não pode ser
aplicada por contrariar o espírito da Lei Brasileira de Inclusão.
255 Nos exatos termos do caput do artigo 884, do Código Civil: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. 256 Cf. CC, art. 928 e parágrafo único: “Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. “Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem”.

137
Ou seja, as regras que servem para proteger o incapaz e resguardar o seu
patrimônio (mínimo) são afastadas porque a pessoa com deficiência mental ou
intelectual não interditada ou submetida à curatela é considerada por lei capaz.
A indenização será integral, sem considerar a necessidade de resguardar o
mínimo à subsistência da pessoa com deficiência.
Essa não pode e nem deve ser a melhor interpretação da norma. A pessoa com
deficiência mental ou intelectual, mesmo não submetida a procedimento de
substituição de vontade ou de apoio na tomada de decisão, deve ainda ser tutelada.
Há outras dúvidas na interpretação dos negócios jurídicos celebrados nessas
situações, que merecem análise separadamente.
5.8 Aplicação do princípio da boa-fé objetiva aos negócios jurídicos celebrados pela
pessoa com deficiência mental ou intelectual
Um dos princípios estruturantes do Código Civil de 2002 é o da eticidade, que
impões às pessoas a necessidade de adotar o comportamento ético, probo, em todas
as suas relações humanas.
No campo do direito contratual ele é expressamente previsto257, devendo ser
seguido tanto na conclusão, quanto na execução do contrato.
Como se exigir o cumprimento da aplicação do princípio da boa-fé objetiva pela
pessoa com deficiência? Por força de tal princípio, devem as partes – antes, durante
e depois da execução do contrato – comportar-se de acordo com o comportamento
esperado pela natureza do pacto.
Dessa ideia decorrem os deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva, como,
por exemplo, o da probidade, da lealdade, de informação e o de sigilo. Será que a
pessoa com deficiência mental ou intelectual consegue compreender o inteiro teor dos
deveres anexos cujo descumprimento acarretam a violação positiva do contrato?
Essa indagação deve ser aferida a luz do caso concreto pelo magistrado,
utilizando-se, para tanto, da avaliação multidisciplinar para verificar o discernimento
que porventura existia.
257 Código Civil: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

138
A sistemática criada pela Lei Brasileira de Inclusão traz um avanço no combate
à exclusão social da pessoa com deficiência, mas não se ocupa com a segurança
jurídica das relações (especialmente patrimoniais) por ela mantidas.
A remissão do caso concreto ao arbítrio do magistrado é solução cômoda ao
legislador, que se furtou a enfrentar a necessidade de tutela da pessoa com deficiência
mental ou intelectual de forma separada.
O mesmo ocorreu nas situações dos defeitos dos negócios jurídicos, como se
verificará a seguir.
5.9 Averiguação dos defeitos dos negócios jurídicos celebrados pela pessoa com
deficiência mental ou intelectual
Outra dúvida que surge quando da execução dos contratos celebrados pelas
pessoas com deficiência é no tocante à aferição dos defeitos dos negócios jurídicos.
Será que se deve utilizar os mesmos padrões dos aplicáveis à pessoa sem deficiência.
Defeito ou vício é tudo que macula a validade do negócio jurídico celebrado.
Eles são divididos em vícios de vontade ou de consentimento (erro, dolo, coação,
lesão e estado de perigo) e em vícios sociais (simulação e fraude contra credores).
Obviamente que a situação da pessoa com deficiência mental ou intelectual
deve ser considerada pelo magistrado no momento de apurar a ocorrência de algum
defeito de seu negócio jurídico.
Se por um lado a vontade da pessoa com deficiência é consciente (e, portanto,
existente), isso não significa dizer que sua qualificação está livre de algum vício.
A pessoa com deficiência mental ou intelectual pode conseguir exprimir
vontade consciente, mas muitas vezes possui amadurecimento emocional totalmente
diferente da pessoa sem deficiência. Assim sendo estaria mais suscetível a lhe ser
infundido temor de dano iminente e considerável à sua pessoa (sendo causa de
configuração de coação).
Aliás, na configuração da coação, deve o magistrado analisar a condição e o
temperamento da pessoa (com ou sem deficiência) para apurar sua ocorrência258.
258 Cf. arts. 151 e 152 do CC: “Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. “Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

139
A qualificação da vontade consciente deve ser levada em consideração pelo
magistrado, observando os aspectos subjetivos da pessoa com deficiência mental ou
intelectual. Ela estaria, em determinados casos, mais suscetível ao erro (porque sua
diligência normal pode diferir daquela da pessoa sem deficiência), à coação (pelas
razões acima descritas) e à lesão (ante sua inexperiência).
O que deve apurar o magistrado, nos casos em que se discute, justamente, a
qualificação da vontade da pessoa com deficiência mental ou intelectual, é a situação
subjetiva decorrente do grau do impedimento mental ou intelectual e seus reflexos nas
barreiras porventura existentes, ao invés de aplicar a mesma régua que utiliza para
as pessoas sem deficiência.
Resta evidente que faltam normas que versem sobre a execução dos negócios
jurídicos celebrados pelas pessoas com deficiência mental ou intelectual, merecendo
críticas a esse ponto da normatização.
A solução, novamente, passaria pelo enfrentamento da necessidade de tutelar
diferenciadamente a pessoa com deficiência mental ou intelectual de acordo com o
grau de sua deficiência. Não fez no tocante à segurança jurídica dos negócios
jurídicos, mas houve em outras situações, permitindo essa interpretação.
5.10 Tutela diferenciada da pessoa com deficiência mental ou intelectual
Houve a preocupação na Lei Brasileira de Inclusão de tratar igualmente todas
as pessoas com deficiência, incluindo-as na sociedade em igualdade de condições
com as pessoas sem deficiência.
Nada obstante, ao discorrer sobre os negócios jurídicos celebrados pela
pessoa com deficiência mental ou intelectual, não houve qualquer tentativa de
proteção diferenciada desse grupo.
A ideia foi a de justamente garantir a sua plena capacidade civil. Mas, de acordo
com o que se expôs, o que o legislador fez foi colocar todas as questões de proteção
da pessoa com deficiência na execução e interpretação dos negócios jurídicos por ela
celebrados no âmbito do Poder Judiciário, que deverá apurar sempre de acordo com
o caso concreto.
“Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela”.

140
Não há um corte em relação aos graus de deficiência mental ou intelectual.
Todos são tratados da mesma maneira em relação à pessoa com deficiência física ou
sem deficiência.
Mas o próprio Estatuto previu a tutela diferenciada para as pessoas com
deficiência mental ou intelectual (independentemente do grau) das outras espécies de
deficiência leve ou moderada em outras situações.
É o que se percebe pela nova redação que foi dada pelo Estatuto aos incisos I
e III, do artigo 16, da Lei nº 8.213, de 1991.
Pela nova redação o filho (inciso I) ou o irmão (inciso III) são considerados
dependentes do segurado do Regime Geral da Previdência Social desde que tenham
“deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.
Ou seja, o Estatuto retirou do rol de dependentes os filhos com deficiência
sensorial ou física leve ou moderada, mas manteve aqueles com deficiência mental
ou intelectual independentemente do grau.
Será que esse não é indicador da necessidade de se proteger um pouco mais
a pessoa com deficiência mental ou intelectual? Parece que sim.
Se há essa necessidade de tutela diferenciada para garantir a dependência
econômica em relação a segurado do Regime Geral da Previdência Social, porque
não existiria no tocante à execução e interpretação dos negócios jurídicos por ela
celebrados?
Faltou ao legislador a inclusão de regra sobre a celebração, execução e
extinção dos negócios jurídicos celebrados pela pessoa com deficiência mental ou
intelectual não submetida à curatela (ou interditada, ou submetida ao procedimento
de Tomada de Decisão Apoiada).
Ao não prever essa sistemática especial, acabou o Estatuto retirando algumas
seguranças que eram aplicáveis. Cite-se, novamente, a indenização equitativa do
incapaz259, a qual não será aplicável à pessoa com deficiência mental ou intelectual
(mesmo no grau grave), já que ele é considerado totalmente capaz.
Porém, há a possibilidade da pessoa com deficiência mental ou intelectual estar
submetida à curatela. Neste caso, os atos de natureza negocial não podem ser por
259 Código Civil: “Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. “Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem”.

141
ela praticados, uma vez que há a restrição pontual à sua autonomia privada. Mas, em
determinadas situações, há certos atos que afetam tanto a autonomia privada, quanto
à existencial260.
Exemplo que pode ser citado é de um ator que possua Síndrome de Down e
que tenha sua capacidade de gestão de dinheiro afetada e, por esta razão, está
submetido à curatela. O negócio jurídico eventualmente celebrado com alguma
emissora para participar de novela deverá ser assinado por seu curador, mas como
envolve a disposição de direito à imagem, deve contar também com a anuência do
ator com deficiência mental. Deve haver, nestes casos, a conjugação de vontades.
Feitas todas as observações, vê-se que a Lei Brasileira de Inclusão não
responde de forma condizente com todos os questionamentos que decorrem das
situações que ela mesma cria. Não traz uma regra sequer sobre execução de
contratos, cabendo ao aplicador adequar o texto legal à realidade social enquanto não
houver a correção pelo legislador.
260 É o que afirma REQUIÃO (2016, p. 33): “A distinção apresentada também não significa que certos grupos de bens estarão sempre relacionados com um dos tipos de autonomia supracitados. Assim, por exemplo, é possível a realização de um negócio jurídico que envolva direitos da personalidade, em que se encontrará tanto a autonomia existencial, como também a autonomia privada. A primeira, identificada com o direito de dispor sobre a sua personalidade a fim de se realizar enquanto pessoa, e a segunda com o direcionamento dessa liberdade para a consecução de um negócio jurídico que tenha manifestação de direito da personalidade como seu objeto”.

142
6 CONCLUSÃO
O presente trabalho buscou analisar a atual situação da pessoa com deficiência
mental ou intelectual e os reflexos deste impedimento na sua capacidade negocial.
Para tanto, partiu-se da análise dos sistemas sociais descritos na Teoria de
Luhmann, que possuem como base o sistema binário lícito/ilício (no caso do
subsistema jurídico), o qual é aplicado e ajustado de acordo com as expectativas
normativas.
A própria teoria descrita admite sistemas sociais dentro do meio, assim como
subsistemas dentro de um meio que é o sistema em si. Esse mesmo raciocínio é
aplicável à presença de microssistemas, que – para estarem configurados –
necessitam da distinção do meio em que se encontram.
Buscou-se, com isso, demonstrar a presença do microssistema jurídico de
tutela dos direitos das pessoas com deficiência, cuja distinção é assegurar e promover
o exercício dos direitos e das liberdades das pessoas com deficiência em igualdade
de condições com as demais pessoas.
A demonstração da existência do microssistema impõe a conformação dos
demais institutos aplicáveis. No caso das pessoas com deficiência, houve a
necessidade de conformação de alguns institutos até então existentes, como ocorreu
com o sistema de incapacidades do Código Civil.
Essa conformação do sistema de incapacidades impõe a releitura do próprio
conceito de pessoa e de personalidade, mas este já estava sofrendo evolução. Isto
porque houve o reconhecimento da liberdade espiritual como integrante da pessoa
humana, inerente à esta situação. Repita-se que essa releitura não decorreu do
reconhecimento do microssistema de tutela das pessoas com deficiência, mas é
totalmente aplicável a ele, já que adequado e pertinente.
O reconhecimento desta liberdade espiritual faz com que a capacidade da
pessoa natural não se restrinja apenas à de fato e à de direito; há a autodeterminação
da pessoa humana como reflexo da sua personalidade.
A autodeterminação aqui foi definida como sendo a possibilidade da pessoa
natural em fazer as próprias escolhas no exercício de seus interesses existenciais,
como, por exemplo, na hipótese de recusa de tratamento médico ou em tatuar o
próprio corpo.

143
O reconhecimento da autodeterminação da pessoa natural é pertinente ao
microssistema jurídico de tutela das pessoas com deficiência, uma vez que há neste
microssistema a efetiva separação entre a capacidade e a autodeterminação. O
próprio artigo 85, do Estatuto das Pessoas com Deficiência separa capacidade de
autodeterminação, ao reconhecer que a restrição à autonomia da pessoa com
deficiência não pode atingir os atos existenciais, mas apenas os de natureza negocial
e patrimonial.
A capacidade estudada no presente trabalho, aqui retomada, é aquela como
medida da personalidade no sentido de titularizar direitos e obrigações, enquanto
autodeterminação como possibilidade de exercer sua vontade nas suas situações
existenciais.
Mas a incapacidade – esta entendida nos termos do modelo clássico, como
sendo a impossibilidade de exercício dos atos da vida civil sozinho – não afasta a
vontade da pessoa natural. A vontade está ligada no ato de escolha da determinada
ação em detrimento de outras possibilidades. Da escolha consciente do rumo a seguir.
A consciência na escolha passa, necessariamente, pelo conceito de
discernimento. Em que pese ele não constar mais de forma expressa no Código Civil
para a determinação da incapacidade, evidentemente que ele é necessário.
O discernimento seria, para o presente trabalho, a possibilidade conferida a
cada pessoa de decidir os atos de sua própria vida, analisando as consequências de
suas escolhas após ponderar os fatos, valores e circunstâncias incidentes. É a
realização da escolha consciente já asseverada.
Firmadas essas ideias, passou-se à análise do negócio jurídico, que pode ser
conceituado como sendo a declaração de vontade consciente que pretende criar,
modificar ou extinguir determinado direito; frise-se que esse efeito não é decorrente
da lei (como ocorre com o ato jurídico em sentido estrito), mas sim da vontade criadora
das partes.
Vontade novamente. Como alicerce do negócio jurídico. Vontade socialmente
adequada e conformada, que sofre o influxo das transformações sociais na
elaboração dos negócios jurídicos.
Assim, para a formação de negócio jurídico, deve haver consenso, união de
vontades dos agentes, através de uma declaração, decorrente de processo volitivo,
querido com plena consciência, com liberdade e sem má-fé.

144
Questionou-se, então, se a pessoa com deficiência mental ou intelectual
consegue emitir a declaração de vontade nestes termos.
O conceito de pessoa com deficiência deve ser novamente trazido: pessoa com
deficiência é aquela que possui impedimento de longo prazo, de natureza física,
sensorial, mental ou intelectual que, em interação com a diversas barreiras sociais,
impede a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas.
O cerne do referido conceito não é o impedimento em si, mas sim a barreira
social impeditiva de sua participação na sociedade em igualdade de condições.
Como houve a mudança do paradigma para focar a deficiência no aspecto
social da presença da barreira, é complexo afirmar que a deficiência reduz a
capacidade civil da pessoa, pois considerar-se-ia o impedimento como sendo o centro
da deficiência. Frise-se que a barreira pode ser eliminada, enquanto que o
impedimento nem sempre é possível.
Com a inversão dessa lógica trazida por esse novo microssistema jurídico,
verificou-se que a pessoa com deficiência está no mesmo patamar da pessoa sem
deficiência: parte-se do pressuposto da capacidade, podendo ser relativamente
incapaz se não puder exprimir vontade. Deu-se o mesmo tratamento já que a
deficiência está presente na existência da barreira impeditiva ao ingresso na
sociedade em igualdade de oportunidade, e não no impedimento em si.
Considerar a pessoa com deficiência presumidamente incapaz seria reforçar a
barreira impeditiva de sua inclusão na sociedade em igualdade de oportunidades.
Seria maximizar a segregação, e não proteção. A eliminação de barreiras jurídicas é
um dos objetivos buscados pelo microssistema, sendo o princípio da plena
capacidade civil da pessoa com deficiência um dos instrumentos visando essa
realização.
Obviamente que o sistema de incapacidades e de proteção será aplicável, mas
devidamente conformado pelo microssistema. Parte-se, então, da ideia da bipartição
da autonomia em privada (relacionada aos atos de natureza negocial e patrimonial) e
existencial (fundada na autodeterminação e no exercício dos direitos da
personalidade).

145
Ressalte-se que essa bipartição da autonomia não é aplicável, apenas, às
pessoas com deficiência, já que decorrem justamente daquele desdobramento da
capacidade com o reconhecimento da autodeterminação da pessoa humana.
A pessoa com deficiência é tratada da mesma maneira do que a pessoa sem
deficiência pelo sistema de incapacidades: analisa-se, primeiramente, se a pessoa
natural pode exprimir vontade ou se está impedida de forma temporária ou
permanente.
Caso haja o impedimento em exprimir vontade, a pessoa com deficiência pode
ser interditada (da exata maneira da pessoa sem deficiência), considerando-a
relativamente incapaz.
A autonomia da pessoa com deficiência mental ou intelectual pode sofrer
restrições. Em certos casos, essa pessoa possui dificuldades em exprimir sua
vontade, ou a compreensão do seu querer por terceiros é mais complicada. Para estes
casos o microssistema jurídico criou o instituto da tomada de decisão apoiada, no qual
outras pessoas, do convívio e da confiança da pessoa com deficiência, terão a missão
de decodificar a vontade exprimida para o mundo jurídico.
Este instituto reside em zona cinzenta compreendida entre a curatela e a plena
capacidade, e possui como escopo a garantia do exercício da vontade pela pessoa
com deficiência.
Há certos casos em que a pessoa com deficiência mental ou intelectual
consegue exprimir vontade, mas não possui a aptidão para entendimento de certos
aspectos da vida moderna, como a disposição patrimonial e a gestão financeira, por
exemplo.
Nestes casos é possível que seja submetido à curatela, que não retira da
pessoa com deficiência mental ou intelectual a sua autonomia existencial, mas apenas
a sua autonomia privada (no sentido patrimonial/negocial).
Dessa maneira, o que se verifica é que, com a instituição do microssistema
jurídico de tutela da pessoa com deficiência, reconheceu-se, em regra, a capacidade
negocial àqueles que possuem impedimento de natureza mental ou intelectual.
Ocorre que essa autonomia privada (nela compreendida a capacidade
negocial) pode ser limitada nos casos em que a pessoa com deficiência não puder
exprimir vontade (interditando-a) ou quando não possuir a aptidão para gerenciar seu

146
próprio patrimônio (submetendo-a à curatela). Mas a autonomia existencial será
preservada.
O que se verifica é que o reconhecimento da capacidade civil da pessoa com
deficiência ocorreu como meio de eliminação das barreiras sociais que a impediam de
participar na sociedade em igualdade de condições, mas não acarreta o seu
desamparo, uma vez que a restrição de sua capacidade negocial é permitida.
Deve-se, contudo, reiterar as críticas já trazidas em relação à Lei Brasileira de
Inclusão: o legislador deveria ter tratado a pessoa com deficiência mental ou
intelectual de forma separada, tecendo regras mais protetivas no tocante à
celebração, execução e interpretação dos negócios jurídicos.
Essa necessidade de tratamento diferenciado foi exposta no texto do próprio
Estatuto das Pessoas com Deficiência em outros momentos, mas silenciou quando
da capacidade negocial.
Assim, resta à pessoa com deficiência mental ou intelectual confiar que o
magistrado, ao analisar o caso concreto, avaliará sua condição de forma a maximizar
sua proteção.

147
REFERÊNCIAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1962.
ABDALLA FILHO, Elias. CHALUB, Miguel. TELLES, Lisieux E. de Borba. Orgs.
Psiquiatria Forense de Taborda. 3ª Edição. Porto Alegre: Artmed Editora, 2016.
E-book, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=YBMlCwAAQBAJ&printsec=frontcover&
dq=isbn:8582712820&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwjf3MiKqrbeAhXFHJAKHbaZCjkQ6AEIKTAA#v=onepa
ge&q&f=false> acesso em 2-nov-2018.
ABREU, José. O Negócio Jurídico e a sua Teoria Geral. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
1988.
ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983.
ALVES, Rainer Grigolo de Oliveira. FERNANDES, Marcia Santana. GOLDIN, José
Roberto. Autonomia, Autodeterminação e Incapacidade Civil: uma Análise sob a
Perspectiva da Bioética e dos Direitos Humanos. In Revista de Direitos e
Garantias Fundamentais, vol. 18, n. 3, p. 239-266. Vitória: FDV, set/dez, 2017.
ALVIM, J. E. Carreira. Tomada de decisão apoiada. in Revista Brasileira de Direito
Processual – RDBProo, ano 23, p. 83-96. Belo Horizonte: out/dez, 2015.
AQUINO, São Tomás de. Suma de Teología. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos,
4ª ed., 2001.
ARAUJO, Luiz Alberto David. A Proteção Constitucional das Pessoas com Deficiência
e o Cumprimento do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. In MIRANDA,
Jorge. SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Tratado Luso Brasileiro da
Dignidade Humana. São Paulo: Quartier Latin, 2009.
________________. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seus Reflexos na Ordem Jurídica Interna no Brasil. In FERRAZ, Carolina
Valença. LEITE, George Salomão. LEITE, Glauber Salomão. LEITE, Glauco
Salomão (coord.). Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São Paulo:
Saraiva, 2012.
ARAÚJO, Marcelo Labanca Corrêa de. O Direito das Pessoas com Deficiência à
Participação na Vida Pública e Política. In FERRAZ, Carolina Valença. LEITE,

148
George Salomão. LEITE, Glauber Salomão. LEITE, Glauco Salomão (coord.).
Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012.
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil - Teoria Geral. Volume II. 2ª ed. Coimbra:
Coimbra Editora, 2003.
________________. Direito Civil - Teoria Geral. 3ª ed. São Paulo: Saraiva. 2010.
________________. O Início da Vida. In: Estudos de Direito da Bioética, Vol. II, p. 9-
28. Coimbra: Almedina, 2008.
________________. Pessoa, Direitos Fundamentais e Direito da Personalidade. In:
Estudos de Direito da Bioética, Vol. III, p. 51-75. Coimbra: Almedina, 2009.
ASSUMPÇÃO, Letícia Franco Maculan. O Estatuto da Pessoa com Deficiência sob a
Perspectiva de Notários e Registradores. Disponível em:
<http://www.notariado.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=N
jc3MA>. Acesso em 25.abr.2016.
AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral do Direito Civil – Parte Geral. São Paulo: Atlas.
2012.
AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia.
4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
________________. Estudos e Pareceres de Direito Privado: com Remissões ao
Novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2004.
BETTI, Emílio. Teoria Geral do Negócio Jurídico. Trad. GAMA, Ricardo Rodrigues.
Campinas: LZN Editora, 2003.
BEVILAQUA, Clovis. Codigo Civil dos Estados Unidos do Brasil Commentado –
volume I. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1916.
________________. Codigo Civil dos Estados Unidos do Brasil Commentado –
volume I. 11ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1956.
BEZERRA, Rodrigo José Rodrigues. A Funcionalização da Autonomia Contratual e
seu Reflexo na Formação do Direito Subjetivo. In Revista da ESMAL, n. 6, p.
105-120. Alagoas: nov., 2017.
CAMPILONGO, Celso Fernandes. O Direito na Sociedade Complexa. 2ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2011.
________________. Política, sistema jurídico e decisão judicial. 2ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2011.

149
CARRIDE, Norberto de Almeida. Vícios dos Negócios Jurídicos. São Paulo: Saraiva,
1997.
CARVALHO, Erenice Natália Soares de. MACIEL, Diva Maria Moraes de Albuqurque.
Nova Concepção de Deficiência Mental segundo a American Association on
Mental Retardation – aamr: sistema 2002. In Temas em Psicologia da SBP, vol.
11, nº 2, p. 147-156. Brasília: 2003.
CARVALHO, Francisco Pereira de Bulhões. Incapacidade Civil e Restrições de Direito
– Tomo I. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1957.
________________. Incapacidade Civil e Restrições de Direito – Tomo II. Rio de
Janeiro: Editor Borsoi, 1957.
CARVALHO, Suzy Anny Martins. FREITAS, Ana Carla Pinheiro. Pessoa com
Deficiência Intelectual ante a Lei nº 13.146/15. In Revista da AGU, v. 17, nº 01,
p. 313-332. Brasília: jan./mar. 2018.
CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
CASTRO, Torquato. Teoria da Situação Jurídica em Direito Privado Nacional. São
Paulo: Saraiva, 1985.
CELS – CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES. Situación de las personas
con discapacidad en la Argentina. 1-ago-2017. Disponível em
<https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/situacion-de-las-personas-con-
discapacidad-en-la-argentina/>. Acesso em 7-out-2018.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil, v. 1: Parte Geral. 8ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016.
COMMITTEE ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES. Concluding
observations on the initial report of Argentina. 8-out-2012. Disponível em
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
lno=CRPD%2fC%2fARG%2fCO%2f1&Lang=en> Acesso em 22-out-2018.
________________. Concluding observations on the initial report of Austria. 30-set-
2013. Disponível em
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
lno=CRPD%2fC%2fAUT%2fCO%2f1&Lang=en> Acesso em 22-out-2018.
________________. Concluding observations on the initial report of Canada. 8-mai-
2017. Disponível em

150
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
lno=CRPD%2fC%2fCAN%2fCO%2f1&Lang=en> Acesso em 22-out-2018.
________________. Concluding observations on the initial report of Chile. 13-abr-
2016. Disponível em
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
lno=CRPD%2fC%2fCHL%2fCO%2f1&Lang=en> Acesso em 22-out-2018.
________________. Concluding observations on the initial report of Iran. 10-mai-
2017. Disponível em
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
lno=CRPD%2fC%2fIRN%2fCO%2f1&Lang=en> Acesso em 22-out-2018.
________________. Concluding observations on the initial report of Italy. 6-out-2016.
Disponível em
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
lno=CRPD%2fC%2fITA%2fCO%2f1&Lang=en> Acesso em 22-out-2018.
________________. Concluding observations on the initial report of Portugal. 20-mai-
2016. Disponível em
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
lno=CRPD%2fC%2fPRT%2fCO%2f1&Lang=en> Acesso em 22-out-2018.
________________. Concluding observations on the initial report of Russian
Federation. 9-abr-2018. Disponível em
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
lno=CRPD%2fC%2fRUS%2fCO%2f1&Lang=en> Acesso em 22-out-2018.
________________. Concluding observations on the initial report of Thailand. 12-mai-
2016. Disponível em
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
lno=CRPD%2fC%2fTHA%2fCO%2f1&Lang=en> Acesso em 22-out-2018.
________________. Concluding observations on the initial report of United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland. 3-out-2017. Disponível em
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
lno=CRPD%2fC%2fGBR%2fCO%2f1&Lang=en> Acesso em 22-out-2018.
________________. General comment no. 1 (2014) – Article 12: equal recognition
before the law. 19-mai-2014. Disponível em

151
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbo
lno=CRPD/C/GC/1&Lang=en> Acesso em 2-set-2018.
________________. Equality and non-discrimination; equal recognition before the
law; fredoom of expression.; political participation. Communication no. 11/2013.
Gemma Beasley X Austrália. Julg. 1-abr-2016. Disponível em
<http://juris.ohchr.org/Search/Details/2142> Acesso em 2-set-2018.
________________. Equality and non-discrimination; equal recognition before the
law; fredoom of expression.; political participation. Communication no. 13/2013.
Michael Lockrey X Austrália. Julg. 1-abr-2016. Disponível em <
http://juris.ohchr.org/Search/Details/2143> Acesso em 2-set-2018.
________________. Acess to court, mental and intelectual disability, exercise of legal
capacity, deprivation of liberty, discrimination on the ground of disability,
restriction of rights. Communication no. 7/2012. Marlon James Noble X Australia.
Julg. 2-set-2016. Disponível em <http://juris.ohchr.org/Search/Details/2144>
acesso em 2-set-2018.
________________. Acess to court, exercise of legal capacity, reasonable
accommodation. Communicarion no. 30/2015. Boris Makarov e Glafira Makarov
X Lituânia. Julg. 18-ago-2017. Disponível em
<http://juris.ohchr.org/Search/Details/2392> acesso em 2-set-2018.
COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das Obrigações. 12ª ed. Coimbra: Almedina,
2009.
CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Quórum. 2ª ed. 2008.
DADALTO, Luciana. Testamento Vital. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2015.
DIDIER FILHO, Fredie (coord.). Estatuto da Pessoa com Deficiência, Incapacidades
e Interdição. Salvador: Juspodivm, 2016.
DILLER, Rebekah. Legal capacity for all: including older persons in the shift from adult
guardianship to supported decision-making. Fordham Urban Law Journal, vol.
43. 2016.
DINERSTEIN, Robert. GREWAL, Esme Grant. MARTINIS, Jonathan. Emerging
international trends and practices in guardianship law for people with disabilities.
ILSA Journal of International & Comparative Law, vol. 22. 2016.
DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada. São
Paulo: Saraiva, 1994.

152
FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Parte
Geral e LINDB. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2015.
FERRAZ, Carolina Valença. LEITE, Glauber Salomão. Da Igualdade e da Não
Discriminação. In LEITE, Flávia Piva Almeida. RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes.
COSTA FILHO, Waldir Macieira da (coord.). Comentários ao Estatuto da Pessoa
com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2016.
FERRAZ, Carolina Valença. Dos Direitos da Pessoa com Deficiência nas Relações
Familiares. In FERRAZ, Carolina Valença. LEITE, George Salomão. LEITE,
Glauber Salomão. LEITE, Glauco Salomão (coord.). Manual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012.
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Conceito de Sistema no Direito: uma Investigação
Histórica a partir da Obra Jusfilosófica de Emil Lask. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1976.
FIUZA, César. Direito Civil – Curso Completo. 18ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016.
FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O Novo Conceito Constitucional de Pessoa
com Deficiência: um Ato de Coragem. In FERRAZ, Carolina Valença. LEITE,
George Salomão. LEITE, Glauber Salomão. LEITE, Glauco Salomão (coord.).
Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012.
FUJITA, Jorge Shiguemitsu. SCAVONE JR., Luiz Antonio. CAMILLO, Carlos Eduardo
Nicoletti. TALAVERA, Glauber Moreno (coordenadores). Comentários ao Código
Civil – Artigo por Artigo. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2014.
GAGLIANO, Pablo Stolze. Estatuto da Pessoa com Deficiência e Sistema de
Incapacidade Civil. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 20, n. 4411, 30 jul.
2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/41381>. Acesso em: 25 abr.
2016.
GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil
– Parte Geral. 14ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012.
________________. Novo Curso de Direito Civil – Parte Geral. 18ª ed. São Paulo:
Saraiva. 2016.
________________. Manual de Direito Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
GALINDO, Bruno. Direito à Liberdade: Dimensões Gerais e Específicas de sua
Proteção em Relação às Pessoas com Deficiência. In FERRAZ, Carolina

153
Valença. LEITE, George Salomão. LEITE, Glauber Salomão. LEITE, Glauco
Salomão (coord.). Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São Paulo:
Saraiva, 2012.
GANNER, Michael. Austrian Guardianship Law – status 2016 and upcoming reform.
Disponível em:
<https://www.wcag2016.de/fileadmin/Mediendatenbank_WCAG/Tagungsmateri
alien/Allgemeine_Infos/Ganner_Austrian_Guardianship_2016.pdf>, acesso em
14-out-2018.
GHERSI, Carlos Alberto. Contratos Civiles y Comerciales. Tomo I. 6ª ed. Buenos
Aires: Editorial Astrea, 2006.
GIORGI, Raffaele de. Luhmann e a Teoria Jurídica dos anos 1970. In CAMPILONGO,
Celso Fernandes. O Direito na Sociedade Complexa. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
2011.
GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Parte Geral. 10ª ed. São
Paulo: Saraiva. 2012.
GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Ontologia: Uma Questão Prévia da Ordem
Jurídica. In: Estudos de Direito da Bioética, Vol. II, p. 125-182. Coimbra:
Almedina, 2008.
GONÇALVES, Guilherme Leite. BÔAS FILHO, Orlando Villas. Teoria dos Sistemas
Sociais – Direito e Sociedade na Obra de Niklas Luhmann. São Paulo: Saraiva,
2013.
GONÇALVES, Luiz da Cunha. Princípios de Direito Civil Luso-Brasileiro – vol. I Parte
Geral, Dos Direitos Reais ou Direitos Sôbre as Cousas. São Paulo: Max
Limonad, 1951.
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Autopoiese do Direito na Sociedade Pós-Moderna
– Introdução a uma Teoria Social Sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
1997.
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. A Limitação da Autonomia Privada
nos Direitos Reais e Pessoais. In Revista de Direito Privado, v. 14, p. 281-299.
São Paulo: RT, abr/jun, 2003.
GUGEL, Maria Aparecida. O Direito ao Trabalho e ao Emprego: a Proteção na
Legislação Trabalhista. In FERRAZ, Carolina Valença. LEITE, George Salomão.

154
LEITE, Glauber Salomão. LEITE, Glauco Salomão (coord.). Manual dos Direitos
da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012.
JHERING, Rudolf von. A Evolução do Direito. Lisboa: José Bastos Editores, 1963.
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad.: Alex Marins.
São Paulo: Martin Claret, 2002.
LACERDA, Dennis Otte. Direitos da Personalidade na Contemporaneidade – A
repactuação semântica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 2010.
LAKS, Jerson. SUDO, Felipe Kenji. Exames, Escalas e Avaliações Complementares
em Psiquiatria Forense. In ABDALLA FILHO, Elias. CHALUB, Miguel. TELLES,
Lisieux E. de Borba. Orgs. Psiquiatria Forense de Taborda. 3ª Edição. Porto
Alegre: Artmed Editora, 2016. E-book, disponível em
<https://books.google.com.br/books?id=YBMlCwAAQBAJ&printsec=frontcover&
dq=isbn:8582712820&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwjf3MiKqrbeAhXFHJAKHbaZCjkQ6AEIKTAA#v=onepa
ge&q&f=false> acesso em 2-nov-2018.
LARENZ, Karl. Derecho de Obligaciones. Tomo I. Trad. Espanhol: BRIZ, Jaime
Santos. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1958.
LEITE, Flávia Piva Almeida. RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. COSTA FILHO, Waldir
Macieira da (coord.). Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. São
Paulo: Saraiva, 2016.
LEITE, George Salomão. A Dignidade Humana e os Direitos Fundamentais da Pessoa
com Deficiência. In FERRAZ, Carolina Valença. LEITE, George Salomão. LEITE,
Glauber Salomão. LEITE, Glauco Salomão (coord.). Manual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012.
LEITE, Glauber Salomão. O Regime Jurídico da Capacidade Civil e a Pessoa com
Deficiência. In FERRAZ, Carolina Valença. LEITE, George Salomão. LEITE,
Glauber Salomão. LEITE, Glauco Salomão (coord.). Manual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012.
LIMA, Taisa Maria Macena de. VIERIA, Marcelo de Mello. SILVA, Beatriz de Almeida
Borges e. Reflexões sobre as Pessoas com Deficiência e sobre os Impactos da
Lei nº 13.146/2015 no Estudo dos Planos do Negócio Jurídico. In Revista
Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, vol. 14, p. 17-39. Belo Horizonte: out./dez.
2017.

155
LÔBO, Paulo. Direito Civil – Parte Geral. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
________________. Com Avanços Legais, Pessoas com Deficiência Mental não são
mais Incapazes. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-ago-
16/processo-familiar-avancos-pessoas-deficiencia-mental-nao-sao-incapazes>.
Acesso em 25.abr.2016.
LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil – volume I. Rio de Janeiro:
Livraria Freitas Bastos, 1953.
LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado, v. 1: Parte Geral. 2ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2004.
________________. Curso Avançado de Direito Civil, v. 1: Parte Geral. 2ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
LOTUFO, Renan. NANNI, Giovanni Ettore (coord.). Teoria Geral do Direito Civil. São
Paulo: Atlas, 2008.
LUHMANN, Niklas. O Direito da Sociedade. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016.
________________. Introdução à Teoria dos Sistemas: aulas publicadas por Javier
Torres Nafarrete. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
LUMIA, Giuseppe. Lineamenti di teoria e ideologia del diritto. Milano: Giuffrè. 1981, 3ª
ed., p. 102-123.
MAGALHÃES, Ana Alvarenga Moreira. O Erro no Negócio Jurídico: Autonomia da
Vontade, Boa-Fé Objetiva e Teoria da Confiança. São Paulo: Atlas, 2011.
MAIA JÚNIOR, Mairan Gonçalves. A Representação no Negócio Jurídico. 2ª ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 14ª ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1994.
MEDEIROS, Maria Bernadette de Moraes. Interdição Civil: Proteção ou Exclusão. São
Paulo: Cortez, 2007.
MEIRELES, Rose Melo Venceslau. O Negócio Jurídico e as suas modalidades. In
TEPEDINO, Gustavo (coord.). A Parte Geral do Novo Código Civil: Estudos na
Perspectiva Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
MELO, Luiz Gustavo Simões Valença de. O Acesso à Justiça da Pessoa com
Deficiência: Processo Civil e Aspectos Procedimentais. In FERRAZ, Carolina
Valença. LEITE, George Salomão. LEITE, Glauber Salomão. LEITE, Glauco

156
Salomão (coord.). Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São Paulo:
Saraiva, 2012.
MELO, Nehemias Domingos de. Lições de Direito Civil – Teoria Geral. São Paulo:
Atlas. 2014.
MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência. 17ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2011.
________________. Breves considerações acerca da crítica de Jan Peter Schmidt à
concepção de Pontes de Miranda dos planos do mundo jurídico. In Revista
Fórum de Direito Civil – RFDC, ano 5, n. 12. Belo Horizonte: Ed. Fórum,
maio/ago. 2016.
MENEZES, Joyceane Bezerra de. O risco do retrocesso: uma análise sobre a
proposta de harmonização dos dispositivos do Código Civil, do CPC, do EPD e
da CDPD a partir da alteração da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. in Revista
Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, vol. 12, p. 137-171. Belo Horizonte: abr/jun
2017.
MENEZES, Joyceane Bezerra de. BARRETO, Júlia d’Alge Mont’Alverne. MOTA,
Maria Yannie Araújo. Autonomia existencial do paciente psiquiátrico usuário de
drogas e a política de saúde mental brasileira. in Revista Fórum de Direito Civil
– RFDC, ano 4, n. 10, p. 123-138. Belo Horizonte: set/dez, 2015.
MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. Direito Além da Vida – um ensaio sobre os
direitos da personalidade post mortem. São Paulo: Ed. LTr. 2009.
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo I -
Parte Geral. Introdução: Pessoas Físicas e Jurídicas. Atualizado por Judith
Martins-Costa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
________________. Tratado de Direito Privado – Tomo II – Parte Geral. Bens Fatos
Jurídicos. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1954.
________________. Tratado de Direito Privado – Tomo II – Parte Geral. Bens Fatos
Jurídicos. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. São Paulo: Bookseller, 2000.
________________. Tratado de Direito Privado – Tomo III – Negócios Jurídicos.
Representação. Conteúdo. Forma. Prova. Atualizado por Marcos Bernardes de
Mello e Marcos Ehrhardt Jr. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

157
________________. Tratado de Direito Privado – Tomo V – Eficácia jurídica.
Determinações inexatas e anexas. Direitos. Pretensões. Ações. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Editor Borsoi, 1955.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – vol. 1. 29ª ed. São Paulo:
Saraiva, 1990.
MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 31ª ed. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2014.
MORAES, Walter. Concepção Tomista de Pessoa. Um contributo para a Teoria do
Direito da Personalidade. In: Revista de Direito Privado 2, abr.-jun. 2000, p. 187-
204.
NADER, Paulo. Curso de Direito Civil, Parte Geral – vol. 1. 9ª ed. rev. e atual. Rio de
Janeiro: Forense, 2013.
NALIN, Paulo (coord.). A Autonomia Privada na Legalidade Constitucional. Curitiba:
Juruá, 2006.
NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao Pensamento Jurídico e à Teoria Geral
do Direito Privado. São Paulo: RT, 2002.
NERY, Rosa Maria de Andrade. NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de Direito Civil –
Vol. I – Tomo I – Teoria Geral do Direito Privado. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015.
________________. Instituições de Direito Civil – Vol. I – Tomo II – Parte Geral. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2015.
________________. Código Civil Comentado. 11ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais. 2014.
OLIVEIRA, Luzia Maria Borges. Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência.
Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012.
ORDINAIRE, Louise. Who Decides now and to What Extent? A Critical Reading of the
Assisted Decision-Making (Capacity) Act 2015. In Hibernian Law Journal, v. 16,
p. 91-106. Dublin: 2017.
PÈGUS, Tomás. A Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino em Forma de
Catecismo. São Paulo: Ed. Taubaté, 1942.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – vol. 1 – Introdução ao
Direito Civil; Teoria Geral de Direito Civil. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990.

158
PEREIRA, Jacqueline Lopes. MATOS, Ana Carla Harmatiuk. Avanços e Retrocessos
ao Sentido de Capacidade Legal: Panorama Prospectivo sobre Decisões
Existenciais de Pessoas com Deficiência. In Pensar Revista de Ciências
Jurídicas, v. 23, n. 3, p. 1-13. Fortaleza: jul/set, 2018.
PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na Legalidade Constitucional. Rio de Janeiro:
Renovar, 2008.
________________. Perfis do Direito Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
PETERSON, Vandana. Understanding disability under the convention on the rights of
persons with disabilities and its impact on international refugee na asylum law.
Ga. Journal of International & Comparative Law, Vol. 42:687. 2014.
PINTO JUNIOR, João José. Curso Elementar de Direito Romano. Recife: Pernambuco
Typographia Economica, 1888.
PIOVESAN, Flávia. Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência: Inovações, Alcance e Impacto. In FERRAZ, Carolina Valença.
LEITE, George Salomão. LEITE, Glauber Salomão. LEITE, Glauco Salomão
(coord.). Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva,
2012.
RÁO, Vicente. Ato Jurídico. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1981.
REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 1983.
________________. Lições Preliminares de Direito. 25ª ed. 22ª tiragem. São Paulo:
Saraiva, 2001.
REQUIÃO, Maurício. Autonomia. In DIDIER FILHO, Fredie (coord.). Estatuto da
Pessoa com Deficiência, Incapacidades e Interdição. Salvador: Juspodivm,
2016.
RESCIGNO, Pietro. Trattato di Diritto Privato. Tomo Secondo. 2ª ed. Torino: UTET,
1996.
RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. Direito à Intimidade e à Vida Privada. In FERRAZ,
Carolina Valença. LEITE, George Salomão. LEITE, Glauber Salomão. LEITE,
Glauco Salomão (coord.). Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São
Paulo: Saraiva, 2012.
RODRIGUES, Léo Peixoto. NEVEZ, Fabrício Monteiro. A Sociologia de Niklas
Luhmann. Petrópolis: Vozes, 2017.

159
RODRIGUES, Rafael Garcia. A pessoa e o ser humano no Código Civil. In
TEPEDINO, Gustavo (coord.). A Parte Geral do Novo Código Civil: Estudos na
Perspectiva Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – volume 1 – Parte Geral. 33ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2003.
________________. Dos vícios do consentimento. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1989.
________________. Dos defeitos dos atos jurídicos – vol. 1. São Paulo: Max Limonad,
1959.
________________. Dos defeitos dos atos jurídicos – vol. 2. São Paulo: Max Limonad,
1962.
RUGGIERO, Marzocca. La figura dell’Amministratore di Sostegno introdotto dalla
Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Diritto & Diritti, 2017. Disponível em
<https://www.diritto.it/la-figura-dell-amministratore-di-sostegno-introdotto-dalla-
legge-9-gennaio-2004-n-6/> Acesso em 2-set-2018.
RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil. Volume I. São Paulo: Saraiva,
1934.
SALZMAN, Leslie. Using domestic law to move toward a recognition of universal legal
capacity for persons with disabilities. in Cardozo Law Review, vol. 39. 2017.
SANTOS, J. M. de Carvalho. Código Civil Brasileiro Interpretado – volume I –
Introdução e Parte Geral. 10ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1963.
________________. Código Civil Brasileiro Interpretado – volume II – Parte Geral. 8ª
ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1961.
SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito Previdenciário Esquematizado. 3ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2013.
SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema do Direito Romano Atual – vol. VIII. Ijuí: Editora
Unijuí, 2005.
SCHMIDT, Jan Peter. Vida e obra de Pontes de Miranda a partir de uma perspectiva
alemã – Com especial referência à tricotomia “existência, validade e eficácia do
negócio jurídico”. In Revista Fórum de Direito Civil – RFDC. Ano 3, n. 5. Belo
Horizonte: Ed. Fórum, jan./abr. 2014.
SERRANO, Mônica de Almeida Magalhães. SERRANO JÚNIOR, Vidal. O Sistema de
Saúde no Brasil e as Pessoas com Deficiência. In FERRAZ, Carolina Valença.
LEITE, George Salomão. LEITE, Glauber Salomão. LEITE, Glauco Salomão

160
(coord.). Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva,
2012.
SILVA, Benedicto (coord.). Dicionário de Ciências Sociais – 2º vol. – N a Z. Rio de
Janeiro: Ed. da Fundação Getúlio Vargas, 1986.
SILVA, Jéssica Aline Caparica da. A ação de direito material, segundo Marcos
Bernardes de Mello. In Revista Fórum de Direito Civil – RFDC, ano 3, n. 7. Belo
Horizonte: Ed. Fórum, set./dez. 2014.
SILVA, Roberta Cruz da. Direito à Saúde. In FERRAZ, Carolina Valença. LEITE,
George Salomão. LEITE, Glauber Salomão. LEITE, Glauco Salomão (coord.).
Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012.
SIMÃO, Jose Fernando. Estatuto da Pessoa com Deficiência causa perplexidade
(Parte I). Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-
estatuto-pessoa-deficiencia-causa-perplexidade>. Acesso em 25.abr.2016.
________________. Estatuto da Pessoa com Deficiência causa perplexidade (Parte
II). Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-ago-07/jose-simao-estatuto-
pessoa-deficiencia-traz-mudancas>. Acesso em 25.abr.2016.
SLOBOGIN, Christopher. Eliminating mental disability as a legal criterion in deprivation
of liberty cases: the impact of the Convention on the Rights oh Persons with
Disabilities on the insanity defense, civil commitment, and competency law. Law
& Psychology Review, Vol. 40. 2016.
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: Método. 2011.
________________. Alterações do Código Civil pela lei 13.146/2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência). Repercussões para o Direito de Família e
Confrontações com o Novo CPC. Parte I. Disponível em:
<http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI224217,21048-
Alteracoes+do+Codigo+Civil+pela+lei+131462015+Estatuto+da+Pessoa+com>
. Acesso em 25.abr.2016.
________________. Alterações do Código Civil pela lei 13.146/2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência). Repercussões para o Direito de Família e
Confrontações com o Novo CPC. Parte II. Disponível em:
<http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI225871,51045-
Alteracoes+do+Codigo+Civil+pela+lei+131462015+Estatuto+da+Pessoa+com>
. Acesso em 25.abr.2016.

161
________________. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Capacidade
Testamentária Ativa. In Revista do Pensamento Jurídico, Vol. 10, nº 2. São
Paulo: Fadisp, jul/dez, 2016.
TELLES JUNIOR, Goffredo. Em homenagem a Miguel Reale: uma revisão dos
conceitos de personalidade, dos direitos da personalidade e do direito do autor.
In Direito, Política, Filosofia, Poesia. São Paulo: Saraiva, 1992.
TERRA, Aline de Miranda Valverde. TEIXEIRA, Ana Carolina Brochardo. A
capacidade civil da pessoa com deficiência no direito brasileiro: reflexões a partir
do I encuentro internacional sobre los derechos de la persona con discapacidad
en el derecho privado de España, Brasil, Italia y Portugal. In Revista Brasileira
de Direito Civil – RBDCivil, vol. 15, p. 223-233. Belo Horizonte: jan/mar, 2018.
TOMAZETTE, Marlon; ARAÚJO, Rogério Andrade Cavalcanti. Estatuto da Pessoa
com Deficiência: crítica à incapacidade de fato. Revista Jus Navigandi, Teresina,
ano 20, n. 4449, 6 set. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/42271>.
Acesso em: 25 abr. 2016.
VELASCO, Ignácio M. Poveda. Breves Considerações a Respeito do Pensamento
Romanista Brasileiro Anterior à Codificação em Matéria de Pessoas. In Revista
de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, ano 14, v. 52. São Paulo: RT,
abr/jun, 1990.
VELOSO, Zeno. Estatuto da pessoa com deficiência: Uma nota crítica. In:
<https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/338456458/estatuto-da-pessoa-
com-deficiencia-uma-nota-critica> acesso em 17-nov.-2018.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Parte Geral. 14ª ed. São Paulo: Atlas. 2014.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. DIDIER JR., Fredie. TALAMINI, Eduardo. DANTAS,
Bruno (coordenadores). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil.
São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015.
XEXÉO, Leonardo Monteiro. Direitos da Personalidade: Precisão Conceitual a partir
do seu Objeto. Revista de Direito Privado. Ano 18, n. 74. São Paulo: Revista dos
Tribunais, fev-2017.
ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade – aspectos
essenciais. São Paulo: Saraiva. 2011.

162