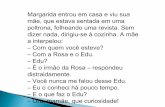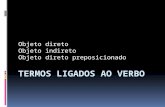PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC … Alves da... · identificação de autores...
Transcript of PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC … Alves da... · identificação de autores...
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP
Mauro Alves da Costa
Alteridade em Dissertação e Tese: o pesquisador frente aos teóricos
DOUTORADO
LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDO DA LINGUAGEM
SÃO PAULO 2008
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP
MAURO ALVES DA COSTA
Alteridade em Dissertação e Tese: o pesquisador frente aos teóricos
Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção de título de doutor em Lingüística Aplicada e Estudo da Linguagem sob orientação da Profa. Dra. Elisabeth Brait.
SÃO PAULO 2008
BANCA EXAMINADORA
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
DEDICATÓRIA
À minha mãe (in memoriam), Cynea, 75, mulher simples, sofrida, lutadora e alegre
que sempre se esforçou para que eu, e os demais irmãos (6) e irmãs (3), tivesse a
escolaridade;
Ao meu pai (in memoriam), Moacyr, 65, homem rude, trabalhador e alegre, que
sempre se esforçou para providenciar a comida e a escola para a família.
À minha mulher, Denair, 38, que apoiou a continuidade de meus estudos no
doutorado, apesar de todos os conflitos conjugais e dívidas financeiras.
Às minhas filhas, Nicoli, 12, e Paula, 6, e ao meu filho, Filipi, 5, que fiz sofrer por
cinco anos, para que se inspirem no pai que lutou para concretizar esse sonho.
Ao meu amigo, José Vollmer, padre, que não só meu ajudou na aprendizagem da
língua inglesa, mas esteve comigo em momentos difíceis, sempre me apoiando e
incentivando.
Aos meus alunos, sejam do ensino médio como do ensino superior, que
continuamente despertam em mim o gosto pela pesquisa, publicação e
comunicações em congressos.
AGRADECIMENTOS
A Deus, que me deu a vida e a fortaleza para que eu pudesse enfrentar tantos
obstáculos para a conclusão do doutorado.
A Beth Brait, minha coordenadora e orientadora, que acreditou em mim e, sofrendo
junto, ajudou na formação de minha consciência de pesquisador.
Às professoras Maria Cecília Perez de Souza-e-Silva, Fernanda Coelho Liberali,
Maximina Maria Freire, Anna Rachel Machado, pela dedicação e atenção aos meus
estudos.
Ao CNPq, que possibilitou a continuidade no doutorado através da concessão de
bolsa de estudo.
Ao LAEL, que jamais esquecerei e que pretendo voltar para mais reflexões e
estudos.
Aos funcionários do LAEL, como Maria Lúcia e Márcia, pessoas que sempre me
compreenderam e me ajudaram no enfrentamento das dificuldades burocráticas.
Aos membros do grupo de pesquisa, Adail Sobral, Paulo Stella, Rosineide Mello,
Willian Cereja, Andréia e tantos outros que trilharam o mesmo caminho, com ritmos
diferentes, e fortaleceram a construção de minha consciência científica.
Ao Urbano e sua família, que me acolheu em sua casa nos momentos de dificuldade
financeira, que um dia eu possa retribuir esse carinho e atenção.
A Márcio Maieski, amigo de caminhada, com o qual dialoguei muitas vezes sobre o
tema de meu trabalho de pesquisa.
As pessoas que encontrei e dialoguei ao longo desses anos e que, de alguma forma,
contribuíram para eu chegar até aqui.
Pergunta e resposta não são relações (categorias)
lógicas; não podem caber em uma só consciência (uma e
fechada em si mesma); toda resposta gera uma nova
pergunta. Perguntas e respostas supõem uma distância
recíproca.
Mikhail Bakhtin
RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo sobre as formas de alteridade em
Dissertações e Tese à luz dos estudos enunciativo-discursivos de
Bakhtin e seu Círculo, e, de modo especial, do conceito de alteridade,
procurando identif icar as interações e as posições que o pesquisador
estabelece com os teóricos. O corpus do trabalho é constituído por
duas Dissertações e uma Tese. As Dissertações são da PUC-SP e
foram elaboradas em dois Programas de Pós-Graduação: Educação
(Currículo) e Lingüística Aplicada e Estudo da Linguagem — LAEL; e a
Tese, do Instituto de Estudos da Linguagem — IEL — da Unicamp. Os
textos, todos da década de 1990, foram separados em intervalos de
três anos (1993, 1996 e 1999) e tratam, sob diferentes perspectivas, de
um tema que tem sido relevante ao longo dos anos: a interação entre
professor e aluno na sala de aula. A metodologia tem duas dimensões:
uma dimensão quantitativa — coleta de dados para o corpus,
identif icação de autores citados, verbos dicendi e esquemas do
discurso citado direto e indireto — e uma dimensão de interpretação
dos atos l ingüístico-enunciativos do pesquisador frente aos teóricos.
Nessa dimensão, procuramos interpretar os papéis atribuídos aos
teóricos pelo pesquisador, a posição que este assume na interação
com aqueles, e o pesquisador que resulta dessa interação nas
Dissertações e na Tese. Dentre os resultados obtidos descobrimos que,
tanto nas Dissertações como na Tese, a interação do pesquisador com
os teóricos ocorre de forma diferenciada quanto à qualidade e à
quantidade. E dentre as conclusões, uma delas é que em cada
Dissertação e na Tese identif icamos um pesquisador que se construiu
na interação com os teóricos, seu outro.
Palavras-chave: Alteridade. Dissertação. Interação. Pesquisa. Pesquisador. Tese. Texto.
ABSTRACT
This work presents a study of alterity forms in research texts according
to the enunciative-discursive studies of Bakhtin, and in a special way
the concept of alterity, in order to identify the interactions and the
posit ions the researcher establishes with his other in academic genre,
dissertation and thesis. The corpus is constituted by two dissertations
and a thesis. The dissertations, which are from PUC (SP), were
elaborated in two Post-Graduations Programs: Education (Curriculum)
and Applied Linguistic and Language Study (LAEL); and the thesis,
from the Language Study Institute – IEL – (UNICAMP). The
methodology has two dimensions: a quantitative dimension data
organization, identif ication of authors, dicendi verbs and cited
discourse forms; and a dimension of interpretation of the researcher
interaction with his other in research texts. In these dimensions,
intenta to interpret the roles attr ibuted to the other by the researcher,
the posit ion that’s he assumes in the interaction with the other and the
researcher result ing from this interaction. The texts, al l from the 1990s,
were separated by a three-year interval (1993, 1996, and 1999) and
deal from different perspectives with, a very common theme that has
been relevant during these years, the interaction teacher-student in the
classroom. They are a representative sample for explaining the most
relevant aspects of the researcher interaction with the other in the
construction of the scientif ic text and about the main ways in which the
researcher “constructs” herself in the interaction with the other.
Keywords: Academic genre. Alterity. Dissertation Interaction. Research. Researcher. Thesis. Text.
LISTA DE QUADROS
QUADRO 1: NÍVEIS DE INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 17
QUADRO 2: VERBOS DICENDI .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
QUADRO 3 : NÍVEL DA COMPREENSÃO: OBJETIVO, QUESTÕES E
TÓPICOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
QUADRO 4 : NÍVEL DA CLASSIFICAÇÃO: OBJETIVO, QUESTÃO E
TÓPICOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
QUADRO 5 : NÍVEL DO ANALISAR: OBJETIVOS, QUESTÃO E
TÓPICOS. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
QUADRO 6: NOMES DE TEÓRICOS NA INTRODUÇÃO ..... . . . . . . . . . . . . . . . 80
QUADRO 7 : TEÓRICOS E NÚMEROS DE OBRAS NAS REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
QUADRO 8: TEÓRICOS CITADOS NOS CAPÍTULOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
QUADRO 9: TEÓRICOS CITADOS NAS CONSIDERAÇÕES FINAIS ... 85
QUADRO 10 : EXPRESSÕES NA FORMAS ENCONTRADAS NOS
CAPÍTULOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
QUADRO 11 : NOMES DE TEÓRICOS E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
QUADRO 12: TEÓRICOS MAIS CITADOS NOS CAPÍTULOS ..... . . . . . 117
QUADRO 13: EXPRESSÕES NA FORMAS ENCONTRADAS ..... . . . . . . 120
QUADRO 14: OS TEÓRICOS NO TESE ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
QUADRO 15: TEÓRICOS NOS CAPÍTULOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
QUADRO 16 :EXPRESSÕES NA FORMAS ENCONTRADAS NOS
CAPÍTULOS..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
QUADRO 17 : TEÓRICOS QUE APARECEM FORA DE PARÊNTESES
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
QUADRO 18: TEÓRICOS MAIS CITADOS NO CORPUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
QUADRO 19: INTERAÇÃO E POSIÇÃO DO PESQUISADOR ...... . . . . . 161
QUADRO 20: CLASSIFICAÇÃO DO PESQUISADOR .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 QUADRO 21: VERBOS DICENDI MAIS USADOS NO CORPUS . . . . . . . 164
QUADRO 22: TEÓRICOS MAIS CITADOS NO CORPUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO......................................................................................................... 11
CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA...................................................... 20 1 O OUTRO EM BAKHTIN E SEU CÍRCULO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2 O OUTRO EM TODOROV ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 A INTERAÇÃO VERBAL .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4 O AUTOR E O TEXTO..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5 DISSERTAÇÃO E TESE .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6 O OUTRO NAS FORMAS DE DISCURSO CITADO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 6.1 Formas do discurso citado: direto e indireto .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6.2 Variantes do discurso indireto e discurso direto .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6.3 Verbos dicendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA: CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS...... . 68 1 O CAMINHO DA ESCOLHA DOS DADOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2 O CAMINHO DA CONSTITUIÇÃO DO CORPUS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3 O CAMINHO DA TRÍADE OBJETIVOS-QUESTÕES-TÓPICOS ..... . . . . 71 4 O CAMINHO DOS RECURSOS..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5 O CAMINHO DA ANALOGIA: O PESQUISADOR E A CLASSIFICAÇÃO DE TODOROV ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 6 O CAMINHO DO GÊNERO, DO QUALITATIVO E DO QUANTITATIVO.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
CAPÍTULO 3 – DISSERTAÇÃO E TESE: A CONSTRUÇÃO DO PESQUISADOR ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1 PRIMEIRA DISSERTAÇÃO (1993): ESTUDO SOBRE A INTERAÇÃO PROFESSOR E ALUNO EM SALA DE AULA: AS PERGUNTAS DO PROFESSOR .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1.1 O contexto de integração do outro ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1.2 O nome dos outro no contexto .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1.3 O outro nas formas de discurso citado .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1.4 O outro nas referências bibliográficas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 1.5 Posições do pesquisador na interação com o outro .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1.5.1 Como o pesquisador integra o outro no contexto .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1.5.2 Como o pesquisador justif ica a integração do outro no texto ..... 98 1.5.3 Qual o papel atribuído ao outro pelo pesquisador no texto .... . . . . 99 1.5.4 Que posições o pesquisador assume na interação com o outro. 101 1.6 A construção do pesquisador diante dos teóricos .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1.7 Conclusões parciais ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 2 SEGUNDA DISSERTAÇÃO (1996): A EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE À EXCLUSÃO DO ALUNO CEGO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
2.1 O contexto de integração do outro ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 2.2 O nome do outro no contexto ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 2.3 O outro nas formas de discurso citado .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 2.4 O Outro nas Referências Bibliográficas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2.5 Posições do pesquisador na interação com o outro .... . . . . . . . . . . . . . . .124 2.5.1 Como o pesquisador integra o outro no contexto .... . . . . . . . . . . . . . . . .124 2.5.2 Como o pesquisador justif ica a integração do outro no texto .. .125 2.5.3 Qual o papel atribuído ao outro pelo pesquisador no texto ..... .125 2.5.4 Que posições o pesquisador assume na interação com o outro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 2.6 A construção do pesquisador diante dos teóricos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 2.7 Conclusões parciais ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 3 TESE (1999): ESTUDO DA LÍNGUA FALADA E AULA DE LÍNGUA MATERNA: UMA ABORDAGEM PROCESSUAL DA INTERAÇÃO PROFESSOR/ALUNO ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 3.1 O contexto de integração do outro .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 3.2 O nome do outro no contexto ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 3.3 O outro nas formas de discurso citado .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 3.4 O outro nas referências bibliográficas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 3.5 Posições do pesquisador na interação com o outro .... . . . . . . . . . . . . . . .146 3.5.1 Como o pesquisador integra o outro no contexto .... . . . . . . . . . . . . . . . 146 3.5.2 Como o pesquisador justif ica a integração do outro no texto .. .147 3.5.3 Qual o papel atribuído ao outro pelo pesquisador no texto ..... .148 3.5.4 Que posições o pesquisador assume na interação com o outro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 3.6 A Construção do pesquisador diante dos teóricos ... . . . . . . . . . . . . . . . . .149 3.7 Conclusões parciais ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
CONSIDERAÇÕES FINAIS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 REFERÊNCIAS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 ANEXOS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 ANEXO A – PRIMEIRA DISSERTAÇÃO: VERBOS E VERBOS DICENDI ANEXO B – SEGUNDA DISSERTAÇÃO: VERBOS E VERBOS DICENDI ANEXO C – TESE: VERBOS E VERBOS DICENDI ANEXO D – PRIMEIRA DISSERTAÇÃO: SUMÁRIO ANEXO E – SEGUNDA DISSERTAÇÃO: SUMÁRIO ANEXO F – TESE: SUMÁRIO ANEXO G – PRIMEIRA DISSERTAÇÃO: REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS ANEXO H – SEGUNDA DISSERTAÇÃO: REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS ANEXO I – TESE: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
11
INTRODUÇÃO
A alteridade é um dos temas mais signif icativos no estudo da
Linguagem. Dentre tantos estudiosos que contribuíram para a
compreensão desse tema, Mikhail Bakhtin se destaca por sua
capacidade de conduzir o estudo da alteridade não só na l inguagem,
mas para as Ciências Humanas. Esse pensador russo e estudioso da
l inguagem e do discurso desenvolveu com seu Círculo, formado por
Valentin N.Volochinov, Pavel N. Medvedev e outros1, concepções
inovadoras que deixaram um legado inspirador de uma gama de
trabalhos sobre temas l ingüísticos e discursivos, f i losóficos, estéticos
etc.
Considerada elemento constitutivo da l inguagem, escopo da
teoria dialógica do Círculo, a alteridade está presente numa
diversidade de trabalhos, de diferentes perspectivas. O Pesquisador e
seu outro: Bakhtin nas Ciências Humanas de Maríl ia Amorim (2001) é
um desses trabalhos, al iás pioneiro na abordagem do pesquisador e
seu outro. Dentre outras questões relevantes no estudo da alteridade, a
autora enfatiza a interação entre o pesquisador em Ciências Humanas
e o seu outro nos momentos em que constrói seu texto. Esse trabalho
tem servido de inspiração para outros.
Nosso trabalho também se situa no campo das Ciências
Humanas, e tem como corpus Tese e Dissertações construídas em
áreas do conhecimento das Ciências Humanas. Apresentamos um
1 FARACO, Carlos A. Linguagem e Diálogo: as idéias lingüísticas do Círculo de Bakhtin. Curitiba (PR): Criar, 2003, p.15. Nessa obra são listados outros nomes que participaram do Círculo, dentre eles Kagan, Kanaev, Yudina e Pumpianski.
12
estudo sobre a presença da alteridade nesses textos, a partir da teoria
dialógica do Círculo de Bakhtin.
A alteridade como concebida pelo Círculo apresenta uma
amplitude que pode está presente em uma diversidade de estudos.
Nesse sentido, duas razões determinaram a escolha desse tema. A
primeira é a importância do conceito de alteridade na obra de Bakhtin e
seu Círculo, para analisar a importância da interação do pesquisador
com seu outro em Dissertação e Tese na esfera acadêmica. E a
segunda é colaborar, com os resultados deste trabalho, para a
compreensão da alteridade em diferentes esferas e diferentes
modalidades de textos.
Essas razões foram construídas a partir de meu percurso
acadêmico nas discussões com pesquisadores em formação no LAEL,
como Adail Sobral, Paulo Stella, Wil l iam Cereja, Rosineide Melo, dentre
outros, orientados pela professora Beth Brait por ocasião dos
Seminários de Orientação sobre estudos bakhtinianos, ministrados no
Programa de Pós-graduação, entre os anos de 2004 e 2005.
Nessas discussões, cada mestrando ou doutorando apresentava
seu projeto para que os demais pesquisadores pudessem discutir com
ele o assunto e o problema da sua pesquisa. Além da possibil idade de
comparti lhar o projeto com os outros, o grupo mantinha como laço o
fato de que todos estavam fundamentando suas pesquisas em Bakhtin
(1895-1975) e seu Círculo e ocupavam parte de suas pesquisas a
examinar conceitos do Círculo. Durante as discussões, interagíamos
mediados por temas bakhtinianos, como palavra, enunciação, textos ,
dialogismo , alteridade e outros.
Com essa perspectiva f izemos a leitura cuidadosa de textos de
Bakhtin e seu Círculo. Nesse período - 2004 a 2005 - t ivemos a
possibil idade de estudar três textos: Marxismo e Filosofia da
Linguagem (1929), Estética da Criação Verbal (1953) e Problemas da
Poética de Dostoiévski (1963). Nesses textos, o conceito de alteridade
13
pode ser encontrado nas discussões apresentadas sobre autor (que,
para escrever seu texto, tem sempre consigo a resposta presumida do
seu outro), sobre a “interdiscursividade” (as vozes no texto l i terário) e
sobre discurso citado (discurso de outro presente no texto) etc.
Com a leitura e as discussões determinamos o objetivo do
trabalho como sendo observar a alteridade em textos do gênero
acadêmico. Esse foi o primeiro passo para iniciar este trabalho, que
reflete sobre o papel colaborativo de teóricos citados em pesquisas de
mestrado e de doutorado.
A segunda razão do estudo encontra um fio na interface com
nossa vida de professor e mestrando, entre os anos de 1997 e 2000.
Por essa razão, colocamos a seguir um breve histórico do processo de
inquietação e de descoberta vivenciado nesse outro período.
A descoberta ocorre ao longo de quatro anos (1997-2000),
quando lecionávamos a disciplina Metodologia Científ ica no curso de
Ciências Econômicas de uma universidade particular no Estado de
Santa Catarina. Naquele momento, considerávamos que o diferencial
entre o aluno de ensino médio e o do ensino superior era a
possibil idade de iniciação científ ica desse últ imo. Nesse período, e a
partir dessa consideração, desenvolvemos inúmeras discussões em
sala de aula a respeito de conhecimento científ ico e do trabalho do
pesquisador na sociedade. A discussão tinha como foco "t ipos de
conhecimento", como senso comum, mas com destaque para o
científ ico. Nas discussões, desvelavam-se aos poucos os vários
sentidos da ciência, do científ ico e do cientista na sociedade, os quais
se faziam presentes na voz e nos textos dos alunos, em sua maioria
oriunda de escola pública.
Os confl itos situavam-se naturalmente entre o que já estava
construído pelos alunos sobre aqueles assuntos e aquilo que o
professor apresentava em sala de aula. Mais tarde, os textos escritos
pelos alunos e as aulas transcritas pelo professor, transformaram-se
14
em corpus de pesquisa para investigar os sentidos de ciência e de
científ ico que estavam se presentif icando na situação de sala de aula.
O cruzamento dos vários sentidos sobre esses assuntos, na voz dos
alunos, determinou a pesquisa no Mestrado (1999-2001), que teve
como objetivo discutir a construção do sujeito científ ico/pesquisador.
Desde então, as formas de construção do pesquisador têm sido
perseguidas por nós, precisamente há dez anos. Essa inquietação
conduziu-nos à decisão de desenvolver um trabalho de doutorado que
continuasse o caminho temático do Mestrado em Educação, que seguiu
a análise de discurso de linha francesa de Michel Pêcheux, mas na
qual já aparecia o que podemos chamar de um recorte bakhtiniano2. O
foco era identif icar os enunciados que pudessem ser analisados como
discursos da ciência nos textos transcritos da gravação de aula.
Apesar de a escolha dos dados recair em textos científ icos,
faltava ultrapassar o obstáculo quanto a critérios de escolha: o que
poderia determinar a escolha dos textos? Que textos poderiam servir
ao trabalho proposto? O “grito de eureca” aconteceu durante um
processo complexo vivenciado com as leituras, os diálogos, as
orientações, as aulas e a solidão. Descobrimos que a questão da
interação professor-aluno em sala de aula constitui um assunto muito
encontrado nos diversos textos científ icos, tanto na área da Educação,
como na de Lingüística Aplicada e em várias outras.
Em Lingüística Aplicada e Educação, muitas Dissertações e
Teses abordam esse assunto sob diversas perspectivas teóricas e
metodológicas. Os bancos de dados das bibliotecas on-line de
Programas de Pós-graduação permitem essa constatação. Os três
Programas de Pós-graduação (Lingüística Aplicada e Estudos da
Linguagem da PUC-SP, daqui por diante LAEL, Instituto de Estudo da
2 COSTA, Mauro A. A Construção do Sujeito Pesquisador: o papel da intertextualidade na construção do discurso. Dissertação de Mestrado. Blumenau: FURB, 2001. Em várias partes do texto, recorremos a Mikhail Bakhtin para uma melhor compreensão do assunto, e, sobretudo, quando se aborda o Texto científico na relação com outro inserido nele.
15
Linguagem, daqui por diante IEL da UNICAMP e Educação: Currículo
PUC-SP) encontramos vários textos, que serão descritos adiante no
capítulo sobre a Metodologia. Selecionamos Dissertações e Teses
pertencentes à década de 1990, justamente a época em que as
questões da sala de aula foram enfocadas pelo viés das teorias de
interação. Selecionamos um texto de três diferentes anos, alternados,
da década.
O primeiro foi uma dissertação defendida em 1993 no LAEL, o
segundo também foi uma dissertação defendida em 1996 do Programa
Educação: Currículo; e o terceiro foi uma Tese defendida em 1999 do
IEL. Dessa forma, construímos um corpus representativo para estudar a
alteridade como objetivamos neste trabalho.
As Dissertações e a Tese foram então escolhidas pelo seu tema,
pois ele possibil i tou observar a presença da alteridade na construção
desses textos e do pesquisador em cada um deles. Na Dissertação
defendida em 1993 o foco é a interação professor-aluno em sala de
aula de língua inglesa. Na Dissertação defendida em 1996 é a
interação professor e aluno com deficiência visual em aula de
Educação Física. E a Tese defendida em 1999 trata da interação
professor-aluno em sala de aula de língua materna.
Nossa abordagem da interação é diferente daquela abordada nos
textos. A interação aqui estudada é a que ocorre entre o pesquisador e
os teóricos que fundamentam as Dissertações e a Tese. Ao discutir
seu assunto de pesquisa, o pesquisador traz à cena textual uma
diversidade de teóricos na forma de discurso citado. Na interação com
eles, o pesquisador realiza atos discursivos em que, por exemplo, usa
verbos dicendi para introduzir a voz do outro no seu texto, ora citando
um autor, ora citando outro etc. Em outras palavras, o pesquisador vai
interagindo com os teóricos, tendo como motivo a discussão do assunto
que aborda. A alteridade aí estabelecida colabora com o pesquisador
para a construção de seu texto e de si mesmo como pesquisador.
16
Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é identif icar a
construção do pesquisador nas posições frente aos teóricos em
Dissertações e Tese. A abordagem tri lha o caminho da presença do
discurso do outro no texto. Para trabalhar esse objetivo, uti l izamos as
formas do discurso citado segundo Bakhtin e seu Círculo, no âmbito de
seu conceito de alteridade, tal como discutido em algumas de suas
obras. Pretendemos descobrir de que maneira a interação com o outro
é constitutiva do texto do pesquisador tanto nos momentos em que nela
é evidenciada uma posição diferente da assumida pelo pesquisador,
como nos momentos em que ela corrobora a posição do pesquisador.
Os objetivos específ icos em que se desdobra esse objetivo
geral são quatro e foram construídos a partir de três níveis:
compreender, classif icar e analisar.
No nível da Identif icação localizamos os teóricos e as formas de
discurso citado (marcas l ingüístico-enunciativas) para compreender as
formas de interação do pesquisador com os teóricos identif icados nas
Dissertações e na Tese. Após identif icar os teóricos, procuramos
classif icar o t ipo de interação do pesquisador com cada um deles nas
Dissertações e na Tese, o que entendemos como o nível da
Classif icação.
Quanto ao Nível da Análise construímos dois objetivos. No
primeiro analisamos o papel do pesquisador (Todorov) e observamos os
papéis que o pesquisador atribui aos teóricos citados nas diversas
modalidades de interação que desenvolveu com estes. No segundo,
discutimos como o pesquisador se posiciona na interação com os
teóricos que constituem seu outro. Nesse objetivo, o trabalho de
análise está voltado para a discussão das posições que o pesquisador
assume nas interações com os teóricos. No momento em que o
pesquisador introduz um autor no texto, ele também revela a posição
que assume diante desse autor.
17
Podemos, assim, i lustrar por meio do quadro abaixo como
constituímos os objetivos.
Quadro 1: Níveis de interpretação e análise
Compreensão Classificação Análise
Identif icar os teóricos citados.
Marcas l ingüísticas
Tipo de interação
O papel do pesquisador
A interação com os teóricos
As perguntas de pesquisa, por sua vez, foram construídas no
percurso da própria pesquisa de acordo com os níveis estabelecidos
nos objetivos de pesquisa.
a) Questões quanto ao nível da Identif icação:
Que teóricos são evocados nas Dissertações e Tese?
Qual o grau de freqüência dos teóricos em cada um dos três
trabalhos analisados?
b) Questão quanto ao nível da Classif icação:
Que posições o pesquisador assume com os teóricos na
interação?
c) Questão quanto ao nível da Análise:
Que pesquisador por analogia à classif icação de Todorov se
constrói em cada trabalho analisado?
18
Quanto ao tratamento da alteridade apresentamos dois sentidos:
amplo e restrito. O sentido amplo diz respeito ao entendimento da
alteridade como elemento inerente à natureza da l inguagem. Nenhum
ser humano sobrevive ou se torna sujeito sem interagir com o outro;
nascer, crescer e viver constituem uma tríade condicionada pela
interação com o outro. De forma análoga, o pesquisador também só se
constrói na interação com seu outro. Ao estudar um objeto de pesquisa,
o pesquisador conta com o outro - teóricos e leitores - para construir
seu texto. Com seus possíveis leitores, o pesquisador interage a partir
das reações presumidas; com os teóricos, o pesquisador interage para
fortalecer suas idéias a respeito do objeto estudado, seja usando-os
para corroborar seus pontos de vista ou como "outro" de que
discordam. Essas interações movimentam um processo dialógico que
resulta na construção de textos de pesquisa como Dissertação e Tese.
O sentido restrito diz respeito à diversidade da alteridade no
texto científ ico. Todo texto é produzido com a colaboração de variadas
vozes, nem todas identif icadas. Essas vozes revelam que o
pesquisador estabeleceu um processo de interação ao longo do
processo da escritura, seja em uma Dissertação ou em uma Tese. É o
caso do orientador, dos teóricos que fundamentam o trabalho, de
outros pesquisadores que integram o Grupo de Pesquisa com quem o
pesquisador comparti lhou a problemática estudada ou até mesmo
alguém externo ao trabalho do pesquisador. Assim, no caminho do
pesquisador rumo à conclusão do texto é possível interagir com uma
diversidade de outros e de várias maneiras. Neste trabalho, contudo,
escolhemos estudar o outro do pesquisador como os teóricos nas
Dissertações e na Tese.
O trabalho está dividido em quatro capítulos. O Capítulo I,
Fundamentação Teórica, apresenta os conceitos de Bakhtin e seu
Círculo, e Todorov. Esses teóricos colaboram com o trabalho por meio
de seus estudos sobre a alteridade, a interação, o autor e o texto.
Dentre os textos e obras de Bakhtin e seu Círculo, destacamos O Autor
e o Herói na Atividade Estética (1920-23) assinado Bakhtin, Marxismo e
19
Filosofia da Linguagem (1929) assinado V.N.Volochinov (mas na obra
traduzida e publicada no Brasil aparece Bakhtin/Volochinov) e
Problemas da Poética de Dostoievski (1929/1963) assinado Bakhtin. De
Todorov uti l izamos a obra A Conquista da América: a questão do outro .
O Capítulo II, Metodologia, é constituído pelos procedimentos
metodológicos que adotamos para cumprir nossos objetivos e buscar as
repostas que formulamos. Além disso, apresentamos os caminhos que
percorremos para construir a Tese.
No Capítulo III, realizamos as análises e discussões do corpus
e o intitulamos Dissertação e Tese: a construção do pesquisador .
Identif icamos o discurso do outro, a partir dos esquemas do discurso
citado proposto por Bakhtin e seu Círculo. Também recorremos à
identif icação dos verbos dicendi para observar como o pesquisador
introduz a voz dos teóricos no texto. Em seguida, desenvolvemos uma
discussão das posições que o pesquisador assume na interação com os
teóricos e fazemos uma analogia com a classif icação de Todorov.
Nas Considerações Finais , apresentamos os resultados
alcançados com a pesquisa. Nesta parte, retomamos os objetivos
delineados no início do texto e os confrontamos com os resultados
alcançados. Esclarecemos que a questão do outro, da interação, da
construção do pesquisador ainda merecem outros trabalhos, quiçá
numa perspectiva transdisciplinar.
20
CAPÍTULO I
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta parte apresentamos um recorte da teoria de Bakhtin e
seu Círculo a respeito dos conceitos de alteridade, interação, texto,
autor, discurso direto e discurso indireto, l inguagem, texto, temas
presentes em alguns de seus estudos. Também apresentamos a
classif icação de Todorov sobre a alteridade, construída a partir de seu
estudo da interação do estrangeiro europeu com os nativos latino-
americanos. Esse estudo é usado por nós, por meio de analogia, na
análise da interação do (a) pesquisador (a) com os (as) teóricos (as)
nas Dissertações e na Tese.
1 O OUTRO EM BAKHTIN E SEU CÍRCULO
A vida conhece dois centros de valor que são fundamental e essencialmente diferentes, embora correlacionados um com o outro: o eu e o outro.
Bakhtin
Para uma Filosofia do Ato
Bakhtin não dedicou uma obra ao conceito de alteridade. O
assunto é apresentado pelo pensador russo em diversos textos. Alguns
dos principais textos fundamentam nossa proposta.
No primeiro texto considerado — O Autor e a Personagem na
Atividade Estética (1922/2003) — Bakhtin desenvolve a alteridade
21
como o elemento constitutivo não só da l inguagem, mas, sobretudo, da
vida. O autor, em sua atividade, realiza uma interação com seu outro
por meio de um recorte valorativo, resultando desse ato l ingüístico a
sua obra.
No segundo texto — Problemas da Poética de Dostoievski
(1929/2002) — Bakhtin faz uma apologia de Dostoiévski por este ter
desenvolvido um texto polifônico paradigmático, no qual mostra a
capacidade do autor em enxergar um emaranhado de vozes dialogando
e, confirmando, assim, a realidade da alteridade na vida e no texto.
No terceiro texto — Marxismo e Filosofia da Linguagem
(1929/2002) — Bakhtin/Volochinov não só apresenta a alteridade como
o destino da palavra, mas também a apresenta sob a forma de discurso
citado, ou o discurso no discurso.
O eixo a ser usado nesta pesquisa é extraído do primeiro e do
terceiro textos e tem como foco o discurso do outro e o processo de
sua interação no texto. Nesse sentido, buscamos em Bakhtin e seu
Círculo um recorte discursivo-interacional, se assim podemos dizer,
para compreender a alteridade nas Dissertações e na Tese.
Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929/2002, p.122), as
discussões desenvolvidas por Bakhtin/Volochinov a respeito do signo,
da enunciação e do discurso citado permitem identif icar formas de
presença do outro. No signo, o outro é refletido e refratado. Enquanto
refletido, o signo traz a ideologia do outro; enquanto refratado, o signo
pode ser interpretado pelo outro nas diversas experiências históricas e
contradições dos grupos humanos (FARACO, 2003, p.50). Tanto nesse
caso — refratado — como no outro — refletido —, o signo revela um
território do outro. A palavra “outro” não só reflete uma ideologia a seu
respeito, como também pode ser interpretada — refratada — a partir de
uma outra ideologia. Na enunciação, o outro é a condicionante.
Enquanto fruto da interação, a enunciação mostra em seu fio a
presença do outro. O enunciador quando realiza a enunciação tem em
22
mente o enunciatário, seu outro. Assim, ao dirigir sua palavra na
enunciação, o outro aparece como condição de existência da própria
enunciação.
No discurso citado, o outro aparece como “discurso no
discurso”. O locutor apreende o discurso do outro e o introduz num
dado contexto a partir de esquemas l ingüísticos, como o discurso direto
e o discurso indireto.
Em nosso trabalho, a abordagem da alteridade ocorre por meio
da interação do pesquisador com os teóricos nas Dissertações e na
Tese, identif icando os nomes, as formas de discurso etc. Através disso,
focamos como a alteridade (teóricos) vai sendo introduzida pelo
pesquisador e, dessa forma, tornando-se colaborativa, pois ela e o
pesquisador agem juntas sob um tema de pesquisa para estudá-lo,
esclarecê-lo e oferecer o resultado à comunidade científ ica.
No texto O Autor e a Personagem na Atividade Estética, Bakhtin
(1922/2003) escreve sobre as relações entre o autor e o herói. Desse
texto f izemos três recortes que podem contribuir para a compreensão
da alteridade e suas formas de presença no texto e na interação do
autor com ela. Bakhtin afirma que nossa vida é norteada pela presença
do outro:
A bem dizer, na vida, agimos assim, julgando-nos do ponto de vista dos outros, tentando compreender, levar em conta o que é transcendente à nossa própria consciência (...) em suma, estamos constantemente à espreita dos reflexos de nossa vida, tais como se manifestam na consciência dos outros (...) (p.35-36).
A alteridade é constitutiva de nossa vida. Por ela, vemos a nós
mesmos. Por ela, julgamos, agimos e somos. O outro é a razão de ser
de nossa existência. O fundamento de nossa fala é norteado pela voz
23
do outro. No que é interpretado a respeito de qualquer fenômeno,
existe sempre a presença e a colaboração do outro.
Entendemos que isso pode ser encontrado em Dissertações e
Teses, pois nesses gêneros acadêmicos o escrito é norteado de
maneira ainda mais específica pelo outro, seja imediato — Programa de
Pós-graduação, Orientador, Banca de Qualif icação — ou mediato —
demais pesquisadores que integram a área de conhecimento em que
está situado o texto, estudiosos da l inguagem etc. Nosso trabalho
aborda o outro como os teóricos que fundamentam o trabalho do
pesquisador.
Em Dissertação e Tese os teóricos ingressam de muitas formas,
como colaboradores do pesquisador para fundamentar o pensamento
deste últ imo a respeito de um assunto. O fato de usar o pensamento do
outro, o que pode acontecer por meio do discurso direto para
questionar, comparar, concordar ou polemizar, mostra que o
pesquisador pauta seu ato de l inguagem e sua visão de mundo pelo
outro.
O Autor e a Personagem na Atividade Estética (1922/2003) trata
do excedente de visão, dentre outros assuntos. Bakhtin aborda esse
conceito falando da contemplação: “quando contemplo um homem
situado fora de mim e à minha frente, nossos horizontes concretos, tais
como são efetivamente vividos por nós dois, não coincidem.”. Assim
como a visão de cada um sobre o outro é diferente em vista do lugar
que ocupam na situação — cabeça do outro, o rosto, a expressão —,
assim também é diferente o mundo que eles vêem. O mundo é o
mesmo, mas o que falo dele é condicionado pelo lugar ocupado tanto
por mim como pelo outro.
Compreendemos esse excedente como a fronteira que existe
entre o lugar do pesquisador e o lugar de seu outro. De acordo com
Bakhtin, e seu Círculo, cada sujeito tem o seu ‘ lugar único’ no contexto
social, e, deste lugar, se dirige ao seu outro.
24
Esse excedente constante de minha visão e de meu conhecimento a respeito do outro, é condicionado pelo lugar que sou o único a ocupar no mundo: neste lugar, neste instante preciso num conjunto de dadas circunstâncias – todos os outros se situam foram de mim. (p. 43)
Pensamos no outro do pesquisador como os teóricos que ele
referencia nas Dissertações e na Tese. A consideração do excedente
revela diferenças quando da abordagem de um determinado assunto e
que podem ser relacionadas também à qualidade da abordagem. Neste
caso, os teóricos que são referenciados pelo pesquisador podem, em
hipótese, apresentar melhor abordagem do que aquele que os
referencia, o pesquisador.
Bakhtin afirma que o excedente pode ‘completar’ o que o outro
não vê ou não “viu”, o que entendemos como um ato colaborativo entre
alteridades:
O excedente de minha visão contém em germe a forma acabada do outro, cujo desabrochar requer que eu lhe complete o horizonte sem lhe t irar a originalidade. Devo identif icar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema de valores, tal como ele o vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao meu lugar, completar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele (...). (p. 45).
Segundo Bakhtin (1922/2003, p. 23), as ações oriundas do
excedente de visão “podem ser infinitamente variadas em função da
infinita diversidade de situações da vida em que eu e o outro nos
encontramos num dado momento”. Dessa forma, o fato é que do lugar
25
tanto de um, neste caso, do pesquisador, como dos teóricos, podem ser
apresentadas interpretações diferenciadas.
Contudo, tanto o pesquisador como os teóricos nunca
conquistam um lugar de onde podem “ver” tudo sobre o que estudam.
Nesse sentido, Bakhtin, (1922/2003) faz um aceno para a humildade
científ ica.
(...) eu sei que sou um indivíduo tão l imitado quanto todos os outros, e que todo outro vivencia substancialmente a si mesmo de dentro, não se personif icando essencialmente para si mesmo em sua expressividade externa. (p.35).
Entendemos isso quando delimitamos um assunto de pesquisa.
Nesse momento, pomos l imites não só para a abordagem do que será
estudado como também para nós mesmos; ou seja, encaramos nossas
condições, sejam elas intelectuais, f inanceiras, temporais, espaciais,
polít icas e tantas outras. Dentre as l imitações, a nossa visão excedente
é l imitada pelo lugar que ocupamos numa determinada circunstância da
vida. Nesse sentido, o que produzimos de pesquisa — como todo
pesquisador — é uma visão parcial de um assunto estudado.
Uma outra l imitação é a que compreendemos como do
conhecimento. Consideramos que esta l imitação pode ser
compreendida de duas maneiras. Limitação como dif iculdade para
trabalhar de forma lógica, com profundidade, criatividade, rigor e
produtividade a respeito de um assunto. Essa l imitação pode ser
superada quando participamos atentos de aulas, leituras, orientações,
discussões etc, ao longo de alguns anos num Programa de Pós-
graduação ao nível de Mestrado e Doutorado; e l imitação como uma
atitude diante do saber contra a arrogância, talvez imortalizada pelas
palavras do fi lósofo Sócrates “Sei que nada sei”. Ninguém sabe ou
escreve tudo a respeito de tudo; ninguém sabe ou escreve tudo a
26
respeito de algo. Nossa palavra é delimitada pelo outro para quem
escrevemos.
Ela é um norte, uma direção, um destino delineado pelo outro
nos momentos em que escrevemos o texto.
A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver l igada ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc).
A palavra é dirigida a alguém que a possa compreender. A
compreensão vai ocorrer se o locutor, ao usar a palavra, dirige-a ao
seu grupo de identif icação. O grupo daquele que fala é socialmente
organizado, pois isso é condição para que a palavra encontre sentido.
Compreendemos que esse grupo pode ser uma comunidade
científ ica que orienta suas pesquisas à luz de uma l inha de pesquisa,
como a bakhtiniana. A palavra dir igida encontra aí o seu lugar, é
compreendida. Quando produz um trabalho científ ico, o pesquisador faz
um acordo com o leitor afirmando que o estudo que apresenta
encontra-se situado num lugar (grupo, comunidade, Programa de Pós-
graduação etc.) e esclarece sua base teórica. Isso possibil i ta identif icar
a quem se dirige a palavra e o sentido que ela tem quando é inserida
no texto.
Mas isso não impede que outros para além da comunidade
científ ica do pesquisador possam compreender o seu estudo. A palavra
está presente em todos e todos podem usá-la. Bakhtin (1929/2002)
afirma que ninguém está vazio de palavras. Segundo ele, somos
“plenos de palavras” e por isso temos a possibil idade de compreender a
palavra do outro.
27
Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado de palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar de ‘fundo perceptivo’, é mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção com o discurso apreendido do exterior. A palavra vai à palavra. (p.147).
Nesse sentido, entendemos que o pesquisador quando recebe a
‘palavra’ do teórico em seu texto, interpreta-a a partir de sua condição
intelectual. Essa condição está relacionada com a formação intelectual
e com a consciência do pesquisador, que tende a se posicionar diante
da palavra do teórico. Ele reage à palavra do teórico. E a reação à
palavra pode revelar as interações e posições que o pesquisador
constrói com o teórico. Essa reação pode ser de concordância ou
discordância, de afirmação ou complemento, dentre outras.
Cada um de nós apresenta-se com uma consciência repleta de
palavras. É por meio delas que reagimos à palavra do outro. Tais
palavras constituem o que construímos na interação com nosso outro,
de maneira particular, na interação com pesquisadores, com
orientadores, dentre outros, e que possibil i tam a reação ao nosso
outro. Além de “dar vida” ao outro no texto, a presença dele mostra que
o pesquisador estabelece uma interação, que pode ir além de sua
relação com um teórico. A voz do teórico no texto é a voz de muitos
teóricos que com ele comparti lham valores e idéias e, por essa razão,
sua voz é múltipla.
2 O OUTRO EM TODOROV
Todorov (1999) aborda a alteridade a partir do fato histórico.
Partindo do assunto “história da descoberta e da conquista da
28
América”, ele aborda a relação dos conquistadores com o outro, que,
neste caso, são os povos que habitavam a região do Caribe e do
México no século XVI. “Como se comportar em relação ao outro? O
único meio que encontrei foi contar um história como exemplo, a
história da descoberta da conquista da América”, esclarece Todorov.
Nesse estudo ele descreve os t ipos de relação que foram
desenvolvidos na relação com o outro, recaindo o interesse desta
pesquisa na quarta parte da obra de Todorov, intitulada Conhecer
(como o outro é conhecido?).
Nessa parte, são extraídas abordagens do autor que, a nosso
ver, permitem fazer analogias com questões que discutimos como a que
procura responder como ocorre a interação do pesquisador com os
teóricos, ou a questão que trata da posição assumida pelo pesquisador
na interação com o outro. À semelhança os colonizadores assumiram
algumas posições na interação com os nativos na América, assim
também, por analogia, o autor assume posições na interação com os
autores no texto. Evidentemente, são lugares e situações diferentes,
mas o próprio Todorov esclarece que usa a história para tratar da
relação (interação) com o outro3. Antes de Todorov, Bakhtin e seu
Círculo uti l izaram a atividade estética para estudar a interação do autor
com o outro. Essas formas de estudar a interação com o outro vão
contribuindo para aprofundar o tema da alteridade. As questões
levantadas por Todorov em sua obra sobre a interação com o
colonizador, ou seja, com os nativos americanos, podem contribuir para
nossa discussão.
Na primeira parte da obra A Conquista da América: a questão do
outro, Tzvetan Todorov (1999, p.3-4) esclarece que os outros podem
ser compreendidos sob diversas perspectivas.
3 Na contracapa Todorov diz que pretende responder a seguinte questão: “como se comportar em relação ao outro? O único meio que encontrei foi contar uma história como exemplo, a história da América. Ao mesmo tempo, essa pesquisa ética é uma reflexão sobre signos, a interpretação e a comunicação, pois o semiótico não pode se pensado fora da relação com o outro.”.
29
Podem-se descobrir os outros em si mesmo, e perceber que não se é uma substância homogênea, e radicalmente diferente de tudo o que não é si mesmo; eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu também, sujeito como eu. Somente meu ponto de vista, segundo o qual todos estão lá e eu estou só aqui, pode realmente separá-los e distingui-los de mim. Posso conceber os outros como uma abstração, como uma instância da configuração psíquica de todo indivíduo, como o Outro, outro ou outrem em relação a mim. Ou então como um grupo social concreto ao qual nós não pertencemos. Esse grupo, por sua vez, pode estar contido numa sociedade: as mulheres para os homens, os ricos para os pobres, os loucos para os ‘normais’. Ou pode ser exterior a ela, uma outra sociedade que, dependendo do caso, será próxima ou longínqua: seres que em tudo se aproximam de nós, no plano cultural, moral e histórico, ou desconhecidos, estrangeiros cuja língua e costumes não compreendo, tão estrangeiros que chego a hesitar em reconhecer que pertencemos a uma mesma espécie.
Nessa descrição, Todorov apresenta algumas dimensões do
outro que discutiremos a seguir. São elas: o outro é distinto de mim,
mas ele também está em mim; o outro pode ser uma abstração ou
configuração psíquica; o outro como um grupo social dentro ou fora de
uma sociedade.
Em primeiro lugar, o outro pode ser distinto de mim, porém, ao
mesmo tempo, está em mim. Assim como por um lado, para que o eu
exista é necessário que exista também o outro, assim também no outro
existe o eu. Se o outro é concebido como uma determinada cultura,
podemos considerar que nela o outro e o eu estão misturados4, pois
nela encontramos vozes sociais que interagem e constroem os “eus”. A
cultura pode interferir não só nos hábitos do eu , mas também na visão
4 Algo semelhante diz Edgar Morin (2000, p. 211): “os indivíduos humanos produzem a sociedade em e pelas suas interações, mas a sociedade, enquanto emergente, produz a humanidade desses indivíduos, trazendo-lhes a linguagem e a cultura”.
30
de mundo do mesmo. É o caso exemplar de Gonzalo Guerrero que
Todorov trata na obra e é abordado mais adiante neste texto. Esse
personagem não só se misturou à cultura do nativo, como também se
incorporou a ela.
Em segundo lugar, o outro também é pontuado como “uma
instância da configuração psíquica de todo indivíduo” – “como o Outro,
outro ou outrem em relação a mim”. De acordo com Todorov (1999), o
outro é uma construção psíquica do indivíduo, algo como uma projeção.
É o indivíduo que cria a alteridade e com ela interage; por exemplo, no
período que precede as expedições marít imas, o imaginário de
indivíduos daquele contexto criava seres marinhos ou especulações
sobre os seres humanos que encontrariam em seus destinos até então
desconhecidos.
Por analogia, podemos considerar que ao escrever sua
Dissertação ou Tese, o pesquisador não tem certeza de como será a
recepção de seu trabalho em todos aqueles que fazem parte de sua
comunidade científ ica (o “encontro”), nem de outras comunidades afins.
E, muitas vezes, procura desenvolver previsibi l idades dessa recepção
enquanto escreve (“navega”) para o seu outro.
Em terceiro lugar, o outro pode ser “um grupo social concreto ao
qual nós pertencemos”, considera Todorov. Nesse caso, o eu interage
com uma diversidade de outros, pois vivemos numa sociedade
complexa que tem como característica fundamental a emergência de
grupos sociais. Nesses grupos, os indivíduos possuem padrões de
comportamento, acúmulo de experiências, visões de mundo dentre
outros elementos, que constroem a consciência do “nós” 5.
Contudo, na quarta parte da obra, intitulada Conhecer , em que
nos detemos mais, Todorov (1999) apresenta a partir de três eixos
como a alteridade se apresenta na interação: plano axiológico , plano
praxiológico e o plano epistêmico .
5 CASTRO, Celso A. Pinheiro de. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 2000, p.159.
31
O primeiro eixo trata de um julgamento de valor situado num
plano axiológico , onde o outro é avaliado como bom ou mau. Esse
plano é constituído por três dimensões: a do perspectivismo, a da
distribuição e a da neutralidade. Na dimensão do perspectivismo, o eu
parte da própria perspectiva do outro sobre si para desenvolver a
interação, na qual acontece ou um confronto da perspectiva, ou uma
relação com uma outra perspectiva. A dimensão distributiva ocorre
quando se entende que o outro é mais um no meio de tantos e, como
tal, tem seus valores (a cada um o seu valor). E a dimensão da
neutralidade, em que ocorre um distanciamento do eu na relação com
outro, permitindo que o outro decida os rumos de sua vida a partir dos
valores em que acredita, sem interferências externas.
No plano axiológico, Todorov (1999) i lustra a relação com o
outro a partir de uma personagem: Las Casas (1484-1566) 6. Las
Casas procura compreender a perspectiva do outro (perspectivismo),
defende-o e a seus valores diante de terceiros (distributivo) e,
f inalmente, entende que outro tem seu próprio caminho (neutralidade)
e, por isso, omite-se de qualquer ato que venha afetar a decisão do
outro. Compreender, defender e distanciar-se são ações de Las Casas
na interação com o outro.
No segundo eixo, Todorov (1999) trata da ação de aproximação
ou de distanciamento na relação com o outro; trata-se do plano
praxiológico . Destacam-se ali três elementos que se evidenciam na
relação com outro. O primeiro mostra a submissão do outro pela
imposição de uma imagem, i lustrada por Todorov (1999, p.233-235) na
personagem de Vasco de Quiroga7. Este constrói uma imagem e a
projeta sobre o outro; é um ato em que o outro é moldado de acordo
6 Tzvetan Todorov (1999, p.224) narra um pouco da biografia de Las Casas: “Las Casas passou uma série de crises , ou transformações, que o levaram a tomar uma série posições próximas, e contudo distintas, durante sua longa vida (1484-1566). Renuncia a seus índios em 1514, mas só se torna dominicano em 1522-1523, e esta segunda conversão é tão importante quanto a primeira. E uma transformação que nos interessará no momento: a que acontece no fim de sua vida, após seu retorno definitivo do México, e também após o fracasso de vários de seus projetos (...)”. 7 Vasco de Quiroga foi membro do poder administrativo do México e, mais tarde, torna-se Bispo católico de Michoacan. Acredita que o melhor modo de vida é aquele apresentado na obra Utopia do filósofo inglês Thomas More, em que todos vivem harmonicamente.
32
com o desejo e pensamento do eu que, neste caso, é o próprio Vasco
de Quiroga. Segundo Todorov (1999, p.234), Vasco de Quiroga, na
interação com os índios, “(...) vê neles, não o que são, mas o que quer
que sejam (...)”.
Assim, ao olhar o outro, cai-se no erro de enxergar somente a si
mesmo e não o fora de si. É uma ação que transposta para a arena da
pesquisa conduz a algumas reflexões a respeito do discurso citado e
da interação que estabelecemos com os teóricos que ingressam em
nossos trabalhos.
Nessa abordagem, queremos deixar claro, concordando com
vários outros pesquisadores, que nenhum olhar é neutro, ou seja, toda
vez que analisamos um objeto de pesquisa, nosso olhar é repleto da
voz do outro, constitutiva de nossa consciência. No entanto, chamamos
a atenção para os equívocos na interpretação da voz do outro ou na
tentação de reduzir nosso olhar aos aspectos previamente delimitados
e que, muitas vezes, impedem de encontrar algo novo na interação com
o outro (SOBRAL, 2005). Esses comportamentos podem se tornar um
ato de “tortura” cometido pelo pesquisador para com o corpus da
pesquisa e com os autores, no sentido de “ver” e “ouvir” o que eles não
podem revelar. Bakhtin (1930-40/2003, p.395), no texto Metodologia
das Ciências Humanas , ao tratar do objeto em Ciências Humanas,
afirma que este é “expressivo e falante” e, como tal, ele “(...) se auto-
revela” e, por isso, “não pode ser forçado e tolhido.”.
Outro elemento do plano praxiológico é o que aponta para a
identif icação do outro. O exemplo citado por Todorov (1999) é de
Gonzalo Guerrero8, que se incorpora à cultura e aos discursos do outro,
evidenciando isso no vestir e no dizer. Tal incorporação ao discurso do
outro não ocorre em período curto do tempo, ou seja, da “noite para o
dia”; pelo contrário, exige um tempo necessário de convivência para
8 Sofre um naufrágio em 1511 e vai viver com os índios. Ali se insere na cultura e chega a casar-se com uma índia. Perguntado se queria se unir às tropas espanholas, responde: “Fizeram-me cacique, e até capitão, em tempo de guerra, ora. Tenho o rosto tatuado e as orelhas furadas. Que dirão os espanhóis ao ver-me assim? E depois, vejam meus filhinhos, como são bonitos (...)”.
33
entender o outro, aceitá-lo e, assim, assumir sua posição diante do
mundo.
Bakhtin/Volochinov (1929/2002, p.114)9 afirma que “a expressão
exterior, na maior parte dos casos, apenas prolonga e esclarece a
orientação tomada pelo discurso interior — a perspectiva do
pesquisador —, e as entoações que ele contém”. Quando o pesquisador
fala no texto revela que em si encontra-se também a voz do outro,
como a voz de um teórico que fundamenta o trabalho de pesquisa.
Essa voz permeia o texto do pesquisador revelando que ele
desenvolveu uma longa e qualitativa interação com tal teórico.
No terceiro elemento abordado por Todorov (1999, p.239), o eu
adota parcialmente os valores do outro. O exemplo para esse ato é o
de Cabeza de Vaca10, como segue na citação abaixo.
Cabeza de Vaca adota os ofícios dos índios, e veste-se como eles ou f ica nu como eles, come da mesma forma que eles. Mas a identif icação nunca é completa: há uma razão “européia” para que o ofício de mascate lhe agrade, e orações cristãs em suas práticas de curador. Em momento algum esquece sua própria identidade cultural, e essa afirmação lhe serve de amparo nas provas mais difíceis.
Não existe uma identif icação total do pesquisador com seu
outro. Pois o autor está sempre parcialmente no texto. O ingresso do
discurso do outro no texto de pesquisa, nas várias formas de discurso
citado, mostra que o pesquisador estabelece interação com ele, mas
não é razão para afirmar uma identif icação de maneira absoluta.
Ingressamos o discurso do outro, mas não o outro totalmente.
9 BAKHTIN, M. idem, p.147; 10 Alvar Nuñez Cabeza de Vaca é um conquistador que, durante expedições desastrosas, vê-se obrigado “a viver com os índios, e como eles”, diz Todorov. Após conflitos com seus superiores é preso e faz dois relatos que mostram a interação que teve com os índios.
34
O terceiro eixo está situado no plano epistêmico . Todorov (1999,
p. 223-224) considera que nesse eixo “não há, evidentemente, nenhum
absoluto, mas uma gradação infinita entre os estados de conhecimento
inferiores e superiores”. Ou se conhece muito o outro (grau superior)
ou pouco se conhece (grau inferior). É o plano em que a identidade do
outro é ignorada ou conhecida. Na primeira dimensão o exemplo
escolhido por Todorov é Diego de Landa11; e na segunda, ele seleciona
dois exemplos, com particularidades muito signif icativas: Diego Duran12
e Bernadino de Sahagún13.
O pesquisador cuja ação se assemelhar a de “Diego Durán”
deseja conhecer o outro para fazer- lhe oposição com todo rigorismo.
Esse conhecimento tem sua fonte nos l ivros. Todorov (1999, p.249)
informa que Diego Durán não queimava l ivros, pois acreditava que ali
estavam informações relevantes para conhecer o outro. Sua narrativa
sobre o outro depende da leitura de escritos.
Vamos relacionar essa ação de ignorar o interpretado/escrito
com o que Bakhtin (1922/2000, p.88) afirma na obra Questões de
Literatura e de Estética: a teoria do romance, a respeito do discurso
fundante na f igura judaica. Segundo o pensador russo, “apenas o Adão
mítico que chegou com a primeira palavra num mundo virgem, ainda
não desacreditado, somente este Adão podia realmente evitar por
completo esta mútua orientação dialógica do discurso alheio para o
objeto”. A partir desse olhar, a palavra se encontra permanentemente
envolta de sentidos que resultam da interação intersubjetiva. Isso vai
11 Franciscano, bispo e autor de um dos mais importantes documentos sobre o passado dos maias: Relación de las cosas de Yucatán. Queima livros sobre os índios, afim de que não haja nenhum vestígio de suas práticas religiosas e para que, ao mesmo tempo, o cristianismo não encontre obstáculos para ser adotado enquanto religião. Por outro lado, também resolve, ele mesmo, escrever sobre os índios. 12 Nasce na Espanha, mas vai viver no México com cinco anos. Torna-se dominicano – Ordem Religiosa fundada por São Domingos – e escreve, entre os anos 1576 e 1581, a obra História de lãs Índias de Nueva Espana e Islãs de la Tierra Firme, publicada somente no século XIX. Sua postura se resume no seguinte: para eliminar o paganismo é preciso conhecê-lo. 13 Nasce na Espanha em 1499, estuda na Universidade de Salamanca e ingressa na Ordem Franciscana. Em 1529 chega ao México e aí permanece até sua morte, em 1590. “A atividade de Sahagún, um pouco como a do intelectual moderno, tem duas grandes orientações: o ensino e a escrita”, comenta Tzvetan Todorov.
35
conduzindo ao entendimento de que nenhum interpretado ou escrito é
resultado de um só, mas da interação de dois ou mais sujeitos.
Outra ação é a de Bernardino de Sahagún, também abordado
por Maríl ia Amorim (2001), que procura conhecer o outro para falar
dele sem fazer-lhe oposição. Todorov (1999, p. 268) informa que
Bernardino Sahagún decidiu aprender a língua dos índios para falar
deles. Esse ato torna-se mais signif icativo quando considerado numa
perspectiva de compreensão (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1929/2002,
p.147), em que a língua é o reflexo das relações estáveis dos falantes
de uma sociedade em um determinado contexto. Sahagún, ao aprender
a língua dos índios, também se banha na ideologia deles, mesmo que
parcialmente. Contudo, diferente de Durán, ele procura fazer um relato
objetivo do outro, no sentido de descrever e relatar o que viu, sem
impor uma imagem ao outro ou conhecê-lo para destruí-lo.
3 A INTERAÇÃO VERBAL
O texto é uma produção humana condicionado pela interação
da mesma natureza. Somente a interação humana produz o texto e,
num processo dinâmico, complexo e colaborativo, estabelece-se uma
cadeia ininterrupta de textos. Essa cadeia aproxima os falantes em
todas as situações sociais e em todos os tempos, nos quais interagindo
uns com os outros, produzem novos textos.
A interação, dentre outros conceitos, é um processo que
envolve pergunta (uma ou mais) e resposta (uma ou mais) entre
sujeitos num determinado contexto verbal ou extraverbal. Tanto a
pergunta como a resposta pode vir de um locutor como de um
interlocutor. Porém, como entende Bakhtin e seu Círculo, ninguém
nunca está sozinho; há sempre o eu e o outro para a constituição de
qualquer ato, seja este l ingüístico ou de pensamento etc.
36
Assim, um autor, ao escrever seu texto, está respondendo a
perguntas presumidas do seu interlocutor — seu outro. O interlocutor,
por seu lado, pode apresentar respostas ao autor. Neste caso,
pensamos nos teóricos referenciados e encontrados nos textos
científ icos. Eles estão ali porque têm respostas para o pesquisador-
autor.
A interação é um ato solidário, no sentido de ser realizado
junto com o outro. Por isso, torna-se difíci l aceitar alguma posição que
defenda o texto — fruto da interação — como algo monológico ou fruto
absoluto do interior de um sujeito.
A interação produz a enunciação que emerge do processo
interacional, seja este oral ou escrito. Bakhtin afirma que a enunciação
é tanto uma fala num contexto verbal escrito particular, como uma
obra/l ivro que ingressa numa cadeia i l imitada de outros enunciados
dessa magnitude. Ela “constitui uma fração de uma corrente de
comunicação verbal ininterrupta”, afirma Bakhtin/Volochinov
(1929/2002, p.123). Nenhuma enunciação é uma i lha perdida em algum
lugar desconhecido por todos. Isso é uma i lusão ou entendimento que
se distancia da compreensão de l inguagem como fenômeno social,
histórico e cultural. A dif iculdade em identif icar o sentido de um
enunciado não é justif icativa para dizer que ela é um elemento vago no
meio de um contexto. Ela é sempre social e o contexto social a colore
de sentido.
A interação também produz a palavra. E, como produto da
interação, a palavra é uma propriedade pública. Não é propriedade
privada nem do locutor nem do interlocutor. Mas, é possível ocorrer
engano, i lusão ou equívoco em acreditar que a palavra é propriedade
absoluta de alguém. Nesta pesquisa, entendemos a l inguagem como
uma construção da interação humana e, dessa forma, a palavra emerge
de um processo interacional ativo e reativo.
37
A palavra, por si só, pode ser entendida como uma aliança
entre o eu e o outro. Ou, nas palavras de Bakhtin/Volochinov
(1929/2002, p.113): “a palavra é uma espécie de ponte lançada entre
mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na
outra se apóia sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum
do locutor e do interlocutor”. Ela não pertence totalmente a nenhum dos
dois – locutor e interlocutor —, ela é social.
O social organiza o individual. O que é interpretado/escrito
para o outro num determinado contexto terá mais possibil idade de
encontrar sentido ou recepção se aquele que diz estiver sintonizado
com o contexto para o qual dir ige a sua palavra. O que ocorre dentro
de si, de sua consciência, interage com o “fora” de si. Por outras
palavras, a expressão exterior e a expressão interior são dimensões do
sujeito que interagem permanentemente.
Nenhuma enunciação é produto da natureza individual, mesmo
porque esta é resultante do social, como entende Bakhtin e seu
Círculo. A consciência individual é uma construção coletiva, ela não
nasce com o sujeito, como o cérebro humano. Ela se constrói num
determinado contexto social.
Nesse sentido, o que é expressão do interior do sujeito tem
uma relação indissociável com o exterior. A interação entre o sujeito e
o seu contexto realiza naquele uma marca condicionante de sua
expressão não só interior como também exterior. Bakhtin/Volochinov
(1929/2002, p.111) afirma que a expressão interior do sujeito é
resultante da interação que mantém no contexto social, ou seja, com o
exterior.
A atividade mental tem suas fronteiras delimitadas pelo
“território social”, como conclui Bakhtin/Volochinov (1929/2002, p. 117):
A personalidade que se exprime, apreendida, por assim dizer, do interior, revela-se um produto total da
38
inter-relação social. A atividade mental do sujeito constitui, da mesma forma que a expressão exterior, um território social. Em conseqüência, todo it inerário que leva da atividade mental (o conteúdo a exprimir) à sua objetivação externa (a enunciação) situa-se completamente em território social.
Ao produzir a enunciação, o texto e a palavra, estabelecemos
uma interação, seja num âmbito restri to, como um grupo de pesquisa,
seja num âmbito mais amplo, como uma comunidade científ ica, um
auditório que possa nos ouvir. Mas isso está condicionado à adaptação
que o meu escrito faz para ser compreendido. Finalmente, “pode-se
dizer que não é tanto a expressão que se adapta ao nosso mundo
interior, mas o nosso mundo interior que se adapta às possibil idades de
nossa expressão, aos seus caminhos e orientações possíveis”
(BAKHTIN, 1929/2002, p.118).
Contudo, em vez de um dualismo entre o interior e o exterior
do sujeito, Bakhtin/Volochinov (1929/2002, p. 123) pensa em
dialogismo. Como entende o autor, “pode-se compreender a palavra
‘diálogo’ num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação
em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação
verbal, de qualquer t ipo que seja.”. Assim, o dialogismo transcende o
diálogo face a face para atingir outros horizontes sociais, para além de
uma situação imediata e concreta. Tais horizontes estão repletos de
sentidos que dialogam num processo contínuo e renovador da
comunicação.
O l ivro é um elemento da comunicação verbal que interage
como integrante na arena de ações e reações de l inguagem sobre a
diversidade de assuntos e sentidos no contexto histórico, social e
cultural. Bakhtin/Volochinov (1929/2002, p.123) diz que “ele responde
alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções
potenciais, procura apoio etc.”. Enfim, o dialogismo bakhtiniano
39
identif ica um processo interacional ininterrupto entre os sentidos
presentes numa diversidade de situações em que se produza texto.
Finalmente, a interação é um agir t ipicamente humano condicionante de
todo processo l ingüístico. Ela é uma via de mão dupla entre o locutor e
o interlocutor; por ela que o sujeito é feito e pode contribuir com a
construção do outro, e vice-versa. A interação está em contínua
evolução, À semelhança a língua. E esta se encontra em “processo de
evolução ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social
dos locutores”, como esclarece Bakhtin (1929/2002, p.127).
Assim como a língua, a interação nunca termina; ela se
material iza numa diversidade de textos, orais e escritos, formando e
transformando a todos que neles falam. É o caso das Dissertações e
Tese. Nesses textos encontramos o outro, o teórico e o pesquisador, e
interação que eles estabelecem.
4 O AUTOR E O TEXTO
Bakhtin e seu Círculo, quando abordam o conceito de autor,
apresentam uma distinção entre o autor-pessoa e o autor-criador do
texto escrito. Em trabalho de 2005, Carlos Alberto Faraco afirma que o
autor-pessoa é crivado de valores que foram construídos socialmente e
que, no momento em que atua como autor-criador na construção de um
texto, realiza um recorte axiológico desses valores. Assim, se na vida
encontramos uma gama de eventos, sejam eles culturais, polít icos,
sociais ou científ icos, o autor-pessoa, imerso nesse contexto, faz um
ato de recortar e refratar um ou mais aspectos desses eventos para
construir seu texto, ou seja, para materializá-lo em sua obra, conforme
estuda Carlos Alberto Faraco (2005) no texto Autor e Autoria.
Neste trabalho, consideramos o autor-criador como o
pesquisador que criou seu texto num determinado gênero —
dissertação e tese —, deixando nele suas posições a respeito de algum
40
evento, neste caso, de caráter l ingüístico, educacional e científ ico, e
que realizou tudo isso na interação com o outro. Nesse sentido, o
pesquisador não só mostra a sua posição sobre um dado evento (que
em nosso trabalho é a interação professor-aluno em sala de aula), mas
também a do grupo no qual está inserido e que, para nós, pode ser o
seu grupo de pesquisa alinhado com um paradigma de sua área de
conhecimento.
Dentre os textos que abordam o autor, podemos destacar O
Autor e o Herói na Atividade Estética; O Problema do Conteúdo, do
Material e da Forma na Criação Literária; O Discurso na Vida e o
Discurso na Arte e Problemas da Poética de Dostoievski . Em cada um
deles Bakhtin faz emergir um conceito de autor que congrega em si
tanto a dimensão social como a dimensão individual.
A dimensão social do autor diz respeito ao grupo que representa
no momento em que, no seu texto, revela sua postura axiológica,
harmonizada com uma ideologia, a respeito do tema que apresenta.
Essa postura refrata no texto quando da abordagem do objeto
estudado.
A dimensão individual aponta para o caráter singular do autor.
Apesar de ele representar vozes sociais — a voz do outro, o mundo do
outro —, ele, e só ele, pode assinar o seu texto. Talvez o maior
exemplo disso seja encontrado em Dostoiévski, e é o próprio Bakhtin
quem sustenta que a assinatura faz valer a singularidade do autor
quando afirma categoricamente que esse autor é o criador do romance
polifônico. Além disso, Bakhtin fr isa que Dostoiéviski foi quem levantou
a inconclusibil idade humana (FARACO, 2005, p.46), isto é, a idéia do
humano como não concluído, acabado.
No texto escrito, autor e leitor se encontram. O horizonte, tanto
do autor como do interlocutor, é integrado no momento da produção de
seu escrito. Não se trata de um encontro empírico; o outro se encontra
com o autor nos momentos das articulações das palavras, dos
41
enunciados, enfim, nos momentos nem sempre l ineares e nem sempre
recursivos da escritura da obra. Afinal, a palavra se dirige sempre para
outro, e ele participa como uma espécie de “fundo perceptivo” sobre o
qual a palavra será recebida (AMORIM, 2001, p.122). Assim, o autor,
tanto l iterário como científ ico, se constrói e constrói seu texto numa
interação colaborativa, onde ocorrem negociações de sentidos.
Outros elementos sobre autor em Bakhtin (1920/2003, p.10)
podem ainda ser considerados. O primeiro é que o autor “é o agente da
unidade tensamente ativa do todo acabado, do todo da personagem e
do todo da obra”. Ele realiza suas ações na obra que produz e nela é
entendido como autor. Enquanto ela existir, ele é compreendido como
autor. É só na interação com ela que o autor é encontrado.
Outro elemento é aquele em que Bakhtin afirma que o autor é
aquele que cria a obra como um “dom”, uma dádiva. Ela é algo dado ao
outro. Não como algo sobrenatural, mas como construção humana e
gerada na consciência criadora do autor com seu outro colaborador.
Essa consciência, entretanto, possui um horizonte construído a partir
do contexto social e da esfera de atividade do autor.
A obra do autor tem uma direção específica, determinada pelo
contexto e pela interação que ele estabelece durante a escritura da
obra com aqueles que ingressam em sua esfera de ação social e em
sua consciência. É um ato impresso e como tal configura-se como “um
elemento da comunicação verbal” que “depende, como qualquer outra
interação verbal, da recepção ativa e da esfera em que se dá sua
produção, circulação e recepção” 14. Como escreve Bakhtin (1929/2002,
p.112), “a palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa
desse interlocutor”.
No caso de autor do gênero acadêmico, o pesquisador dir ige a
sua palavra a sujeitos da sua esfera e realiza um diálogo com os
teóricos a partir da leitura de obras que colaboram na construção de 14 BRAIT, B. Interação, Gênero e Estilo. In: PRETI, Dino (org.). Interação na fala e na escrita. 2.ed. São Paulo: Humanitas (FFLCH/USP), 2003, p.125-157.
42
seu recorte teórico. Diálogo que resulta em Dissertação ou Tese que,
por sua vez, dialogam com outras obras, inserindo-se, assim, num “elo
na cadeia da comunicação discursiva; como a réplica do diálogo, a
Dissertação e a Tese estão vinculadas a outras obras-enunciados: com
aquelas às quais ela responde, e com aquelas que lhe respondem”,
afirma Bakhtin (1952/2003, p.279).
O pesquisador, como autor-criador, ao escrever seu texto
estabelece interação com seu outro a partir de algumas condições
requisitadas não só pela esfera científ ica (como o rigor na l inguagem
científ ica), mas também pela comunidade científ ica – o Programa de
Pós-graduação – e o Grupo de Pesquisa em que trabalha diretamente.
Enfim, pelo seu grupo humano no qual ele assume posições a respeito
de seu objeto de pesquisa. É deste lugar que ele cria sua obra.
Na verdade, as atividades que o ser humano realiza com o outro
ao longo da vida resultam em texto. E todo texto é produzido em
contextos (época), seja ele social, cultural, polít ico etc. Diante disso,
estudando o texto podemos compreender o ser humano e seu contexto.
No ensaio O Problema do Texto na Lingüística, na Filologia e
em outras Ciências Humanas (1959-60/2003) 15, Bakhtin apresenta
inúmeras considerações sobre o texto em pesquisas que se
desenvolvem nas Ciências Humanas.
Uma delas diz respeito ao texto como objeto de estudo exclusivo
das Ciências Humanas. De acordo com Bakhtin (1974/2003, p.395), o
objeto dessas Ciências apresenta diferenças em relação ao objeto de
estudo em Ciências Naturais. Enquanto nessas últ imas entendemos
que o objeto de estudo não fala e nele não encontramos sujeitos — a
energia na Física ou os elétrons na Química não falam e não são
sujeitos —, nas Ciências Humanas ocorre o oposto. Nessas
encontramos sujeitos que dialogam e podem deixar seus diálogos em
textos escritos. Os sujeitos podem dialogar sobre a energia ou os
15 Idem.
43
elétrons — objetos mudos — e registrar seus diálogos em um artigo
científ ico, um trabalho de dissertação ou uma tese.
Outras condições relacionadas ao texto do pesquisador são a
estrutura, o tema e o esti lo do texto, e o gênero — que pode ser a
Dissertação e a Tese. A estrutura diz respeito à organização e aos
elementos que compõem o texto, que podem ser a introdução, o
desenvolvimento, a conclusão – integrantes da estrutura do texto nesse
gênero. O tema é o que é apresentado no texto e que mostra o sentido
do mesmo. O esti lo é o t ipo de l inguagem uti l izada no texto, que pode
ser formal, r igorosa, vulgar, condicionado pelo contexto, pela situação
e pelo lugar em que se encontra o pesquisador.
A estrutura do texto comporta, no gênero dissertação e tese,
uma padronização aceita, de maneira geral, pelos pesquisadores da
esfera científ ica nas diversas comunidades científ icas. A comunidade
científ ica de LA do LAEL apresenta uma estrutura do texto científ ico
(cf. site do Programa de Pós-graduação – Dissertações e Teses) a qual
todo pesquisador é orientado a seguir, seja este mestrando ou
doutorando, para a organização de seu texto.
O tema, por sua vez, está relacionado à l inha de pesquisa
assumida pelo pesquisador, na qual ele, e outros pesquisadores
desenvolvem trabalhos, ancorados em propostas teórico-
metodológicas. Na l inha de pesquisa Linguagem e Trabalho, uma
dessas propostas é a que fundamenta as pesquisas a partir de uma
análise dialógica que, neste trabalho, tem seu fundamento teórico em
Bakhtin e seu Círculo.
O esti lo diz respeito, dentre outros elementos, às escolhas de
palavras que o pesquisador faz quando interage com o leitor. Quando
escreve, o pesquisador tem um norte que colabora na produção de seu
texto, como a estrutura composicional proposta pelo Programa a que
ele pertence. Se por um lado ele procura se apoderar da l inguagem
científ ica, com rigor acadêmico e coerência, por outro ele sempre
44
interpreta ou discute seu objeto de pesquisa de um lugar teórico, fatos
que determinam palavras e sentidos. Seu olhar sobre algum assunto
ocorre a partir do olhar de outros. Ao abordar a alteridade no texto
científ ico, partimos do que registrou Bakhtin e seu Círculo, nas obras
que chegaram até nós. Assim, as palavras ditas e não-ditas e o
extraverbal podem ser identif icados nesta tese e se sintonizam com a
teoria bakhtiniana.
Uma outra consideração aponta para o outro no texto. Como
objeto de estudo em Ciências Humanas, o texto revela a alteridade
falante. É um objeto que além de ser falado16, é também falante. É possível não só falar dele para terceiros, como também “ouvir” o que
ele tem a dizer no texto.
Mas quem fala no texto? De acordo com Bakhtin (1974/2003,
p.308), em todo texto encontramos sujeitos. Um desses sujeitos é autor
do texto, entendido como aquele que criou o texto e o dir igiu para o
seu interlocutor. Esse últ imo e o autor colaboram (cooperam, são
parceiros etc.) para construção do texto, pois, nesse ato de l inguagem,
o interlocutor interage com o autor por meio de suas idéias e posições
sociais previamente conhecidas pelo autor. Assim, o texto é um objeto
de pelo menos duas consciências, a do autor e a do interlocutor.
Em outra consideração, Bakhtin enfatiza que em vista de o texto
ser um lugar de sujeitos, consciências, enfim, do lugar de diálogo, ele é
o dado primário da pesquisa em Ciências Humanas. Desse ponto de
vista, para pesquisar a l inguagem e sua trajetória, e tantos outros
temas das ciências humanas, temos necessariamente que partir do
texto. O texto se torna, nesse sentido, o início, meio e f im de todo
estudo que tenha relação com o humano.
E como algo humano o texto está em toda parte. Nesse sentido,
Bakhtin (1974/2003, p.319) se refere àquela “parte” em que vive e
16 Marília Amorim (informação verbal). Curso ministrado entre os dias 29/08/05 e 02/09/05 na disciplina Teoria Lingüística: Questões de Pesquisa a partir da Teoria Bakhtiniana no Programa de Pós-Graduação de LAEL da PUC-SP.
45
convive o sujeito, o terreno interindividual. Ao perguntamos algo ao
objeto de estudo das ciências da natureza, ele não responde; mas se
perguntamos a nós mesmos, chegamos a alguma resposta. O diálogo
entre nós resulta sempre em texto. Dessa forma, o campo de pesquisa
com texto se dissemina por todo o ambiente humano.
Nesse ambiente, podemos identif icar o texto sob diversas
formas. É possível exemplif icar o texto como um quadro de pintura,
uma música, uma foto, um l ivro, etc. Em cada um desses e de outros
possíveis exemplos de textos podemos identif icar o outro. Num livro,
considerado em que gênero foi escrito, (científ ico, l i terário) podemos
descobrir em primeiro lugar o autor e aqueles para quem ele escreveu,
ou seja, o seu leitor.
Nesta pesquisa, trabalhamos com Dissertações e Tese. Nesses
textos encontramos o pesquisador e aqueles que interagem com ele.
Encontramos na Dissertação e na Tese o pesquisador recorrendo
constantemente aos teóricos para f irmar uma idéia, discutir outra,
propor um novo caminho, enfim, identif icamos uma interação que é
como defendemos nesta tese, colaborativa. Os teóricos que ingressam
no texto de uma dissertação ou uma tese, pela “mão” do pesquisador-
autor, assumem algum tipo de papel que, para nós, seja ele qual for, é
sempre colaborativo.
Os textos desses gêneros contêm algumas particularidades que
merecem uma abordagem à parte. É o que faremos a seguir.
5 DISSERTAÇÃO E TESE
Nesta parte vamos apresentar uma caracterização do corpus
como gênero acadêmico. Essa caracterização permite o conhecimento
46
de onde estamos “pisando” ou “mexendo” e como, neste trabalho,
entendemos esse gênero e o que nele estudamos.
Ao longo da vida realizamos uma diversidade de ações e
interações que ocorrem tanto no ambiente onde tivemos o nosso
“berço”, na família, como fora desse ambiente, no bairro na escola, na
universidade, dentre outros. O fato de acompanhar o estudo dos f i lhos
em casa, de participar de uma celebração religiosa (missa, culto etc.)
na igreja do bairro, de lecionar numa universidade, dentre outros
exemplos, são algumas ações que podemos realizar na sociedade em
que vivemos. Nessas ações acontece sempre a interação verbal. Tanto
na família, em diálogos cotidianos (entre pai e f i lha para esclarecer
dúvidas em tarefa escolar), t ipicamente informais, até à universidade,
com as formalidades da academia (preencher diários de classe,
orientar relatório de estágios, participação em banca de TCC etc.),
usamos a língua.
Na interação com os outros fazemos uso da língua de diferentes
formas. Uma conversa de fi lho para mãe ou pai, ou com um outro
parente, na privacidade da casa, não é a mesma que a conversa de
aluno para professor, ou deste para com um diretor de escola, num
ambiente escolar. Enquanto um fi lho numa conversa com seu pai em
sua casa poderia perguntar: “e aí, pai, como foi seu dia com aquela
turma de bagunceiros da escola?”, um professor, ciente de sua posição
social, numa conversa com o diretor poderia afirmar: “diretor a turma
do primeiro ano tem se comportado de maneira indisciplinada durante
as aulas de f i losofia.”. No primeiro exemplo, a expressão “e aí, pai”
pode ser previsível em ambiente famil iar, por parte daquele que a
enuncia (o f i lho) e no ambiente (famil iar) no qual eles se encontram
(pai e f i lho). No segundo exemplo, no entanto, ela seria pelo menos
estranha ou não previsível (“e aí diretor”, “e ai professor”). Esses são
alguns exemplos em uma diversidade de outros que mostram que o uso
da língua se diferencia de acordo com as ambiente, ações e interações
que realizamos nas diferentes esferas de comunicação.
47
As esferas são contextos onde se realizam ações e interações
de l inguagem. A família e a universidade são esferas, respectivamente,
íntimas e públicas. Nelas usamos a l inguagem de diferentes formas. Se
na intimidade da família usamos uma l inguagem informal (“e aí, pai”, “e
aí, f i lho”) e predominantemente oral, na universidade usamos uma
l inguagem predominantemente escrita. Nesses exemplos podemos
sinalizar para os gêneros.
O gênero é uma forma padrão de enunciado que ocorre com
certa regularidade em diversos campos da ação e interação verbal.
Assim, na conversa em ambiente famil iar, na conversa com alguém
num ponto de ônibus, na ação de dar aula, na escritura de um texto de
dissertação ou tese nos apropriamos dos gêneros. De acordo com
Bakhtin (1953/2003, p.301) — como segue abaixo — usamos os
gêneros orais e escritos para “falar”.
Para falar, uti l izamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de estruturação de um todo. Possuímos um rico repertór io dos gêneros do discur-so orais (e escritos). Na prática, usamo-los com segurança e destreza, mas podemos ignorar totalmente a sua existência teórica.
Os gêneros da oralidade são i l imitados e ocorrem em todas as
esferas sociais. Falamos por meio de gênero oral na esfera famil iar, na
esfera escolar, enfim, em todo ambiente onde se encontram sujeitos
que interagem ou dialogam face-a-face. Assim como a atividade
humana é variada e inesgotável, ampliando as esferas sociais, assim
também os gêneros da oralidade são i l imitados e acompanham as
mudanças nas esferas.
48
Os gêneros da escrita, por sua vez, são l imitados. Falamos mais,
escrevemos menos. Bakhtin (1953/2003, p. 301) afirma que “esses
gêneros do discurso nos são dados quase como nos é dada a língua
materna, que dominamos com facil idade antes mesmo que lhe
estudemos a gramática.”. Nesse gênero ocorre com freqüência o
controle social, uma vigilância objetiva, consciente e sistemática
(FARACO, 1992, p. 23) sobre o que é escrito (do interpretador do
jornal, do próprio jornalista, do próprio escritor, do publicitário, de
orientadores de trabalhos acadêmicos, etc.). Enquanto no gênero oral
podemos pronunciar a palavra numa variedade de modos, como pela
entonação ou sotaque, no gênero escrito ela é grafada por um único
modo (ortografia).
Os gêneros também são entendidos como primários e
secundários. Os gêneros primários são relacionados ao discurso da
oralidade, da comunicação verbal cotidiana nas diversas esferas
sociais, onde eles se apresentam em infinita variedade. Os gêneros
secundários, por sua vez, são relacionados ao discurso da escrita,
como um jornal ( impresso ou on l ine), um art igo científ ico, uma
dissertação, uma tese, um livro etc. Os dois t ipos de gêneros com suas
heterogeneidades específicas e guardadas suas diferenças nas
esferas, interagem de uma forma complexa, eles não são indiferentes
uns aos outros.
Os gêneros secundários incorporam textos do gênero primário.
Os gêneros secundários são representativos do mundo cotidiano, e
esse mundo encontra-se em devir (MACHADO, 2001, p.154), nada nele
está acabado. De acordo com Bakhtin (1953/2003, p.263) os gêneros
primários, vinculados às circunstâncias do real, perdem tal
característica quando incorporados aos gêneros secundários.
No processo de sua formação eles [gêneros secundários] reelaboram diversos gêneros primários, que se formaram nas condições da comunicação
49
discursiva imediata. Esses gêneros primários, que integram os complexos, ai se transformam e adquirem um caráter especial: perdem o vínculo imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios.
Dessa forma, os gêneros secundários, mesmo com suas
elaborações complexas (escrita), não estabelecem um corte radical e
definit ivo com os gêneros primários. Os dois t ipos de gêneros se
complementam, combinam-se, enfim, dialogam. Trata-se de uma
vinculação intergenérica que constitui a riqueza dinâmica da l inguagem
num mundo em devir.
Neste trabalho, abordamos o gênero acadêmico Dissertação e
Tese, situado na esfera científ ica. Essa últ ima se caracteriza pela
produção e circulação do conhecimento científ ico na sociedade por
meio de artigos (para apresentação em congresso, para uma revista
científ ica etc.), por meio de Dissertação de mestrado e de Tese de
doutorado. Os sujeitos que trabalham nessa esfera encontram-se
comprometidos com instituições de pesquisa (CNPq, Capes), com
universidades e em grupos de pesquisa nos Programas de Pós-
Graduação.
Os textos que foram selecionados para constituir o corpus deste
trabalho situam-se, como evidenciado, na esfera acadêmico-científ ica,
mas em áreas do conhecimento diferentes. Uma Dissertação de
Mestrado situada na área da educação e uma outra juntamente com a
Tese de Doutorado, situada na área da Lingüíst ica Aplicada e Estudo
da Linguagem. Além de se constituírem como trabalhos científ icos, eles
também abordam um mesmo tema, ou seja, a interação professor-aluno
em sala de aula.
Nesse tema, a Tese e as Dissertações encaminham-se
diferentemente no estudo. Enquanto um texto enfatiza a pergunta do
professor na aula de língua inglesa (de agora em diante primeira
50
Dissertação), o outro se atém à relação do professor com o aluno
portador de deficiência (de agora em diante segunda Dissertação). O
outro texto já estuda a relação em sala de aula para construir um
modelo de aula (de agora diante Tese). Podemos perceber que o tema
nos textos recebe um norte de acordo com a área de conhecimento do
trabalho científ ico e isso também pode ser identif icado a partir dos
títulos desses trabalhos.
Na primeira Dissertação, o título é Estudo sobre a interação
professor e aluno em sala de aula: a perguntas do professor. Na
segunda Dissertação, o título é A educação física frente à exclusão do
aluno cego . E na Tese, o título é Estudo da língua falada e aula de
língua materna: uma abordagem processual da interação
professor/aluno. É possível perceber que o tema relacionado a uma
área de conhecimento — lingüística aplicada e educação — e a uma
esfera — a científ ica — traz consigo os matizes relacionados a isso e
mais as coerções do gênero ao qual se produz o texto.
Entretanto, o tema expressa sentidos diferentes nos textos, com
linhas de pensamentos diferentes e, por conseguinte, com
interpretações diferentes.
Isso ocorre porque o tema se encontra em comunidades (grupos)
científ icas diferentes (mas nem tanto), talvez grupos de pesquisa com
linhas de trabalho (teóricos mais estudados) diferentes e em contextos
de pesquisa diferentes. Para se ter uma idéia as referências
bibliográficas (cf. Anexos) dos três textos são diferentes, mesmo
abordando o mesmo tema. Exemplo disso é o fato de não encontrarmos
nenhum autor referenciado num texto que seja também referenciado
nos outros, até mesmo nos textos que pertencem à mesma área de
conhecimento, ou seja, a l ingüística aplicada, a repetição de teóricos
não ocorre. Dessa forma, podemos entender que o tema em todos os
textos do corpus expressa sentidos diferentes que emergem do estudo
realizado.
51
Como não é nosso objetivo neste trabalho discutir como cada
texto aborda o tema, paramos aqui e vamos tratar da estrutura de cada
texto. Nosso objetivo é apresentar uma caracterização do corpus
enquanto gênero acadêmico.
A estrutura de cada texto apresenta mais semelhanças do que
diferenças.
As semelhanças se mostram nos sumários da segunda
Dissertação e da Tese e no índice geral da primeira Dissertação (cf.
Anexos). Nos três textos identif icamos as três partes essenciais do
trabalho científ ico nesse gênero acadêmico, ou seja, a introdução , o
corpo do trabalho ou desenvolvimento — constituído de capítulos — e
as considerações finais (ou conclusões, ou conclusão). Na Tese o
termo apresentação encontra-se no lugar do termo introdução, porém o
texto apresenta os elementos que devem constitui essa parte, como foi
mostrada acima.
Na introdução dos textos identif icamos os seguintes elementos:
breve contextualização do problema da pesquisa, mostrado por meio de
uma revisão da l iteratura, ou uma contextualização da pesquisa, que
situe o que se pretende pesquisar; os objetivos do trabalho; as
intenções do autor, os procedimentos para o desenvolvimento do
trabalho etc. Fizemos alguns recortes em cada texto desses elementos,
como segue abaixo.
Na primeira Dissertação
a) Contextualização:
“Concordamos com os autores aqui mencionados, quando eles afirmam que a sala de aula tem um papel fundamental na aprendizagem de uma L2 /LE. Além dos motivos apresentados aqui, temos ainda uma outra forte variável, no caso de LE no Brasil, ou seja, a sala de aula como a única fonte de ‘ input’, ou
52
oportunidade de interação na língua-alvo a que aprendizes têm acesso”. (p.4).
Os “teóricos” a quem se refere a autora na primeira Dissertação
foram abordados em páginas anteriores à pagina desse recorte.
b) Objetivo do autor:
“O que nos interessa é observar o processo de aprendizagem que vem ocorrendo em nossas salas de aula.” (p.7).
Na segunda Dissertação
a) Contextualização:
“A exclusão dos deficientes visuais das relações sócio-educacionais é entendida como um processo produzido pela sociedade, em determinados momentos na história. Este processo se dá através dos afazeres concretos. Desta forma, embora a construção da exclusão, nas suas mais variadas manifestações, esteja de acordo com a formação da nossa sociedade — a sociedade capital ista — ocorre o surgimento de contradições inerentes a esta relação social, que traz no seu bojo, o germe da transformação.” (p.3).
b) Objetivo do autor:
“O meu interesse particular pelo estudo dos problemas relativos à deficiência visual, no âmbito da Educação Física, surgiu da necessidade de compreender situações colocadas durante a minha prática profissional como professor de Educação Física para portadores de deficiência visual (...)” (p.4).
53
No texto 3
a) Procedimento para o desenvolvimento do trabalho
“O estudo exploratório desenvolvido nas primeiras etapas da pesquisa — entre 1994 e 1995 — foi o bastante para que percebesse tanto a pertinência da análise baseada nos aspectos a que me referi anteriormente como sua insuficiência. Em outras palavras, tendo em vista a especif icidade de uma aula de língua materna, confirmei a viabil idade de comparar os dados obtidos com base nas dimensões que havia arrolado, mas, pelo mesmo motivo, identif iquei a necessidade de que fosse proposta uma tipologia para a interação em situação didática.” (p.9).
b) Objetivo do autor
“A motivação original para a elaboração deste trabalho foi a de investigar as ações didático-discursivas realizadas na aula de língua materna.” (p.9).
O corpo do trabalho nos textos é formado por capítulos que
organizam o conteúdo do texto. Na Tese são sete capítulos; na
segunda Dissertação são quatro capítulos e Na primeira Dissertação
também são quatro capítulos. Os capítulos são intitulados de acordo
com o estudo desenvolvido em cada texto, sem apresentar
semelhanças entre si na nomeação dos capítulos (cf. Anexos -
Sumário), à diferença da estrutura apresentada pelo autor Fábio
Appolinário, citado acima, que apresenta após a introdução os
elementos método e resultados . Mas, é uma estrutura semelhante a dos
demais teóricos que dizem que nesta parte o conteúdo é organizado em
forma de capítulos. Para mostrar como isso ocorre apresentamos
abaixo um recorte de cada texto.
54
Primeira Dissertação
Capitulo 1 – O PAPEL DO “INPUT” NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE UMA SEGUNDA LÍNGUA/LINGUA ESTRANGEIRA
Segunda Dissertação
Capítulo 1 – A DEFICIÊNCIA VISUAL
Tese
Capítulo 1 – OS ESTUDOS SOBRE O ENSINO DE PORTUGUÊS
Contudo, identif icamos semelhanças em itens dos capítulos, ou
seja, nos subcapítulos. Na primeira Dissertação, o capítulo quatro,
intitulado “Apresentação e Interpretação dos Resultados” e constituído
por quatro subcapítulos, apresenta uma relação direta com o tema do
estudo. Os subcapítulos tratam essencialmente da interação professor-
aluno em sala de aula e seus títulos são: “a ocorrência de pseudo-
perguntas ou genuínas”; ”negociação de signif icado”; “a resposta do
aluno” e “o ‘ fol low-up” . Na segunda Dissertação, no capítulo quatro,
intitulado “As Relações Pedagógicas”, também identif icamos o bojo do
tema estudado — interação professor-aluno. Os dois subcapítulos
apresentam “o professor e o aluno deficiente visual” e “o professor de
educação física”, analisando e discutindo as interações entre o
professor e o aluno em sala (de educação física). Na Tese encontramos
a essência do tema nos capítulos 2 e 3, intitulados, respectivamente,
“as interações em língua materna: objeto de estudo e de ensino” e “por
uma tipologia em sala de aula”.
Apesar dessas semelhanças a l inha de orientação para estudar o
tema, em cada texto é diferente, como foi abordado anteriormente.
Nas considerações finais identif icamos nos textos uma retomada
dos pontos marcantes do trabalho e o “fechamento” do texto por meio
55
de conclusões e questionamentos do pesquisador. Abaixo seguem
recortes de como isso ocorre nessa parte dos textos.
Primeira Dissertação
Considerando que a análise dos blocos interativos, desenvolvida no capítulo 4, teve como base os pressupostos teóricos dos capítulos 1 e 2, seria necessário, aqui, uma retomada que estabelecesse uma relação entre esses pressupostos e as conclusões a que chegamos a partir da análise dos dados. (p.173).
Ao que nos parece, os professores se sentem os detentores do poder na sala de aula. Talvez o que eles não tenham consciência é que apesar de terem autoridade perante os alunos, esses detêm uma parte do poder, na medida em que possuem a habil idade de resistir à autoridade do professor, através de uma recusa de aprender o que o professor pretende ensinar. (p.175).
Segunda Dissertação
O professor que ministra aulas de Educação Física nas escolas do ensino regular é um dos seus principais responsáveis pela exclusão destes alunos. Entretanto, se existem professores que se uti l izam dos mais variados mecanismos reforçadores desta exclusão, tais professores encontram respaldo legal e instituições escolares são coniventes com a perpetuação de tais atitudes quando sua ideologia está envolta em concepções de cunho predominantemente elit ista. (p.122).
Aos próprios professores é propiciada a aquisição de outras formas de olhar seus alunos deficientes, através de um trabalho que vise à ruptura com os estigmas que lhes são atribuídos. (p.127).
56
Tese
Nos dois primeiros capítulos, abordei essa questão ao referir-me às iniciativas que pretendem provocar mudanças na formação de professores — em graduação ou em serviço — e em sua prática de ensino. (p.170).
Em resumo, a integração de análises de interações didáticas à formação de professores é decorrência da necessidade de qualif icarmos profissionais capazes de identif icar e buscar soluções para os problemas da prática em sala de aula, sejam eles de natureza interativa e/ou interacional.” (p.171).
Essa caracterização do corpus como gênero acadêmico
Dissertação e Tese conduz a pelo menos duas conclusões. A primeira
está relacionada ao que teóricos de metodologia científ ica tratam
quanto ao aspecto formal, aspecto secundário em nosso trabalho; e a
segunda está relacionada aos estudos de Bakhtin e seu Círculo, sobre
o gênero do discurso e a alteridade, aspecto principal deste trabalho.
A Dissertação e a Tese como gênero acadêmico possuem um
tema, uma estrutura e uma l inguagem específica — esti lo. Tudo isso
faz parte de um texto que tem seu acabamento de acordo com esse
gênero (acadêmico). Além disso, os autores indicam e descrevem as
partes do trabalho em introdução, desenvolvimento e conclusão como
constituintes da estrutura; e, enquanto trabalhos nesse gênero, a
dissertação e a tese apresentam temas e esti los que se adaptam às
áreas de conhecimento onde se produziu o trabalho — todas da esfera
científ ica.
Neste trabalho selecionamos aquelas partes das dissertações e
da tese para estudar a interação do pesquisador com seu outro
(alteridade). São três textos. Neles, escolhemos quatro partes, a
introdução , o desenvolvimento , a conclusão e as referências
bibliográficas . Mais adiante, no Capítulo 3, focalizamos nessas partes,
57
em cada texto, o fenômeno da interação do pesquisador com os
teóricos citados.
Essa presença do outro no texto remete a Bakhtin e seu Círculo.
Como já foi lembrado, no texto há sempre a voz do outro, ou, como
afirma Bakhtin (1959-60/2003, p.311), o texto “se desenvolve na
fronteira de duas consciências, de dois sujeitos”. Nessa perspectiva,
buscamos nas Dissertações e na Tese identif icar não apenas “essas
consciências”, mas, sobretudo, para estudar a interação que “elas”
estabelecem no texto, buscando responder a questionamentos, dentre
muitos, como os seguintes: como essas interações acontecem? Que
atos de l inguagem o pesquisador realiza na interação com os teóricos
citados? Como essa interação vai colaborando para a construção do
trabalho científ ico? Enfim, as dissertações e a tese, integrantes do
corpus deste trabalho, se tornam lugares onde encontramos interações
com o outro, e nelas focalizamos nosso estudo.
6 O OUTRO NO DISCURSO CITADO
Bakhtin/Volochinov, em Marxismo e Filosofia da Linguagem
(1929/2002, p.144), definem o discurso citado como o “discurso no
discurso”. É o discurso do outro no discurso do locutor. O enunciador
integra o discurso do outro no contexto comunicativo para ajudar-se na
construção de seu texto. É também um discurso sobre o discurso,
porque citar é uma forma de avaliar o que é citado.
O discurso citado é o discurso do outro no contexto do discurso
de um dado sujeito. Trata-se do discurso de uma outra pessoa um
autor-criador, não um autor-pessoa “física”. Por isso, o l ivre arbítr io do
enunciador integra o discurso do outro a um contexto enunciativo que
não é o seu e pode lhe dar uma direção favorável ou até contrária à do
58
contexto original. Seja como for, o discurso citado é, nesses termos,
uma das formas de identif icar a presença da alteridade no texto.
O ato discursivo de integrar o discurso do outro no contexto
comunicativo do sujeito é complexo, e nem sempre fruto do “l ivre
arbítr io do enunciador”. Bakhtin/Volochinov (1929/2002) chamam
atenção para três aspectos. O primeiro é a diferença entre a recepção
e a transposição do discurso do outro para outro contexto, ou seja, o
modo como o enunciador concebe o discurso do outro — discurso
interior, dimensão subjet iva, consciência individual — e a inserção
desse discurso num outro contexto. A consciência do enunciador pode
absorver muito do discurso do outro, mas apenas uma parte pode ser
pertinente no contexto enunciativo desse enunciador; essa parte
dependerá sempre da finalidade da integração do discurso do outro no
texto e da comunidade de que o enunciador faz parte.
Essa finalidade é o segundo aspecto que Bakhtin aborda. O
enunciador deve levar em conta a esfera e o gênero em que o discurso
do outro é integrado. A esfera é entendida como um sistema com certo
grau de coerção e caracterizado por um espaço de refração que
determina o papel da l inguagem no discurso. Ela pressupõe a produção
(situação específica que envolve uma atividade de comunicação
verbal), a circulação (o âmbito verbal em que está inserido o
enunciado) e a recepção (o âmbito ao qual o discurso é dirigido).
Há na sociedade uma diversidade de esferas, como a famil iar,
rel igiosa, jurídica, cientif ica e outras. Essa diversidade condiciona o
modo de apreensão e transposição do discurso do outro (GRILLO,
2006)17. No caso da esfera científ ica, por exemplo, a f inalidade da
integração do discurso do outro num texto deve estar sintonizada com
as características próprias dessa esfera e, dentre muitas, podemos
apontar a objetividade, o rigor, a sistematicidade.
17 GRILLO, Sheila V. de Camargo. Esfera e campo. In: BRAIT, B. (org.). Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006, p. 133-160.
59
A esfera determina a produção de enunciados relativamente
estáveis que constituem gêneros do discurso. O gênero nasce e se
desenvolve nas esferas (MELO, 2005, p.110)18. Assim como são muitas
as esferas de comunicação, assim também são muitos os gêneros.
Enquanto na esfera religiosa podemos falar de gêneros como missa e
culto, na esfera científ ica podemos falar do gênero acadêmico
dissertação e tese. O gênero é constituído por uma estrutura
composicional (que corresponde aos elementos mais estáveis do
enunciado), um tema (que corresponde ao assunto ou aquilo de que se
fala) e um esti lo (que corresponde ao procedimento l ingüístico na
construção do texto).
O terceiro aspecto da inserção do discurso do outro em um
contexto que não é o seu considera mais especif icamente aquele(s) a
quem o enunciador dirige seu texto, a sua comunidade l ingüística ou o
seu grupo típico. A comunidade é a “pessoa” que pode dar o aval ao
que é interpretado pelo enunciador no texto. Ela é o “outro” presumido
do enunciador durante seu trabalho de construção do texto. Com ela,
ele dialoga e, desse diálogo ocorre a construção do texto.
Nesse sentido, podemos dizer que o discurso citado é uma
prática colaborativa da presença do outro no texto, por meio de seu
discurso. Como vamos detalhar a seguir, escolhemos o discurso citado
como objeto porque entendemos que a compreensão das interações e
posições que o pesquisador (como enunciador, autor) realiza com seu
outro – os teóricos citados, considerados etc. – tornam-se mais
“visíveis” com o uso desse instrumento. No texto científ ico, o
pesquisador integra uma diversidade de discursos de outros e se
posiciona de alguma maneira diante deles. Além disso, o trabalho com
o discurso citado possibil i ta melhor observar a colaboração dos
teóricos com o autor-pesquisador nos diversos atos l ingüístico-
enunciativos que este realizou para a construção do seu texto.
18 MELO, Rosineide. Ata: registro de lutas discursivas da escola Peixoto Gomide de Itapetininga. Tese de Doutorado. São Paulo: PUC, 2005.
60
6.1 Formas do discurso citado: direto e indireto
De acordo com Bakhtin, o discurso citado é transmitido por meio
de suas formas discurso direto e discurso indireto. O discurso indireto
é discurso de outrem transmitido para o contexto comunicativo de
maneira particular e analít ica por parte daquele que o uti l iza, o autor
do texto que cita. É o discurso integrado num contexto a partir de
regras sintáticas, esti líst icas e composicionais construídas pelo autor.
Trata-se de um exercício para recepcionar o discurso do outro,
preservando a autonomia deste e, ao mesmo tempo, incluindo-o no
contexto sob forma analít ica.
O discurso direto, por sua vez, é o discurso do outro colocado
no contexto comunicativo de maneira objetiva. Quando usado, o
discurso direto apresenta-se com a palavra do outro. Na citação do
discurso do outro, o locutor se preocupa por assim dizer com a
fidelidade ao outro. Nesse sentido, o discurso direto distancia-se da
preocupação analít ica, própria do discurso indireto.
No discurso indireto encontra-se uma signif icação l ingüística
que é evidenciada na transposição do discurso de outrem para um
determinado contexto. Essa signif icação é própria do discurso indireto,
que contém em si uma tendência analít ica que impede o ingresso de
elementos emocionais e afetivos do discurso do outro na transposição
para um determinado contexto comunicativo. Em Marxismo e Filosofia
da Linguagem, Bakhtin/Volochinov (1929/2002, p. 159) afirma que “a
análise é a alma do discurso indireto”. Nesse sentido,
No exemplo de Pechkovski, a exclamação do Asno: “Nada mal” não pode ser diretamente integrada no discurso indireto sob a forma: “Ele diz que nada mal...” mas apenas como: “Ele diz que não estava mal...” ou mesmo “Ele diz que o rouxinol não cantava mal”. Da mesma forma, “sem brincadeira” não pode
61
ser mecanicamente transposto para o discurso indireto, nem “que pena que você não conhece...”, pode ser transposto como “mas que pena que ele não conhece...”.
O discurso indireto também interpreta o discurso do outro.
Quando ele é usado, apresenta-se sob forma de resumo do
pensamento de teóricos. Nisso o discurso indireto pode não só
fundamentar o pensamento do locutor, sendo-lhe favorável, mas
também pode caracterizar um distanciamento. É o discurso no discurso
para autorizar/argumentar, ou não, alguma posição do pesquisador/em
favor dessa posição, porém com limites de percepção muito frágeis. No
discurso direto, o locutor, ao integrar o discurso do outro no seu texto
procura distanciar-se de qualquer tentação de infi ltrar-se no discurso
do outro. Ele procura manter-se f iel e apresentar uma exata reprodução
das palavras do outro. Entretanto, o discurso direto integra o discurso
do outro com interferências enunciativas antes ou depois dos
enunciados do outro, impondo um tom ao discurso citado que não é
necessariamente o seu.
Nesse sentido, os temas do discurso do outro são antecipados
pelo contexto e coloridos pelas entoações do locutor. Esse ato verbal
quase sempre provoca um enfraquecimento da objetividade do contexto
narrativo e das fronteiras da enunciação. A forma do discurso direto é
condicionada a um verbo introdutor, responsabil izando o outro a
respeito do que é interpretado. Com o entrecruzamento de contextos e
discursos, há simultânea participação de dois discursos diferentemente
orientados em sua expressão (MELO, 2005)19.
19 Op.cit.
62
6.2 Variantes do discurso indireto e direto
O discurso indireto, de acordo com Bakhtin, possui três
variantes: a de discurso indireto analisador de conteúdo , a de discurso
indireto analisador de expressão e a de discurso indireto
impressionista. A primeira se atém ao assunto e se distancia de
qualquer outra abordagem. A segunda incorpora palavras e artimanhas
do discurso do outro. Na variante discurso indireto analisador de
conteúdo a personalidade do falante só existe enquanto ocupa uma
posição semântica determinada (cognit iva, ética, moral, de forma de
vida). Quando isso não acontece no texto, a “personalidade do falante”
não existe para o locutor, esclarece Bakhtin (1929/2002, p.164). Nessa
variante, o pesquisador integra o discurso do outro no plano temático
— o que é interpretado pelo autor — e apresenta réplica (s) no
contexto comunicativo, muitas vezes mantendo distâncias entre o que
foi interpretado e o que ele diz.
Na variante do discurso indireto analisador de expressão, o
outro é mostrado em sua individualidade, com seu modo de pensar e
abordar um assunto. Nesta variante, o outro tem a sua individualidade
cristalizada, formando inclusive uma dada imagem. Esse discurso
possui ainda uma natureza que “cria efeitos pictóricos extremamente
originais na transposição do discurso citado”, acrescenta Bakhtin
(1929/2002, p.164), efeitos que evidenciam um individualismo por parte
daquele que integra o discurso do outro no texto. Nesse discurso, o
pesquisador caracteriza não só o interpretado pelo autor, mas também
o próprio autor, o modo deste falar, o seu estado de espírito expresso
nas formas do discurso, a fala entrecortada, a entoação expressiva,
enfim, configura com tudo isso uma forma subjetiva e esti l íst ica.
Bakhtin aponta ainda para o aspecto da abreviação do discurso do
outro a ser expresso.
Na terceira variante, o discurso indireto impressionista, por sua
vez, encontra-se entre o discurso indireto analisador de conteúdo e o
discurso indireto analisador de expressão. Ele é uma variante que usa
63
o discurso do outro sem censura, podendo abreviá-lo, “ indicando
freqüentemente apenas os seus assuntos e sua dominante: por isso
pode ser chamado de impressionista”, como escreve Bakhtin
(1929/2002, p.164). Se por um lado o discurso indireto analisador de
conteúdo tende para uma objetividade da análise, inibindo qualquer
fuga desse aspecto, por outro o discurso indireto impressionista faz
isso com liberdade e f luência, sem perder a objetividade no tratamento
do assunto. Assim, o discurso indireto impressionista permite o
ingresso da individualidade/subjetividade do pesquisador no contexto
comunicativo. Sua entoação flui l ivremente.
Também podemos encontrar o discurso indireto com
modalizadores. Eles têm a função de mostrar que o pesquisador
(enunciador) se apóia ou responsabil iza o outro (autores) pela
enunciação citada (MAINGUENEAU, 2002, p.139). Neste trabalho,
porém, chamamos esses modalizadores de expressões para introduzir
o discurso do outro no texto. São elas: segundo, para, de acordo,
dentre outros.
Quanto ao discurso direto, Bakhtin fala de alguns tipos de
variantes: preparado, esvaziado, antecipado e disseminado, retórico e
substituído. No caso da pesquisa acadêmica, por exemplo, o discurso
direto preparado é aquele que é anunciado antes de ser citado e, por
isso, apresenta cores e entonações do pesquisador. Existe uma
imposição do enunciador. Essa característica enfraquece as fronteiras
da enunciação do outro e a objetividade do contexto narrativo, ou seja,
introduz-se o discurso do outro sob égide do enunciador.
O discurso direto esvaziado é aquele em que, de acordo com
Bakhtin (1929/2002, p.166), “a caracterização objetiva do herói, feita
pelo autor, lança espessas sombras sobre o seu discurso direto”. O
herói é o duto que leva as apreciações e emoções do autor.
O discurso direto antecipado e disseminado é aquele em que
aparecem dois discursos num mesmo espaço-tempo e numa mesma
64
arena. Os qualif icativos presentes numa citação permitem identif icar
esses discursos, ou seja, o do autor e o do “herói” – no caso do
trabalho científ ico, pode ser comparado ao objeto da pesquisa. Nesse
caso, pode-se entender que o pesquisador fala do objeto de sua
pesquisa, mas também que o próprio objeto “fala”. Para Bakhtin
(1959/60/2003, p.322), “os planos dos discursos das personagens e do
discurso do autor podem cruzar-se, isto é, entre eles são possíveis
relações dialógicas”. Por isso, nessa variante identif ica-se um
fenômeno raramente estudado – as interferências de discurso.
O discurso direto retórico é aquele em que tanto o autor como o
herói (personagem) perguntam ou exclamam para si mesmos. Bakhtin
(1929/2002, p.171) diz que algumas vezes o autor f ica na frente da
cena, perguntando e respondendo, e noutras vezes, f ica atrás, e a
personagem ocupa a ribalta.
No discurso direto substituído, por sua vez, o autor aparece no
lugar do seu herói (ou tema). Segundo Bakhtin (1929/2002, p.171) o
autor diz o que ele (o herói) “poderia ou deveria dizer, o que convém
dizer”. O autor fala por seu objeto, ou substitui a voz do objeto pela
sua.
O discurso citado revela não só o outro, ou seja, quem ele
presumivelmente é, mas também o que ele pensa a respeito de um
assunto abordado no texto. E isso ocorre tanto a partir de sua forma
direta como da indireta. É no contexto comunicativo que o outro é
mostrado em suas reações e ações de l inguagem por aquele que
escreve que, no caso deste trabalho, é o pesquisador.
6.3 Verbo dicendi
Como nenhum texto pode ser produzido sem o outro, os verbos
dicendi são aqueles que introduzem o discurso do outro no texto. No
texto eles têm a função de indicar com quem está a palavra (GARCIA,
65
1992, p.131). Esses verbos, de acordo com Othon Garcia (1992)
podem ser classif icados de modo geral da seguinte forma:
a) De dizer: afirmar, declarar;
b) De perguntar: indagar, interrogar;
c) De responder: retrucar, replicar;
d) De contestar: negar, objetar;
e) De concordar: assentir, anuir;
f) De exclamar: gritar, bradar;
g) De pedir: solicitar, rogar;
h) De exortar: animar, aconselhar;
i) De ordenar: mandar, determinar.
Esses verbos podem ser uti l izados em todo tipo de texto, seja
este de gênero primário ou secundário, oral ou escrito.
Entretanto, quando se trata do texto escrito e de modo particular
que pertença a esfera científ ica e do gênero dissertação e tese, a
seleção de verbos deve atender as exigências inerentes a essa esfera,
pautadas, sobretudo pela academia, pelo grupo de pesquisa e pela
l inha de pesquisa onde está situado o pesquisador (autor) do texto. O
verbo dizer e falar , por exemplo, são usados na l inguagem oral, porém
inadequados para l inguagem escrita (CARVALHO; CAMPOS; MARTINS,
1996).
Abaixo segue um quadro com verbos que podem ser uti l izados
em texto escrito da esfera científ ica.
Quadro 2: Verbos Dicendi
Aconselhar concluir Elucidar negar refutar Acrescentar concordar Esclarecer objetar reiterar Afirmar confirmar Especif icar ordenar repetir Alertar confrontar Estabelecer parafrasear replicar Analisar considerar Examinar perguntar repudiar Anuir constatar Exemplif icar ponderar resgatar Anunciar contestar Explicar pontuar responder Argumentar continuar Exprimir postular ressaltar Articular contrapor Evidenciar pressupor resumir
66
Assegurar crit icar Finalizar pretender retratar-seAssentir debater Indagar propor retrucar Assinalar declarar Indicar questionar revelar Avaliar defender Interrogar raciocinar sintetizar Citar delimitar Investigar ratif icar sugerir Comentar demarcar Justif icar reconhecer supor Compreender demonstrar Lembrar recomendar sustentar Comprovar determinar Limitar recusar verif icar
Fonte: CARVALHO; CAMPOS; MARTINS (1996).
Existem outras classif icações de verbos dicendi. De acordo com
Thomas e Hawes (1994) citados por Désirée Motta-Roth (2006) os
verbos dicendi também podem ser divididos em três grupos, como
seguem abaixo:
a) Verbos de atividade experimental: relato de procedimento e
resultado de pesquisas;
b) Verbos de atividade discursiva: reportam as conclusões de
pesquisas;
c) Verbos de atividade cognit iva: experiências em processos
mentais.
Esses grupos também se subdividem de acordo com as formas
de uso no texto. Os verbos de atividade experimental se dividem em
verbos de procedimento (analisar, investigar , conduzir , comparar ,
completar, avaliar, correlacionar, examinar , estudar, etc) e verbos de
resultado (encontrar, obter, observar para objetividade; e mostrar,
demonstrar, estabelecer , revelar para efeito).
Os verbos de resultado se dividem em dois grupos: verbos de
objetividade, que remetem a resultados de pesquisas (observar,
encontrar, obter) e verbos de efeito, que revelam concordância com
resultados encontrados em estudos indicados no texto (mostram,
demonstram, estabelecem, revelar).
67
Os verbos de atividade discursiva se dividem em três grupos.
Os verbos de qualif icação (chamar a atenção, levantar a questão), que
citam limitações ou restrições apontadas por pesquisadores; os verbos
de incerteza, que se subdividem em verbos de pré-experimento
(hipotetizar, estimar, propor) e pós-experimento (sugerir, indicar). E
verbos de certeza, que também se subdividem em dois grupos: verbos
de argumento, que são usados como apoio para o pesquisador
(apresentar suporte/fundamentação, citar/fornecer evidência, manter,
concluir); e verbos de informação, usados para relatar pesquisas
anteriores (documentar, reportar, referir, notar).
Quanto aos verbos de atividade cognit iva estão relacionados às
atividades mentais experimentadas em suas pesquisas e são, dentre
outros, os verbos acreditar, considerar , entender, pensar e reconhecer .
Fundamentalmente, os verbos dicendi são uti l izados como
introdutores do discurso do outro no texto, e, por meio deles,
identif icamos não só a diversidade de teóricos nas Dissertações e na
Tese, como também as ocorrências de interações do pesquisador com
esses teóricos.
Nesse trabalho, destacamos os verbos mais uti l izados pelo
pesquisador para introduzir os discursos do outro e, em seguida,
discutimos como o uso de determinado verbo possibil i ta interpretar o
t ipo de interação do pesquisador com os teóricos.
68
CAPITULO 2
METODOLOGIA: CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS
O objeto das Ciências Humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado.
Bakhtin (1930-40/2003, p.395) 20
O caminho percorrido pelo pesquisador no trabalho de pesquisa
não é algo simples e l inearmente marcado. As tr i lhas que o levam aos
lugares que ajudam a desencadear a investigação são muitas, e o
pesquisador diante delas se perde e fica a mercê da angústia e da
ansiedade, elementos freqüentes no percurso da pesquisa. Assim,
nessa situação, o pesquisador deve escolher os caminhos para o
desenvolvimento de sua pesquisa,
A Metodologia trata dos caminhos que foram construídos e
percorridos pelo pesquisador para construir o texto de pesquisa. Um
trabalho árduo que sempre conta com a participação colaborativa do
outro. Neste trabalho, construímos e percorremos alguns caminhos,
todos interrelacionados: escolha dos dados, constituição do corpus, a
tríade sintonizada entre objetivos-questões-tópicos, recursos, o
caminho da analogia (o pesquisador e a classif icação de Todorov) e o
caminho do gênero, do qualitativo e do quantitativo.
1 O CAMINHO DA ESCOLHA DOS DADOS
Nesse caminho, buscamos textos que abordassem o assunto da
interação professor aluno na sala de aula, realizando uma pesquisa nas
20 Metodologia das Ciências Humanas. In: BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. Tradução Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.395.
69
bibliotecas de três Programas de Programas de Pós-graduação: LAEL
PUC/SP, Educação: Currículo PUC/SP e UEL UNICAMP.
No Programa de Pós-graduação de Lingüística Aplicada e
Estudos da Linguagem/LAEL PUC-SP os textos totalizaram 450
trabalhos. Em seu banco de dados, encontramos 35 trabalhos,
dissertações e teses construídas e defendidas no Programa, que
abordaram a interação professor-aluno em sala de aula até o ano de
2001.
No Instituto de Estudo da Linguagem IEL UNICAMP, também até
2001, os trabalhos somaram 187. Desses, 31 abordam a interação
professor-aluno em sala de aula; os demais se dividem entre os que
abordam o assunto indiretamente — 33 trabalhos —, e aqueles que
apenas citam-no — 30 trabalhos. O restante dos textos diversif ica
dentre os mais variados assuntos na área da LA.
No Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo
PUC/SP, o Banco de Dados registra 450 trabalhos. Destes, 67
abordam diretamente a interação professor-aluno em sala de aula;
indiretamente, 91; e os que citam somam 140. Abaixo, na Tabela 1,
estão organizados os dados dos três (3) Programas.
Tabela 1: Textos que abordam a interação professor e aluno em sala de aula nos Programas
CATEGORIAS DOS TEXTOS
LAEL 450 trabalhos
IEL 187 trabalhos
EDUCAÇÃO: CURRICULO 450 trabalhos
T1 35 31 67 T2 29 33 91 T3 63 30 140 TOTAL 127 91 298 T1: textos que abordam diretamente a interação professor-aluno em sala de aula; T2: texto que abordam indiretamente; e T3: textos que apenas citam o assunto.
70
Na Tabela 1 evidencia-se que o Programa Educação: Currículo
apresenta o dobro de trabalhos sobre o assunto em relação aos
Programas LAEL e IEL. Isso ocorre porque, dentre outras razões, o
espaço da sala de aula é um lugar requisitado pelos pesquisadores da
esfera educacional. Além disso, a formação de professor é outro tema
na Educação e a interação professor-aluno torna-se objeto desse tema.
Diante disso, o número de textos ultrapassa a soma dos demais,
quando o assunto é a interação professor-aluno em sala de aula.
2 O CAMINHO DA CONSTITUIÇÃO DO CORPUS
O segundo momento ocorreu na constituição do corpus da
pesquisa. Do conjunto de trabalhos que abordam a interação professor-
aluno em sala de aula, selecionamos três para a constituição do
corpus: duas Dissertações e uma Tese. Todos da década de 1990,
cada texto intercalado por um espaço de três anos: um no início da
década, 1993; outro no meio da década, 1996; e outra no final da
década, 1999.
Nossa seleção tem dois motivos que resultaram do levantamento
da pesquisa. Descobrimos que a interação professor-aluno em sala de
aula foi foco de vários trabalhos na década de 1990, tanto de
dissertações como de teses, mas que foi tratado sob o viés da
interação e não pelo viés da atividade como temos presenciado em
nessa primeira década do ano 2000.
Entretanto, considerando a década de 1990, estabelecemos como
parâmetro que o cada terço da década selecionaríamos um texto.
Acreditamos que, após identif icar o período mais intenso de pesquisas
sobre a interação professor-aluno e deste período selecionar os textos
representativos do conjunto de trabalhos encontrado, t ivemos condição
de construir o corpus de nosso trabalho. Assim sendo, escolhemos um
texto do início da década (1993), um texto do meio da década (1996) e
71
um do final do período (1999), duas Dissertações e uma Tese
respectivamente.
3 O CAMINHO DA TRÍADE OBJETIVOS-QUESTÕES-TÓPICOS
Com o corpus definido, estabelecemos os objetivos da pesquisa.
O objetivo geral é identif icar a construção do pesquisador nas posições
diante dos teóricos em Dissertações e Tese. Os objetivos específ icos
foram organizados sob três níveis de interpretação: identif icar,
classif icar e analisar. Os objetivos foram construídos em sintonia com
as questões, também construídas sob o critério daqueles níveis.
Para o nível do identif icar construímos um objetivo e duas
questões; para o nível do classif icar construímos um objetivo e uma
questão correspondente; e no nível do analisar construímos também um
objetivo e uma questão. Dessa forma, em cada Dissertação e na Tese
procuramos cumprir os objetivos e fomos à busca das respostas para
as questões da pesquisa.
Para o nível do identif icar — objetivo e questões — localizamos
os teóricos e as marcas l ingüísticas nas Dissertações e na Tese. Para
tanto elaboramos três tópicos que aparecem na abordagem de cada
texto do corpus (Capítulo 3): o contexto de integração do outro , o nome
do outro no contexto e o outro nas formas de discurso citado.
Com o contexto de integração identif icado em cada Dissertação
e na Tese compreendemos, além da cena textual criada pelo
pesquisador, as justif icativas deste para introduzir o discurso do
teórico.
A identif icação do nome do teórico no corpus também contribuiu
para compreender quem são os teóricos que interagem com o
pesquisador e, entre eles, aqueles que efetivamente possuem mais
ocorrências em cada Dissertação e na Tese.
A identif icação das formas de discurso citado nas Dissertações e
na Tese também contribui para diferenciar a voz do pesquisador da voz
72
do teórico. Os discursos direto e indireto — com aspas, com pontuação,
etc — e os verbos dicendi encontrados nos textos analisados
permitiram fazer essa diferenciação.
Quadro 3: Nível da Identi f icação: objet ivo,questões e tópicos
Objet ivo
Questões
Tópicos
Identi f icar os teóricos e as marcas l ingüíst icas
Que teóricos são evocados nas Dissertações e Tese? Qual o grau de freqüência dos teóricos em cada um dos três trabalhos anal isados?
O contexto de integração do outro , o nome do outro no contexto e o outro nas formas de discurso citado.
Para o nível do Classif icar — objetivo e questão — identif icamos
as posições e o t ipo de interação que o pesquisador estabeleceu com
os teóricos (Capítulo 3). Para isso, classif icamos posições que o
pesquisador assumiu na interação com os teóricos. Seja nas
Dissertações ou na Tese, encontramos posições do pesquisador de
concordância, de oposição, de aliado, dentre outras.
Quadro 4: Nível da Classif icação: objetivo, questão e tópicos
Objet ivo
Questão
Tópicos
Classif icar o t ipo de interação
Que posições o pesquisador assume com os teóricos na interação?
As posições e o t ipo de interação que o pesquisador estabeleceu com os teóricos.
Para o nível do Analisar — objetivo e questão — apresentamos o
papel do pesquisador em cada texto (Capítulo 3) e relacionamos, por
73
analogia, com as interações dos personagens históricos analisados por
Todorov (Capítulo 1 – Fundamentação Teórica).
Quadro 5: Nível do Anal isar: objetivos, questão e tópicos
Objet ivo
Questão
Tópicos
— Anal isar o papel do pesquisador (Todorov).
— Discutir como o pesquisador se posiciona na interação com os teóricos que consti tuem seu outro.
Que pesquisador por analogia à classif icação de Todorov se constrói em cada trabalho anal isado?
Papel do pesquisador em cada texto, relacionado, por analogia, com as interações dos personagens históricos anal isados por Todorov.
4 O CAMINHO DOS RECURSOS
Como recursos para trabalhar com o corpus, usamos as formas
do discurso citado e os verbos dicendi . Para trabalhar com o discurso
do outro no texto escolhemos as formas e esquemas do discurso citado
de Bakhtin (1929/2002), o discurso direto e o discurso indireto. Elas se
revelaram suficientes e relevantes para observar como o pesquisador
integra em seu texto o outro, os teóricos, e seu discurso. Identif icamos
as ocorrências desse discurso ao longo do corpus, e, a partir disso,
procuramos compreender a integração e os papéis atribuídos ao outro
em cada texto.
Usamos também como recurso metodológico o estudo dos verbos
dicendi. Esses verbos permitem identif icar as fronteiras entre o
discurso do pesquisador e o discurso do teórico, a diversidade de
teóricos nos textos, as ocorrências de interações do pesquisador com
74
esses teóricos e o sentido das palavras deles no texto. Destacamos em
nosso trabalho os verbos mais uti l izados pelo pesquisador para
introduzir os discursos do outro e, em seguida, discutimos como o uso
de determinado verbo possibil i ta interpretar a interação do pesquisador
com os teóricos.
Os verbos dicendi têm papel relevante no texto. Na interação
discursiva, À semelhança pretendemos estudar neste trabalho, são eles
que:
Introduzem o discurso do outro no texto.
Revelam o sentido das palavras do outro no texto.
Permitem identif icar as fronteiras entre o discurso do autor
e o discurso do outro.
Dessa forma, o uso de verbos dicendi , além de possibil i tar a
identif icação do outro e seu discurso no texto, também permite
descobrir a interação do pesquisador com seu outro, os teóricos.
Uma estratégia que encontramos foram as questões construídas
a partir da análise da primeira Dissertação e que foram aplicadas na
Segunda Dissertação e na Tese. Acreditamos que isso pode conduzir a
identif icação de semelhanças e diferenças nas posições que cada
pesquisador assume com seu outro, ou ainda, pode ajudar a perceber o
que há de “estável” e singular entre os textos.
5 O CAMINHO DA ANALOGIA: O PESQUISADOR E A CLASSIFICAÇÃO
DE TODOROV
E, f inalmente, f izemos as analogias da classif icação de Todorov
com o pesquisador que se construiu na Tese e nas Dissertações.
Entretanto, fr izamos desde já que o nosso objetivo não foi o de rotular
o pesquisador como de um ou de outro t ipo. Mas indicar que suas
75
ações na Tese e nas Dissertações analisadas num certo sentido se
assemelham as ações de algumas personagens históricas que
interagiram com os nativos latino-americanos. As interações dessas
personagens foram analisadas por Todorov, são elas: Las Casas,
Gonzalo Gerrero, Diego de Durán e Bernadino de Sahagún.
6 CAMINHO DO GÊNERO, DO QUALITATIVO E DO QUANTITATIVO
Abordamos o corpus sob a perspectiva bakthiniana de gênero.
Para Bakhtin, estudioso da l inguagem, o gênero é uma forma padrão da
l inguagem — composto de tema, esti lo e estrutura composicional —
que ocorre em diversos campos da ação e interação verbal. Nosso
campo está situado na esfera científ ica, especif icamente na área de
conhecimento da l inguagem, a l ingüística aplicada, e, como é evidente,
no texto escrito de um gênero acadêmico-científ ico, a Tese e as
Dissertações.
Consultamos também autores de metodologia e obras que tratam
sobre texto acadêmico (BOGDAN e BIKLEN, 1994; LÜDKE e ANDRÉ,
2005; SALOMON, 2000; FAZENDA, 1999; TRIVIÑOS, 1987, SALOMON,
2001; SEVERINO, 2002 e MACHADO (2005).) para estudar o conceito
de Dissertação e Tese, mas descobrimos que a abordagem desse
trabalho é entendida apenas sob a perspectiva formal. Assim sendo,
distancia-se de nossa abordagem bakhtiniana.
Finalmente, na abordagem do corpus , nosso olhar contou com as
perspectivas de gênero, de quantitativo e qualitativo.
Na abordagem quantitativa, quando da descrição e análise,
identif icamos o número de verbos dicendi usados pelo pesquisador no
texto para introduzir o discurso dos teóricos, o número de teóricos e o
número de ocorrências do discurso citado. Esse ato de l inguagem está
sintonizado com um dos objetivos e uma das questões desta pesquisa,
formulados anteriormente. Com isso, pretendemos, mais adiante,
76
compreender não somente as interações do pesquisador com os
teóricos no texto, mas, também, com quem ele interage mais e como
ele mesmo se constrói a part ir dessas formas de alteridade.
Na abordagem qualitat iva, analisamos o corpus com o intuito de
construir interpretações à luz do conceito de alteridade em Bakhtin e
seu Círculo, juntamente com a classif icação de Todorov — por meio de
analogia. Nessa abordagem, trabalhamos com a descrição e a análise
do corpus a partir dos nomes dos teóricos que ocorrem nos textos, dos
verbos dicendi e do discurso citado.
Para abordar o outro é preciso identif icar quem é ele no texto. A
Identif icação dos nomes dos teóricos torna-se um primeiro passo para
estudar a alteridade no texto. Diante do conjunto de teóricos que
aparecem no texto delimitamos aqueles cuja interação com o
pesquisador ocorreu mais e de forma mais signif icativa.
Diante do corpus delimitado, procuramos interpretar, sobretudo,
as interações do pesquisador com o seu outro, os teóricos, nesses
trabalhos, e também a participação deles na construção do pesquisador
no texto nos gêneros acadêmicos dissertação e tese.
77
CAPÍTULO 3
DISSERTAÇÃO E TESE:
A CONSTRUÇÃO DO PESQUISADOR
Neste capítulo analisaremos o recorte da pesquisa que foi
constituído como corpus para o trabalho. Como definido na
Metodologia, o corpus é formado por duas Dissertações e uma Tese:
a) Primeira Dissertação (LAEL/PUC-SP): Estudo sobre a
interação Professor e Aluno em Sala de Aula: as perguntas do
professor, defendida em 1993.
b) Segunda Dissertação (EDUCAÇÃO: CURRÍCULO/PUC-SP): A
Educação Física frente à exclusão do aluno cego, defendida em 1996.
c) Tese (IEL/UNICAMP): Estudo da Língua Falada e Aula de
Língua Materna: uma abordagem processual da interação
professor/alunos, defendida em 1999.
Na abordagem do corpus f izemos análises e discussões para
compreender como a alteridade não só se faz presente no texto dos
gêneros Dissertação e Tese, mas também como ocorre a interação do
pesquisador com ela — em nosso caso os teóricos—, resultando,
dessa forma, a construção do próprio pesquisador.
A análise e discussão do corpus procuram responder à tríade
objetivos-questões-tópicos, isto é, cumpre os objetivos, responde às
questões e apresenta tudo isso nos tópicos construídos.
78
1 PRIMEIRA DISSERTAÇÃO (1993): ESTUDO SOBRE A INTERAÇÃO
PROFESSOR E ALUNO EM SALA DE AULA: AS PERGUNTAS DO
PROFESSOR
1.1 O Contexto de Integração do Outro
Essa Dissertação relata os assuntos encontrados nos trabalhos
construídos a partir da Linha de Pesquisa21 a que ela estava inscrita. A
pesquisadora destaca uma polêmica entre a aquisição e aprendizagem
em LE. Ela cita alguns teóricos (Krashen e “aliados”) que acreditam
que o “ambiente natural”, fora de sala de aula, é mais propício para a
aquisição da l inguagem. Na Introdução do texto da pesquisadora, ela
integra o discurso desse teórico nessa polêmica.
“Para ele [Krashen], o ensino formal que chama a atenção para itens l ingüísticos de maneira explicita e sistemática dif iculta o processo de aquisição/aprendizagem de uma L2 /LE, ao invés de facil itá-lo.”. (p.1).
Em seguida, recupera outros teóricos (Long e “aliados”) que
defendem a “instrução formal” (sala de aula) para o sucesso tanto da
aquisição como da aprendizagem em LE.
“Essa concepção [a de Krashen] parece ir contra o trabalho de Long (1983): ‘Does instructions make a difference? ’ . Nesse trabalho, Long faz uma revisão de pesquisa que buscam responder à pergunta acima
21 A Linha de Pesquisa, na qual a pesquisadora está integrada e com a qual ela situa seu trabalho é Linguagem e Educação, criada na década de 1980, que tem a frente uma das mais renomadas pesquisadoras do LAEL, a professora Maria Antonieta Alba Celani. O objetivo da Linha de Pesquisa Linguagem e Educação é: “investigar questões de sala de aula e sobre a sala de aula, em uma perspectiva discursiva e sócio-histórica e/ou sociocultural: interação em sala de aula, análise e construção de materiais didáticos, análise e descrição de gêneros estabelecidos e utilizados em contextos educacionais e a formação contínua de professores.”.
79
(título do trabalho), e conclui que existe evidência suficiente para justif icar a afirmação de que a instrução formal pode ser benéfica.” (p.2).
Nessa “guerra declarada”, a pesquisadora apresenta o embate
dos “aliados” de Krashen e os de Long. Nessa arena textual, ela se
posiciona a favor de Long. Já na Introdução “por estarmos cientes da
enorme importância da sala de aula para a aprendizagem de uma LE no
nosso contexto é que optamos por esse ambiente para realizar nossa
pesquisa.”. (p.4).
O segundo elemento é o da escolha do tema da pesquisa. A
atenção da pesquisadora focou a interação que ocorre nesse espaço
entre professor-aluno no processo de aquisição/aprendizagem da LE.
Para a composição de seus “dados”, ela gravou e transcreveu quinze
aulas de inglês, ministrada por três professores de um “instituto de
língua particular”, localizado no interior de São Paulo, a alunos de
classe média com faixa etária entre doze e dezessete anos.
E o terceiro elemento destacado do contexto é o da interação. A
pesquisadora situou seu trabalho no “processo de aprendizagem”
desenvolvido na interação entre professor-aluno em sala de aula de LE.
Para ela, a interação em sala de aula deve proporcionar a negociação
de signif icados e, como resultante disso, a aprendizagem. Ela discutiu
os efeitos/resultados que as perguntas do professor provocam na
interação com os alunos. Os resultados foram analisados e discutidos à
luz da teoria dos teóricos – seu outro – que são citados em seu texto,
de modo especial Long.
Nesse contexto, o discurso do outro é integrado (recepcionado e
transmitido) e com ele a pesquisadora constrói seu texto e a si mesma.
Identif icado o contexto em que o outro é integrado, vamos agora
identif icar esse outro, os teóricos. Para tanto, localizamos os teóricos
por seus nomes e calculamos o número de ocorrências em que eles
80
aparecem no texto. Fizemos isso nas seguintes partes da Dissertação:
na Introdução, nos Capítulos, nas Considerações Finais e nas
Referências Bibliográficas.
1.2 O Nome do outro no Contexto
Na Introdução verif icamos vinte e cinco (25) ocorrências de
nomes de teóricos que fundamentam o trabalho. Essa informação
conduziu-nos à interpretação de que ocorre uma presença intensa do
discurso do outro no texto, considerando que nesta parte do gênero
Dissertação e Tese, do ponto de vista formal (SALMON, 2001, p.350;
SEVERINO, 2002, p.82), os teóricos que fundamentam o trabalho
geralmente ou não são citados ou aparecem apenas aqueles que
representam a Linha de Pesquisa na qual está situado o trabalho.
Alguns nomes vão aparecer mais do que outros ao longo do
texto. É o caso de “Krashen” e “Long”, citados no seguinte exemplo
(p.2): “Além de Long (1983), Allwright (1984) e Fil lmore (1985) também
atribuem à sala de aula um papel mais importante do que o atribuído
por Krashen.”. No Quadro 6, mostramos a distribuição de nomes de
teóricos citados na Introdução .
Quadro 6: Nomes de teóricos na Introdução Teóricos CitadosKrashen 06 Long (1983) 02 Long e Sato 06 Allwright (1984) 06 Fil lmore(1985) 05
Os teóricos Long e Sato aparecem na Introdução juntos, mas em
outras partes da Dissertação isso não ocorre. Long é citado muitas
vezes sem o autor Sato. Isto acontece pelo fato de que nas
Referências Bibliográficas (cf. Anexos) são l istadas 10 (dez) obras de
81
Long e somente em uma o autor Sato faz parceria com Long. Assim, o
nome de Long ocupa mais espaço no trabalho do que o de Sato.
Já o autor “Krashen” é citado seis (6) vezes na Introdução . Nas
Referências Bibliográficas, contudo, ele tem três obras l istadas. O que
não acontece com o autor “Long” que tem mais espaço na l ista com dez
(10) obras l istadas. Podemos concluir disso que não é o numero de
obras nas Referências Bibliográficas que determina um número maior
ou menor de ocorrências ao longo do texto.
No Quadro 7 são apresentados os números de obras l istadas
nas Referências Bibliográficas e seus teóricos correspondentes.
Quadro 7: Teóricos e números de obras nas Referências Bibliográficas
Teóricos
Número de Obras
Allwright 3 Brock 1 Broock 1 Brown 1 Burt 1 Bygate 1 Cathcart-Strong 1 Chaudron 2 Corder 1 Coulthard 1 Day 1 Dulay 1 Ell is 3 Erickson 2 Fergson 1 Fil lmore 1 Gass 2 Goffman 1 Hamayan 1 Hatch 2 Krashen 3 Larsen 1 Lier 2 Long 10
82
Lopes 1 Nunan 2 Pica 3 Prabhu 2 Riley 2 Sacks 1 Savignon 1 Schwartz 1 Seliger 1 Sinclair 2 Slobin 1 Stevick 2 Stubbs 1 Swain 1 Tarone 1 Vjgotsky 1 Wardhagh 1 Widdowson 1
Nos Capítulos, por sua vez, o número de vezes em que os
nomes dos teóricos aparecem apresenta algo estranho. Consideramos
estranho o fato de muitos teóricos que aparecem na l ista de
Referências Bibliográficas tenham sido “apagados” nos Capítulos.
Afinal, nessa parte do trabalho, do ponto de vista formal, são l istados
os teóricos e suas obras que “referenciaram” o trabalho (SEVERINO,
2002, p.113). Tal estranheza poderia não ocorrer se encontrássemos
duas l istas, uma das referências e outra de bibliografia consultada.
Dessa forma, entenderíamos que uns teóricos ingressaram no texto de
forma direta (referências) enquanto os outros ingressaram de forma
indireta (bibl iografia consultada).
O Quadro 8, na página seguinte, apresenta os teóricos que
aparecem nos Capítulos e o número de ocorrências. Percebemos que
os mais citados nos capítulos são aqueles que a pesquisadora tem
concentrado a sua interação na abordagem de seu tema, e que se
tornam a base do trabalho, encontramos Ell is, Long e Krashen.
Bibliográficas .
83
Quadro 8: Teóricos Citados nos Capítulos Teóricos OcorrênciasAllwright 4 Brock 0 Broock 0 Brown 0 Burt 1 Bygate 0 Cathcart-Strong 0 Chaudron 2 Corder 1 Coulthard 5* Day 0 Dulay 1* Ell is 26 Erickson 0 Fergson 0 Fil lmore 9 Gass 7** Goffman 3 Hamayan 0 Hatch 5 Krashen 49 Teóricos Citados Larsen 0 Lier 0 Long 34** Lopes 0 Nunan 1 Pica 4* Prabhu 2 Riley 3 Sacks 3* Savignon 0 Schwartz 0 Seliger 0 Sinclair 6** Slobin 0 Stevick 4 Stubbs 0 Swain 10 Tarone 1* Vejgotsky 0 Wardhagh 0 Widdowson 0
* Citado uma vez com outro autor. ** Citado mais de uma vez com outro autor.
84
Dentre os teóricos l istados nas Referências Bibliográficas e os
citados nos Capítulos do texto, num total de quarenta e dois (42)
nomes, nomearemos apenas os que apresentam mais de dez
ocorrências porque são eles que ocupam espaço também nas outras
partes da Dissertação. Abaixo segue o resultado do levantamento.
a) Vinte teóricos (20) não são citados nos capítulos, mas aparecem
na l ista de “Referências Bibliográficas”;
b) Cinco teóricos aparecem apenas uma (1) vez nos Capítulos ;
c) Dois teóricos aparecem duas (2) vezes;
d) Três teóricos aparecem três (3) vezes;
e) Três teóricos aparecem quatro (4) vezes;
f) Dois teóricos aparecem cinco (5) vezes;
g) Um autor aparece seis (6) vezes;
h) Um autor aparece sete (7) vezes;
i) Um autor aparece nove (9) vezes;
j) Um autor aparece dez (10) vezes;
k) Três autores aparecem mais de dez (10) vezes: Ell is (26), Long
(34) e Krashen (49).
Os teóricos que aparecem mais nas Referências Bibliográficas
são os seguintes: Long, dez (10), Allwright/Ell is/Krashen/Pica com
três (3); e com dois (2) aparecimentos cada um dos seguintes
teóricos: Chaudron, Erickson, Gass, Hatch, Lier, Nunan, Prabhu,
Riley, Sinclair e Stevick. Os demais teóricos que aparecem na l ista
aparecem apenas uma vez - conforme o Quadro 4.
Nas Considerações Finais os teóricos citados são: Long e Sato,
quatro (4) vezes; Brock, três (3) vezes; e, uma (1) vez, Ell is e Prabhu.
Abaixo segue a apresentação no Quadro 9.
85
Quadro 9: Teóricos citados nas Considerações Finais Teóricos Citados Brock 3 Ell is 1 Long 4 Prabhu 1 Sato 4
Nas Considerações Finais aparecem teóricos que, ao longo das
outras partes, Introdução e Capítulos , t iveram menos ocorrências em
relação a outros, como Long e Sato. É o caso de Brock e Prabhu,
respectivamente. Prabhu teve três ocorrências (p.55, p.56 e p. 174),
duas nos Capítulos e uma nas Considerações Finais . Nessas partes, o
pesquisador apresenta e assume a posição de Brabhu a respeito do
processo de ensino, chamado de “senso de plausibi l idade”, que trata
da percepção pedagógica do professor. Brock teve também três
ocorrências, mas todas nas Considerações Finais . Elas ocorreram para
sustentar a posição do pesquisador sobre as “perguntas genuínas”
realizadas em sala de aula de língua estrangeira, que foram tratadas
por Long e Sato.
Isso conduz à conclusão da presença intensa de teóricos que
desde a Introdução da dissertação colaboraram com a pesquisadora,
não só de maneira quantitativa (muitas ocorrências) como também
qualitativa (muitas ocorrências para elucidar o problema da pesquisa).
É o caso de Krashen, Long e Sato - desde a Introdução – e Ell is – nos
Capítulos. Esses teóricos, como descobrimos, têm ocupado o centro
das interações no texto e, com isso, vão colaborando na construção do
texto e do pesquisador.
1.3 O Outro nas Formas de Discurso Citado
Encontramos expressões e outras formas para introduzir o
discurso do teórico. Dentre elas, identif icamos na primeira Dissertação
86
as seguintes: segundo, para, com aspas, de acordo, nas palavras de,
com dois pontos e com vírgula.
Na Introdução da Dissertação são encontradas formas do
discurso citado de discurso indireto e de discurso direto. Do discurso
indireto encontramos seu uso com estratégias de introdução do
discurso do teórico por meio de expressões como “segundo...” e
“para...”.
Segundo Allwright (1994), a sala de aula tem um papel crucial no processo de aprendizagem aquisição de uma L2/LE, uma vez que é palco de um processo de interação “ao vivo” entre pessoas, ou seja, professor e aprendizes (l ive person-to-person interaction, Allwright, 1994).
Nesse exemplo, a pesquisadora, para dar voz ao teórico
Allwright no texto, identif ica uma metáfora uti l izada pelo outro. Esse faz
uma analogia entre a sala de aula e o “palco”, reforçando que nestes
espaços a interação é “ao vivo”. Nesse sentido, no “palco” se
encontram os “atores”, que são o professor e os alunos, interagindo em
vista da aprendizagem. Tal ato de l inguagem do pesquisador confirma a
característica do discurso indireto analisador de expressão (Bakhtin,
1929, p.161) porque é apresentado com efeitos criados pelo
pesquisador para ingressar o discurso do outro.
Para Fillmore (1985) , a sala de aula pode ser um lugar ideal para se aprender uma língua, se ela permitir ao aprendiz estar em contato contínuo com professor e colegas que falem a língua-alvo suficientemente bem para auxil iá-lo no processo de aprendizagem.
87
Já nesse exemplo, o discurso apresenta característ ica de
discurso indireto analisador de conteúdo (BAKHTIN, 1929, p.161), pois
ao abordar o mesmo assunto do recorte (b), o discurso se atém à voz
do teórico Fil lmore, com um tratamento direto do conteúdo a respeito
da sala de aula. Para esse teórico — como interpretado pela
pesquisadora — a sala de aula é definida como um lugar para se
aprender uma língua se “ela permitir ao aprendiz estar em contato
contínuo com professor e colegas (...)”.
Os dois recortes mostram que a pesquisadora na interação com
os teóricos marca o discurso indireto destes por meio de expressões
(segundo, para). Essa ação possibil i ta uma compreensão da interação
em atos enunciativo-discursivos onde o pesquisador (enunciador) não
só responsabil iza seu outro, os teóricos, pelo discurso no texto, mas
também se apóia nele para mostrar o seu discurso. Essa interação vai
colaborando para a construção do pesquisador.
Nos Capítulos, naturalmente o discurso dos teóricos aparece
muito mais. As formas de discurso citado com as expressões “segundo”
e “para” são as mais encontradas nos Capítulos, repetindo o que já
havia ocorrido na Introdução . Mas também encontramos outras
expressões como “de acordo com...” e pontuação (dois pontos).
Abaixo alguns exemplos mostram como elas aparecem no texto.
Para Krashen, a condição “sine qua non” para que isso se dê é que o aprendiz volte sua atenção para o signif icado, ou seja, o conteúdo da mensagem que está sendo passada na L2/FL, e não para a forma. (p.19-20).
Para alguns autores, dentre eles Allwright, a aprendizagem também cumpre uma função importante, quando se está discutindo a sala de aula.
88
(...) segundo Krashen , que se faça uso do contexto e informações extra-l inguísticas que auxil iarão no proceso de tornar o “input” compreensível. (...) segundo Ellis (1985), trata aquisição como o resultado de uma interação entre as habil idades mentais do aprendiz e o ambiente l ingüístico.
Nesses exemplos, somente o primeiro recorte apresenta um
discurso analisador de expressão. O recorte mostra que o pesquisador
ingressa a voz do discurso do outro na cena com uma expressão em
latim – sine qua non – uti l izada por este, sinalizando, dessa forma,
para a subjetividade pictórica do discurso indireto dessa natureza
(BAKHTIN, 1929/2002, p.164).
Os demais apresentam características, já citadas, de discurso
indireto analisador de conteúdo.
Diante disso, mais uma vez, identif icamos a pesquisadora
apresentando o discurso do teórico com uma marca visível de
separação e, como já interpretado anteriormente, indicando a
responsabil idade do outro no que está sendo interpretado.
Entretanto, a ação de integrar o discurso do outro, seja de que
forma for, não é fortuita ou neutra. É um ato responsável, como todos
os outros no texto (BAKHTIN, 1920-24/1997). Trata-se de um ato de
responsibil idade, ou ação/reaçao responsiva. O discurso do outro foi
posto no texto com um (ou alguns, ou muitos) objetivo (objetivos).
O Quadro 10 apresenta as formas para introduzir o discurso do
teórico e o número de suas ocorrências nos Capítulos.
Já nas Considerações Finais , o discurso do outro é encontrado
na forma de discurso indireto (2) e também com o uso dos verbos
dicendi afirmar (1) e concluir (1).
89
Quadro 10: Expressões na formas encontradas nos Capítulos
Apesar de poucas formas de presença do discurso do outro, elas
trazem uma novidade: o nome e discurso de teóricos citados apenas
nesta parte da Dissertação. Dentre eles estão Prabhu, Sato, Brock.
Abaixo seguem recortes de como elas aparecem nas Considerações
Finais .
Segundo Prabhu (1987), quando no existe percepção pedagógica na cabeça do professor (o que ele chama senso de plausibil idade), o processo de ensino é uma mera rotina que vai se cristal izando através do tempo.
Brock (1996), ao relatar sua pesquisa que analisa os efeitos de perguntas referenciais no discurso da sala de aula, afirma que: “an increased use by teachers of referential questioner, which create a f low of information from students to teachers, may generate discourse which more nearly resembles the normal conversation learners experience outside of the classroom” (1986.49).
Como Brock (1986), também Long e Sato (1983), após analisarem a influência de pseudo-perguntas e perguntas genuínas na interação, concluem que perguntas genuínas são muito importantes para a aprendizagem de uma língua, por promoverem negociação de signif icado e gerarem “outputs” mais elaborados, e clamam por um treinamento e/ou conscientização de professores a esse respeito.
EXPRESSÕES
OCORRÊNCIAS
Segundo (para DI) 75 De acordo 05 Para 34 Com dois pontos (:) 06 Nas palavras de 07 Segundo (para DD) 06
90
Os dois verbos dicendi que aparecem mostram uma atitude da
pesquisadora em encerrar o seu texto com convicção (afirmar),
concluindo-o a partir da colaboração do discurso do outro. Assim, o
discurso da pesquisadora junta-se com o do outro e ambos se
encaminham para o f inal do texto.
Nos Capítulos, foram encontradas dezenove (19) situações de
discurso direto. A variante mais uti l izada foi a de discurso direto
preparado. Nela a pesquisadora interpreta antecipadamente, muitas
vezes com suas entoações, o que o outro escreveu. Dentre os teóricos
que ingressam nessas situações, encontramos Krashen em seis (6),
Long em quatro (4) e Ell is em três (3). Abaixo seguem exemplos dessas
situações, juntamente com os teóricos.
Recorte (a)
(...) como já dissemos anteriormente, ocorre aqui uma inversão do pressuposto pedagógico segundo o qual primeiro se aprendeM estruturas, para depois praticá-las na comunicação e, por conseguinte, desenvolver f luência. Referindo-se a esse pressuposto, Krashen diz: “the input hypothesis says the opposite. It says we acquire by going for meaning first, and, as a result, we acquire structure” (1992:21). Essa visão de Krashen parece ter t ido uma forte repercussão na prática do ensino de línguas. (p.20).
Recorte (b)
Tarone e Vule (1989) também entram por essa questão pedagógica, quando colocam na introdução do l ivro “Focus on the Language Learner” a seguinte pergunta: Por que professores de L2 e LE nunca usam um único l ivro-texto? Por que estão sempre mudando seções e criando material adicional? (p.57).
Recorte (c)
Krashen afirma que tornar o “input” compreensível é uma condição crucial para que ocorra aquisição de L2/LE e diz mais: “perhaps the main function of the second—language teacher is to help make input comprehensible, to do for the adult what the outside
91
world cannot or wil l not do” (Krashen, 1982:64). (p.22).
Recorte (d)
Long chega então à elaboração da hipótese final: “participation in conversation with NS, made possible through the modif ication of interaction, is the necessary and suff icient condit ion for GLA” (1981:275). Long reconhece, entretanto, a condição de hipótese de sua afirmação, sugerindo que estudos sejam realizados para testar o que propõe. (p.48).
Recorte (e)
Opondo-se à visão behaviorista, a visão nativista defende a idéia de que exposição à língua não é suficiente para que ocorra aquisição. Nas palavras de Ell is (1985), “ input is as a tr igger which activates the internal mechanisms” (1925, p.12B). As primeiras pesquisas buscavam identif icar as propriedades l inguísticas da fala das mães, com o objetivo de se estabelecer se essa fala era realmente degenerada, como afirmava Chomsky. O resultado dessas pesquisas mostrou, entretanto, que essa fala é muito bem formada, contendo poucas sentenças não-gramaticais ou fragmentadas. Essas pesquisas, acreditamos, foram o embrião da visão interacionista, que, segundo Ell is (1985), trata aquisição como o resultado de uma interação entre as habil idades mentais do aprendiz e o ambiente l ingüístico. Nas palavras de Ell is: “The learner’s processing mechanisms both determine and are determined by the nature of the input. Similarly, the quality of the, input affect and is affected by the nature of the internal mechanisms .” (1985: 129). Dentro dessa visão, a interação verbal entre aprendiz e interlocutor é a manifestação da interação entre fatores internos e externos. (p.37).
Verif icamos a ocorrência de discurso direto preparado (c, d),
discurso direto antecipado e disseminado (a, e).
Nos recortes (a) e (d) identif icamos formas do discurso direto
antecipado e disseminado que evidenciam discursos da pesquisadora e
também dos teóricos a respeito do assunto tratado. No recorte (a) o
enunciado da pesquisadora “como já dissemos anteriormente” antecipa
92
o assunto do discurso do outro e renova laços com a fala do outro que,
neste caso, é o autor Krashen. Essa interação termina com a afirmação
da pesquisadora de que a “visão” de Krashen teve “uma forte
repercussão...”.
Algo semelhante ocorre no recorte (e). Nesse, os discursos se
entrecruzam; “as pesquisas” citadas pelo pesquisador a respeito do
ambiente l ingüístico como forma de aprendizagem da língua “falam”
junto com a autora “Ell is” enquanto outro (recorte teórico). O
pesquisador incide com suas entoações, como “essa fala é muito bem formada, contendo poucas sentenças não-gramaticais ou
fragmentadas”, combinando-a com a do outro - a das “pesquisas”
citadas e a de Ell is, teórico citado.
Quanto aos recortes que revelam o uso de discurso direto
preparado, o pesquisador prepara o que o outro vai dizer. É o caso do
recorte (d), quando diz “Long chega então à elaboração da hipótese
f inal” e na mesma citação “Long reconhece, entretanto, a condição de
hipótese de sua afirmação, sugerindo (...)”.
Diante disso, vemos que a pesquisadora vai integrando o outro
no texto a partir das contribuições que este pode dar na abordagem do
assunto. O discurso do outro é preparado com as entonações da
pesquisadora, uma espécie de “apresentação” do discurso que vai
entrar em cena. A alteridade, nesse sentido, participa do texto com um
discurso marcado pelo discurso da pesquisadora.
Entretanto, como podemos interpretar a constatação de mais
uso do discurso indireto e menos uso do discurso direto nessa
Dissertação (cf. Anexos 1)? Podemos considerar duas interpretações. A
primeira se refere a uma característica da pesquisadora de ser mais
analít ica na abordagem do discurso do outro. Isso pode ser confirmado
não só pela dimensão quantitativa — 109 ocorrências de discurso
indireto e apenas 19 de discurso direto — mas também pela forma da
pesquisadora integrar o discurso do outro no contexto comunicativo.
93
Nesse últ imo aspecto, ela integra o discurso do teórico e,
concomitantemente, insere nele suas entoações analít icas. Abaixo
apresentamos uma seqüência (Seq) que mostra uma pesquisadora mais
analít ica, envolvendo o autor Krashen.
Seq1: “Apesar de colocar repetidas vezes a importância do
‘input’ compreensível para a aquisição de competência em LE/L2 ,
Krashen afirma não ser condição suficiente.
Seq2: Para o autor [Krashen], entra aqui um outro aspecto
essencial para que o processo de SLA tenha sucesso, qual seja, o
conceito de Filtro Afetivo proposto por Dulay e Burt (1977).
Seq3: “Krashen (1981) procede a uma revisão das pesquisas
realizadas nessa área na últ ima década, que confirmam a relação entre
variáveis afetivas e o sucesso de uma L2.” (p.22).
Os grifos mostram que a pesquisadora identif icou atos do outro
com relação ao tema que ela apresenta em texto. O outro (Krashen)
“colocou” (disse, afirmou) “repetidas vezes”, acenou para um “outro
aspecto” e “procedeu” (estudou) a uma “revisão de pesquisas” sobre o
tema do discurso. Ela, ao integrar o discurso do outro, também o
analisa.
Esse tipo de postura diante do discurso do outro ocorre de
maneira regular na primeira Dissertação, mostrando uma atitude
analít ica da pesquisadora na interação com o seu outro.
Essa predominância de discurso indireto está relacionada ao
papel que a pesquisadora atribui ao outro no texto, o de questionador.
Ao apresentar o discurso dos teóricos, de modo especial o de Krashen
e Long, ela o faz de maneira a confrontá-los entre si. E, preocupando-
se com o leitor, apresenta a posição de cada um (extralingüístico) a
respeito do que está sendo interpretado na cena textual. Para que isso
ocorra, a pesquisadora como que sintetiza o pensamento (idéia,
94
conclusões) dos teóricos apresentando-o sob a forma de discurso
indireto.
Outra forma de discurso citado usada pela pesquisadora na
Dissertação ocorre pelos verbos dicendi. Nessa Dissertação, defendida
em 1993, as ocorrências de verbos atingem 383 numa quantidade de 51
verbos diferentes. Esses verbos introduzem o discurso do outro e
apresentam diferenças entre o discurso direto e o indireto. Enquanto no
discurso direto eles somam apenas 19 ocorrências com 5 verbos, no
discurso indireto eles atingem um pico de 109 ocorrências com 33
verbos. Essa diferença, inicialmente quantitativa, mostra também
aspectos qualitativos que indicam algumas posições assumidas pelo
pesquisador, dentre elas a de oposição, na interação com os teóricos,
que são discutidas mais adiante.
Também identif icamos uma diferença entre a quantidade de
verbos e suas ocorrências quando o pesquisador os uti l iza para
introduzir o discurso do teórico, tanto direto como indireto. Dentre os
verbos para introduzir o discurso direto, encontramos afirmar (4) e a
expressão nas palavras de (7). Quanto ao uso desse tipo de verbo no
discurso indireto, encontramos também afirmar (14), chamar (chama a
atenção) (10) e mencionar (21). Abaixo apresentamos alguns exemplos
de suas formas de presença.
(. ..) Allwrtqht afirma que o conceito de “input” de Krashen deveria ser expandido para incluir também itens ensinados e não somente os que simplesmente aparecem. Nas palavras de Ell is (1985), “ input is seen merely as a tr igger which activates the internal mechanisms” (1985, p.128).
Encontramos no primeiro exemplo o discurso indireto, no qual o
ingresso do outro no texto aparece sem aspas, o que nos conduz a
interpretar como uma reformulação de suas palavras, mas que mantém
95
o sentido do pensamento do teórico. No segundo, por sua vez,
verif icamos o discurso direto em sua forma clássica.
No primeiro texto, retomando os verbos mais uti l izados —
afirmar (4) e a expressão de introdução nas palavras de (7) —, o
pesquisador não só introduz o autor, mas confere a este, pelo uso
desses verbos, um caráter de “autoridade” no assunto que aborda. O
verbo afirmar , nesse caso, sinaliza um caráter de certeza em relação
ao assunto tratado na interação. Assim também a expressão nas
palavras de confirma o que dissemos, pois essa expressão, no contexto
da cena textual, revela essa atribuição da pesquisadora para com o
autor. Retomemos o exemplo anterior e um outro, selecionado para
esse fim, para observar como isso acontece.
(...) Allwright afirma que o conceito de “input” de Krashen deveria ser expandido para incluir também ítens ensinados e não somente os que simplesmente aparecem.
Apesar de concordar com Krashen quanto à necessidade de se obter “input” compreensível para que se possa progredir na aprendizagem de uma L2/LE, Allwright afirma que é o processo interativo de tornar o “input” compreensivel o que realmente beneficia o aprendiz (p.3)
É possível observar que a posição conferida ao autor Allwright
pelo pesquisador é de “autoridade” no assunto, pois sua voz é
precedida pelo verbo afirmar, que confere ao citado um grau de certeza
no que é interpretado. O verbo afirmar reporta à pesquisas já
realizadas e serve como embasamento de apoio na defesa de uma
idéia. Nesse sentido, o outro, neste caso, Allwright , tem uma presença
colaborativa no desenvolvimento do texto da pesquisadora. Não é por
acaso que o pesquisador, no primeiro texto, recorre de maneira
signif icativa a esse autor. Isso pode ser sublinhado pelo fato de o
autor Allwright ocupar um lugar de destaque entre os cinco mais
citados na primeira Dissertação, como fora indicado anteriormente.
96
1.4 O Outro nas Referências Bibliográficas
No caso da primeira Dissertação, formulamos a seguinte
questão, dentre outras que poderiam ser construídas: como podemos
interpretar a ausência dos teóricos l istados nas Referências
Bibliográficas , mas não citados na Introdução , Capítu los e
Considerações Finais? Partimos da dimensão de bivocalidade do
discurso para responder essa questão.
O discurso mostra na material idade l ingüística o (s) sentido (s)
que está (ao) presente (s) na (s) palavra (s) do outro no texto e, ao
mesmo tempo, direciona para além do texto. Quando o discurso do
outro é integrado no contexto comunicativo pelo pesquisador, este
compreende que um determinado “discurso” e um determinado “outro”
estão sintonizados coerentemente com o que é interpretado no texto.
Essa sintonia está relacionada muitas vezes com a Linha de Pesquisa,
ou Grupo de Pesquisa, do qual faz parte a pesquisadora.
A Linha de Pesquisa é constituída por um conjunto de teóricos
que desenvolve trabalhos a partir de um (ou mais) paradigma para
compreender um fenômeno humano, como a interação, a l inguagem, o
trabalho, a educação etc. Nem sempre os teóricos que estão
sintonizados com a Linha de Pesquisa têm algo de específico para
colaborar num trabalho de pesquisa e, dessa forma, eles são incluídos
numa lista de bibliografia consultada.
Foi o caso, a nosso ver, daquele conjunto de teóricos l istados
nas Referências Bibliográficas da primeira Dissertação, mas não citado
no corpo do trabalho. Poderiam ter sido l istados numa l ista como essa.
Os teóricos que não foram citados no trabalho são integrantes da Linha
de Pesquisa da pesquisadora, mas sem grandes contribuições ao
problema de pesquisa desenvolvido na primeira Dissertação.
Esses teóricos que não foram citados no corpo do texto têm uma
97
presença no texto diferente em relação àqueles mais citados.
Acreditamos que eles fazem parte do discurso interior (consciência) do
pesquisador. De acordo com Bakhtin (1927/2001, p.80) "Esse discurso
também pressupõe o ouvinte eventual, constrói-se voltado para ele. O
discurso interior é tanto produto pressão do convívio social quanto o
discurso exterior.”. Nesse sentido, o outro não citado mas l istado, não
está no trabalho de forma “gratuita”, “neutra” etc., ele foi integrado
resposavelmente pelo pesquisador porque ele faz parte da consciência
do pesquisador, do “olhar do pesquisador”, enfim, de sua perspectiva
cientif ica para abordar a temática. Além disso, esse outro foi posto no
trabalho porque existe um “ouvinte eventual” que, a nosso ver, é aquele
(aqueles) cuja l inha de pesquisa está integrado ou concorda.
1.5 Posições do Pesquisador na Interação com o Outro
Nesta parte tomaremos dois caminhos. O primeiro é orientar a
abordagem das posições do pesquisador a partir de questões que
acrescentamos àquelas formuladas em nossa Introdução.
As questões são:
• Como o pesquisador integra o outro no texto?
• Como o pesquisador justif ica a integração do outro no texto?
• Qual o papel atribuído pelo pesquisador ao outro no texto?
• Que posições o pesquisador assume na interação com o outro no
texto?
O segundo caminho é norteado com as questões que foram
construídas na durante análise da primeira Dissertação. Esse
procedimento é aplicado aos demais textos (Segunda Dissertação e
Tese). Acreditamos que isso pode conduzir a identif icação de
semelhanças e diferenças nas posições que cada pesquisador assume
com seu outro, ou ainda, pode ajudar a perceber o que há de “estável”
e singular entre os textos.
98
1.5.1 Como o pesquisador integra o outro no contexto?
A integração do outro na Dissertação ocorre de duas formas.
Com uso dos verbos dicendi e com o discurso citado. Dentre os verbos
mais uti l izados para introduzir o discurso do outro no texto destacamos:
chamar (chamar a atenção), afirmar e mencionar. O verbo afirmar teve
quatorze ocorrências para transmitir o discurso do outro na forma de
discurso indireto. Em termos percentuais, esse número é signif icativo
em relação ao uso desse verbo para o discurso direto, que foi de
quatro ocorrências.
Diante disso, a pesquisadora apresenta as convicções (afirmar)
e as chamadas de atenção (chamar) do outro bem como as integra no
texto, mas sempre com uma análise (perspectiva, interpretação etc.),
que é uma característica fundamental do discurso indireto.
1.5.2 Como o pesquisador justif ica a integração do outro no texto?
A justif icativa de integração do discurso do outro ocorre a partir
de dois contextos. O primeiro contexto encontra-se mais fora do texto e
é denominado de contexto amplo, ou extraverbal. Já o contexto restrito
é evidenciado ao longo do texto.
O contexto amplo é sinalizado em dois momentos, um na
Introdução e o outro no Capítulo 1 . Na Introdução, a pesquisadora
orienta o leitor para uma polêmica que tem marcado os estudos sobre a
aquisição e aprendizagem em LE que recai sobre a “instrução formal”,
ou seja, a sala de aula.
Mesmo depois de séculos de prática de ensino de línguas em sala de aula, uma questão provoca, ainda hoje [1993], bastante controvérsia entre pesquisadores da área de l ingüística aplicada é a da influência que a instrução forma exerce no processo
99
de aquisição/aprendizagem de um a segunda língua/língua estrangeira. (p.1)
A partir desse momento, ela vai integrar os teóricos – o outro –
que estudaram (ou estudam) essa “controvérsia”. Dentre eles, Krashen
(1982), Long (1983), Fil lmore (1985) e Allwright (1984).
No Capítulo 1 , a pesquisadora contextualiza para o ingresso do
outro em outra polêmica relacionada a duas visões a respeito da
“maneira de se ensinar/aprender em L2 /LE, sendo elas: a visão
behaviorista e a nativista” (p.37). Diante disso, a pesquisadora situa
seu trabalho mais próximo da visão nativista e, dessa forma, justif ica
os teóricos que ingressam em seu trabalho, ou seja, aqueles que
orientam suas pesquisas por esse prisma.
O contexto restrito, ou seja, aquele que é materializado, é
constituído por três destaques: ambiente formal (dentro sala de aula)
versus ambiente natural (fora de sala de aula), o processo de
aquisição/aprendizagem em L2/LE e a interação entre professor-aluno
em sala de aula. Nesse contexto, os teóricos mais integrados são:
Krashen (49), Long (34) e Ell is (26).
1.5.3 Qual o papel atribuído ao outro pelo pesquisador no texto?
O papel atribuído ao outro pela pesquisadora na primeira
Dissertação é de questionador e apresentador. Ao contextualizar e
apresentar o tema de seu trabalho, a pesquisadora como que chama
para uma “discussão” aqueles que desenvolverão a discussão por meio
de estudos já realizados. Dentre eles estão: Krashen, Long, Fil lmore,
Ell is e Swain.
Nessa “mesa de debate”, ao autor Krashen é atribuído pelo
pesquisador o papel de “apresentador do dia”, ou seja, aquele que
apresenta sua teoria (pesquisa) para que os demais, sob a
100
coordenação da pesquisadora, possam formular suas crít icas. Isso já
ocorre na Introdução da primeira Dissertação, quando o pesquisador
insere no texto esse autor e a apresentação de suas idéias (discurso) a
respeito da “instrução formal”, a sala de aula. Das onze páginas que
compõem essa parte do texto, seis são uti l izadas para a “apresentação”
da teoria de Krashen. Também nos Capítulos ele será requisitado para
ser questionado por outros teóricos. Esse autor defende mais o
“ambiente natural” para a aquisição/aprendizagem de uma L2/LE.
O papel de questionador é atribuído principalmente aos teóricos
Fil lmore, Ell is, Swain e Long. Esses teóricos foram “postos” na “mesa
de debate” para questionar a teoria krashiana. Além desses teóricos, a
própria pesquisadora vai apresentar seus questionamentos aos
resultados de Krashen no final do trabalho (Considerações Finais). O
verbo dicendi mais uti l izado pela pesquisadora quando integra o
discurso desses teóricos, na cena textual de discussão da teoria de
Krashen, é o verbo questionar, como mostram os exemplos abaixo.
Em seguida, na segunda parte, apresentaremos questionamentos feitos por autores como Long, Gass e Various, Pica, Swain, Stevick, Allwright, Fil lmore, dentre outros, à teoria de Krashen. (p.15). Agora que colocamos de maneira resumida a hipótese do ‘ input’ de Krashen, vejamos como outros pesquisadores levantam questionamentos com relação ao que foi aqui exposto. (p.24). Um interessante questionamento sobre o papel do ‘output’ no processo de SLA como colocado por Krashen é feito por Swain (1965) , com a ntrodução do termo ‘output’ compreensível (comprehensible).e output). (p. 33). 1 - Para procedermos à discussão do papel do “input” no processo de aprendizagem, estaremos partindo do trabalho de Stephen Krashen que, apesar de vir merecendo sérios questionamentos , é, no nosso entender, um marco na teoria de aprendizagem de uma L2/LE, por ter formu1ado uma série de hipóteses bastante fortes, que conferem ao ‘ input’ uma grande importância (até então relegada) dentro desse processo. (p.52).
101
2 Segundo Ell is (1985), existem objeções à dist inção entre aquisição e aprendizagem colocadas por Krashen, O primeiro questionamento levantado por McLanghlin (1978) apud Ell is (1985), é que a distinção entre aprendizagem e aquisição é definida em termos de processos conscientes e subconscientes que não estão abertos à inspeção. (p.52). Um outro ponto questionado é o que Krashen chama a posição de não-interface” (the non-interface posit ion) ou seja, aquisição e aprendizagem sendo duas coisas completamente separadas. Ell is (1985) menciona os trabalhos de Rivers (1980) e Stevick (1980) que desafiam essa posição, alegando que conhecimento aprendido é automatizado através (...). (p.52).
Em alguns desses exemplos outros teóricos fazem parte do
grupo de questionadores presentes na “discussão”. Dentre eles estão
Rivers (1980), Stevick (1980), McLanghlin (1978). Também existe uma
sinalização para o extraverbal, como discurso de outros, quando a
pesquisadora diz que os trabalhos de Krashen estão “merecendo sérios
questionamentos”. Mas ela não aborda esses “sérios questionamentos”,
o que conduz à interpretação de um silêncio na identif icação dessa
alteridade.
1.5.4 Que posições o pesquisador assume na interação com o outro?
Dentre as posições assumidas pela pesquisadora na interação
com os teóricos no texto destacamos quatro: concordância,
concordância com ressalvas, discordância e discordância com
ressalvas.
Na posição de concordância, a pesquisadora cita Ell is em
discurso direto e indireto e com o uso de verbo dicendi. A pesquisadora
uti l iza o verbo “concordar” na primeira pessoa do plural.
102
Concordamos com Ell is (1985) quando este afirma: “The result of the negotiation of meaning is that particular types of input and interaction result. (p.50). Concordamos com os autores aqui mencionados, quando eles afirmam que a sala de aula tem um papel fundamental na aprendizagem de uma L2/LE. Além dos motivos apresentados aqui, temos ainda uma outra forte variável, no caso de LE no Brasil, ou seja, a sala de aula como a única fonte de “input”, ou oportunidade de interação na l ingua-alvo a que aprendizes tem acesso. (p.4).
Outro verbo que mostra a posição de concordância da
pesquisadora na interação com o outro é o verbo “acreditar”. Ele ocorre
cinco (5) vezes nos Capítulos 1, 2 e 3; e vinte e três (23) vezes no
Capítulo 4 e nas Considerações Finais . A forma de presença do
‘acreditamos’ tem semelhança com a forma de presença do verbo
‘concordar’. A pesquisadora, quando usa o verbo ‘acreditar’, usa-o na
primeira pessoa do plural, assinalando dessa forma que ‘concorda’ com
o que está sendo afirmado no texto. Dessa forma, interpretamos que a
pesquisadora novamente interage com os teóricos no texto usando o
“acreditamos” como forma de concordância de sua posição com a do
seu outro.
Acreditamos que, devido a inúmeras pesquisas empíricas realizadas que vêm normalmente confirmar a existência de uma ordem natural na aquisição de uma L2, essa hipótese goza de bastante prestígio junto a pesquisadores da área. (p.17-18).
Essas pesquisas, acreditamos, foram o embrião da visão interacionista, que, segundo Ell is (1985), trata aquisição como o resultado de uma interação entre as habil idades mentais do aprendiz e o ambiente l ingüístico. (p.38). Nenhum professor fez perguntas a respeito da pesquisa que não pudessem ser respondidas e acreditamos que o fato da pesquisadora e professores não se conhecerem previamente ajudou o trabalho. (p.81).
103
Acreditamos que a produção (“output”) é muito importante no processo de aprendizagem de uma L2/LE que – de acordo com Swain (1985) - tem as funções de: Existe, ainda hoje, muita controvérsia sobre o papel do “input” e da interação no processo de SLA. Acreditamos poder, entretanto, chegar a uma conclusão parcial, a partir do que foi aqui exposto. (p.50). Da mesma forma, se se gasta muito tempo em exercícios de repetição (dri l ls) ou perguntas que têm a forma desses exercícios (acreditamos que ele se refere aqui a pseudo-perguntas), os aprendizes terão menos oportunidades de avaliar “ input” e de produzir frases criativas.(p.60-61).
A posição de concordância com ressalvas ocorre poucas vezes.
Em todos os momentos, a pesquisadora apresenta o discurso dos
teóricos na cena textual com um “tom” de concordância ou de respeito
para com a teoria deles, mas, logo em seguida, revela seu ponto de
vista usando o relator “entretanto”.
Não há dúvidas de que as hipóteses acima expostas [hipóteses de Krashen] fornecem importantes “insight” com relação ao processo de SLA. (....). Entretanto, nenhuma das hipóteses aqui apresentadas parece explicar a forma satisfatória como se dá o processo SLA, ou como o aprendiz avança na aquisição de competência em um L2/LE. (p.19).
Em outro momento, ainda concordando com ressalvas com o
discurso do outro, a pesquisadora põe outro relator, o “mas”, como
estratégia para mostrar que falta algo mais no discurso do outro.
(...) A necessidade de se centrar a aquisição/aprendizagem de uma LE/L2 na busca do
104
signif icado [ponto de concordância com Krashen] ao invés da forma [sala de aula] parece ser ponto de consenso em lingüística aplicada nos dias de hoje. (p.20).
A posição de discordância ocorre de maneira evidente apenas
uma vez, e nas Considerações Finais . Essa ocorrência resulta da
análise e dos resultados a que chegou a pesquisadora com o seu
trabalho. Se desde a Introdução a pesquisadora assumiu — numa
posição de concordância — que ir ia desenvolver seu trabalho “a luz da
teoria de Long” (p.6), e assim o faz, ao f inal do trabalho, porém, ela
põe em sua voz um “tom” de desacordo com esse autor e seus
“aliados”. Tudo o que foi interpretado por esse autor — suas
conclusões de pesquisa – foi “fruto” dos sujeitos de pesquisa com os
quais ele desenvolveu seu trabalho.
Acreditamos que esse tipo de conclusão é fruto dos sujeitos (professores) ut i l izados naquela pesquisa (...). (...) nossa situação é bastante diferente. (p.178-179).
A “conclusão” a qual se refere a pesquisadora se trata do foco
de pesquisa desenvolvida por ela e pelo autor Long, ou seja, “as
perguntas do professor” — pseudo (conhecidas) e genuínas (novas) —
e suas interferências na aprendizagem de uma língua. Segundo eles
(com suas pesquisas), esses t ipos de perguntas “promovem negociação
de signif icado” e “geram outputs” (conhecimento por parte dos alunos).
Mas isso, como testemunha a enunciação acima, diz respeito aos
“sujeitos” que participaram da pesquisa de Long.
No caso da primeira Dissertação, a pesquisadora concluiu com
seus sujeitos (alunos) que a diferença está na “percepção dos
professores” (percepção pedagógica), e não nas perguntas. Apesar de
105
ter desenvolvido seu trabalho “à luz da teoria de Long” (p.6) — na
Introdução —, ela assume na interação com ele uma posição de
discordância apoiada na diferenciação de “sujeitos” (p.179) —
Considerações Finais —de pesquisa.
Na interação com o outro da pesquisadora acontece um confl i to.
Apoiada no outro para o desenvolvimento do trabalho e de si mesmo, a
pesquisadora põe um ponto específ ico, uma fronteira, uma “bifurcação”,
diante de sua conclusão — teoria — e a de seu outro (Long). E deixa
evidente onde está o l imite, no texto, entre o seu outro e ela: a
“negociação dos signif icados”. Enquanto ela se encaminha para um
lado (percepção dos professores), o seu outro, o autor Long,
encaminha-se para outro (perguntas genuínas).
1.6 A Construção do Pesquisador diante dos Teóricos
Diante do que foi observado e interpretado anteriormente a
respeito da interação da pesquisadora com seu outro, apresentamos
agora a pesquisadora que se construiu na interação com seu outro na
primeira Dissertação.
Em primeiro lugar identif icamos uma pesquisadora sintonizada
com a Linha de Pesquisa na qual ela está integrada. Já na Introdução,
e mesmo antes no Resumo da dissertação, a pesquisadora permite
concluir que seu trabalho sintoniza com o que se discute em sua Linha
de Pesquisa. Quando afirma que seu interesse é o “processo” que
ocorre em “sala de aula”, mantém-se fiel ao seu objetivo ao longo do
texto, a pesquisadora remete para a sua Linha de Pesquisa.
O que nos interessa é observar o processo de aprendizagem que vem ocorrendo en nossa salas de aulas. Para tal, analisamos o bloco interativo, que é, neste trabalho, a interação que acontece entre
106
professores e alunos a partir de uma pergunta do professor (...)”. (p.7-8).
É uma pesquisadora que, na interação com os teóricos, remete
frequentemente aos dados, ou seja, a discussão de seu trabalho esteve
centrada nos “dados”, nos “sujeitos”, enfim, na experiência de
pesquisa. A maior parte do texto, na Fundamentação Teórica (Capítulos
1 e 2) e na Discussão do Resultados , a pesquisadora retorna aos
dados para afirmar ou negar algo. Isso pode ser mostrado nas
Considerações Finais quando a pesquisadora enfatisa que a teoria
(conclusões) de Long estava relacionada aos “seus sujeitos” (adultos,
professores) de pesquisa, diferente dos dela (adolescente, alunos).
Nossos resultados vem confirmar aqueles encontrados por Long e Sato (1983), que mostram que o discurso do professor contém mais pseudo-perguntas do que perguntas genuínas. Os autores apontam isso como um problema nas salas de aula, uma vez que pseudo-perguntas levam, normalmente, a respostas mais curtas e menos elaboradas, já que a informação que estas contém serve apenas a propósitos didáticos e não realmente cornunicativos. (p. 123). Nenhum professor fez perguntas a respeito da pesquisa que não pudessem ser respondidas e acreditamos que o fato da pesquisadora e professores não se conhecerem previamente ajudou o trabalho. (p.81). Concordamos com Long e Sato a respeito da importância das atividades conduzidas na sala de aula (dentre elas as perguntas) conterem um real propósito comunicativo. No temos, entretanto, uma confirmação dessa afirmativa até aqui. (p.120). Acreditamos que esse tipo de conclusão é fruto dos sujeitos (professores) ut i l izados naquela pesquisa (...). (...) nossa situação é bastante diferente. (p.178-179).
Em terceiro lugar a pesquisadora remete-se aos trabalhos
desenvolvidos pelos teóricos. Ele não só apresenta o pensamento
(teoria, idéias) do teórico (seu outro), mas, frequentemente, relata a
107
pesquisa pela qual se construiu o pensamento. Na Introdução e no
Capítulo 2 encontramos exemplos que confirmam isso.
A importante questão da fala do professor como ‘input’ para o processo de aprendizagem é tratada por Fil lmore (1985), num interessante estudo longitudinal (cinco anos de duração), que teve como objetivo primeiro investigar diferenaças individuais no processo de aprendizagem de L2 em sala de aula (...). (p.61). Os sujeitos desse estudo foram crianças estrangeiras estudando inglês como L2 (...). (p.61). Em seu trabalho “Does Instruction Make a DifFerence?”, Long (1983) relata resultados de pesquisas empiricas que mostram que nao só adultos, mas também crianças se beneficiam da instrução formal (de acorda com Krashen, crianças não estariam suficientemente maduras para “aprender”). Outras pesquisas mostram, ainda, que a instrução formal é benéfica, mesmo para alunos de nivel intermediário e avançado que tenham bastante oportunidade de receber “input” fora da sala de aula. (p.12, Notas)
Em quarto lugar identifcamos que a pesquisadora questiona
(confronta, polemiza) os teóricos e apresenta questionamentos de um
ao outro. Os exemplos são mais encontrados na Introdução e nos
Capítulos. No Capítulos 1 identif icamos ess a ação da pesquisadora
quando ela primeiro apresenta a teoria de um teórico (Krashen) e, em
seguida, os questionamentos de outros (Long, Allwright, Gass, Varonis)
que ocupam as páginas seguintes de seu texto.
1.2 — A Hipótese do Input é Questionada Agora que colocamos de maneira resumida a
hipótese do “input” de Krashen, vejamos como outros pesquisadores levantam questionamentos com relação ao que foi aqui exposto. (p. 24) Em seguida, na segunda parte, apresentaremos questionamentos feitos por autores como Long, Gass e Various, Pica, Swain, Stevick, Allwright, Fil lmore, dentre outros, à teoria de Krashen. (p.15).
108
Mas fica ainda sem resposta a seguinte questão: Como se avança de um nível de competência na L2/LE para outro? Ou, ainda, como se adquire uma L2/LE? (p.20). Um outro ponto questionado é o que Krashen chama a posição de não-interface” (the non-interface posit ion) ou seja, aquisição e aprendizagem sendo duas coisas completamente separadas. Ell is (1985) menciona os trabalhos de Rivers (1980) e Stevick (1980) que desafiam essa posição, alegando que conhecimento aprendido é automatizado através (...). (p.52).
Em quinto lugar identif icamos uma pesquisadora que
frequentemente analisa o outro. Consideramos esse elemento como
fruto de duas ações de l inguagem. Uma resulta da constatação do uso
predominante de discurso indireto (109 ocorrências, supeiror às 19 de
discurso direto). O outro é identif icado na abordagem dos dados de
pesquisa. Enquanto aborda os dados, a pesquisadora não só
apresenta, detalha, descreve mas, sobretudo, analisa-os. Já quando
integra o discurso do teórico no contexto da Dissertação, ela o faz,
analisando-o antes e depois de citado.
Uma das professoras que observamos obteve um índice um pouco maior de respostas “completas” quando analisamos apenas perguntas genuínas, mas não só obteve um percentual bastante baixo (29%), como numa amostra muito pequena (apenas oito oerquntas genuínas). (p. 153). Agora que passamos um pouco pela l i teratura, trabalhamos alguns conceitos importantes, tentaremos explicar o que é a nossa unidade de análise que, como já dissemos, chamamos bloco interativo. (p.85).
O verbo “passar” traz consigo um sentido de análise, ou seja,
a pesquisadora integrou e analisou no seu texto o discurso do outro
com seus “conceitos importantes”. Esse ação vai se repetir ao longo do
texto.
109
Em sexto lugar identifcamos uma pesquisadora que formula
questões e hipóteses na abordagem do seu objeto de pesquisa. Isso
ocorre principalmente quando a maior parte dos teóricos integrados no
texto — como Long, Allwright, Fil lmore e outros — questionam um
autor: Krashen. Essa ação de l inguagem já é prevista na Introdução
quando apresenta a organização da Dissertação.
Em seguida, na segunda parte, apresentaremos questionamentos feitos por autores como Long, Gass e Various, Pica, Swain, Stevick, Allwright, Fil lmore, dentre outros, à teoria de Krashen. (p.15). Uma outra questão que deve ser levantada é: será que este professor se posiciona crit icamente com relacão ao trabalho que desempenha? (p.176).
Outra situação em que ela se revela é quando questiona e
apresenta a hipótese.
Mas fica ainda sem resposta a seguinte questão: Como se avança de um nível de competência na L2/LE para outro? Ou, ainda, como se adquire uma L2/LE? (p.20).
Essa questão formulada pela pesquisadora aos teóricos no
contexto comunicativo é respondida com uma hipótese resultante da
análise dos dados. Tal hipótese parece ser “definit iva” como ela
costuma usar em seu texto. Trata-se do investimento no professor.
(...) o professor precisa ter uma percepção pedagógica que por sua vez só é alcançada se ele tem uma postura crít ica com relaçção à metodologia de ensino, ao material estímulo e também à sua prática diária na sla ade aula. (p.177).
110
(...) é importante que ele [professor] entenda apresendizagem não somente como “aprender que” mas princiaplamente saber como”. (p.178).
Em sétimo lugar, identif icamos uma pesquisadora que uti l iza
frequentemente citações para falar do outro. As citações se aglomeram
em três teóricos — Krashen, Long e Ell is. Long e Ell is são os
defendidos diante da perspectiva naturalista de Krashen para a
aprendizagem em língua estrangeira. Esse últ imo, não obstante a
identif icação de quarenta e nove (49) citações realizadas pela
pesquisadora, é ingressado no texto para ser questionado.
Além de Long (1983), Allwright (1984) e Fil lmore (1985) também atribuem à sala de aula um papel mais importante do que o atribuído por Krashen. Ambos acreditam que a sala de aula traz benefícios não só como fonte de “input” mas também em função da instrução formal. (p.2). É importante notar, entretanto, que, apesar de evidências empiricas, Krashen afirma que as implicações pedagógicas, ao contrário do que se poderia supor, não levariam ao uso de programas de ensino (syllabi) progressivos, baseados na ordem encontrada pelos diversos estudos realizados. (p.18).
Nesse sentido, a pesquisadora se constrói na oposição com seu
outro mais citado: Krashen. Não obstante ser o teórico mais citado pela
pesquisadora, tal uso foi o de demonstrar sua oposição a ele,
al icerçada fundamentalmente em dois teóricos, Long e Ell is.
Por analogia, tal ação da pesquisadora remete ao personagem
Las Casas tratado por Todorov, que transpomos para o contexto dessa
Dissertação.
Considerando o que foi interpretado, a pesquisadora na primeira
Dissertação introduz inúmeras citações para ingressar o discurso do
teórico. Diante das várias formas de discurso citado identif icadas no
111
texto, ela ingressa o discurso de teóricos para não só corroborar o seu,
mas também para defender o de outros.
Las Casas na interação com o outro compreende a perspectiva
deste, defende-o e respeita os valores do outro diante de terceiros.
Assim como compreender, defender e distanciar-se são atos de Las
Casas na interação com o outro, assim também a pesquisadora cita o
outro (Long e Ell is) para mostrar que assume sua perspectiva diante de
terceiros que, no contexto da primeira Dissertação, trata-se do autor
Krashen.
Enquanto constrói sua Dissertação, a pesquisadora na interação
com os teóricos deixa marcas l ingüístico-enunciativas no seu texto.
São ações que se assemelham as de “Las Casas”. Trata-se de fazer
citações no texto e, com isso, pode revelar que a pesquisadora assume
a perspectiva do teórico no texto. As citações revelam o discurso do
teórico e sua posição sobre algum assunto. Essas ações da
pesquisadora preservam a ideologia e/ou o discurso do teórico.
Ou também parte das citações para fazer a defesa do teórico
citado diante de terceiros. Nessa últ ima ação, apresenta-se, por
analogia, o “Las Casas distributivo” que entra na arena de discussões
de pesquisas para defender as idéias (valores) do teórico citado. Em
meio às várias formas de discurso citado identif icadas num texto, o
pesquisador pode ingressar as vozes de teóricos para não só
corroborar a sua, mas também para defender a de um autor.
Descobrimos que, ao identif icar os teóricos e seu papel no texto
e analisar a interação da pesquisadora com eles, a presença de todos
foi colaborativa e fundamental para a construção da Dissertação e da
pesquisadora.
A ação de remeter aos dados de outras pesquisas e,
consequentemente a outros teóricos, mostrou que isso foi possível
porque existem teóricos e pesquisas. A ação de apresentar
questionamentos de um grupo de teóricos a um teórico (Krashen) foi
112
possível porque existe esse outro e seus questionadores. Fazer
citações foi possível porque existem obras (enunciado-obra) de
teóricos. E, f inalmente, analisar, discordar e questionar o teórico e seu
discurso, foi possível por existem publicações de seu pensamento
(pesquisas, idéias etc.).
Assim como afirmamos que a pesquisadora na primeira
Dissertação construiu-se na oposição ao seu outro (específico,
Krashen), à sombra de “outros” (Long e Ell is), também afirmamos que
isso aconteceu porque esses teóricos estavam presentes. A oposição
se mostrou como uma resposta da pesquisadora ao discurso do outro,
porém sem estar sozinha no texto.
1.7 Conclusões Parciais
Após realizar um percurso constituído de contexto de integração
do teórico, identif icação do nome do teórico, do discurso do outro e as
posições assumidas pela pesquisadora na Dissertação, cabe agora
apresentar algumas conclusões parciais, dentre elas a de que as
interações revelaram a construção da pesquisadora.
O contexto no qual o outro é integrado apresenta-se
predominantemente com dois elementos signit i f icativos. Ou a sala de
aula é fundamental para a aquisição/aprendizagem de LE/L2 ou não. Ou
as “perguntas genunínas” (conhecimento novo) são fundamentais para
estimular a interação entre professor-aluno e a aquisição;aprendizagem
de LE/L2 ou não. Esses elementos são nucleares no texto e estão na
base de toda a discussão da pesquisadora na primeira Dissertação,
muito embora, nas Considerações Finais , o trabalho conclui que muitos
problemas sobre a aquisição/aprendizagem de LE/L2 podem ser
solucionados com o investimento no professor.
Na identif icação do outro ocorre uma predominância de alguns .
Num total de quarenta e dois teóricos localizados no trabalho (da
113
Introdução às Considerações Finais) apenas três — Krashen, Long e
Ell is — são mais integrados pelo pesquisador no texto. E isso repercute
na interação.
Na interação da pesquisadora com o outro, como podemos
perceber, também ocorreu a predominância de alguns teóricos. Na
primeira Dissertação, a pesquisadora estabeleceu mais interação com
aqueles três teóricos, enquanto os demais ou são “aliados” de um e
outro, ou seja, alguns seguem o pensamento de Krashen e outros
seguem o pensamento de Long.
Também indentif icamos na interação com os teóricos que a
pesquisadora teve atitudes de analisar e questionar. Nessa últ ima,
como foi mostrado pelos recortes, revela uma pesquisadora que se
constroi estabelecendo questionamentos entre os teóricos a respeito de
algum assunto, e também que formula questões às teorias dos teóricos.
Tais ações de l inguagem são precedidas por uma outra, o da análise.
A pesquisadora analisa o discurso do outro (discurso indireto
analisador de conteúdo) ao mesmo tempo em que integra-o no contexto
comunicativo. Uma das confirmações dessa característica do
pesquisador está também na predominância do discurso indireto no
texto (109 ocorrências) que tem em sua “alma” a análise.
A pesquisadora se constrói na oposição a um de seus outros:
Krashen. Stephen Krashen (University of Southern California) é um
estudioso da l inguagem que tem produzido há mais de 20 anos de
pesquisas sobre a aprendizagem da segunda língua. De acordo com
sua visão, o desenvolvimento de habil idades e conhecimento ocorre
como resultado de ação, de interação do ser inteligente com seu
ambiente. E no caso de línguas estrangeiras o ambiente apropriado é
aquele que além de favorecer com que o sujeito se sinta a vontade,
oferece a oportunidade de interação multicultural de pessoas de
diferentes nacionalidades e que, também, proporciona o
desenvolvimento do conhecimento e das habil idades básicas
114
necessárias para que todos possam se comunicar em qualquer
situação.
Consideramos, assim, que quanto maior o grau de afinidade
entre seus integrantes, mais coerente será a assimilação. Dessa forma,
como apresentado na primeira Dissertação, Krashen defende o
ambiente informal para aprendizagem de língua estrangeira, isto é, fora
de sala de aula formal.
Tal visão encontra-se em desacordo com os dois teóricos Long e
Ell is, com os quais a pesquisadora assume a posição de concordância.
Tal ação revela que a pesquisadora se construiu na oposição ao teórico
Krashen. Apesar desse autor apresentar o maior número de ocorrências
na primeira Dissertação, isso é realizado pela pesquisadora para
assumir uma posição de desacordo apoiada naqueles dois teóricos.
Trata-se assim de uma pesquisadora que se constroi não só na simetria
com seu outro (Long e Ell is), mas também na assimetria (com
Krashen).
2 SEGUNDA DISSERTAÇÃO (1996): A EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE À
EXCLUSÃO DO ALUNO CEGO
Seguindo a caminho de abordagem da primeira Dissertação,
também vamos identif icar o teórico na segunda Dissertação nas
seguintes partes: Introdução, Capítulos, Considerações Finais e
Referências Bibliográficas. Nessas partes, como antes, identif icamos o
teórico que colaborou para o trabalho do pesquisador.
2.1 O contexto de integração do outro
O cenário construído pelo pesquisador na Dissertação tem duas
dimensões. Uma dimensão tem como elemento central a denúncia. E a
115
outra dimensão, o anúncio. As duas dimensões ocupam espaços em
toda Dissertação.
A dimensão de denúncia é relacionada à discriminação ao aluno
deficiente visual ao longo da história tanto no passado (pré-histórico)
como no presente (1996). E tanto na Europa como na América, de
modo particular no Brasil (Colônia), com a prática de eliminação de
pessoas com deficiência (indígenas).
Observamos, portanto, que desde a pré-história até a Idade Média a rejeição e, conseqüentemente, a eliminação dos portadores de qualquer deficiência se justif icava, principalmente, pela falta de domínio do homem sobre a natureza e pelas crenças religiosas, predominando desta forma os valores do senso comum. (p.14).
A palavra “eliminação” passou a ser substituída pela palavra
“marginalização” (três ocorrências) social a partir do f inal do século
XIX. No entanto, o pesquisador usa a palavra “exclusão” (dezoito
ocorrências) quando trata da dimensão de denúncia no contexto de seu
trabalho. Não encontramos justif icativas no texto para essa mudança.
Outra dimensão é a de anúncio. Apesar da morosidade na
resolução do problema da exclusão do aluno com deficiência visual, e
das dif iculdades que ele encontra na interação em sala de aula, o
pesquisador também aponta algumas propostas. Essas têm como ponto
de referência os professores de Educação Física, pois, segundo o
pesquisador, são eles que carregam para a sala de aula a “ideologia
elit ista” e excludente.
Nesse contexto, o pesquisador vai integrando os teóricos e com
eles vai interagindo para a construção de seu texto. É possível desde
já perceber que o contexto para a integração do outro é confl i tuoso, e
remete a uma situação histórica, social e pedagógica de exclusão.
116
2.2 O nome do outro no contexto
Na segunda Dissertação identif icamos quarenta e sete (43)
teóricos e um total de 91 ocorrências. Os teóricos mais citados são
Freire (14), Carmo (8) e Rocha (5). No Quadro 11 estão organizados os
nomes dos teóricos e o número de ocorrências no Texto.
Quadro 11: Nomes de Teóricos e número de ocorrências
Uma Ocorrência
17
Duas Ocorrências
12
Três Ocorrências
6
Quatro Ocorrências
3
Cinco ou mais Ocorrências
5 Machado, Pessanha,
Veiga, Sacristán,
Woods, Snyders, Antunes,
Boyer, Castellani,
Cunha, Esteve,
Ferreira, Hage,
Goffman, Gramsci, Hall iday,
Huberman.
Masini, Rago,
Venturini e Rossi,
Adreott i e Teixeira, Bowder,
Burkhardt e Escobar, Diderot, Giroux,
Clayette.
Oliveira, Silva,
Soares, Vygotsky, Bercito, Jannuzi,
Kirk , Telford e Sawrey.
Rocha (5), Mazzotta (6)
Ghiraldell i (6), Carmo (8) e Freire
(14).
Apesar da identif icação dos teóricos e suas ocorrências nos
Capítulos e nas Considerações Finais , foram encontrados ainda outros
teóricos que são l istados nas Referências, mas não são citados nessas
partes da Dissertação. São eles: Gallagher, Mazzota, Azevedo,
Comênio e Eco. Tal situação já havia ocorrido na primeira Dissertação.
Na Introdução , não identif icamos nenhum teórico. O pesquisador
se ateve a uma narrativa do desenvolvimento de seu trabalho sem
presentif icar no texto algum teórico.
117
Nos Capítulos, entretanto, os teóricos são introduzidos
constantemente. Os que t iveram mais ocorrências são Rocha (5),
Mazzotta (6) Ghiraldell i (6), Carmo (8) e Freire (14). Mais uma vez
identif icamos o tr io de teóricos Rocha-Carmo-Freire que tem se
destacado em outras partes da segunda Dissertação.
Quadro 12: Teóricos mais Citados nos Capítulos
TEÓRICO OCORRÊNCIAFreire 14 Carmo 8 Mazzota 6 Ghiraldell i 6 Rocha 5
Abaixo apresentamos exemplos dos teóricos mais citados:
Freire, Carmo e Rocha.
a) Freire
Freire (1992:117) denuncia que as idéias de simplif icação, determinação, previsibil idade, e irreversibil idade são rejeitadas pela motricidade humana, em oposição ao acolhimento das idéias do caos, imprevisibil idade e de incerteza. E reforça que, “Do ponto de vista da motricidade, nunca poderíamos nos referir a pernas que correm mas a pessoas correndo. Quem corre não é a perna ou o pé, mas um ser humano (...)” (p.85). Freire (1994:30) Entretanto, “...a compreensão do que se está lendo, estudando, não se instala assim, de repente, como se fosse um milagre. A compreensão é trabalhada, é forjada, por quem lê, por quem estuda que, sendo sujeito dela, se deve instrumentar para melhor fazê-la. Por isso mesmo, ler, estudar. é um trabalho paciente, desafiador, persistente.” (p35). Continuando com tal raciocínio, Freire referindo-se ao estudo sistemático que os educadores devem desenvolver para obter uma formação de base
118
conceitual sólida, aponta para um aspecto muito importante (...)”. (p.100-101).
b) Carmo
Carmo (1991) ressalta que a sobrevivência através da caça e da pesca pelas culturas primitivas, levava as pessoas portadoras de deficiência, assim como os idosos, a serem abandonados, por conta da própria sorte, em locais desprotegidos e com um elevado grau de erojosidade, o que levava aqueles indivíduos ao desaparecimento devido a “... inanição ou por ataques de animais ferozes” (...). (p.10).
c) Rocha
Rocha (1987: 49) coloca que muitas definições surgiram na oportunidade em que foi desenvolvido um trabalho entre a American Academy of Ophthalmology e o Conselho Brasileiro de Prevenção à Cegueira. (p.35).
Os três teóricos além de ter mais ocorrência do que os demais,
ainda ocupam posições de destaque no momento de abordar os
assuntos mais polêmicos, como é o da distinção entre “pernas”
correndo e “pessoa”, apresentado por Freire para enfatizar a
integralidade da pessoa humana (“quem corre não é a perna ou o pé,
mas o ser humano”). Os verbos introdutores de seus discursos, como
denunciar e apontar (Freire), ressaltar (Carmo) e colocar (Rocha)
revelam os destaques de posições desses teóricos na abordagem da
temática da Dissertação, como são tratados adiante.
Nas Considerações Finais , apenas um teórico foi citado, mesmo
assim dentro de parênteses. Trata-se de Masini — com duas
ocorrências na Dissertação —, de onde o pesquisador extraiu o conto
de Wells.
Na Bibliografia, os teóricos com duas obras l istada são Kirk,
Ghiraldell i , Goffman, Gramsci e Mazzotta. Freire, contudo, supera a
119
todos: é l istado com cinco obras. Novamente f ica registrada a presença
signif icativa desse teórico na segunda Dissertação. Os demais teóricos
apresentam uma obra.
Conclui-se disso, que o pensamento do pesquisador, quando se
refere ao discurso pedagógico em suas dimensões de denúncia e
anúncio, está sintonizado com o de um teórico específico, Paulo Freire.
Além de ser o mais citado na Dissertação, esse teórico é também
aquele em quem mais se apóia o pesquisador para fundamentar as
suas idéias. É o discurso do teórico reforçando o discurso do
pesquisador.
2.3 O outro nas formas de discurso citado
As expressões e formas do discurso (aspas, dois pontos) para
introduzir o discurso do outro aparecem em toda Dissertação, mas, em
comparação com a primeira Dissertação, elas têm um uso reduzido. Da
Introdução às Considerações Finais , essas expressões totalizam
quatorze ocorrências, divididas em de acordo (1), para (4) e segundo
(9). Sobre essas seguem dois exemplos de como elas aparecem na
Dissertação.
Para Hall iday (1975), as concepções tradicionais de cegueira e visão subnormal têm sido baseadas em medidas de acuidade visual e/ou na restrição do campo visual. (p.36). Segundo Clayette S. Hugonnier et al i i (1989:10), algumas noções clássicas permitem distinguir três t ipos de cegueira, a saber: (...). (p.37).
Nos Capítulos encontramos o discurso direto com os verbos que
o introduzem com 42 ocorrências e o indireto, com 31 ocorrências.
120
Além disso, encontramos situações em que o discurso direto ocorreu
com o uso de dois pontos (:) e aspas precedendo a citação.
Quadro 13: Expressões na formas encontradas
Do conjunto de 47 teóricos, identif icamos aqueles com mais
ocorrência na segunda Dissertação. Os teóricos como Freire, Rocha e
Carmo também têm mais ocorrências nas formas de discurso citado.
Dentre eles o autor Freire tem uma predominância, pois tem ocorrência
em discurso direto (10) e discurso indireto (4). Além disso, aparece nos
Agradecimentos , parte não estudada por nós neste trabalho.
Retomamos então aos recortes, apresentando como alguns
discursos aparecem no texto.
Esta redução da acuidade visual, congênita ou adquirida, segundo o autor, não se consegue corrigir pelos recursos ópticos comuns e anuncia a existência de lentes telescópicas, telelupas e lupas manuais. (Rocha, 1987: 55-1 67) (p. 36). O grande desafio para os educadores encontra-se na escolha e superação da tendência predominante nas relações pedagógicas denominada por Freire (1983:67-68) como sendo a concepção “bancária” de Educação, que apresenta (...). (p.101). Carmo (1991) ressalta que a sobrevivência através da caça e da pesca pelas culturas primitivas, levava as pessoas portadoras de deficiência, assim como os idosos, a serem abandonados, por conta da própria sorte, em locais (...). (p.10).
EXPRESSÕES NAS FORMAS DE DISCURSO CITADO
OCORRÊNCIAS
Segundo 9 Para 4 De acordo 1 Dois pontos (:) e com aspas 42
121
O discurso do outro na segunda Dissertação remete
preponderantemente a três teóricos: Freire, Rocha e Carmo. É uma
interação com mais intensidade do que com os demais teóricos. O
pesquisador alicerça seu discurso no discurso do outro, de modo
especial no discurso de Freire.
Quanto ao uso dos verbos dicendi , as ocorrências totalizam 151
em uma diversidade de 41 verbos (cf. Anexo B – Segunda Dissertação:
Verbos Dicendi). Muitos verbos são uti l izados pelo pesquisador no
texto, mas poucos são usados para introduzir o discurso do outro. É o
caso dos verbos observar e apresentar que apresentam 21 e 20
ocorrências respectivamente, em toda Dissertação, mas com apenas 6
ocorrências para o discurso indireto: o verbo apresentar com 2
ocorrências e o verbo observar com 4 ocorrências.
Os verbos que introduzem o discurso do outro são 15 para o
discurso direto e 22 para o discurso indireto. Os verbos mais uti l izados
pelo pesquisador para introduzir o discurso direto são colocar (7),
enfatizar (4) e esclarecer (3), e para os que introduzem o discurso
indireto são analisar (5), colocar (4), observar (4) e denunciar (4). Os
demais verbos possuem 1 ocorrência ( introduzir, definir, concluir , crer,
considerar , fazer referência , sugerir, reforçar e fornecer — para
discurso direto; propor, considerar , acrescentar, definir, reforçar e
enfatizar — para discurso indireto). Os verbos enfatizar e reforçar são
usados tanto para o discurso direto como para o discurso indireto.
Abaixo seguem exemplos para mostrar a ocorrência de alguns
desses verbos no texto.
Não deve haver urna postura paternalista nem um forjado parentesco, conforme observa Freire, ao enfatizar a importância da recusa à conotação difundida entre os professores dos mesmos assumirem o papel de “t io” ou “t ia”, pois o professor e a professora que se assumem enquanto profissionais, devem assumir, também, o que é de valor fundamental - a “responsabilidade profissional de
122
que faz parte a exigência polít ica por sua formação permanente.”(Freire, 1994, p.11). Jannuzzi (1992), analisa a influência médica e o poder de interferência desta categoria profissional com relação aos portadores de deficiência mental a priori, pois as academias médico-cirúrgicas, juntamente com o Ensino Mil i tar, foram os primeiros cursos implementados por Dom João VI ao se estabelecer no Brasil, quando veio de Portugal com sua corte, no início do século XVIII. (p.74). Freire (1992:117) denuncia que as idéias de simplif icação, determinação, previsibi l idade, e irreversibil idade são rejeitadas pela motricidade humana, em oposição ao acolhimento das idéias do caos, imprevisibi l idade e de incerteza. E reforça que, ‘Do ponto de vista da motricidade nunca poderiamos nos refenr a pernas que correm mas a pessoas correndo (...). ’ (p.85). Rocha (1987: 49) coloca que muitas definições surgiram na oportunidade em que foi desenvolvido um trabalho (...). (p.35)
Os verbos mais uti l izados pelo pesquisador para introduzir o
discurso do teórico são colocar e enfatizar — no discurso direto — e
analisar, colocar e observar — no discurso indireto. O verbo analisar
mostra que o pesquisador acredita que o autor realizou um estudo
detalhado do assunto tratado na cena textual, pois é um verbo que
indica um procedimento e que, na cena, trata-se de pesquisas já
realizadas.
Quanto ao verbo enfatizar , o pesquisador permite interpretar
que, na sua interação com o teórico e ao usar esse verbo na
precedência da voz do teórico, deseja que não se esqueça a
interpretação do teórico no texto. Ou seja, o pesquisador atribui a
responsabil idade do que está sendo interpretado na cena textual aos
teóricos. Vejamos abaixo dois exemplos que mostram no texto esse
verbo.
os autores enfatizam que: (p.114). Em seguida, Ghiraldell i enfatiza que... (p.76).
123
Taylor. Desta maneira, o autor enfatiza que: (p.85).
Nos três exemplos o pesquisador ao incluir o discurso do teórico
na cena textual atribui a ela um destaque a ser lembrado diante do
assunto tratado. Essa ação de l inguagem vai se repetir noutros lugares
do texto quando usa outros verbos, mesmo com poucas ocorrências,
como é o caso dos verbos denunciar e reforçar .
Quanto ao verbo colocar o pesquisador usa-o para indicar que o
autor vai “pôr” a sua posição, sua voz, seu estudo, suas conclusões,
enfim, que ele tem algo para inserir no texto. Esse verbo se tornou
signif icativo, pois ele foi usado tanto para o discurso direto (42)
ocorrências) como para o discurso indireto (4 ocorrências) em
situações de posicionamento do pesquisador diante de polêmicas.
Na segunda Dissertação o pesquisador mostra que seu discurso
é marcado por um posicionamento de concordância com o seu outro. O
verbo colocar, por exemplo, tem mais ocorrências do que todos os
outros. Ele permite, no contexto da Dissertação, compreender que a
posição do pesquisador se alinha com a posição do outro no texto.
2.4 O outro nas Referências Bibliográficas
Constatamos nas Referências Bibliográficas um total de 43
teóricos. Desses, tr inta e oito possuem uma ocorrência, ou seja, são
l istados com uma obra; cinco são l istados com duas obras (J.B.Freire,
Ghiraldell i Jr., Goffman, Gramsci e Mazzota); e apenas um teórico é
l istado com cinco obras: Paulo Freire.
Diante disso, evidencia-se que o pesquisador recorreu
preponderantermente a um teórico para interagir. Esse fato ocorreu
também na introdução e nos capítulos, onde P.Freire esteve presente
em muitos momentos, apoiando o pesquisador na construção da
124
dissertação. Nas Referências Bibliográficas, P. Freire supera inclusive
aqueles teóricos que com ele estavam dividindo o maior número de
ocorrências nesses partes da Dissertação — introdução e capítulos.
Assim, o pesquisador quis que P.Freire estivesse também nas
Referências Bibliográficas, revelando, assim, sua opção preferencial na
interação.
2.5 Posições do pesquisador na interação com o outro
Seguindo o procedimento adotado na primeira Dissertação
vamos retomar as questões que foram acrescentadas e apresentar as
respostas encontradas a partir do trabalho desenvolvido com a segunda
Dissertação.
2.5.1 Como o pesquisador integra o outro no contexto?
A integração do outro no contexto ocorre por meio do discurso
citado e dos verbos que introduzem o discurso. Sobre esse últ imo cabe
dizer uma peculiaridade revelada pelo texto. A soma de ocorrência de
discurso direto e indireto ultrapassa 1/3 da totalização dos verbos (151)
uti l izados pelo pesquisador Na segunda Dissertação. Isso conduz à
interpretação de que a integração do outro ocupou uma parte
signif icativa nesse Texto.
Quanto ao uso do verbo dicendi identif icamos uma
predominância do verbo colocar sobre os demais, inclusive em relação
a outros verbos mais citados (analisar , enfatizar, observar e
denunciar). O sentido dado ao verbo colocar pelo pesquisador é de
“testemunha” que fala sobre um fato. O pesquisador em seu contexto
denunciador da situação do aluno com deficiência visual, dá voz ao
teórico para que este fale como testemunha de acusação.
125
2.5.2 Como o pesquisador justif ica a integração do outro no texto?
A justif icativa da integração do outro no texto ocorre pelo
parâmetro da denúncia ou do panorama histórico. Na denúncia,
também interpretado por nós como uma dimensão contextual, o
pesquisador tece uma rede de casos e/ou fatos relacionados à
“discriminação” e/ou “marginalização” ao aluno com deficiência visual e
conta com os teóricos para “colocar” (reforçar, testemunhar) seu
discurso a respeito desse assunto. Assim, o teórico é integrado no
contexto com a f inalidade de fazer t ime frente à denúncia construída
pelo pesquisador.
Essa ação de l inguagem ocorre de maneira semelhante no
panorama histórico. Ao construir o panorama histórico da deficiência
visual (ou dos “deficientes”), o pesquisador contou com o teórico. Pois
ele encontrou na l i teratura aqueles teóricos que não só tratam desse
assunto, mas o fazem com um tom desejado pelo pesquisador: o tom
de alerta ou denúncia.
2.5.3 Qual o papel atribuído ao outro pelo pesquisador no texto?
O papel atribuído pelo pesquisador ao outro no texto é
fundamentalmente de denunciador (polemizador). Como interpretado
anteriormente, do conjunto de 56 verbos dicendi, os mais usados pelo
pesquisador para introduzir o discurso do teórico no texto foram colocar
e enfatizar para o discurso direto, e analisar e colocar para o discurso
indireto. O contexto de uso deles nas cenas textuais é de “relato da
testemunha de promotoria”, ou seja, de acusação. O teórico quando
“coloca” o faz para “reforçar” ou o panorama histórico, ou uma situação
de marginalização e discriminação, ou algo parecido. Vejamos um
exemplo de como ocorre isso no Texto.
126
Neste sentido, Freire (1994:126) nos coloca que as crianças oriundas das classes populares, excluídas, têm o direito de Crescer f isicamente, normalmente, com o desenvolvimento orgânico indispensável; crescer emocionalmete equil ibrado; crescer intelectualmente através da participação em práticas educativas quantitativa e qualitativamente asseguradas pelo Estado; crescer no bom gosto diante do mundo; crescer no respeito mútuo, na superação de obstáculos que proíbern hoje o crescimento integral de milhões de seres humanos espalhados pelos diferentes mundos em que o mundo se divida, mas, sobretudo, no Terceiro. (p.45).
Esse papel de denunciador vem reforçar, na verdade, todo o
trabalho do pesquisador. Pois logo na Introdução (p.7) ele formula os
objetivos do seu texto que é analisar “várias formas de exclusão dos
portadores de deficiência visual na Educação Física (...)” e as
“alternativas de sua superação (...)”. O fato é que o texto se ateve às
exclusões históricas. E o autor é integrado para com o pesquisador
forma time de denunciadores dessa situação na sociedade brasileira.
2.5.4 Que posições o pesquisador assume na interação com o outro?
As posições que o pesquisador assume na interação com o
teórico são fundamentalmente duas, a de co-promotor e a de relator.
Tanto numa como na outra, o pesquisador nunca está sozinho, ou seja,
na cena em que acusa ou relata ele está sempre com um autor.
Na posição de co-promotor entendemos que o pesquisador não
dá trégua para o panorama identif icado numa situação histórica, social
e pedagógica, e elaborado por ele no texto, a respeito do aluno com
deficiência visual. Esse panorama é o “réu”. Ele acusa esse panorama
de discriminação, marginalização e exclusão para com o aluno com
deficiência visual. E na interação com os teóricos, o pesquisador
127
assume essa posição contando com o outro para reforçar o seu
discurso acusativo.
Na posição de relator , o pesquisador usa a voz para apresentar
a situação do aluno com deficiência visual. Para tanto, ele conta não só
com os teóricos, mas com a sua experiência como professor de
Educação Física. Junto com o teórico, o pesquisador aborda o que “viu”
na l i teratura que fundamenta o seu trabalho e a sua vida profissional, e
o que necessita mudar para solucionar a situação identif icada.
2.6 A Construção do Pesquisador diante dos Teóricos
Na interação do pesquisador com os teóricos identif icamos
algumas ações peculiares que apresentamos a seguir.
A primeira ação do pesquisador na interação com o teórico é a
de fazer frequentemente relatos de estudos que realizou. Essa ação de
l inguagem é revelada em muitas das ocorrências na formas de discurso
citado. Nesse, de modo especial com o discurso indireto, o pesquisador
relata, junto com o reforço do teórico, o que viu e interpretou dos
estudos que fez a respeito do tema de seu trabalho. Os verbos que
indicam essa ação são observar , salientar , dentre outros.
Mazzotta (1996:199), ao analisar as polít icas públicas pertinentes aos portadores de deficiencia observa que, em se tratando de definiçao, “...embora atualmente o MEC se refira ao alunado da Educação Especial como sendo os ‘portadores de necessidades especiais’, tal expressão não passa de eufemismo para ‘portadores de deficiência’. A simples mudança de termos, na legislação, nos planos educacionais e documentos oficiais, não tem sido acompanhada de qualquer alteração de signif icado. (...)”. (p.49). Rocha (1987: 49) coloca que muitas definições surgiram na oportunidade em que foi desenvolvido um trabalho (...). (p.35)
128
Para incrementar este estado de mal-estar docente, denunciado por Esteve (1991), pertencemos a uma categoria maior de trabalhadores sindicalizados, enfraquecida com os vários movimentos reinvidicatórios frustrados que, conforme análise de Antunes (1995), procura, em conjunto com de trabalhadores, a manutenção das poucas conquistas conseguidas historicamente. (p. 72).
A segunda ação do pesquisador é a de fazer denúncias. Ele
apresenta um panorama histórico do foco de seu estudo para apontar o
fenômeno da discriminação, da marginalização e da exclusão do aluno
com deficiência visual. Além disso, o pesquisador assume claramente
essa atitude junto com os teóricos que, como ele, opõem-se à situação
de exclusão ao deficiente visual no Brasil. Dentre esses teóricos, o de
maior destaque é Paulo Freire.
A denúncia de Giroux é pertinente pois mostra a mudança, sob essa ótica, do papel do professor enquanto um elemento de interferência crít ica, junto aos alunos, na produção do conhecimento tendo em vista “...a tendência de reduzir o professor ao nível de um escriturário, que executa ordens de outros dentro da burocracia escolar, ou ao nível de um técnico especializado, é parte de um problema maior dentro das sociedades ocidentais (...). (p.84). Freire (1992:117) denuncia que as idéias de simplif icação, determinação, previsibil idade, e irreversibil idade são rejeitadas pela motricidade humana, em oposição ao acolhimento das idéias do caos, imprevisibil idade e de incerteza. E reforça que, ‘Do ponto de vista da motricidade, nunca poderíamos nos referir a pernas que correm, mas pessoas correndo.’ (p.85).
Uma outra ação é a de propor caminhos à situação de exclusão
que identif icou no estudo do aluno deficiente visual. Essa atitude é
resultante do atitude de denunciador. Ou seja, o pesquisador denuncia,
mas propõe caminhos. Porém, esses caminhos não são originalmente
129
seus. São caminhos construídos com com os teóricos que interagiram
com ele.
Quando nos propomos a assumir um trabano para favorecer o fortalecimento das faculdades físicas, mentais e sensorias das pessoas é para que elas possam desenvolver, apesar das suas l imitações, suas potencialidades. (p.54). Ao professor de Educação Física que se propõe a atuar com crianças portadoras de deficiência visual, diz respeito uma atuação envolvente, comprometida com a especif icidade e com as necessidades características destes alunos. Não deve haver urna postura paternalista nem um forjado parentesco, conforme observa Freire, ao enfatizar a importância da recusa à conotação difundida entre os professores dos mesmos assumirem o papel de “t io” ou “t ia”, pois o professor e a professora que se assumem enquanto profissionais, devem assumir, também, o que é de valor fundamental — a “responsabil idade profissional de que faz parte a exigência polít ica por sua formação permanente.”(Freire, 1994:11). (p. 100).
A quarta atitude é a de “comando” do outro. Ela é evidenciada
nos momentos em que o pesquisador fala do professor (ou professores)
que trabalha com o aluno com deficiência visual. Essa atitude é
entendida por nós em vista de uma atitude imperativa que o
pesquisador estabelece com a classe dos professores de Educação
Física, que se distancia, inclusive da perspectiva pedagógica de Paulo
Freire, teórico com mais interage o pesquisador. Este defendeu uma
interação no campo da educação como democrática e dialógica, e
jamais imperativa.
O uso disseminado do verbo dever na interação com o “ele
coletivo” (professor) é identif icado em inúmeras cenas textuais. Ele
insiste que o professor deve assumir sua responsabil idade diante do
aluno com deficiência e não permitir que ideologias excludente
prejudique a educação desse aluno com deficiência.
130
Desta forma, os professores devem estar atentos para o estímulo ao desenvolvimento dos outros sentidos e, também, propiciar momentos de interação para que, através da convivência com o grupo, sejam fortalecidos os padrões de sociabil idade através da interação grupal. (p. 51). Conforme observamos no decorrer deste tópico, os conteúdos da Educação Física aplicados a alunos cegos não se diferem dos daqueles desenvolvidos com os outros alunos que freqüentam as escolas do ensino regular. O que os professores devem observar é a forma como poderão ser trabalhados, e o grau de dif iculdade em que cada aspecto será desenvolvido com estes alunos. (p. 70).
Diante dessas ações do pesquisador na interação com os
teóricos, entendemos que o pesquisador na segunda Dissertação se
constrói na identif icação (concordância, simetria, etc) com seu outro,
de modo especial com aqueles teóricos mais citados — Freire, Carmo e
Rocha. Com Freire o pesquisador não só estabelece interação
discursiva, mas também empírica (Freire foi professor do pesquisador
na segunda Dissertação).
Freire talvez tenha sido o maior educador brasileiro. Criador de
um método pedagógico, chamado de pedagogia crít ica, Freire
revolucionou a educação propondo uma transformação não só da
educação, mas principalmente da sociedade (a ser emancipadora) e do
mundo (com liberdade e justiça social). Por meio da proposta
pedagógica do diálogo simétrico entre o educador e o educando a
respeito da sociedade e do mundo em que vivem Freire os conduz à
descoberta nesses ambientes da opressão e das injustiças sociais e
instiga-os, por meio da educação, para uma transformação. Assim, o
pesquisador que se constrói na segunda Dissertação é um pesquisador
que não só anuncia e denuncia, mas, sobretudo, faz isso idetif icando-
se com seu outro.
À semelhança do personagem “Gonzalo Gerrero” que na
interação com o outro acaba por se incorporar com a cultura dele, o
131
pesquisador se incorpora à “cultura” e aos discursos do outro,
evidenciando isso no “vestir” (perspectivas, visões etc) e no dizer. Na
esfera acadêmica encontramos também grupos, como o de pesquisa
Linguagem e Trabalho que, dentre outros elementos que o identif icam,
pauta sua vida por uma l inha de pesquisa composta por pesquisadores
que discutem a l inguagem em ambiente de trabalho. Isso se repete com
tantas outras l inhas e grupos de pesquisa, tanto no LAEL como em
outros Programas de Pós-graduação.
Com Freire, o pesquisador na segunda Dissertação estabelece
interações em diversas situações, mostrando uma preferência na
interação com esse autor. O discurso do pesquisador e o discurso
desse teórico misturam-se, identif icam-se.
Para além das questões formuladas, elaboramos mais uma
relacionada à interação do pesquisador com o teórico. Percebemos que
o pesquisador se referiu inúmeras vezes aos “professores de Educação
Física”, mas não usou nenhuma experiência ou relato, ou pesquisa,
enfim, algum trabalho realizado com aluno com deficiência visual. O
pesquisador, a semelhança da Tese (mais adiante), usou o “coletivo”.
Com uma diferença: enquanto na Tese a pesquisadora citou
representantes do “ele coletivo”, na segunda Dissertação o pesquisador
usou o “ele coletivo”, mas nomeou representantes. E é exatamente aí
que formulamos uma questão:
Como o pesquisador interage com o “ele coletivo”?
Essa questão começou a emergir a partir da leitura do Capítulo 4
quando o pesquisador vai abordar as relações pedagógicas. Nessa
parte ele vai se referir constantemente ao professor de Educação
Física como um profissional que “deve ter” uma postura crít ica diante
da discriminação e marginalização que sofre o aluno com deficiência
visual. Há momentos em que o pesquisador parece desabafar como
interpreta a partir do exemplo abaixo:
132
Nesse sentido, os professores devem estar atentos para as implicações polít icas das suas ações frente aos alunos e à comunidade escolar. Eles devem servir como contribuição que possibil i te a superação das relações opressoras, características das sociedades divididas em classes. Outro fator que causa muita apreensão e medo é a imensa distância que tem separado o educador do real, causando, às vezes, uma visão invertida da realidade. (p.97).
As expressões “os professores”, “características da sociedade
divididas em classe”, “ imensa distância”, dentre outras, denotam para
um desabafo, pois são usadas no texto sem a preocupação da
representatividade. Assim, de quais professores ele está falando? As
relações opressoras são derivadas apenas das “sociedades de classe”?
Qual a distância de que o pesquisador está se referindo quando afirma
“imensa”?
Noutros lugares do texto, o pesquisador interage com o “ele
coletivo” — professor — como alguém a quem exige postura, o
pesquisador é imperativo. Isso ocorre porque em todos os momentos de
referência ao professor ele usa o verbo dever. Vejamos abaixo
exemplos de como isso ocorre no texto.
E, ainda, por ter um papel muito importante a desempenhar junto aos educandos, o professor deve procurar sempre estar em contato com o aprendiz (...). (p.98). Partindo destes pressupostos, ao trabalhar com alunos e alunas cegos em instituições, classes especiais ou no ensino regular, o professor deve observar alguns detalhes que, de certa forma, lhe propiciarão um entendimento melhor (...). (p.103). Ao atuar com alunos cegos, o professor de Educaçâo Física deve ter corno pressupostos que (...). (p.103).
133
O pesquisador assume uma posição imperativa para com o “ele
coletivo” revelada com o uso exagerado do verbo dever quando
referenciado ao “professor”.
Os teóricos na segunda Dissertação foram aliados. Ao identif icar
a situação e o problema a que se propôs estudar, o pesquisador
encontrou nos teóricos um discurso alinhado com o seu. O outro teve o
que colocar , analisar e enfatizar na interação com o pesquisador,
colaborando na construção deste e de sua Dissertação.
Nese sentido, a alteridade aliada colabora para a construção de
um pesquisador e de seu texto com claras entonações de
questionamentos e repulsa àquela situação apresentada pelo
pesquisador com respeito ao aluno deficiente.
2.7Conclusões parciais
As conclusões a que chegamos com a segunda Dissertação
foram três. Uma referente aos verbos dicendi , a outra relacionada aos
teóricos que tiveram mais ocorrências e uma terceira referente ao
pesquisador nesse texto.
Percebemos que aos verbos estavam sinalizados com o objetivo
do trabalho formulado na Introdução da segunda Dissertação. Nessa
parte, o pesquisador formulou o objetivo afirmando que analisaria as
“questões concernentes à exclusão dos alunos cegos das aulas de
Educação Física” e as “possibil idades de participação nas aulas, com
base no material bibl iográfico existente específico; referenciais teóricos
que não adotam a postura dominante, e a minha própria experiência
profissional com esta categoria de alunos.”. E cumpriu o objetivo. Os
verbos que tiveram mais ocorrências no texto foram “colocar”,
“analisar”, “enfatizar” e “denunciar”, todos inseridos na cena textual
com um tom de denúncia ou alerta para a situação de exclusão.
134
Contudo, identif icamos verbos usados na oralidade, como é o caso do
verbo colocar, o que distancia da l inguagem científ ica.
Os teóricos que são integrados no contexto formaram com o
pesquisador um grupo que vai interagir sob o foco da situação de
exclusão, marginalização e discriminação (palavras do pesquisador) do
aluno com deficiência visual.
As ações desse pesquisador se assemelham a de Gonzalo
Guerrero. O pesquisador muitas vezes estabelece interações com o
teórico em diversas situações, sendo a relação com um (ou mais)
teórico (s) preferido(s) uma das situações mais comuns nos textos e na
vida do pesquisador. Ele atravessa anos e anos lendo, relendo,
escrevendo, comentando, enfim, mergulhado no mundo de tal teórico.
Depois de tempos nessa experiência teórica, não é difíci l notar que ali
ocorreu um entrelaçamento do pensamento do pesquisador com o
pensamento desse outro. A evidência disso pode ocorrer nos seus
textos. É possível identif icar o pesquisador cuja ação se assemelha a
de “Gonzalo Guerrero” não só nos textos escritos, mas também nos
verbalizados. A voz do pesquisador e a voz do pensador que
fundamenta a pesquisa misturam-se e, muitas vezes, torna-se um
trabalho desafiador — não impossível — identif icar quem é quem no
texto.
O teórico Paulo Freire teve uma presença signif icativa não só
pelas ocorrências que superaram as de outros teóricos, mas,
sobretudo, pela citação de seu discurso no contexto comunicativo,
caracterizado pelas crít icas à concepções educacionais. Esse teórico
foi posto num lugar de destaque pelo pesquisador em quase todas as
cenas textuais, especialmente naquelas que evidenciavam crít icas à
escola e à marginalização.
Diante de tudo isso identif icamos um pesquisador que se
construiu sob a égide da crít ica social e educacional, elemento
essencial na vida do teórico Paulo Freire. A interação que estabelece
135
com seu outro é em vista da crít ica que faz à discriminação ao aluno
com deficiência visual e os caminhos que podem ser tomados para
amenizar ou erradicar essa situação. Nessa perspectiva, a alteridade
participa como uma aliada contra essa situação.
3 TESE (1999): ESTUDO DA LÍNGUA FALADA E AULA DE LÍNGUA
MATERNA: UMA ABORDAGEM PROCESSUAL DA INTERAÇÃO
PROFESSOR/ALUNO
Como nos outros textos, também aqui, na Tese, vamos abordar
a alteridade na Introdução , Desenvolvimento, Considerações Finais e
Referências Bibliográficas.
3.1 O contexto de integração do outro
O contexto de integração do outro é construído pela
pesquisadora a partir de três assuntos. O primeiro é sobre o ensino da
língua materna no Brasil em duas décadas, 1980 e 1990. Nesse
período os trabalhos adotam duas perspectivas. Uma se encaminhou
para a “revisão dos objetivos do ensino de Português” e alguns dos
teóricos que trabalharam sobre esse assunto são citados entre
parênteses, a saber: Cagliari, 1985; Camacho, 1988; Casti lho, 1988;
Soares, 1985. A outra perspectiva abordou a “reflexão sobre os
conteúdos e práticas priorizados em sala de aula” que, segundo a
pesquisadora, teve dois seguimentos: muitos teóricos se debruçaram
sobre a gramática: Bechara, 1987; Brit to, 1997; Moura Neves, 1990;
Perini, 1993, 1997; Possenti, 1996; Travaglia, 1996. E outros focaram
em seus trabalhos a atividade de leitura e/ou produção de texto: Abreu,
org.,1985; Cavalcanti & Lombello, 1987; Clemente, org.,1992; Faria,
1989; Geraldi, org., 1985; I lari, 1985; Kleiman , 1922d; Matencio,
1994b; Marcuschi, 1996b; Pécora, 1983. Nessa últ ima perspectiva os
136
trabalhos se desdobraram em mais três tendências: aprendizagem de
leitura (dentre os teóricos é citada Angela Kleiman), dif iculdades de
aprendizagem e/ou do uso da escrita pelos alunos e da coesão e
coerência. Em todos esses estudos, a pesquisadora aponta resultados
e/ou avanços não só sobre a estrutura da escola brasileira, mas
principalmente para a aula de língua materna no Brasil.
O segundo assunto do contexto é o da pesquisa sobre a
interação em sala da aula de língua materna. A pesquisadora identif ica
que os estudos que focam esse assunto “salientam a importância de se
levar em conta as determinações institucionais” (p.27) que fazem do
professor um intermediário, seja entre a instituição e o aluno — autora
citada Matencio, 1994b —, seja entre este e o autor do l ivro didático —
teóricos citados Batista, 1997 e Kleiman, 1992b.
Os estudos também abriram (na Tese: “têm aberto”) caminhos
para novos trabalhos. Dentre esses ela cita dois: um é focado na “dupla
função da l inguagem na aula de língua materna” (objeto de ensino e de
trabalho), o outro traz à tona o “interlocutor virtual”, que pode ser tanto
o autor do l ivro didático ou como o outro do texto do aluno. Além disso,
a pesquisadora identif ica que os trabalhos que “enfocam a interação na
aula de língua materna” tem priorizado a distribuição da fala em sala
de aula, de modo predominante, a fala do professor. E é exatamente aí
que a pesquisadora afirma a l imitação desses estudos, pois eles se
restringem às “ações discursivas do professor”.
O terceiro assunto é a aula em língua materna, propriamente
dita. A pesquisadora considera que os estudos que versam sobre o
ensino de língua materna no Brasil avançaram nas duas décadas
(1980-1990), possibil i tando a abordagem sob dois pontos de vista, ou
seja, tanto de sua “coerência global como de sua articulação local”
(p.30). No entanto, “pouco se tem investigado as diferentes dimensões”
na material ização da aula que possam evidenciar o “discurso didático”
e o “processo de formulação e execução do texto oral dialogado
produzido em uma aula”. É nessa descoberta que ela insere seu
137
trabalho, ou seja, explorar a interação na aula de língua materna e, a
partir disso, apresentar um modelo.
Nesse sentido, a pesquisadora estuda “as características da
interação verbal na aula de língua materna”, procura classif icá-las
como originada do discurso didático (no Brasil e na França) e relaciona
essas características às interações verbais. Assim, ela conclui que seu
foco não é o ensino, mas a aula e, nesta, a interação.
3.2 O nome do outro no contexto
Na Tese, identif icamos 84 teóricos que tiveram uma totalização
de 259 ocorrências. Os teóricos mais citados são Marcuschi (22),
Kleiman (17), Roulet (15), Kerbrat-Orecchioni (14) e Vion (12). O
Quadro 14 mostra o número de vezes que aparecem e, logo em
seguida, apresentamos em que parte do texto eles aparecem e o
número de suas ocorrências.
Quadro 14: Os teóricos na tese
Entre 1 e 4 corrências Entre 5 e 10 ocorrências
Mais de 10 ocorrências
Abreu, Altman, Adam, Aroux, Assis, Authier-
Revuz, Barbosa, Bechara, Barros, Bastos
e Mattos, Beacco, Benveniste, Bortoni, Bouchard, Brandão,
Britto, Bronckart, Cagliari, Camacho,
Cavalcanti e Lombello, Cazden, Charaudeau,
Chomsky, Cicurel, Clark e Farclough, Clemente,
Decrosse, Deleuze, Dosse, Ducrot,
Erickson, Faria, Fiad, Franchi, Geraldi,
Bakhtin, Batista, Casti lho, Dabène,
Koch, Maingueneau, Matêncio, Moirand,
Risso, Sinclair e Vanderveken
Jubran (12), Kerbrat-Orecchioni (14),
Kleiman (17), Marcuschi (22),
Roulet (15) e Vion (12).
138
Goffman, Gumperz e Hymes, I lari, Kato,
Kristeva, Morsel, Moura Neves, Pêcheux, Gadet, Pécora, Perini, Poche,
Possenti, Rafael, Ramos, Rosa, Sacks, Saussure, Schil ieben-
Lange, Serrani-Infante, Signorini, Soares,
Travaglia, Val, Van Dük e Zenone.
Na Introdução, identif icamos apenas um autor, Matêncio, com
três ocorrências. Nessa parte do texto encontramos também um autor
no rodapé (p.12), Maingueneau com uma ocorrência. Essa constatação
conduziu à interpretação de que a pesquisadora, seja como tal ou como
uma teórica entre os outros, tem uma presença signif icativa na Tese,
pois seu nome aparece em todas as partes do texto, como abordaremos
a seguir.
Diante disso, interpretamos que a interação com o “mesmo”
também ocorre no texto. A pesquisadora interage consigo mesma na
posição de teórica cujos temas têm relação com a temática tratada na
tese. Essa alteridade, junto com os demais teóricos, participa da
construção do texto e da própria pesquisadora, porém de uma forma
peculiar. Enquanto com os demais teóricos ela mostra uma distância,
evidenciada pelo uso pronome na terceira pessoa do singular — ou do
plural para se referir a eles —, quando cita a si mesma como autora,
por sua vez, ela uti l iza a primeira pessoa do singular. Abaixo seguem
dois recorte, um que mostra a pesquisadora citada com autora, e outro
de teóricos.
Devo ressaltar que me interessava estudar particularmente os efeitos da formação teórica para a prática de ensino (Matencio 1990, 1991, 1994a,b), as atribuições, pela instituição, de lugares e papéis aos professores e alunos (Matencio, 1994a), a organização da aula e o contexto construído para a aprendizagem (Matencio, 1994a). Como objetivo
139
específico, pretendia verif icar as regularidades e oscilações encontradas nas aulas de l ingua materna registradas. (p.9). Há autores que estudam o tópico sem desenvolver. simLkareareme. a investigação da estrutura dialogal da interação (Jubran, 1993; Jubran et ali i. l990). Esses au:ores não negam, é certo, que a abordagem tópica da interação dá indicações de sua estruturação e de seu caráter dinâmico, mas atribuem maior importância ao estudos das unidades topicas (cf. Jubran et ali i . 1996). (p.135).
Nos Capítulos, porém, os nomes que aparecem com duas ou
mais ocorrências são Roulet (13), Kleiman (12), Marcuschi (11),
Kerbrat-Orecchioni (11), Vion (10), Koch (8), Jubran (Urbano et al) (7),
Jubran (Clélia) (6), Vanderveken (6), Dàbene (Michel) (3), Dàbene
(Louise) (3), Dàbene (Cicurel) (2), Bakhtin (4), Matêncio (4), Sinclair
(4), Risso(4 com et al), Batista (4), Maingueneau (3), Altman (2),
Ducrot (2), Saussure (3) e Casti lho (2), como indica o Quadro 15.
Quadro 15: Teóricos nos Capítulos Teórico OcorrênciaRoulet 13 Kleiman 12 Marcuschi 11 Kerbrat-Orecchioni 11 Vanderveken 6 Bakhtin 4 Matêncio 4 Sinclair 4 Batista 4
Sobre esse conjunto de teóricos podemos tecer alguns
comentários. O primeiro diz respeito ao uso de parênteses. Dos 23
teóricos que constituem aquele conjunto, a maioria — 17 teóricos —
tem seu nome escrito no texto fora de parênteses. Para nós esses
teóricos têm um destaque em relação aos demais, pois são integrados
140
de maneira “direta”, ou seja seu discurso e seu nome estão ali, no
texto, de uma forma analít ica, como discurso indireto.
Para além do conjunto de 23 teóricos, ainda encontramos
teóricos que têm uma ocorrência nos Capítulos, mas seus nomes
aparecem fora de parênteses são eles: Charaudeau (1), Goffman (1),
Erickson (1), Bronckart (1), Beacco & Moirand (1), Pêcheux (1), Barros
(1), Cavalcanti (1), Kristeva (1), Benveniste (1).
Nas Considerações Finais a ocorrência de nome dos teóricos é
semelhante a da Introdução , não encontramos nenhuma ocorrência de
nome de teóricos. Nem mesmo em rodapé. A pesquisadora teceu suas
últ imas considerações sem incluir os nomes de teóricos que
contribuiram com ela no texto
3.3 O outro nas formas de discurso citado
Algumas expressões encontradas nos textos 1 e 2 também
aparecem na tese. Eles totalizam trinta e três ocorrências. Dentre elas,
encontramos as expressões para (12) e segundo (16), para introduzir o
discurso do teórico, como mostram os recortes abaixo.
Segundo Risso et a/li (1996), as unidades que têm sido agrupadas como marcadores discursivos, mesmo que de maneira não consensual, são alguns vocativos. Modalizadores, operadores argumentativos, bem como algumas interjeições e algumas formas homônimas (...). (p.158). Um outro exemplo pode ser extraído de estudos sobre a produção do texto em situação escolar (cf. Assis et ali i , 1997), segundo os quais uma das maiores dif iculdades de nossos alunos é justamente a de se distanciar da situação imediata de interação em sala de aula para atualizarem, na produção de seus textos orais e/ou escritos, as estratégias que seriam requeridas em outros eventos de interação. (p.72).
141
Para Pêcheux (1993), em meio às contradições existentes na Lingüística moderna — que incluem tendências formalistaslogicistas, históricas e de análise da fala —, é o objeto da Semântica a langue, aquele que vincula todas as tendências. (p.41). Para a autora, a seqüência é um bloco de trocas vinculado por coerências semânticas e/ou pragmáticas, o que implica que a homogeneidade de uma seqüência é decorrência de as unidades discursivas que a constituem possuírem uma mesma finalidade. (p.90).
Como nas Dissertações, também na Tese encontramos outras
formas que a pesquisadora uti l izou para evidenciar o discurso do
teórico. São as aspas e a expressão conforme , como indica o Quadro
16.
Quadro 16: Expressões na formas encontradas nos Capítulos
Diferentemente dos textos anteriores, na Tese encontramos
mais o uso do discurso indireto do que o uso do discurso direto. Eles
totalizam 72 ocorrências, dividida em 4 para discurso direto e 68 para
discurso indireto. Entre os introdutores dos discurso direto verif icamos
o verbo notar (2) e, para o discurso indireto, os verbos focalizar/
retomar/crer/distinguir (4), admitir (5), propor/salientar (6). Para os
recortes selecionamos os verbos retomar , propor e salientar .
EXPRESSÕES
NAS FORMAS DE DISCURSO CITADO
OCORRÊNCIAS
Segundo 16 Para 12
Com aspas 4 Conforme 1
142
Assim, a noção de subjetividade proposta por Bakhtin é retomada , mas sugere-se que o locutor seja visto como sujeito constituído pela subjetividade e senhor de seu próprio discurso, porque se constitui ao enunciar o eu. Esse é o ponto normalmente focalizado por aqueles que crit icam Benveniste, pois o uso da l inguagem (...). (p.40). Por exemplo, na definição que propõe Kerbrat-Orecchioni (1990: 225), a intervenção é compreendida como a contribuição de um dos participantes para a co- construção da troca, contribuição que deve ser analisada justamente quanto à função que desempenha para a referida troca. (p.99). Do ponto de vista institucional, estudos que têm investigado a interação professor/alunos na aula de língua materna salientam a importância de se levar em conta as determinações institucionais, que fazem do professor o intermediário entre instituição e aluno (Matencio, 1994b), ou ainda, com grande freqüência na escola brasileira, entre o autor do l ivro didático e aluno (Batista, 1997; Kleiman, 1 992b). (p.27)
Como interpretado anteriormente, as vozes são de 84 teóricos
que totalizam 259 ocorrências. Os teóricos mais citados são Marcuschi
(22), Kleiman (17), Roulet (15), Kerbrat-Orecchioni (14) e Vion (12).
Assim como constatamos em todo texto uma maioria de discurso
indireto para integrar o discurso do outro, assim também identif icamos
esses teóricos constituem a maioria no conjunto de 72 ocorrências
totalizada entre discurso direto e indireto.
E quanto ao aos verbos dicendi identif icamos um número
superior em relação às Dissertações analisadas.
Na Tese– Estudo da Língua Falada e Aula de Língua Materna:
uma abordagem processual da interação professor/alunos (Tese
defendida em 1999) —, os verbos totalizam 484 (Anexo C – Tese:
Verbos Dicendi), sem dúvida o maior número dentre os três analisados.
Nesse conjunto de verbos, destacamos os 10 mais usados pela
143
pesquisadora: retomar (56), apresentar (29), indicar (27), fazer
referência (25), relacionar/fonecer/privi legiar (21),
propor/considerar/admitir (17), estabelecer/focalizar (16),
afirmar/salientar (14), definir (12) e analisar/descrever (11).
Apesar do número signif icativo de ocorrência do verbo retomar,
em apenas uma ocorrência ele esteve relacionado ao outro, como
mostra o exemplo abaixo.
Assim, a noção de subjetividade proposta por Bakhtin é retomada , mas sugere-se que o locutor seja visto como sujeito constituído pela subjetividade e senhor de seu próprio discurso, porque se constitui ao enunciar o eu. (p.40).
Também o verbo apresentar não teve nenhum momento de uso
relacionado a integração do discurso do outro, À semelhança o
delimitamos em nosso trabalho, ou seja, como os teóricos com quem o
pesquisador estabeleceu interações.
No entanto, com os verbo indicar, relacionar e fazer referências
identif icamos suas ocorrências relacionadas ao outro como sujeito
coletivo. Nesse sentido, a pesquisadora uti l iza as palavras “estudos”,
“pesquisadores”, dentre outros, para se referir ao outro. O recorte
abaixo mostra como isso ocorre no texto.
(...) há estudos indicando, por sua vez, que a gramática normativa tradicional ainda é privi legiada nas aulas de língua materna (Fiad, 1997: Travaglia, 1996) (...)”. (p.26). Mesmo os estudos que procuram relacionar a micro e a macroanálise da interação deixam de lado uma questão central para a investigação da aula de língua materna: corno as restrições l inguistico-
144
discursivas — incluindo-se tanto as restr ições (...). (p.27).
Identif icamos que os verbos mais uti l izados pelo pesquisador
para introduzir o discurso do outro na forma de discurso citado foram
notar (4) para discurso direto, e para o discurso indireto foram salientar
(6) e propor (6). Abaixo seguem exemplos de como eles são uti l izados
no texto.
Kleiman (1992b) salienta que nas últ imas décadas, como uma das conseqüências da contínua desvalorização da figura do professor, o l ivro didático, antes um instrumento que mediava as relações entre professor alunos, transformou-se em fim. (p.72). Por exemplo, na definição que propõe Kerbrat-Orecchioni (1990: 225), a intervenção é compreendida como a contribuição de um dos participantes para a co- construção da troca, contribuição que deve ser analisada justamente quanto à função que desempenha para a referida troca. (p.99).
O verbo salientar indica que o pesquisador interpreta que o autor
procurou marcar algum aspecto do assunto estudado. E, na interação
com o autor, o pesquisador revela que comunga com o que é
salientado. No exemplo acima, o pesquisador identif ica esta marcação
do assunto — “figura do professor” — realizada pelo autor com o verbo
salientar . Esse ato ocorre com um dos teóricos mais citados em seu
trabalho(nesse caso, uma autora), Kleiman. São dezessete ocorrências
que põe este teórico como um dos mais citado e com quem o
pesquisador estabeleceu muitas interações no texto.
O outro verbo, propor, revela, em seu uso no texto, uma
interação do pesquisador com o teórico para apresentar algo como um
caminho para a solução de um problema. Esse verbo é classicado como
145
de incerteza e de pré-experimento, entendido como um ponto de
partida para uma discussão de pesquisa. O fato de introduzir o teórico
e a sua proposta no texto mostra que o pesquisador tem com esse
outro uma relação de concordância, talvez fazendo “sua” a proposta do
autor. Abaixo segue um exemplo de como é apresentado esse verbo no
texto.
Por exemplo, na definição que propõe Kerbrat-Orecchioni (1990: 225), a intervenção é compreendida como a contribuição de um dos participantes para a co-construção da troca, contribuição que deve ser analisada justamente quanto à função que desempenha para a referida troca. (p.99).
Enfim, com os verbos dicendi interpretamos a posição que o
pesquisador assume com o teórico no texto e identif icamos as vozes
que possibil i tam corroborar essa posição. O mais signif icativo é que os
verbos dicendi ajudaram a confirmar que o pesquisador na interação
com seu outro realizou uma variedade de incursões para introduzir a
voz do teórico no texto, mostrando com isso que a colaboração da
alteridade é necessária para o desenvolvimento do trabalho da
pesquisadora.
3.4 O outro nas Referências Bibliográficas
Nas Referências Bibliográticas encontramos um conjunto de 86
teóricos. Os teóricos com duas ou mais ocorrências de obras são:
Kleiman (12), Matêncio (7), Marcuschi (5), Roulet (4), Koch (4), Geraldi
(3), Pêcheux (3), Maingueneau (3), Bakhtin (2), Casti lho (2), Van Dijk
(2), Val (2), Serrani-Infante (2), Perini (2), Mary Kato (2), Cavalcanti
(2) e Bosse (2). Os demais teóricos tiveram uma ocorrência com obras.
146
Quadro 17: Teóricos que aparecem fora de parênteses TEÓRICO OCORRÊNCIARoulet (13), 15 Kleiman (12), 1 Marcuschi (11), 2 Kerbrat-Orecchioni (11), 11 Vion (10), 11 Koch (8), 1 Jubran (Urbano et al) (7), 2 Jubran (Clélia) (6), 1 Vanderveken (6), 4 Bakhtin (4), 3 Sinclair (4) e Culthard 8 Risso(4 com et al), 1 Searle 1 Sacks et al 2 Altman 2 Saussure 3 Ducrot 2 TOTAL 80
Na Bibliografia Consultada , encontramos um conjunto de 42
teóricos. Os teóricos com duas ou mais ocorrências de obras são:
Michel Dàbene (6), Lacan (3), Brassart (2), Casti lho (2), Vygotisky (2) e
Coste (2). Os demais teóricos t iveram uma ocorrência, entre eles
Matêncio.
3.5 Posições da pesquisadora na interação com o outro
Como na abordagem dos Textos 1 e 2, também aqui vamos
retomar as questões de pesquisa e procurar respondê-las a partir do
que foi encontrado na tese.
3.5.1 Como o pesquisador integra o outro no contexto?
A integração do outro no contexto da tese ocorre de duas
maneiras, uma pelo uso dos verbos dicendi e por meio do discurso
147
citado. Nesse últ imo caso, encontramos duas peculiaridades: os
teóricos que aparecem fora ou dentro de parênteses e aqueles que,
mesmo com ínfima participação no texto — uma ocorrência —
aparecem com destaque não só no corpo do texto (Capítulos), mas
também nas Referências Bibliográficas e na Bibliografia Consultada. É
o caso de Michel Dabène que tem uma ocorrência fora de parênteses,
uma ocorrência dentro de parênteses, uma ocorrência nas Referências
Bibliográficas e seis ocorrências na Bibliografia Consultada . Sem
contar que ele já havia aparecido nos Agradecimentos .
Em uma outra forma de olhar essa integração, percebemos
também a presença do “mesmo” em diferentes posições no texto.
Nesse particular identif icamos o próprio Michel Dabène, Angela
Kleiman e Maria Matêncio. Dabène é o outro da pesquisadora como
amigo com quem ela contou na viabil ização do projeto, é o autor
referenciado (Referências Bibliográficas) e é o autor consultado
(Bibliografia Consultada). Kleiman é a orientadora que “respeitou o
ritmo de sua produção” — nos Agradecimentos —, bem como autora
referenciada e consultada. E Matêncio, que é a própria pesquisadora e
teórica referenciada e consultada.
3.5.2 Como o pesquisador justif ica a integração do outro no texto?
A integração do outro no texto é justif icada fundamentalmente
pelas sinalizações aos “estudos”, “aos pesquisadores”, “aos teóricos”,
enfim aos “trabalhos” científ icos que têm relação com o que a
pesquisadora desenvolve no texto. Nesse sentido, o outro representa
os sujeitos coletivos (ou ele coletivo). Eles são trazidos às cenas
textuais porque têm algo a dizer (ou disseram) sobre o que está sendo
interpretado pela pesquisadora, mesmo que seja para ela discordar.
148
3.5.3 Qual o papel atribuído ao outro pelo pesquisador no texto?
O papel atribuído ao outro no texto é o de representante (de
estudos, de trabalhos, dos pesquisadores, de teóricos — ele coletivo) e
de apresentador (de seu trabalho e/ou de sua pesquisa). Como
representante, o outro fala por meio de um conjunto de teóricos que
desenvolveram determinados trabalhos de pesquisa, como mostra o
exemplo abaixo.
Outros trabalhos sugerem que as atividades de leitura em situação escolar se restringem com muita freqüência a extrair as informações explícitas na superficie textual (Kleiman 1989, 1992c; Cavalcanti & Lombello, 1987; Marcuschi; 1996b), ou então visam ao ensino de gramática (Kleiman, 1 992d) (...). (p.24).
Como apresentador, o outro fala de seu trabalho em cenas
textuais determinadas pela pesquisadora. Vejamos o exemplo abaixo.
Vejamos também o que diz Marcuschi (1996a: 96-97) ao discutir o fenômeno, já que a definição proposta pelo autor tem a vantagem de abranger os diferentes t ipos de retomada de um mesmo segmento, com ou sem variação, nos diferentes níveis l ingüísticos. Segundo o autor, a “repetição é a produção de segmeutos idênticos ou semelhantes duas ou mais vezes no âmbito de um mesmo evento comunicativo”. (p. 148).
3.5.4 Que posições o pesquisador assume na interação com o outro?
Na interação com os teóricos, a pesquisadora assume duas
posições. Uma como apresentadora (relatora, expositora, porta-voz)
dos trabalhos (estudos, pesquisas) que eles realizaram sobre assuntos
149
abordados na tese. A outra posição é de complementadora (preenche
lacunas nas pesquisas relatadas).
Como apresentadora, a pesquisadora constrói uma panorama de
trabalhos que têm relação com o foco de sua pesquisa. Com esse
panorama ela realiza dois atos de l inguagem. Em um ela apresenta o
tema desses trabalhos e, entre parênteses, inclui os teóricos que os
realizaram. E, algumas vezes, ela aborda um tema desse panorama e,
em seguida, integra um autor na cena textual para que fale de seu
trabalho.
Como complementadora, a pesquisadora faz inclusões às
lacunas — segundo ela — deixadas pelos trabalhos daquele panorama.
Antes disso, ela fr isa que todos os trabalhos representam avanços na
abordagem do tema que apresentam.
3.6 A Construção da Pesquisadora diante dos Teóricos
Em vista da postura que temos tomado neste trabalho para
analisar o texto, que é a de permitir que ele “fale”, como nos textos
anteriores (1 e 2), não estabelecemos categorias a priori para
identif icar o pesquisador que se construiu nesse texto. O objetivo é
apresentar como a pesquisadora se construiu na interação com os
teóricos.
A pesquisadora na Tese realiza as ações: narra/relata;
interpreta; polêmiza e constrói proposta (novo modelo). Tais ações são
interdependentes e foram identif icadas numa diversidade de cenas
textuais.
A ação de narrar/relatar é mostrada logo no início do texto, mais
precisamente na Introdução e nos Capítulos 1 e 2, quando a
pesquisadora remete ao percurso de sua pesquisa ou quando recorre
aos trabalhos já construídos que focalizaram o tema de sua pesquisa.
150
Tanto num com no outro, a pesquisadora conta com o outro, que são ou
integrados no percurso da pesquisa ou com seus trabalhos concluídos.
O estudo exploratório desenvolvido nas primeiras etapas da pesquisa — entre 1994 e 1995 (cf. Matencio, 1996ab. 1997) — foi o bastante para que percebesse tanto a pertinência da análise baseada nos aspectos a que me referi anteriormente como sua insuficiência. (p. 9). (...) pode-se verif icar que, nas duas últ imas décadas, os avanços dos estudos da l inguagem estimularam, internacionalmente, a realização de estudos sobre o f l incionamento dos discursos — através da investigação de práticas e at ividades discursivas —, de suas regularidades estruturais e interpretativas; houve, portanto, grande crescimento da pesquisa sobre textos orais, como atestan no Brasil. a publicação dos volumes referentes ao projeto NURC e o projeto de elaboração de uma do Português Falado , cujos resultados são os primeiros de âmbito nacional. (p.23). Finalmente, assinalo o fato de que os estudos dos textos e dos discursos são muito recentes para que seus princípios possam ser incorporados às práticas escolares sem dif iculdades, sejam estas de ordem teórico-metodológica ou institucional. (p. 60).
Uma outra ação da pesquisadora, a de interpretar , acompanha
as anteriores. Quando narra ou relata, a pesquisadora também
interpreta. No caso da construção do panorama de trabalhos
elaborados sobre a sala de aula de lingua materna nas década de 1980
e 1990, ela interpreta como avanços nas pesquisas, nas palavras dela:
“pode-se verif icar que, nas duas últ imas décadas, os avanços (grifo
nosso) dos estudos da l inguagem estimularam...através da investigação
de práticas e atividades” (p.23). Ou quando aponta lacunas nestes
trabalhos: “pouco (grifo nosso) se tem interpretado sobre a art iculação
entre a micro e a macroanálise da interação” (p.28). Nesses e em
outros trechos ela não só relata o fenômeno mas também interpreta-o.
151
A meu ver, entretanto, as oposições institucionais às quais se refere a autora refletem nos cursos de formação em Letras no Brasil, sobretudo porque mostram que a disputa pela legit imação teórica confere, muitas vezes, aos cursos de graduação um caráter secundário a questões relativas à formação do futuro professor de linguas, perfi l profissional efetivamente priorizado por esses cursos. (59). Um outro exemplo é o fato de que, embora haja estudos esparsos sobre marcadores discursivos em sala de aula, não há ainda no Brasil estudos sobre quais são as funções globais dos modalizadores para a produção de efeitos de ensino/aprendizagem na interação em sala de aula. (p.29).
A ação de polemizar da pesquisadora está presente em todos os
momentos em que apresenta o que já foi pesquisado a respeito de
algum assunto relacionado com o tema de seu estudo.
Não interpretado, porém, que o estudo da organização discursiva com base nas unidades tópicas exclua a necessidade de analise da alternância de interlocutores na aula. um texto oral dialogado que visa ao ensino e à aprendizagem. Ou seja, considero que a análise tópica da interação didática na aula não exclui a necessidade da análise estrutural e funcional de suas unidades constituintes. Afinal, a percepção que os interlocutores têm do tópico ‘o assunto em pauta’ (Koch et a/l i . 1996) — é essencial para a configuração das diferentes unidades. (p.135).
Ela não se inibe em discordar, mesmo que indiretamente, de
posições já estabelecidas, e faz isso revelando em que acredita. E a
partir daí que ela apresenta sua proposta de modelo de aula em língua
materna.
152
A ação de construir uma proposta (novo modelo) é a mais
evidente. Ela é revelada tanto nas partes iniciais de seu trabalho —
com o Resumo (“Este trabalho apresenta um modelo para a análise da
aula de língua materna, considerada como um gênero discursivo típico
do discurso didático.” ) como nas Considerações Finais (“...produzindo
um modelo de análise da aula que pode servir a pesquisas que,
interessadas ou não em uma perspectiva histórica” — p. 167). Ele é a
razão da Tese da pesquisadora. Os teóricos que integram o seu texto,
os discursos indiretos que usa para citá-los, os modelos que analisa de
alguns desses teóricos são abordados em vista da construção de seu
modelo de análise de aula.
Essa é exatamente a proposta deste trabalho, que relaciona a unidade monologal mínima à configuração dos demais constituintes da interação didática, sugerindo que essa unidade manifesta o movimento de estruturação e de tematização dos objetos discursivos (e de ensino/aprendizagem), ou seja, o movimento didático-discursivo na aula. (p.119). Enfim, o modelo proposto deve contribuir teórica e metodologicamente para a investigação da interação didática na aula de língua materna, apresentando instrumentos de análise para o estudo da aula em contextos culturais diversif icados, como é o caso em países diferentes e também no próprio Brasil, dada a diversidade cultural de nossa nação. (p.11).
Do objeto de sua pesquisa, porém, o pesquisador acredita que
nem tudo está interpretado (e nunca será interpretado) ou que ainda
pode ser interpretado de outra maneira. E ele, pesquisador, pode
acrescentar algo mais, descoberto com a sua pesquisa. Assim, diante
do outro, de modo especial daqueles que tiveram mais ocorrência no
Texto — Jubran (12), Kerbrat-Orecchioni (14), Kleiman (17), Marcuschi
(22), Roulet (15) e Vion (12) —, o pesquisador propõe algo novo.
153
Marcuschi22 é um autor (pesquisador) da Universidade Federal
de Pernambuco que desenvolve trabalhos que abordam a relação entre
escrita e fala, o texto na escola, dentre outros. A l inguagem na
perspectiva desse autor não é inata, mas é um constructo humano,
social e histórico. Suas obras encaminham para uma discussão
permanente entre o que ocorre na “passagem” da fala para a escrita,
ou de suas interações, de modo especial quando isso ocorre na escola,
ou da norma padrão para a fala. As cinco obras desses autor
referenciadas na Tese foram publicadas nos anos de 1986, 1995, 1996
(dois textos) e 1997, e todas mostram essa preocupação com o
fenômeno da fala e da escrita. Para confirmar essa l inha de pesquisa
do autor identifcamos uma obra de sua autoria publicada em 2001 —
evidentemente não referenciada Na Tese— intitulada Da Fala para a
Escrita: Atividades de Retextualização.
A pesquisadora que se constrói na Tese é também voltada para
as interações da fala e da escrita. Nesse sentido, as citações de
Marcuschi foram mais freqüentes. É uma pesquisadora que se constrói
em sintonia com o seu outro.
Além disso, a pesquisadora que se construiu na tese, a partir da
interação com seu outro pode ser comparada a alguns dos personagens
tratados por Todorov e, como temos interpretado, transposto para a
interação entre o pesquisador e seu outro.
As ações da pesquisadora conduz à comparação com dois
personagens: “Diego Durán” e “Bernardino de Sahagún” (cf.
Fund.Teórica). Como fizemos com os outros Textos (1 e 2), não
pretendemos rotular o pesquisador, reduzindo a um ou outro t ipo, À
semelhança construímos na transposição para a área de pesquisa os
sujeitos históricos analisados por Todorov (1999). Pretendemos
identif icar as semelhanças que ocorrem nas ações daquelas f iguras
históricas e as da pesquisadora no seu texto. Na Tese, as ações da
22 MARCUSCHI, Luiz A. CURRÍCULO VITAE. CNPq, 2007. Disponível em: http://www.ufpe.br/ceel/equipe/resumo/resluizantonio.htm. Acesso em: 30 abr. 2007.
154
pesquisadora na Tese são parecidas com as ações de Diego de Durán
e de Bernadino de Sahagún.
Como Diego Durán, o pesquisador não dá as costas para os
escritos e as publicações do outro, até mesmo se este diverge na l inha
teórica em que produz pesquisa; pelo contrário, o pesquisador, nessa
perspectiva, procura informar-se das posições do outro, de suas
descobertas e pesquisas. Ele mostra segurança para escrever suas
discordâncias em relação ao outro, especialmente quando publica,
comunica ou debate seus trabalhos, citando um pensador do qual
discorda.
A ação de ignorar o outro ocorre na situação de pesquisa
quando o pesquisador cala-se em relação ao que já foi escrito sobre o
assunto que pretende estudar. O pesquisador, cuja ação se assemelha
a de Diego de Landa, apaga os “vestígios”, em seu texto, da Revisão
da Literatura. Ele ignora o interpretado e crê que seu discurso é
fundante, original e absolutamente novo. E, por isso, pode falar o que
quer, pois ele tem a “primeira palavra”. Na verdade, nenhuma pesquisa
é fundante, ela sempre tem antes de si as contribuições de outras
pesquisas que, ou apresentaram respostas para um ou mais problemas
ou deixaram outras perguntas sem respostas, instigando os
pesquisadores a buscarem as respostas.
Como pesquisadora que realiza ações que remete ao
personagem Diego de Durán a proposta de um modelo novo de aula
não resulta da “queimação” — como fez esse personagem histórico
analisado por Todorov (1999) — de modelos já construídos ou idéias
relacionadas a estes. Aliás, seu modelo proposto é construído a partir
da leitura dos já existentes. Seu trabalho, construído na interação com
o outro, depende da leitura de escritos. O pesquisador não dá as
costas para os escritos e as publicações do outro, até mesmo se este
diverge na l inha teórica em que produz pesquisa; pelo contrário, o
pesquisador, nessa perspectiva, procura informar-se das posições do
outro, de suas descobertas e pesquisas.
155
O pesquisador “Bernardino de Sahagún”, para fazer novamente
uma analogia, é aquele que procura compreender o outro, inserir-se em
seu mundo teórico, ideológico e, a partir dali falar o que viu ocupando o
seu lugar de pesquisador. Desse lugar, ele realiza um esforço para
ocupar o lugar do outro. Todavia, “nunca poderemos ocupar o lugar do
outro” 23. O esforço, porém, pode ser renovado a cada atividade de
pesquisa. Trata-se da postura exotópica 24.
As ações Bernardino de Sahagún e as ações da pesquisadora
na Tese são diferentes das outras analisadas. Nessa analogia, o
pesquisador se destaca pelo esforço que faz para falar do outro sem
opor-se a este. Além disso, propõe acréscimos emanados de sua visão
de pesquisador. A partir de seu horizonte - epistemológico, l ingüístico,
f i losófico etc. - ele fala do seu ambiente - outro e suas interfaces. Isso
pode acontecer quando o pesquisador, ao abordar um assunto ou
objeto de pesquisa, numa dada situação, acredita que nem tudo está
interpretado ou que ainda pode ser interpretado de outra maneira. E
ele, pesquisador, pode acrescentar com algo mais, descoberto com a
sua pesquisa. O fundamental é que seu trabalho de pesquisa possa ser
“discutível” por seus leitores, como diz Maríl ia Amorim (Informação
Verbal) 25.
O pesquisador que age com o teórico como Bernadino de
Sahagún agiu com os nativos, destaca-se pelo esforço que desenvolve
ao falar do outro sem opor-se a este e acrescentar outros
conhecimentos resultantes de seus estudos. Relatando, apresentando
ou propondo, revelam-se marcas l ingüístico-enunciativas que, na tese,
mostram uma postura mais sintonizada com a visão da pesquisadora do
que distante dela. É um pesquisador que se constrói na sintonia com
seu outro.
23 Marília Amorim. Curso ministrado no LAEL (PUC-SP) no mês de setembro de 2005. 24 Incluído em Estética da Criação Verbal. Tradução de Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.43. 25 Idem nota 29.
156
Além das questões anteriores, acrescentamos mais uma questão
que emergiu durante a leitura e análise do Texto. Identif icamos que
dentre os teóricos está também o nome da pesquisadora. Ela assume a
posição de autora no texto. Diante dessa constatação elaboramos a
seguinte questão:
Como interage a pesquisadora com ela mesma como
teórica na Tese?
A pesquisadora interage consigo enquanto teórica de duas
formas. De um lado, ela referencia a si mesma como teórica; e de outro
ela concorda consigo enquanto teórica. Quando referencia a si mesma
como teórica, a pesquisadora inclui Matêncio junto com outros teóricos,
seja fora ou dentro de parênteses. Dessa forma, podemos interpretar
que ela está apresentando Matêncio como uma dentre tantas
referências de trabalhos (estudos, pesquisas) de teóricos.
Também entendemos que esse ato de l inguagem é uma mostra
de uma interação de concordância consigo. Com três ocorrências na
Introdução, 4 ocorrências nos Capítulos , 7 ocorrências nas Referências
Bibliográficas e 1 ocorrência na Bibliografia Consultada, a autora
Matêncio ocupa uma lugar signif icativo na tese. Tanto na Introdução,
onde relata seu percurso de pesquisa, como nos Capítulos , onde inclui
alguns de seus trabalhos entre os de outros teóricos, a pesquisadora
revela sua concordância com Matêncio.
A participação da alteridade na Tese é de parceira da
pesquisadora nos relatos, nas interpretações, nas polêmicas e na
construção do modelo de aula que ele apresenta na Tese.
Ao relatar seus trabalhos anteriores (com Matêncio) ou de outros
teóricos, a pesquisadora o faz em parceria com os teóricos. É a
alteridade quem lhe fornece o material necessário — textos — para a
construção do relato.
157
Ao interpretar o fenômeno (aula de l ingua materna), a
pesquisadora o faz em parceria com os teóricos. É a alteridade quem
lhe fornece conclusões (teorias, posições) para fundamentar a
interpretação apresentada na Tese.
Ao polemizar sobre as posições de teóricos, a pesquisadora o
faz em parceria com seu outro. É a alteridade quem, muitas vezes,
fortelece os argumentos da pesquisadora na polêmica.
E na construção do modelo de aula, a pesquisadora conta
essencialmente com os teóricos. É a alteridade quem fornece os
materiais (idéias, relatos, pesquisas etc) para a construção.
Dessa forma, na Tese, a alteridade se mostra, sobretudo, como
uma parceira da pesquisadora.
3.7Conclusões parciais
A Tese mostra um conjunto de 84 teóricos, dentre eles Matêncio.
Todos foram incluídos num contexto de pesquisa que aborda
fundamentalmente o estudo da língua materna. E, além disso, tornam-
se parceiros da pesquisadora na construção de seu modelo de aula em
língua materna.
Com esse conjunto de teóricos, ela realizou a integração de
alguns sob a forma de discurso direto, especialmente com o verbo
notar e de muitos sob a forma de discurso indireto, principalmente com
os verbos salientar e propor .
Ainda desse conjunto de teóricos, sete vão se tornar o alicerce
ou centro das interações estabelecidas pela pesquisadora no texto. Só
para retomar, são eles: Marcuschi, Roulet, Kerbrat-Orecchioni, Vion,
Kleiman, Dabène e Matêncio. Os quatro primeiros aparecem nos
Capítulos, nas Referências Bibliográficas e na Bibliografia Consultada.
Os três últ imos aparecem não só nessas partes, mas também nos
158
Agradecimentos — Kleiman e Dabène — e Introdução – Matêncio. A
primeira conclusão que é que este últ imo autor (na verdade autora),
apesar de ter menos ocorrência no texto do que os demais, ele esteve
presente em todo o texto — da Introdução à Bibliográfica Consultada.
Trata-se do “mesmo” em diferentes partes do texto.
Os outros seis teóricos, contudo, são integrados no bojo das
discussões, ou como representantes ou como apresentadores de
“estudos” (trabalhos, pesquisas), papéis atribuídos a eles pela
pesquisadora. Dessa forma, a pesquisadora interage como relatora e
complementadora, indicando os trabalhos produzidos por eles,
revelando avanços e lacunas, mas principalmente construindo com eles
seu modelo de análise de aula em língua materna.
É uma pesquisadora que se constrói na sintonia com seu outro.
Dentre os teóricos mais citados, a interação estabelecida entre a
pesquisadora e seu outro não é de oposição, mas de acordo. O outro
ingressa como alicerce, como grupo de apoio, como “parceiros”, na
construção de seu trabalho (“modelo de aula em língua materna”.).
159
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vamos agora pontuar as conclusões a que chegamos após
abordar cada texto do corpus e fazer comparações entre os textos em
vista de tecer considerações a respeito do resultado da interação da
pesquisadora com seu outro.
Como esclarecemos na Introdução não nos debruçamos sobre a
interação em sala de aula entre professor e aluno, tal como fizeram os
teóricos das Dissertações e da Tese. Esses textos foram constituídos
como corpus deste trabalho. Com esse corpus , nossa Objetivo foi focar
a alteridade em textos de pesquisa do gênero dissertação e tese para,
a luz dos estudos bakhtinianos, compreendermos como o outro
colabora na construção do texto e da pesquisadora, por meio da
diversidade de interação que estabelece no texto.
Dos textos estudados, a interação do pesquisador ocorreu de
maneira intensa com 3 e 6 teóricos. Na primeira Dissertação a
interação ocorreu mais com os teóricos Ell is, Long e Krashen. Na
segunda Dissertação ela ocorreu mais com os teóricos Freire, Carmo e
Rocha. Na Tese a interação ocorreu com os teóricos Marcuschi,
Kleiman, Roulet, Kerbrat-Orecchioni e Vion.
Quadro 18: Teóricos mais citados no corpus
Primeira Dissertação Segunda Dissertação Tese Ell is, Long e Krashen Freire, Carmo e
Rocha Marcuschi, Kleiman,
Roulet, Kerbrat-Orecchioni e Vion
Diante disso, podemos afirmar que a construção do pesquisador
nos textos resulta da interação com seu outro e ocorre
fundamentalmente de duas formas. Numa forma, o pesquisador se
160
constrói com a colaboração de um conjunto de teóricos identif icados no
texto. Desse conjunto, identif icamos que o pesquisador estabelece com
a maioria (84 só na tese) uma interação com pouca intensidade,
evidenciada não só pelo pequeno número de ocorrências dessa maioria
no corpo do texto mas também pelas poucas obras l istadas nas
referências. Teóricos que não foram citados no corpo do trabalho
apresentam sua colaboração, mesmo que não mostrada no texto, pois
se encontram em sua consciência — discurso interior. O pesquisador
se constrói com um pequeno número de teóricos (3 a 6). É com essa
minoria que o pesquisador mantém uma interação intensa, resultando
na construção de seu texto e de si mesmo. Esse conjunto de teóricos é
inserido em todas as partes do texto e sempre com papéis decisivos.
A integração do outro e a justif icat iva dessa integração ocorre de
formas semelhantes nos três textos. Na primeira Dissertação a
justif icativa da integração do outro ocorre a partir de dois lados da
temática (aula em ambiente formal ou informal) que o pesquisador
aborda, ou seja, o outro é inserido ora num lado — quando se
posiciona a favor — ora do outro — quando se posiciona contra. Na
segunda Dissertação a justif icativa ocorre a part ir de uma seleção de
teóricos que o pesquisador fez que, com ele, posicionam-se como
denunciadores de uma situação sócio-educativa (marginalização do
aluno com deficiência visual). E na Tese a just if icativa da integração
recai no “ele coletivo”, ou seja, o outro tem seu espaço no contexto
comunicativo porque desenvolveu “trabalhos”, “estudos” ou
“pesquisas” as quais têm relação (ou podem acrescentar algo) com o
problema abordado pela pesquisadora. Em todos os textos o outro se
apresenta muitas vezes como “parceiro” do pesquisador.
As posições assumidas pelo pesquisador na interação com
outro também têm algo em comum nos três textos. Na primeira
Dissertação o pesquisador tem uma posição, sobretudo, de
concordância (dentre as outras de concordância com ressalvas,
discordância e discordância com ressalvas), exceto para com um autor
(Krashen) — justamente aquele que vai revelar o caminho de sua
161
construção como pesquisador. Na segunda Dissertação, o pesquisador
assume a posição de co-promotor (acusador), pois o contexto é
fundamentalmente de uma situação de exclusão sócio-educativa do
aluno deficiente visual. Na Tese, o pesquisador assume a posição de
apresentadora e complementadora.
Quadro 19: Tipo de Interação e posição do pesquisador
Primeira Dissertação Segunda Dissertação Tese Pesquisador De concordância a alguns outros, mas que se constrói na oposição com um outro.
Pesquisador Co-promotor (acusador) de uma situação (histórica, social e educativa) de exclusão do aluno.
Pesquisador Apresentador e complementador.
Todas as posições revelam que a interação do pesquisador com
seu outro foi muito mais de sintonia e de cumplicidade diante do tema
abordado.
Também identif icamos algumas características signif icativas em
cada pesquisador.
Na primeira Dissertação, destacamos duas características do
pesquisador, a de sintonia com o que mostraram os “dados” e a de
“construtora de questões e hipóteses”. Na primeira, identif icamos esse
esforço do pesquisador em permitir que os dados “falassem” por si e,
na segunda, e a partir das revelações deles, o ato de l inguagem em
construir novas questões e hipóteses sinalizando para um maior
aprofundamento dos estudos. E o pesquisador ético diante do que vê e
propõe.
O pesquisador na segunda Dissertação tem as seguintes
atitudes: relator, denunciador, anunciador e comandante. Mas o traço
mais predominante é o de denunciador. O pesquisador assume um tom
de crít ica à situação de discriminação em que vive o aluno com
162
deficiência visual na sala de aula. É o pesquisador denunciador, que
propõe transformações na escola e na sociedade, tal como seu outro
mais referenciado, P. Freire.
Na Tese, a característica que sobressai em relação as demais
(narradora/relatora; interpretadora; polêmica) é a de construtora de
proposta (novo modelo). O pesquisador é aquele que olha para um
objeto de pesquisa e no estudo deste elabora modelos. É o
pesquisador construtor de modelo, mas com a colaboração dos
teóricos.
Quanto às ações de cada pesquisador (a) podemos citar
algumas semelhanças e diferenças. Na primeira Dissertação
identif icamos um pesquisador que mais se aproxima, por analogia, de
Las Casas, pois não só compreende a perspectiva do seu outro
(especif icamente Long e Ell is) mas a defende diante de outro discurso,
o de Krashen. Na segunda Dissertação, encontramos uma
pesquisadora sintonizada com o discurso do outro a ponto de ocorrer
uma identif icação na posição assumida diante de questões discutidas
no texto. É uma ação que se assemelhar a de “Gonzalo Gerrero”. Esse
pesquisador se incorpora à “cultura” e aos discursos do outro,
evidenciando isso no “vestir” e no dizer. E f inalmente na Tese
encontramos um pesquisador que se apresenta como Diego de Durán e
Bernadino de Sahagún. No primeiro, identif icamos um pesquisador que
não dá as costas para os escritos e as publicações do outro, até
mesmo se este diverge na l inha teórica em que produz pesquisa. Ele
procura informar-se das posições do outro, de suas descobertas e
pesquisas. No segundo, percebemos o esforço do pesquisador para
falar do outro sem opor-se, al iás, ele procura acrescentar outros
conhecimentos resultantes de seus estudos. Identif icamos no
pesquisador que se assemelha a Bernadino de Sahagún uma sintonia
com seu outro, uma espécie de parceria, de colaboração, de
construção de algo.
163
Quadro 20: Classif icação do Pesquisador por analogia (Todorov)
Primeira Dissertação
Segunda Dissertação
Tese
Pesquisador “Las Casas”
Pesquisador “Gonzalo Gerrero”
Pesquisador “Diego de Durán” e
“Bernadino de Sahagún” Compreende a perspectiva do seu outro e a defende diante de outro discurso.
“Incorpora” o discurso do outro.
Não é indiferente aos textos do outro, mesmo que tenha
divergência. Fala do outro sem opor-se a ele, pelo contrário, procura acrescentar outros conhecimentos.
Na primeira Dissertação, os verbos afirmar e a expressão nas
palavras de se sobressaíram em relação aos demais. Nosso destaque
recai na expressão nas palavras de. Consideramos que tal expressão
está sintonizada com uma atitude do pesquisador que é de ser ético
diante do que vê e propõe, pois apresenta l i teralmente as palavras do
outro, e nelas o conteúdo deste.
Na segunda Dissertação, os verbos que se destacam no contexto
são colocar , analisar e denunciar. Também tais verbos emergem no
contexto de denúncia construído pelo pesquisador. Ali o outro “coloca”
o seu discurso portador de “análise” e “enfatiza-o” na interação com o
pesquisador.
Na Tese, os verbos de destaque são salientar e propor. Aqui
interpretamos uma coerência com o rumo tomado pelo pesquisador no
texto, que é o de construir um modelo. Assim, ele busca o que foi
salientado e proposto pelos teóricos para edif icar o que pretende.
Quadro 21: Verbos Dicendi mais usados no corpus
Primeira Dissertação Segunda Dissertação Tese Verbos afirmar e a expressão nas palavras de se
Verbos colocar, analisar e denunciar.
Verbos salientar e propor.
164
sobressaíram em relação aos demais. Destaque: nas palavras de .
Destaque: denunciar
Destaque: propor.
Nosso estudo mostrou que no percurso interativo ocorreram
escolhas do pesquisador em interagir mais com alguns teóricos do que
outros. Nos três textos identif icamos essa escolha, mas com diferenças
nas posições que o pesquisador assumia com os teóricos.
Na primeira Dissertação, identif icamos que a voz de S. Krashen,
teórico da aquisição da l inguagem, foi mais requisitada do que a de
Long, que também trata desta temática. Isso pode ter ocorrido por
diversos motivos. Um deles diz respeito ao tema da aquisição da
l inguagem, área da pesquisa desenvolvida; o outro refere-se à
questionamentos do pesquisador ao pensamento de Krashen,
identif icados nas posições assumidas pelo pesquisador na interação
com este teórico. Isso conduziu à interpretação de uma construção na
oposição; e outro motivo pelas diversas citações do autor no texto nos
variados momentos de confrontação com outros teóricos.
Consideramos que as características do pesquisador em ser
ético diante do que vê (dados) e de propor novas questões e hipóteses,
também revela um pesquisador comprometido com seu trabalho e com
uma postura condizente com a atividade de pesquisa
Na segunda Dissertação, isso ocorre com o autor P.Freire. O
pesquisador interagiu com esse autor na maioria das vezes para
assumir com ele suas denúncias e apontamentos. Tanto é assim que os
verbos dicendi mais usados nessa interação para introduzir a voz do
P.Freire foi denunciar e apontar . Além disso, foi possível identif icar que
pesquisador, ao se dirigir a P.Freire, atr ibui a suas palavras uma
entonação autorizativa. Ou seja, o pesquisador inclui P.Freire no
espaço textual com a autoridade para não só denunciar o que não
165
concorda a respeito do assunto tratado mas também lhe permite
apontar soluções.
Trata-se de uma dimensão semelhante à do pesquisador da
primeira Dissertação, pois neste também notamos um pesquisador
atento aos problemas sócio-educativos por ele descobertos. E diante
disso, ele não quer permanecer em silêncio. Constrói seu texto na
interação com outro focando sobretudo uma situação de
marginalização.
Na tese, identif icamos mais de um autor ocupando mais espaços
no texto, são eles: Marcuschi , Kleiman , Roulet, Kerbrat-Orecchion e
Vion. O pesquisador abriu o leque de sua interação com teóricos que,
de alguma forma, trataram o assunto pesquisado, sem com isso
privi legiar uma voz no texto. E juntando-se a esta constatação, os
verbos dicendi mais usados pelo pesquisador foram apresentar,
retomar e indicar, usados muitas vezes para introduzir o discurso
desses teóricos.
Quadro 22: Teóricos mais citados no corpus
Primeira Dissertação Segunda Dissertação Tese
S. Krashen Com ele ocorre uma interação de oposição
P.Freire
Com ele ocorre uma interação de aliança.
Marcuschi, Kleiman,
Roulet, Kerbrat-Orecchion e Vion.
Com eles ocorre uma interação de parceria.
Tais verbos, como visto na discusão do corpus , têm suas
funçoes específicas no texto, dentre elas o mostrar algo para ser
apreciado — é o caso do verbo apresentar —, o trazer a tona algo já
discutido — caso do verbo retomar — e o de propor o caminho — caso
do verbo indicar . O pesquisador na interação com esses teóricos,
mostrou que eles f izeram tudo isso.
166
E o pesquisador não só esbarra com uma situação de pesquisa,
seja ela mais teórica (primeira Dissertação, focada na fundamentação
teórica) ou mais referenciada aos dados (segunda Dissertação), mas a
estuda e propõe soluções (Tese). O trabalho que constrói é resultante
da interação que estabeleceu com os teóricos na abordagem dos dados
e das questões teóricas.
A alteridade participa em todo texto científ ico. Esse é resultado
de um trabalho coletivo, de modo especial é resultado da interação do
pesquisador com aqueles que são integrados no texto (escrito), ou
seja, os teóricos. Se isso não existisse, o texto poderia correr o risco
de ser monológico, isto é, nele haveria apenas a voz do pesquisador?
Mas isso é possivel? Acreditamos que não. Como afirma Bakhtin, o
texto fala e é falado por outros, nele sempre encontramos a voz do
outro.
Podemos considerar que a Dissertação e a Tese têm a
característica de um texto monológico sem com isso ser dogmático
(AMORIM, 2001, p.147). O pesquisador, nas Dissertações e na Tese,
constrói seu trabalho, com a sua “assinatura”. Trata-se de um ato
escrito, enunciativo-discursivo que se faz responsável realizado num
contexto extraverbal e verbal-escrito. O trabalho é dele, pesquisador.
Contudo, sua “assinatura”, seu trabalho, enfim, seu ato, é construído
na interação com os outros “eus”. O texto científ ico do gênero
dissertação e tese traz a voz de um, pesquisador, mas com a
colaboração de outros, os teóricos.
Muitos teóricos não tiveram a mesma interação e posição
daqueles mais usados pelos pesquisadores, como S.Krashen Na
primeira Dissertação, Freire Na segunda Dissertação e Marcuschi na
tese, no texto do pesquisador, pelo contrário, suas vozes não foram
‘ouvidas’ no texto. É o que ocorreu com aqueles que não foram citados
no corpo do trabalho. Talvez esse teóricos tenham sido consultados
pelo pesquisador mas na construção do texto eles não foram
167
solicitados. É o que chamamos de bibliografia consultada, porém não
referenciada.
A alteridade continuará a nosso ver e no de tantos outros
pesquisadores, um tema atrativo para pesquisar nas ciências, e, de
modo especial, nas Ciências Humanas. Em Lingüística Aplicada e
Estudos da Linguagem a questão do outro constituiu tema de estudo de
reconhecidos pesquisadores, como Maríl ia Amorim. Este trabalho se
junta a todos aqueles para tornar-se mais uma voz colaborativa sobre a
interação do pesquisador com seu outro. Entendemos colaborativa
como a ação de, ao discutir um problema (tema) de pesquisa, dois ou
mais pesquisadores refletem, negociam e, ao f inal do trabalho,
apresentam-no à comunidade científ ica.
Nascido de um processo dialógico discursivo e interacional, este
trabalho procurou mostrar que a alteridade, como elemento constitutivo
da l inguagem, não só encontra-se no texto e, neste caso, em textos de
pesquisa do gênero acadêmico dissertação e tese, mas também tem
nele uma presença colaborativa.
Com a identif icação de verbos dicendi e as formas de discurso
citado no corpus desta pesquisa compreendemos o processo interativo
do pesquisador com os teóricos. Por meio desses recursos l ingüístico-
discursivos, verif icamos que esse processo ocorre no texto e tem uma
característica essencial para a construção da Dissertação e da Tese: a
alteridade é colaborativa.
A colaboração da alteridade, concluímos refere-se aos teóricos
que fundamentaram os textos. Mas registramos também a outros os
que foram identif icados no texto — presentes na Folha de Rosto, nos
Agradecimentos e nas Dedicatórias. Acreditamos que no texto toda voz
tem a sua parcela de colaboração. O mesmo ocorre quando o
pesquisador inclui um autor nas referências bibliográficas e não nos
Capítulos. Isso mostra para nós que o referenciado obteve um espaço
na consciência do pesquisador. De alguma forma, a palavra desse
168
autor provocou uma reação da palavra do pesquisador, ou seja, a
consciência do pesquisador contou com essa voz.
Assim, fr isamos, que tanto aqueles que tiveram mais ocorrência
como os que tiveram pouca ocorrência, ou aqueles que não tiveram
nenhuma — na introdução, no corpo do trabalo e nas considerações
finais —, colaboraram na construçao do texto científ ico como a
alteridade do pesquisador. Cada autor identif icado no texto tem a sua
relevância, no sentido de que ele estava lá, no contexto textual. A
interação não aconteceu pelas formas de discurso — direto e indireto
— mas aconteceu de alguma forma imperceptível para nós, ou mesmo
no plano do extraverbal.
Entendida como os teóricos que fundamentaram os textos
científ icos— dissertações e tese – com os quais o pesquisador
interagiu para construir seu texto, a alteridade colabora também para a
construção do próprio pesquisador. Visto que é com a colaboração
dela, antes e durante a construção do texto, que o pesquisador
desenvolve seu trabalho. Antes, porque, enquanto envolvido com a
reflexão da pesquisa, cada ato pensante do pesquisador — expressão
interior-consciência-discurso interior — refere-se a uma resposta
presumida ao seu outro — expressão exterior. E durante, porque o
pesquisador interagiu com uma gama de teóricos para edif icar seu
texto.
A alteridade não é só aquela para quem se dirige o texto. Ela é
também aquela que está no texto como uma parceira, uma opositora,
enfim, como uma colaboradora na construção do texto e do
pesquisador. Trata-se, assim, de uma presença colaborativa que ocorre
na diversidade de interação que o pesquisador estabelece no texto,
resultando na construção do próprio pesquisador e de seu texto.
E, nesse sentido, nosso trabalho pode contribuir para a
compreensão do processo de construção do pesquisador na interação
169
com os teóricos que fundamentam seu trabalho. Afinal, sem a
alteridade não temos o texto nem o pesquisador.
REFERÊNCIAS
ASTI VERA, Armando. Metodologia da pesquisa científica. Porto Alegre: Globo, 1973.
ALVES, Rubens. Filosofia da ciência: instrução ao jogo e suas regras. 2.ed. São Paulo: Loyola, 2000.
AMORIM, M. O pesquisador e seu outro: Bakhtin nas ciências humanas. São Paulo: Musa, 2001.
AMORIM, M. A contribuição de Mikhail Bakhtin: a tripla articulação ética, estética e epistemologia. In: FREITAS, Maria T.; SOUZA, Solange J.; Kramer, Sônia. Ciências Humanas e Pesquisa: leituras de Mikhail Bakhtin. São Paulo: Cortez, 2003, p.11-25. AUTHIER-REVUZ, Jacquelinie. Palavras Incertas: as não-coincidências do dizer. Tradução de Cláudia R. Castellanos Pfeiffer, Gileade Pereira de Godoi, Luiz Francisco Dias, Maria Onice Payer, Mônica Zoppi-Fontana, Pedro de Souza, Rosângela Morello, Suzy Lagazzi-Rodrigues. Revisão Técnica da Tradução de Eni P.Orlandi. Campinas: Editora da UNICAMP, 1998, p.16.
AUTHIER-REVUZ, Jacqueline. “Heterogeneidade(s) enunciativa(s)”. Tradução de Celene M. Cruz e João Wanderley Geraldi. In: Cadernos de Estudos Lingüísticos 19. O Discurso e suas análises. ORLANDI, E. P. e GERALDI, J. W. (Orgs.) Campinas: UNICAMP, 1990, p. 25-42.
BAJTÍN, M. (1920-24). Hacia uma filosofia de lacto ético: de los borradores y otros escritos. Tradução de Tatiana Bubnova. Barcelona/San Juan: Anthropos/EDPR, 1997.
BAKHITN, M. (VOLOCHINOV). (1926). O discurso na vida e o discurso na arte. Tradução para uso didático por Cristóvão Tezza e Carlos A. Faraco. Mimeo. BAKHTIN, M. (VOLOCHINOV). (1929). Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2002.
BAKHTIN, M. (1930/1940). Metodologia das Ciências Humanas. In: Estética da Criação Verbal. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.392-410.
BAKHTIN, M. (1922-1924). Estética da Criação Verbal. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003. BAKHTIN, M. (1952/1953). Os Gêneros do Discurso. In: Estética da Criação Verbal. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.261-306. BAKHTIN, M. (1959/1960). O Problema do Texto na Lingüística, na Filologia e em outras Ciências Humanas. In: Estética da Criação Verbal. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.307-335. BAKHTIN, M. (1952/1953). Apontamentos de 1970-1971. In: Estética da Criação Verbal. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.366-392. BAKHTIN, M. (1961-1963). Problemas da Poética de Dostoievski. Tradução de Paulo Bezerra. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
BAKHTIN, M. (1934-1935). Questões de Literatura e de Estética: a Teoria do Romance. 5. ed. Tradução de Aurora Fornoni Bernardini, José Pereira Júnior, Augusto Góes Júnior, Helena Spryndis Nazário e Homero Freitas de Andrade. São Paulo: Hucitec/ANNABLUME, 2002. BAKHTIN, M. (1927). Freudismo: um esboço crítico. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Perspectiva, 2001.
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Contribuições de Bakhtin às teorias do discurso. In: BRAIT, Beth. (org.). Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Campinas: Editora da UNICAMP, 1997, p.27-35). BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria do Discurso: fundamentos semióticos. 3.ed. São Paulo: Humanitas – FFLCH/USP, 2002.
BENVENISTE, Èmile. Problemas de Lingüística Geral II. Tradução de Eduardo Guimarães et al. Campinas (SP): Pontes, 1989.
BOGDAN, Robert e BIKLEN, Sari. Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Col. Ciências da Educação, vol.12. Tradução de Maria J. Álvares, Sara B. Santos e Telmo B. Vasco. Porto (Portugal): Porto Editora, 1994.
BRAIT, B. (org.) Estudos Enunciativos no Brasil: histórias e perspectivas. São Paulo: Pontes/FAPES, 2001. BRAIT, B. & ROJO, R. Gêneros: artimanhas do texto e do discurso. São Paulo: Escolas Associadas, 2003. BRAIT, B. (org.). Bakhtin, Dialogismo e Construção de Sentido. Campinas: UNICAMP, 1997.
BRAIT, B. Interação, Gênero e Estilo. In: PRETI, Dino (org.). Interação na fala e na escrita. 2.ed. São Paulo: Humanitas (FFLCH/USP), 2003, p.125-157. BRAIT, Beth. Alguns pilares da arquitetura bakhtiniana. In: Brait, Beth (org.). Bakhtin: conceitos-chave. 2005, p.7-10. BRAIT, Beth. Bakhtin: Conceitos-Chave. São Paulo: Contexto, 2005.
CARVALHO, Estela Maria de; CAMPOS, Maria Inês; MARTINS, Roberta Lombardi. Português Instrumental: Produção de Textos Acadêmicos. São Paulo: COGEAE/PUC, 1996. CASTRO, Celso A. Pinheiro de. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 2000.
COSTA, M. A. A construção do sujeito pesquisador: o papel da intertextualidade na construção do discurso. Dissertação de Mestrado. Blumenau: FURB, 2001.
DEMO, Pedro. Metodologia da investigação em educação. Curitiba: Ibpex, 2005, p. 103-126.
DEMO, P. Pesquisa e construção de conhecimento: metodologia científica no caminho de Habermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. EPSTEIN, Isaac. Ciência, poder e comunicação. In: DUARTE, J. & BARROS, A. (orgs.) Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação.São Paulo: Atlas, 2005, p. 15-31. FARACO. Carlos Alberto. Autor e autoria. In: BRAIT, Beth (org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2005, p.37-60. FARACO, Carlos Alberto. Linguagem e Diálogo: as idéias lingüísticas do Círculo de Bakhtin. Curitiba: Criar, 2003. FAZENDA, I. (org.) Metodologia da Pesquisa Educacional. 5.ed. São Paulo: Cortez, 1999. FAZENDA, I. (org.) Novos enfoques da pesquisa educacional. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999. FIORIN, J.L. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo. 2. ed. São Paulo: Ática, 2002. FIORIN, J.L. Elementos de Análise do Discurso. 13.ed. Rev.Ampl. São Paulo:
Contexto, 2005.
FREIRE, Paulo & MACEDO, Donaldo. Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra. Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
FREITAS, M.T. ; JOBIM E SOUZA, S.; KRAMER, S. Ciências humanas e pesquisa: leituras de Mikhail Bakhtin. São Paulo: Cortez, 2003. GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 15. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1992. GERGEN, P. A avaliação universitária na perspectiva da pós-modernidade. IN: José Dias Sobrinho & Dilvo Ristof (orgs.). Universidade Desconstruída – avaliação institucional e resistência. Florianópolis: Insular, 2000.
GIL, Antonio Carlos. Metodologia do ensino superior / Antonio Carlos Gil. São Paulo: Atlas, 1990.
GRILLO, Sheila V. de Camargo. Esfera e campo. In: BRAIT, B. (org.). Bakhtin: outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006, p. 133-160.
KOCH, Ingedore G.Villaça. Desvendando os segredos do texto. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2003.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1992.
LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Petrópolis: Vozes, 1997.
LÉVINAS, E. Totalidade e infinito. Lisboa: Edições 70, 1980.
LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 2005.
MACHADO, Ana R. (coord.); LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília S. Como Planejar Gêneros Acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
MAIESKI, Mário N. O gênero do discurso artigo como objeto de ensino-aprendizagem: uma proposta de integração da prática de produção textual à leitura e análise lingüística. Dissertação de Mestrado. Florianópolis: UFSC, 2005.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2001.
MARCUSCHI, L. A. Da Fala para a Escrita: Atividades de Retextualização. São Paulo: Editora Cortez, 2001.
MELO, Rosineide. Ata: registro de lutas discursivas da escola Peixoto Gomide de Itapetininga. Tese de Doutorado. São Paulo: PUC, 2005.
MORIN, E.; LE MOIGNE, Jean-Louis. A Inteligência da Complexidade. Tradução de Nurimar Maria Falci. São Paulo: Petrópolis, 2000, p.211.
MACHADO, N.J. Educação: projetos e valores. 2. ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2000.
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de Textos de Comunicação. 2.ed. Tradução de Cecília P. de Souza-e-Silva e Décio Rocha. São Paulo: Cortez, 2002.
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaia. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2000.
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de Usos do Português . São Paulo: Editora da UNESP, 2000.
NEVES, Maria Helena de Moura. Texto e Gramática. São Paulo: Contexto, 2006.
ORLANDI, E. P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes: 1999. OLIVEIRA, Siderlene Muniz de. Os verbos de dizer em resenhas acadêmicas e a interpretação do agir verbal. Dissertação de Mestrado. São Paulo: LAEL/PUC, 2004.
RAMOS, Paulo; RAMOS, Magda Maria. Os caminhos metodológicos da pesquisa: da educação básica ao doutorado. 2. ed. Blumenau: Odorizzi, 2006.
ROJO, Roxane. Letramento escolar, oralidade e escrita em sala de aula: diferentes modalidades ou gêneros de discurso? In: SIGNORINI, Inês et al. Investigando a relação oral/escrito e as teorias do letramento. São Paulo: Mercado de Letras, 2001, p.51-74.
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo: Atlas, 1986. CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: McGraw-Hill, 1978.
SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico. 22. ed. São Paulo: Cortez,
2002.
SOBRAL, A. U. Ético e estético. Na vida, na arte e na pesquisa em ciências humanas. In: BRAIT, Beth. Bakhtin: Conceitos-Chave. São Paulo: Contexto, 2005, p. 103-121. SOUZA E SILVA, M.C.P. Estratégias Enunciativas e Leituras de Textos Específicos em Língua Materna. In: Lingüística Aplicada: da aplicação da lingüística à lingüística transdisciplinar. PASCHOAL, M.S.Z. e CELANI, M. A. A. São Paulo: Educ, 1992.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1992. 108 p. TREVIÑOS, A.N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. 2.ed. Tradução de Beatriz Perrone Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 1999. THOMAS, S. & HAWES, T. Reporting verbs in medical journal articles. English for Specific Purposes (13), 1994, p.129-148.
ANEXOS
ANEXO A – PRIMEIRA DISSERTAÇÃO: VERBOS E VERBOS DICENDI
ESTUDO SOBRE A INTERAÇÃO PROFESSOR E ALUNO EM SALA DE AULA: AS
PERGUNTAS DO PROFESSOR
ANEXO B – SEGUNDA DISSERTAÇÃO: VERBOS E VERBOS DICENDI
A EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE À EXCLUSÃO DO ALUNO CEGO
ANEXO C – TESE: VERBOS E VERBOS DICENDI
ESTUDO DA LÍNGUA FALADA E AULA DE LÍNGUA MATERNA: UMA
ABORDAGEM PROCESSUAL DA INTERAÇÃO PROFESSOR/ALUNO.
ANEXO D – PRIMEIRA DISSERTAÇÃO: SUMÁRIO
ANEXO E – SEGUNDA DISSERTAÇÃO: SUMÁRIO
ANEXO F – TESE: SUMÁRIO
ANEXO G – PRIMEIRA DISSERTAÇÃO: REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
ANEXO H – SEGUNDA DISSERTAÇÃO: REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
ANEXO I – TESE: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Anexo A – Primeira Dissertação: Verbos e Verbos Dicendi
VERBO NO TEXTO PARA DD PARA DI Atribuir 3 1
Defender 3 3 Afirmar 29 4 14 Relatar 4 3 Propor 4 4
Apresentar 5 2 Discutir 12 3
Observar 16 1 Concluir 12 6 Abordar 6 3 Sugerir 6 3
Considerar 20 5 Apontar 3 1 Destacar 4 1
Estabelecer 8 1 Chamar a atenção 25 3 10
Analisar 30 5 Salientar 4 Retomar 2
Tratar 13 Acrescentar 3
Admitir 1 1 Assumir 2 Tratar 4 Definir 2 2 Indicar 5 1
Acrescentar 2 Aprofundar 1
Ampliar 1 Assegurar 2
Avançar na questão 5 1 Centrar 5
Convidar 1 1 Confrontar 1
Crer 20 1 Descrever 5 1 Distinguir 5 Elucidar 1 1
Esclarecer 1 Examinar 14 1
Falar 4 1 Justificar 3
Relacionar 13 1 Levantar questões 3
Mencionar 31 21 Notar 5 1
Nas palavras de 7 Fornecer 35 1 Privilegiar 3
Dizer 3 Sustentar 2 1 TOTAL 383 19 109
Anexo B – Segunda Dissertação: Verbos e Verbos Dicendi
VERBO NO TEXTO PARA INTRODUZIR DD PARA INTRODUZIR O DIAfirmar 9 3 Propor 5 1
Apresentar 20 2 Observar 21 4
Considerar 3 1 Apontar 2 Destacar 2
Estabelecer 7 3 Chamar a atenção 2
Analisar 7 5 Focalizar 2 Introduzir 2 1
Tratar 5 Acrescentar 3 1
Assumir 1 Declarar 2 Definir 5 1 1 Indicar 2
Enfatizar 5 4 1 Aprofundar 3
Alertar 1 Ampliar 3
Avançar na questão 1 Convidar 1 Concluir 4 1
Crer 1 1 Considera 3 1 Distinguir 2 Elucidar 1
Esclarecer 3 3 Falar 2
Fazer referência 1 1 Justificar 1
Relacionar 7 Sugerir 3 1
Levantar questões 1 Mencionar 1
Negar 2 Fornecer 3 1 Privilegiar 1 Sustentar 1 Denunciar 1 4
Colocar 7 4 Reforçar 1 1 TOTAL 151 25 31
Anexo C – Tese: Verbos e Verbos Dicendi
VERBO NO TEXTO PARA INTRODUZIR DD PARA INTRODUZIR O DIAtribuir 5 Afirmar 14 1 Propor 17 6
Apresentar 29 discutir 4 2 Abordar 6 Sugerir 6 1
Considerar 17 1 Apontar 6 1 Destacar 1
Estabelecer 16 3 Chamar a atenção 2
Analisar 11 Assinalar 5 Salientar 14 6 Focalizar 16 4 Introduzir 8 3 Retomar 56 4
Tratar 4 2 Acrescentar 5
Admitir 17 5 Definir 12 1 3 Expor 2 1 Indicar 27 1
Enfatizar 2 1 Ampliar 7 1
Assegurar 1 Avançar na questão 3
Centrar 2 Comentar 3 2 Confrontar 1
Crer 5 4 Descrever 11 1 2 Distinguir 16 4 Esclarecer 2 Examinar 4
Falar 2 Resumir 1
Fazer referência 25 1 Justificar 5 Reiterar 5
Relacionar 21 1 Rever 1
Mencionar 2 Negar 7 1 Notar 4 2
Fornecer 21 4 Privilegiar 21 3 Sustentar 2 TOTAL 484 4 68
ANEXO D – PRIMEIRA DISSERTAÇÃO: SUMÁRIO
será impresso e encadernado!
ANEXO E – SEGUNDA DISSERTAÇÃO: SUMÁRIO
será impresso e encadernado!
ANEXO F – TESE: SUMÁRIO
será impresso e encadernado!
ANEXO G – PRIMEIRA DISSERTAÇÃO
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
serão impressas e encadernadas!
ANEXO H – SEGUNDA DISSERTAÇÃO
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
serão impressas e encadernadas!
ANEXO I – TESE
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS serão impressas e encadernadas!