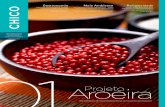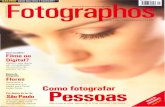Ponto Nº01
-
Upload
gabriel-pimenta -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
description
Transcript of Ponto Nº01
Faculdade de Direito Da Ucsal
Faculdade de Direito da UcsalDireito Comercial I 1 Semestre de 2008
Prof. Ninaldo Aleluia Costa
Texto para o ponto n1
Direito Comercial: noo, contedo, autonomia.
1. ConceitosMuitos conceitos de direito comercial so encontrados nos livros que lhe so dedicados.Cabe, no entanto, observar que aqueles lastreados na teoria do ato de comrcio no mais expressam o que ele .
Tomemos, ento, alguns extrados de livros de edies recentes, posteriores ao Cdigo Civil de 2002, que tomam por base a teoria da empresa, por este adotada.
Direito comercial o regime jurdico especial destinado regulao das atividades econmicas e dos seus agentes produtivos. Na qualidade de regime jurdico especial, contempla todo um conjunto de normas especficas que se aplicam aos agentes econmicos, hoje chamados de empresrios (empresrios individuas ou sociedades empresrias)- Andr Luiz Santa Cruz Ramos, Curso de Direito Empresarial. Edio Podium,2008 Salvador-Bahia, p.45. Direito comercial a designao tradicional do ramo jurdico que tem por objeto os meios socialmente estruturado de superao dos conflitos de interesse entre os exercentes de atividades econmicas de produo ou circulao de bens ou servios de que necessitamos todos para viver. Note-se que no apenas as atividades especificamente comercias (intermediao de mercadorias, no atacado ou varejo), mas tambm as industriais, bancrias, securitrias, de prestao de servios e outras, esto sujeitas aos Parmetros (doutrinrios, jurisprudncias e legais) de superao de conflitos estudados pelo Direito Comercial Fbio Ulhoa Coelho. Curso de Direito Comercial, vol.I.3.So Paulo: Saraiva, 2007, p. 27.O direito comercial, na atual realidade legislativa brasileira, consiste na parte do direito que regula o exerccio profissional da atividade econmica organizada para a produo ou circulao de bens ou de servios. Essa atividade a empresa, cabendo ao direito comercial, tambm chamado de direito empresarial, disciplinar referida matria. - Jos Marcelo Martins Proena. Direito Comercial - So Paulo: Saraiva, 2005 - Coleo Curso & Concurso/coordenador Edlson Mougeno Bonfim); p.1.Conceito, derivado de conceptus, de concipere(conceber, ter idia, considerar), serve, na terminologia jurdica, para indicar o sentido , a significao, a interpretao, que se tem a respeito das coisas, dos fatos e das palavras.O conceito de uma palavra ou expresso deve indicar, precisamente, o sentido, seno etimolgico ( relativo origem da palavra), tcnico, em que ela aplicada. No caso, pois, dos conceitos apresentados, cabe avaliarmos o que melhor expe o sentido tcnico atual da expresso direito comercial. Para isso, no entanto, necessrio que entendamos a realidade em que o direito comercial atua e o prprio conceito legal de empresrio e de empresa. Passemos, ento, a tal estudo. 2. Noo e contedo do direito comercialOs bens e servios de que todos necessitamos para viver isto , os que atendem s nossas necessidades de vesturio, alimentao, sade, educao, lazer etc. so produzidos em organizaes econmicas especializadas. Quem estrutura essas organizaes so pessoas vocacionadas tarefa de combinar determinados componentes (os fatores de produo) e fortemente estimuladas pela possibilidade de ganhar dinheiro, com isso, so os empresrios.A atividade dos empresrios pode ser vista como a de articular os fatores de produo, que no sistema capitalista so quatro: capital, mo-de-obras, insumo e tecnologia. As organizaes em que se produzem os bens e servios necessrios ou teis vida humana so resultado da ao dos empresrios, ou seja, nascem do aporte de capital prprio ou alheio compra de insumos, contratao de mo-de-obra e desenvolvimento ou aquisio de tecnologia que realizam. Fbio Ulhoa Coelho. Manual de Direito Comercial. 16. ed. rev. e atual So Paulo: Saraiva, 2005, pgs.314.
Ressalte-se que a atividade empresarial, que significa estruturar a produo ou circulao de bens ou servios reunindo recursos financeiros (capital), humanos (mo-de-obra), materiais(insumo) e tecnolgicos (conjunto de conhecimentos especializados princpios cientficos, invenes, modelo de utilidade, know-how, engineering etc.), no simples, exige competncia. Alm disso, todo empreendimento, por mais cautelas que sejam adotadas, por mais seguro que seja o negcio, est sujeito a diversos fatores inteiramente alheios capacidade de previso e controle do empresrio que podem causar o insucesso, frustrando-se as expectativas de ganhos e perdendo-se os recursos investidos. No h como evitar o risco, inerente a qualquer atividade econmica. O risco, alis, tem servido para justificar o lucro.De todo modo, a competncia do empresrio est, em boa parte, relacionada a sua capacidade de mensurar e atenuar riscos.
O direito comercial cuida do exerccio profissional dessa atividade econmica organizada de fornecimento de bens e servios denominada empresa, tendo como sujeito de direito que, conquanto possa no praticar diretamente os atos jurdicos por eles responde, aquele que a estrutura, qual seja o empresrio, o qual pode ser uma pessoa fsica (empresrio individual) ou uma pessoa jurdica, (sociedade empresria). Da concluir-se que empresa no sujeito de direito, pelo menos no direito brasileiro que a considera a atividade econmica organizada para a produo ou a circulao de bens ou de servios, exercida profissionalmente pelo empresrio.
Esta a dico do art. 966 que inaugura o Livro II do codex, intitulado Do direito de Empresa, que vai a seguir transcrito.art. 966. Considera-se empresrio quem exerce profissionalmente atividade econmica organizada para a produo ou a circulao de bens ou de servios.
Nesse dispositivo, o legislador diz o que so empresrio e empresa, sendo aquele o sujeito de direito, e esta a atividade econmica organizada por ele exercida.
Veja-se, a propsito, o que observa Fbio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial vol.I, 3. 11. ed. rev.e atual. So Paulo: Saraiva, 2007, p.19): Empresa a atividade econmica organizada para a produo ou circulao de bens ou servios. Sendo uma atividade, a empresa no tem a natureza jurdica de sujeito de direito nem de coisa. Em outros termos, no se confunde com o empresrio (sujeito) nem com o estabelecimento empresarial (coisa).Como atividade econmica, profissional e organizada, a empresa tem estatuto jurdico prprio, que possibilita o seu tratamento com abstrao at mesmo do empresrio. Claro que a autonomia da empresa frente ao capitalista empreendedor deve ser entendida como mero expediente tcnico-jurdico, no podendo servir para fundamentar vises irrealistas.... A separao entre empresa e empresrio apenas um conceito jurdico, destinado a melhor compor os interesses relacionados com a produo ou circulao de certos bens e servios. fato que muitos interesses gravitam em torno da empresa, isto , muitas pessoas, alm dos scios da sociedade empresria tm interesse no desenvolvimento da atividade empresarial. Assim, figura com crescente importncia, entre os fundamentos da disciplina jurdica da atividade econmica da atualidade, o princpio da preservao da empresa, isto , do empreendimento, da atividade em si. Nas legislaes dos pases centrais do capitalismo, a preocupao do processo falimentar tem sido a de garantir a no-interrupo do desenvolvimento da atividade econmica explorada pelo falido, com o seu afastamento e responsabilizao (c.f. Lobo 1993). Isto em ateno aos muitos interesses que gravitam em torno da empresa, como os titularizados pelos empregados, pela comunidade, pelos consumidores. A dissociao entre empresa e empresrio tema de reflexo doutrinria da maior envergadura (cf. Despax, 1957), e seus resultados na legislao e jurisprudncia se fazem sentir h algum tempo, inclusive no Brasil ( cf. Grau, 1981:122/133), porm repita-se no mais que um conceito operacional do direito, criado para a tutela, em parte, dos interesses de trabalhadores, consumidores, investidores e outros.Observa o professor da disciplina que a doutrina da preservao da empresa e da dissociao empresa e empresrio parte do princpio de que a empresa uma instituio social, sendo que, no Brasil, veio a ser aplicada na Lei n 11.101, de 9.2.2005, reguladora da recuperao judicial, da recuperao extrajudicial e da falncia do empresrio (individual) e da sociedade empresria, que veio substituir a at ento vigente Lei de Falncia (Decreto lei 7.661, de 1945).
2.1. Direito Comercial ou Direito EmpresarialA denominao direito comercial explica-se por razes histricas que sero adiante examinadas.
Hoje mantm-se por pura tradio ou at porque as outras j propostas tambm no expressam com exatido o que esse ramo do direito. J se props cham-lo direito empresarial, direito mercantil, direito econmico, direito dos negcios. Como j dito retro, no apenas as atividades especificamente comercias (intermediao de mercadorias, no atacado ou no varejo), mas, tambm, as industriais, bancrias, securitrias, de prestao de servios e outras, esto sujeitas aos parmetros (doutrinrios, jurisprudenciais e legais) de superao de conflitos que constituem o direito comercial.
H, atualmente, uma forte corrente que defende que a designao mais adequada seria direito empresarial, posio esta que, inclusive, encontra reforo na denominao do Livro II do Cdigo Civil Do Direito de Empresa. Alguns autores j optaram por tal designao em suas obras, publicando seus Cursos e Manuais de direito empresarial. Apesar disso acha o professor da disciplina que se mais bem entendido quando se emprega a expresso direito comercial. Ele acha que preciso aguardar um pouco mais at que as mentes se afeioem aos conceitos de empresrio e empresa estabelecidos no Cdigo Civil; que na verdade, quando se diz hoje que algum um comercialista, um estudioso de direito comercial, entende-se melhor do que dizendo-se que um especialista em direito empresarial; que preciso lembrar que, pelo menos, desde o princpio do sculo XIX (1807 Cdigo Comercial de Napoleo) a expresso direito comercial vem sendo utilizada, e o tem sido at mesmo depois do Cdigo Civil italiano de 1942, que foi o primeiro a consagrar a teoria da empresa; que s o tempo, que o senhor da razo, dir qual a denominao que prevalecer.3. Origem e evoluo do direito comercial3.1. Surgimento
Observa Rubens Requio: (Curso de Direito Comercial, vol.I .2. So Paulo: Saraiva,2005, p.8) o direito comercial surgiu fragmentariamente, na idade mdia, pela imposio do trfico mercantil. comprensivel que nas civilizaes antigas, entre regras rudimentares do direito imperante, surgissem algumas para regular certas atividades econmicas. Os historiadores encontram normas dessa natureza no Cdigo de Manu, na ndia; as pesquisas arqueolgicas que revelam a Babilnia aos nossos olhos, acresceram coleo do Museu do Louvre a pedra em que foi esculpido, h cerca de dois mil anos a.C., o cdigo do Rei Hamurabi, tido como a primeira codificao de leis comerciais. So conhecidas diversas regras jurdicas, regulando instituies de direito comercial martimo, que os romanos acolheram dos Fencios, denominadas Lex Rhodia de Iactu (alijamento), ou institutos como o foenus nauticum (cmbio martimo).
Mas essas normas ou regras de natureza legal no chegaram a formar um corpo sistematizado, a que se pudesse denominar direito comercial.
Nem os romanos o formularam. Roma, devido organizao social estruturada precisamente sobre a propriedade e atividade rurais...(no se devendo esquecer que era tambm uma civilizao castrense, voltada para as conquistas militares, e onde existia a escravido) ... prescindiu de um direito especializado para regular as atividades mercantis. Os comerciantes, geralmente estrangeiros, respondiam perante o praetor peregrinus (magistrado) que a eles aplicava o Jus Gentium (direito das gentes).Na era crist, ao se aproximar a decadncia, transformaes acentuadas da estrutura econmica de Roma deixavam antever a expanso comercial... As leis fortalece-se um intenso capitalismo mercantil e urbano... O nascente capitalismo mercantil de Roma, todavia, sofre srio colapso em seu desenvolvimento, com a invaso dos brbaros e fracionamento do territrio imperial, iniciando-se a fase feudal. Nos sculos VIII e IX surgem em Bizncio as chamadas leis pseudordias, jus grego-romano que derivam das Institutas de Justiniano e incorporaram costumes do mediterrneo, j apresentando origem privada, como todo o direito comercial medieval.A partir da os comerciantes desenvolveram um forte movimento de unio por meio de organizaes de classe chamadas corporaes de ofcio ou corporaes de mercadores.
Esses comerciantes (a burguesia da poca) que viviam do comrcio junto aos feudos e formavam aldeamentos denominados de burgos, situados prximo aos castelos medievais, embries das futuras cidades, fizeram as mercadorias circular por terra, indo em caravanas e, por mar, atravs da navegao a partir do mar mediterrneo; reuniam-se periodicamente nas famosas feiras medievais ou instalavam-se com suas bancas nos mercados ou, mesmo, em suas lojas ou oficinas isoladas.O comrcio, na idade mdia, floresceu principalmente na pennsula itlica, em cidades como Gnova, Florena, Amalfi e Veneza ou, ainda, em outras fora dali, como Barcelona, na Espanha e Lyon, na Frana. A maior parte dos atuais institutos do direito comercial foi ai gerada.
A riqueza e o progresso proporcionados pelo comrcio nessa poca veio, em grande parte, permitir o mecenato e a ostentao que proporcionaram o renascimento artstico e cultural.O xito no comrcio e sua organizao corporativa permitiu aos comerciantes grande sucesso na poltica, tornando-se titulares de relevante poder poltico e militar, a ponto de conquistarem autonomia para alguns centros comercias, de influenciarem as decises polticas da aristocracia e, mais tarde, no final do sculo XVIII, com as revolues republicanas norte-americana e francesa, cujo iderio espraiou-se por grande parte do mundo, dominarem completamente a economia e a poltica.
Mesmo quando ainda no havia imposto inteiramente a sua filosofia econmica e poltica, a burguesia sempre conseguiu impor parte dos seus interesses corporativos, de que so exemplos um direito especial com tribunais prprios para aplic-los (os tribunais de comrcio), um registro do comrcio, um sistema especial regulador da insolvncia (concordatas e falncia) e outros tantos privilgios que, ao longo da histria, lhe tm sido assegurados. Nisso o burgus, hoje o capitalista, tem sofrido certos percalos como as revolues comunistas e o Estado social, mas veja-se o que acontece agora: o capitalismo globalizado domina o mundo e conquista at a China que se tornara, aps a derrocada na Unio Sovitica e seus pases satlites, o ltimo grande reduto das ditaduras comunistas, onde a economia era centralizada. Em suma, na idade mdia surgiu e comeou a evoluir o direito comercial. Surgiu este como um novo ramo do direito, especial, separado do direito privado comum, o direito civil. Aponta-se como razes para assim ter surgido as seguintes:
1) precariedade do direito comum para assegurar e garantir as relaes comercias; 2) a negao do formalismo do direito romano;
3) a criao, pelos comerciantes organizadas, de um direito costumeiro;
4) a criao do juzo consular com a funo de aplicar internamente na corporao
esse direito costumeiro . Jos Marcelo Martins Proena. ob. cit. vol.1.2. pg.2
3.2. Fases da evoluo histrica
Em resumo de grande utilidade didtica apresentado por Andr Luiz Santa Cruz Ramos,
(ob.cit. pg.40) so as seguintes as fases da evoluo do direito comercial:1 Fase
- Idade Mdia: renascimento mercantil e ressurgimento das cidades- Monoplio da jurisdio mercantil a cargo das corporaes de Ofcio- Aplicao dos usos e costumes mercantis pelos tribunais consulares
- Codificao Privada do direito comercial; normas pseudo-sistematizadas.
- carter subjetivista: mercantilidade da relao jurdica definida pelos seus sujeitos (comerciantes)
- o direito comercial como o direito dos comerciantes
Observao: Esta fase sinteticamente denominada pela doutrina de Subjetivo-corporativista numa aluso ao fato do direito comercial estar voltado basicamente aos comerciantes integrantes das corporaes.2 Fase:
- Idade Moderna: formao dos Estados Nacionais Monrquicos (em substituio ao feudalismo)
- Monoplio da jurisdio a cargo dos Estados
- Codificao Napolenica (1807 Code de Commerce, chamado de Cdigo Comercial de Napoleo)
- Bipartio do Direito Privado
- A teoria dos atos de comrcio como critrio delimitador do mbito de incidncia do regime jurdico-comercial
- Objetivao do direito comercial: mercantilidade da relao jurdica definida pelo seu objeto (o ato de comrcio) e no pelos sujeitos da relao como ocorria no perodo subjetivo-corporativista.Observao: Esta segunda fase sinteticamente denominada pela doutrina de objetiva ou ato de comrcio em aluso ao fato do direito comercial no estar mais voltado para a pessoa (fsica ou jurdica) do comerciante e sim para o ato de comrcio, independentemente de quem o pratique. Seu marco principal o Code de Commerce de 1807, promulgado por Napoleo Bonaparte, ento imperador da Frana, pas que exercia importante papel cultural na poca.Vale ressaltar que a idia do subjetivismo no foi inteiramente abandonada, estando presente tanto no Code de Commerce francs de 1807 como no Cdigo Comercial brasileiro de 1850, que neste, em grande parte, se inspirou.
3 Fase: - Cdigo Civil Italiano de 1942- A unificao formal do direito privado - A teoria da empresa como critrio delimitador do mbito de incidncia do regime jurdico empresarial- A empresa vista como atividade econmica organizada.
Observao: Esta terceira fase sinteticamente designada pela doutrina de empresarial, para enfatizar que o direito comercial abandona a teoria do ato de comrcio e passa a adotar a teoria da empresa, que ser estudada no ponto seguinte do programa do nosso curso.3.3 Evoluo do direito comercial no BrasilSegundo Vera Helena de Mello Franco (Manual de Direito Comercial, vol.I. 2. So Paulo: Editora Revista do Tribunais,2004. p.25) at a vinda de D.Joo VI para o Brasil, este, como colnia, submetia-se integralmente s leis do Imprio. O monoplio de Portugal sobre o nosso comrcio justificava plenamente este estado de coisas.As leis, os alvars e os assentos da casa de suplicao de Lisboa, em sua maioria advintos dos sculos XVII e XVIII, regulavam o comrcio.Inexistia um conjunto sistematizado e organizado de lei, particurlamente brasileiro, dotado de princpios gerais definidos... No perodo colonial vigoraram as ordenaes, codificaes das leis em vigor, que se fizeram, na monarquia portuguesa, em quatro ocasies: nos reinados de Afonso V (Ordenaes Afonsinas), de D. Manuel I (Ordenaes Manuelinas), de D.Sebastio (Cdigo Sebastinico) e de Felipe II (Ordenaes Filipinas). Estas ltimas encontravam-se em vigor quando da vinda de D. Joo VI. Em verdade as Ordenaes continham disposies voltadas para o comrcio, mas incompletas e asistemticas.Prossegue Vera Helena de Mello Franco (idem, ibidem) afirmando que, conquanto j houvesse quem propugnasse por um direito comercial brasileiro, tal somente tornou-se possvel aps a vinda de D.Joo VI, embora com esta no se tenha alterado este estado da coisa imediatamente..Assim que, na ocasio da chegada do monarca em questo, deu-se, na sua passagem pela Bahia, o fato altamente relevante da abertura dos portos s naes, medida esta que teria se dado para atender interesses comercias ingleses, mas que, por certo, colaborou para o desenvolvimento comercial da colnia e a gestao do nosso direito comercial, mais tarde impulsionada por outras medidas administrativas adotadas pelo monarca, tais como a criao da Real Junta de Comrcio, Agricultura, Fbrica e Navegao. Este tinha, como finalidade, alm de reunir os comerciantes no trato de seus negcios, incentivar a criao de um direito comercial nacional autnomo. Cabe ainda destaque para a criao do Banco do Brasil e da Casa da Moeda.Proclamada a independncia e convocada a Assemblia Constituinte em 1823, em termos de direito comercial, promulgou-se, em 20 de outubro, lei que previu a continuidade da vigncia, no Imprio, das leis portuguesas em vigor at ento, onde se inclui a chamada Lei da Boa Razo (de 18.08.1769). Por essa legislao, autoriza-se, em questes mercantis, a aplicao de normas legais de outras naes crists, iluminadas e polidas (Rubens Requio, Curso de direito Comercial, v.1, p.16), motivo pelo qual possvel abstrair que a verdadeira legislao mercantil nacional nesse perodo composta pelo Cdigo Comercial Francs de 1807, pelo espanhol, de 1829, e pelo Cdigo Comercial Portugus de 1833.Posteriormente, em 1832, a regncia brasileira nomeou uma comisso de comerciantes para elaborar um projeto de Cdigo Comercial. Aps o trabalho desenvolvido e as discusses na Cmara sancionou-se a Lei n.556, de 25 de janeiro de 1850 Cdigo Comercial Brasileiro.
O Cdigo Comercial de 1850, elogiado ela preciso tcnica continha grande influncia dos cdigos francs, espanhol e portugus, adotando como base, a Teoria do Ato de Comrcio. Em tal contexto, submetia as regras comerciais aquele que praticasse algum ato considerado de comrcio, com habitualidade, profissionalismo e objetivando lucro.A partir do sculo XX, no obstante as inmeras legislaes extravagantes de matria comercial promulgadas a partir de 1850, imps-se, em nosso pas, a necessidade da reviso do Cdigo Comercial. Observe-se que tal necessidade decorreu no somente da evoluo doutrinria, jurisprudncial
e do direito codificado estrangeiro, como tambm do fato do cdigo de 1850, alm de tornar-se arcaico na sua tcnica e linguagem, encontrar-se bastante mutilado por ter sido derrogado em vrias partes importantes, tais como as matrias falimentar, societria e cambiaria. ...Assim que, aps vrios projetos e discusses, com o advento do Cdigo Civil de 2002, a Teoria do ato de comrcio, vigente desde 1850 no Brasil, foi finalmente abandonada, sendo substituda pela Teoria da Empresa, definitivamente recepcionada pela nova legislao. Cabe assinalar que a teoria da empresa j vinha influenciado o nosso direito positivo, posto que em muitas leis extravagantes eram empregados os termos empresa e empresrio. Isso, no entanto, se dava sem um maior rigor tcnico e uniformidade de sentido. Na verdade, dir-se-ia, o legislador brasileiro vinha empregando esses termos a seu bel prazer. Ora usava a palavra empresa para designar o empresrio (caso lamentvel da Lei, n 8.934/96, que diz regular o Registro Pblico de Empresas Mercantil e atividade afins, quando, na verdade, o registro que ali se processa o do empresrio ou da sociedade empresaria); ora para designar o estabelecimento ento comercial; ora para designar a sociedade ento comercial. No que diz respeito ao termo empresrio, ora o usava para designar o administrador da sociedade; ora para designar o simples empreendedor ou capitalista, scio ou acionista. Por essa razo, j se sentia a necessidade do estabelecimento dos conceitos legais de empresa e de empresrio, o que veio ocorrer com o advento do novo Cdigo Civil. No entanto, como se pode deduzir, isso s veio ocorrer tardiamente, porque j havia muitas leis que empregavam os termos com sentidos diferentes dos, consagrados neste Cdigo, permanecendo a confuso, que continuar a exigir do interprete ateno, para saber o que se quer dizer em tais leis quando se emprega os termos empresrio e empresa.Espera-se, porm, que as leis posteriores ao Cdigo Civil de 2002 passem a empregar os termos em questo apenas no sentido que lhe atribui tal estatuto.Observe-se que o Cdigo Civil de 2002, promulgado em 10 de janeiro de 2002, s entrou em vigor um ano aps a sua publicao, portanto em 10 de janeiro de 2002. Ele no revogou inteiramente o Cdigo Comercial de 1850, fazendo-o em relao sua parte primeira, mas deixando em vigor a parte segunda dedicada ao Comrcio Martimo.
Com o Cdigo Civil, deu-se, portanto, a quase completa unificao formal (reunio das normas em um nico cdigo) do direito privado.No obstante tenhamos pesquisado, no sabemos exatamente a razo do legislador haver deixado em vigor a segunda parte do Cdigo Comercial de 1850 relativa ao comrcio martimo.
O fato que a legislao de direito comercial no Brasil hoje consiste no Cdigo Civil que traz o livro II dedicado ao direito de empresa, mas cujos dispositivas relativos s obrigaes e contratos tambm so aplicados no campo empresarial, alm de, outros tantos; na segunda parte no derogada, do Cdigo Comercial de 1850, dedicada ao comrcio martimo, alm de toda legislao extravagante aplicvel ao exerccio profissional da atividade empresarial (esto neste ltimo caso as leis relativas aos ttulos de crdito, recuperao e falncia, propriedade industrial, as sociedades por aes, ao Registro Pblico de Empresas Mercantis, a vrios tipos de contrato etc.).4. Autonomia do direito comercial
4.1 A diviso do direito Privado Admitindo-se a autonomia do direito comercial, o direito privado estaria divido em comum (direito civil) e especial (direito comercial).
A posio do direito comercial em relao ao direito civil, vale dizer a questo de sua autonomia ou de sua integrao a este ramo do direito, constitui problema em torno da qual os estudiosos se digladiam h mais de um sculo. A esse propsito, observa Eunapio Borges (Curso de Direito Comercial Terrestre 5. ed. Rio de Janeiro. Forense 1991, p.53) que, os argumentos pr ou contra a autonomia se repetem e se renovam com tal pertincia e monotonia que uma concluso se impe ao estudioso do assunto, que encare sem idias preconcebidas e sem o prvio propsito de chegar a uma concluso: ou o problema mal posto ou destitudo da importncia que se lhe atribui geralmente. Porque houvesse argumentos decisivos e convincentes em favor dessa ou daquela soluo, no seria admissvel que diversas geraes de juristas se obstinassem na defesa de uma opinio que tivesse contra si aqueles argumentos.
4.Teixeira de Freitas e Vivante
Encarregado pelo governo imperial de organizar projeto do Cdigo Civil brasileiro, em longa
e sbia exposio, Teixeira de Freitas, em 20 de setembro de 1867, fez ao governo interessante e original proposta para a unificao do direito privado. Em vez de um Cdigo Civil, para vigorar ao lado do Cdigo Comercial de 1850, sugeriu ele a composio de dois cdigos, um Cdigo Geral e um Cdigo Civil, compreendendo toda a matria civil e comercial, porque: no h tipo para essa arbitrria separao de leis, a que deu-se o nome de direito comercial; pois que todos os atos da vida jurdica, excetuados os benficos, podem ser comerciais ou no-comerciais, isto , tanto podem ter por fim o lucro pecunirio, como outra satisfao da existncia. No h mesmo alguma razo de ser para tal seleo de lei; pois que em todo o decurso de um Cdigo Civil aparecem raros casos, em que seja mister distinguiu o fim comercial dos atos, por motivo da diversidade dos efeitos jurdicos.Recusada pelo governo imperial, a proposta unificadora de Teixeira de Freitas no teve a ressonncia que alcanaria nos meios universais, se, em vez de lanada no Brasil, sua idia de precursor houvesse sido pregada do alto de uma ctedra universitria da Europa.Tal repercusso estava reservada celebre conferncia com que Vivante, em 1892, portanto vinte e cinco anos depois, abriu o seu curso na universidade de Bolonha. Nem a cincia nem a lei, dizia ele, lograram distinguir com nitidez a linha de separao entre os dois campos, do direito civil e do direito comercial, separao artificiosa contra a qual se rebelava a unidade essencial da vida econmica e, como toda questo de limites, cheia de dvidas, de dificuldades e de perigos. A autonomia do direito comercial, que surgiu espontnea quando o comrcio era exercitado exclusivamente por comerciantes inscritos em corporaes constitua verdadeiro anacronismo numa poca em que todos, ou profissional ou isoladamente, podem praticar atos de comrcio. Contrastando com a homogeneidade da constituio social, a bifurcao tradicional do direito privado, explicada por motivos histricos que no mais subsistem, s se mantm pela fora da inrcia. A unificao possvel e a separao frtil em inconvenientes de toda espcie.(Eunpio Borgos. ob. cit. p.55/56).Vivante aponta tambm como argumentos os exemplos do direito romano, do direito ingls e norte-americano e o caso da Sua que, em 1881, unificara seu direito das obrigaes, pases que no possuam regras peculiares aos comerciantes, nem uma teoria especial dos atos do comrcio. Alm disso enumera as desvantagens de ordem social, que, para ele, que derivariam da diviso do direito privado. Esta enumerao pode ser vista na obra citada de Eunapio Borges (p.56/57). Vrias desvantagens contidas em tal enumerao encontram-se superadas em face das transformaes havidas a partir de ento, inclusive da superao da teoria do at de comrcio.Contudo o pronunciamento de Vivante, por ser ele clebre comercialista para muitos, o maior comercialista moderno repercutiu em muitos pases, conquistando sua idia adeptos fervorosos e fazendo, tambm, surgir ardorosos opositores.
Fato curioso, todavia, que bem demonstra o carter bizantino da polmica, por Teixeira de Freitas e por ele suscitada foi o de que, conforme reporta o mesmo Eunpio Borges, nomeado em 1919 presidente de uma comisso de reforma do Cdigo Comercial italiano, o prprio Vivante repudiou a idia unificadora e, justificando o projeto de cdigo que tomou o seu nome ( Projeto Vivante), disse: Antes de iniciar a obra, a comisso no deixou de examinar a oportunidade de fundir, em um cdigo nico, o civil e o comercial. Mas o estado de maturidade dos dois ramos extremamente diverso... a diferente velocidade com que se elabora o contedo destes dois cdigos provavelmente opor um grande obstculo unificao. (ob. cit. p. 59).Em 1952, na sua Rivista del Diritto Commerciale ... Vivante, convertido tese da autonomia, proclama o dever de justificar sua converso, que le considera digna de maior ateno, justamente porque, vexatria para o amor-prprio de quem a faz, constitui gesto pouco comum aos juristas, pouco propensos, em geral, a repudiar suas convices anteriormente manifestadas. (ob. cit.p. 59/60).4.3. Espcies de autonomia
Observa, com clarividncia, Eunapio Borges que, no fundo, as divergncias no so to grandes como parecem e se explicam, em parte, pelo prprio conceito de autonomia, que, como veremos, no o mesmo para todos os estudiosos.
Sob diversos aspectos pode ser encarado o problema da autonomia do direito comercial em face do direito civil, ou melhor, do direito privado comum. Pode-se assim falar em autonomia legislativa, formal, substancial, didtica, e cientfica. (ob. cit. p.53)4.3.1. Legislativa
A autonomia legislativa caracterizar-se pela independncia do direito comercial em relao ao direito comum quanto fonte legislativa de seus preceitos. Foi o direito comercial, em suas origens, legislativamente autnomo porque independente do direito das cidades e dos estados, seus preceitos, nascidos da prtica dos comerciantes medievais, fixaram-se atravs dos estatutos de suas corporaes e difundiram-se atravs das grandes feiras em que se reuniam comerciantes de toda Europa, ligados pelos mesmos interesses e obedientes s mesmas normas daquele Jus mercatorum consuetudinrio, profissional e internacional.Tal autonomia desapareceu logo que os Estados, centralizados e fortalecidos, no sculo XVIII, monopolizaram o poder legislativo, encamparam o direito mercantil, cujas fontes formais, da por diante, passaram a ser as de qualquer direito estatal: a lei e o costume.4.3.2. Formal
A autonomia formal a que resulta da existncia de dois cdigos diferentes: o civil e o comercial. Sob esse aspecto, no Brasil, com o advento do Cdigo Civil de 2002 e a reunio, neste, de toda a parte primeira do Cdigo Comercial, o direito comercial perdeu tal autonomia. Na Itlia, ela tambm deixou de existir desde 1942; idem na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Sua. H pases em que ainda h tal autonomia, como Portugual e Espanha .Tanto a autonomia quanto a unidade formal, na opinio de Eunpio Borges (ob, cit. p.54), destituda de qualquer interesse cientfico e tem pequena importncia prtica, sendo que a unificao no implica no desaparecimento da autonomia do direito comercial. Assim que, tanto na Sua como na Itlia, depois da unificao o direito comercial sobrevive independente. Na Itlia a grande maioria dos tratadistas continua afirmando a sobrevivncia da autonomia do direito comercial.
4.3.3 Substancial em torno da autonomia substancial ou jurdica que verdadeiramente se digladiam inconciliveis os partidrios da autonomia e da unificao numa luta de mais de um sculo que, na viso do professor da disciplina, s ter fim quando, num estgio mais avanado da sociedade e do direito, contando, para isso, com o progresso tecnolgico, venha a perder qualquer razo de ser. Alis, lembra ele, no se deve perder de vista o fenmeno da comercializao do direito privado que vem se acentuando na sociedade capitalista e globalizada.Consiste o problema em dar resposta s seguintes perguntas: existe sob a expresso direito comercial um edifcio racional e harmnico, um especial elemento tcnico-experimental que postule e tenha regas prprias, institutos tpicos, princpios prprios e especficos: em suma, um corpo orgnico e completo de normas, realmente dotado de jurdica autonomia? Ou no passar aquela expresso de simples pretexto para reunir empiricamente, e dir-se-ia mecanicamente, para fins informativos, ou didticos, ou de prtica oportunidade, ou de outra qualquer natureza, sem carter cientfico, um grupo de fenmenos heterogneos, que, em substncia, nada justificaria fossem reunidos e isolados de todos os outros que so estudados pelo direito civil? (Franceschelli,Curso di Diritto Commerciale, n1, p.1) (Eunapio Borges ob.cit.pg.54/55).4.3.4. Didtica Consiste no estudo do direito Comercial em cadeira separada da de direito civil nas Faculdades de direito. Tal autonomia observada em todas as faculdades do Brasil e mesmo da Europa. Na Itlia, onde se operou reforma recente nos currculos das faculdade de direito, a cadeira de direito comercial, apesar da unificao formal do direito privado, continua a existir.Os doutrinadores e especialistas em direito comercial continuam a existir e as obras especializadas continuam a ser editadas conquanto algumas, como j dito, trazendo substituda a expresso direito comercial por direito empresarial, o que, no particular d autonomia didtica, tambm no muda essencialmente nada o que igualmente evidncia a sua independncia didtica. 4.3.5. Cientfica Na verdade, a autonomia cientfica est intimamente ligada substancial. Consistiria em ter o direito comercial mtodo cientfico prprio. Ser reconhecido como uma disciplina com carter cientfico prprio. a epistemologia, parte da filosofia, que realiza o estudo crtico dos princpios, hipteses e resultados das cincias j constitudas, e que visa determinar os fundamentos lgicos , o valor e o alcance objetivo deles.O estudo da questo da autonomia cientfica do direito comercial um desafio de difcil enfrentamento por ser este o ramo mais acientfico do conhecimento jurdico e haver at quem negue a cientificamente do prprio Direito, caracterizando-o como a simples arte de argumentar.(Perelman e Titeca). Por outro lado, a questo da cientificidade tem sido sempre um pesadelo para as cincias humanas, conquanto no se negue o esforo que seus estudiosos desenvolvem para afirm-la operando com denodo e seriedade no estudo, na pesquisa e na aplicao dos conhecimentos.O direito comercial tem a seu desfavor, no que tange cientificidade, o fato de seus institutos surgirem da praxis mercantil, dos usos e costumes dos comerciantes, sendo estes fruto das convenincias e da criatividade dos mercadores, (hoje empresrios ) sem nenhuma preocupao, com o rigor cientfico. Mais tarde que os juristas vo estudar tais institutos buscando enquadr-los nas categorias jurdicas tradicionais, sem muito sucesso. Tal situao faz surgirem as frmulas eclticas ou a classificao como sui generis que pouco ou nada explicam do fenmeno jurdico o que resulta em imprecises e equvocos. Observe-se que quando se disse que um instituto sui generis, est-se apenas a dizer que ele diferente dos demais, mas no se est dizendo o que ele . A par disso, as frmulas eclticas podem levar a imprecises e confuses.Ao finalizar o estudo do item relativo a autonomia do direito comercial, cabe transcrevermos a interessante abordagem feita sobre a questo pelo professor Fbio Ulhoa Coelho, destacadsimo autor de direito comercial, dentre os atuais: No Brasil, a autonomia do direito comercial vem referida na Constituio Federal, que, ao listar as matrias da competncia legislativa privativa da Unio, menciona direito civil em separado de comercial (CF, art.22, I). Na portaria do Ministrio da Educao, considerada disciplina curricular autnoma e essencial. Nota-se que no compromete a autonomia do direito comercial a opo do legislador brasileiro de 2002, no sentido de tratar a matria correspondente ao objeto desta disciplina no Cdigo Civil (Livro II da Parte Especial), j que a autonomia didtica e profissional no minimamente determinada pela legislativa. (observao do professor da disciplina: autonomia legislativa para este autor equipara-se a autonomia formal ). Tambm no compromete a autonomia da disciplina a adoo, no direito privado brasileiro, da teoria da empresa. Como visto, a bipartio dos regimes jurdicos disciplinadores de atividades econmicas no deixa de existir, quando se adota o critrio da empresarialidade para circunscrever os contornos do mbito de incidncia do direito comercial. Alis, a teoria da empresa no importa nem mesmo a unificao legislativa do direito privado. Na Espanha, desde 1989, o Cdigo do Comrcio incorporava os fundamentos desta teoria, permanecendo diploma separado do Cdigo Civil. A demonstrao irrespondvel, porm, de que a autonomia do direito comercial no comprometida nem pela unificao legislativa do direito privado, nem pela teoria da empresa, encontra-se nos currculos dos cursos jurdicos das faculdades italianas. J se passaram 60 (idem: hoje 66) anos da unificao legislativa e da adoo da teoria da empresa na Itlia, e o direito comercial continua sendo tratado l como disciplina autnoma, com professores e literatura especializados. At mesmo em reformas curriculares recentes, como a empreendida na Faculdade de Direito de Bolonha a partir do ano letivo de 1996/1997, a autonomia do direito comercial foi amplamente prestigiada (ob.cit. v. I.3.p.27/28).
PAGE 1