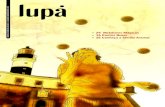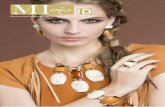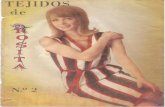Pós em Revista N.10
-
Upload
nucleo-de-publicacoes-academicas-newton-paiva -
Category
Documents
-
view
273 -
download
0
description
Transcript of Pós em Revista N.10
-
publicao do centro universitrio newton paivan.10 | 2015/1
issn 2176 7785
PS EM REVISTA
-
publicao do centro universitrio newton paivan.10 | 2015/1
issn 2176 7785
editoreseliana de Faria Garcia Horta | Anderson Hollerbach Klier | ronaldo Peres Costa
-
PS EM REVISTA DO CENTRO UNIVERSITRIO NEWTON PAIVA 2015/1 - NMERO 10 - ISSN 2176 7785
2015, by Centro Universitrio Newton Paiva
2015
issn 2176 7785
-
PS EM REVISTA DO CENTRO UNIVERSITRIO NEWTON PAIVA 2015/1 - NMERO 10 - ISSN 2176 7785
editorial
Prezado Leitor,
temos a satisfao de divulgar a dCiMA edio da Ps em revista.
A cada edio, a Ps em revista busca maturidade, indo ao encontro da qualificao de cada
publicao e do reconhecimento como meio de divulgao de qualidade entre os alunos, pro-
fessores e profissionais do Centro Universitrio Newton Paiva e de outras instituies.
Nesta dcima edio, por meio da mdia eletrnica, a revista traz treze artigos, resultantes
de trabalhos cientficos, interdisciplinares, de concluso de curso e de reviso da literatura
que possuem relevncia em suas respectivas reas do saber cientfico: cincias sociais e
humanas, cincias da sade e engenharia.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos autores dos trabalhos que abrilhantaram
esta edio.
Ns, da equipe editorial estamos felizes por mais uma edio publicada e desejamos a par-
ticipao, interao e divulgao de nossos alunos, professores e leitores para seguirmos
crescendo no cenrio da divulgao do conhecimento por meio da publicao desta revista.
Queremos ainda, convidar aos professores e alunos a enviarem seus artigos. Caso os tra-
balhos se enquadrem em nosso escopo editorial podero compor a dCiMA PriMeirA
edio da Ps em revista, prevista para o Ms de NoVeMBro de 2015.
Boa leitura!
eLiANA de FAriA GArCiA HortAANdersoN HoLLerBACH KLier
roNALdo Peres CostACorpo editorial
-
PS EM REVISTA DO CENTRO UNIVERSITRIO NEWTON PAIVA 2015/1 - NMERO 10 - ISSN 2176 7785
expedienteestrUtUrA ForMAL dA iNstitUio
PresideNte do GrUPo sPLiCe: Antnio roberto Beldi
reitor: Joo Paulo Beldi
ViCe-reitorA: Juliana salvador Ferreira
diretor AdMiNistrAtiVo e FiNANCeiro: Cludio Geraldo Amorim de sousa
seCretriA GerAL: Jacqueline Guimares ribeiro
CorPo editoriALeliana de Faria Garcia HortaAnderson Hollerbach Klierronaldo Peres Costa
reA de CoNHeCiMeNto- CiNCiAs soCiAis APLiCAdAsMaria do Carmo resende teixeira GuerraFernando Ferreira dias FilhoMarcos eugnio Vale leoiremar Nunes Lima
reA de CoNHeCiMeNto- CiNCiAs HUMANAsBruno Luciano de Paiva silva
reA de CoNHeCiMeNto- CiNCiAs dA sAdesrgio Fernando de oliveira Gomesroberta dias rodrigues rocha
reA de CoNHeCiMeNto- CiNCiAs dA eNGeNHAriArika silva FabriLuciano emirich Fariatereza Cristina Magalhes
APoio tCNiCo
NCLeo de PUBLiCAes ACAdMiCAs do CeNtro UNiVersitrio NewtoN PAiVAhttp://npa.newtonpaiva.br/npa
editorA de Arte e ProJeto GrFiCo: Hel Costa - registro Profissional: 127/MG
diAGrAMAo: Knia Cristina e Mrcio Jnio (estagirios do curso de Jornalismo)
-
PS EM REVISTA DO CENTRO UNIVERSITRIO NEWTON PAIVA 2015/1 - NMERO 10 - ISSN 2176 7785
suMrio
AdMiNistrAo
BABY BooMers, X e Y: diferentes geraes coexistindo nos ambientes organizacionais.....................................................................................8Felipe Gouva Pena, talita soares Martins
Gesto
UM estUdo soBre As PriNCiPAis CAUsAs de MortALidAdes de eMPresAs de PeQUeNo e Mdio Porte. CoMo A AUsNCiA de UMA eFiCieNte Gesto eMPresAriAL, ALiNHAdA A deterMiNAdos CoMPortAMeNtos eMPreeNdedores, FoMeNtAM estA estAtstiCA.......................................................................................................15Leonardo Bastos vila
CoMo As estrAtGiAs de MArKetiNG de sUBstitUio so UtiLiZAdAs No VAreJo FArMACUtiCo..............................................20Leonardo Bastos vila
eNdoMArKetiNG e CLiMA orGANiZACioNAL: Case Localiza rent a Car...........................................................................................................26Kellen Aparecida Almeida Correa, sheyla rosane de Almeida santos
CoMrCio eXterior
UMA ANLise do MAPA estrAtGiCo de CoMrCio eXterior de MiNAs GerAis: resultado dos indicadores do Potencial de internacionalizao da Base Produtiva...............................................................................................29rafaella oliveira Paulinelli
direito o ProCesso de deseNVoLViMeNto do sUJeito CoNstitUCioNAL: UM oLHAr CUidAdoso do eU CoM o oUtro e A NeCessidAde de reCoNstrUo........................................................................36Cristian Kiefer da silva, Fernando Jos Armando ribeiro
A AUtoCoMPosio soB A PtiCA do NoVo CdiGo de ProCesso CiViL: o encaixe da mediao e da conciliao na nova sistemtica processual,............................................................................................................42Bernardo serra Moura Pinto, Leandro Henrique simes Goulart
CiNCiAs HUMANAs
PsiCoLoGiA
A FUNo diAGNstiCA eNtre PArNteses Nos CeNtros de AteNo PsiCossoCiAL (CAPs).........................................................47Marisa Alves satler, roberta Lane Pereira teixeira, Fbio walace de souza dias
eNGeNHAriAs
eNGeNHAriA de MAteriAis
MAPeAMeNto dos diFereNtes reGiMes de trANsio de desGAste do Ao iNoXidVeL AUsteNtiCo Aisi 316L CeMeNtAdo A PLAsMA...................................................................................................................53Michelle C. s. duarte e Cristina Godoy
-
PS EM REVISTA DO CENTRO UNIVERSITRIO NEWTON PAIVA 2015/1 - NMERO 10 - ISSN 2176 7785
CiNCiAs dA sAde
eNFerMAGeM
o eNFerMeiro e A iMPortNCiA dA PreVeNo do CNCer do CoLo UteriNo NA AteNo sAde dA MULHer e No CoNteXto dA estrAtGiA sAde dA FAMLiA................................................................................60Fernanda dos Anjos oliveira, Larissa Cristine Bambirra dos reis Pedroni
AVALiAo dA iMPortNCiA dA AUditoriA NA AteNo PriMriA sAde, UMA reViso dA LiterAtUrA AtUAL...........................64Fernanda dos Anjos oliveira, Larissa Cristine Bambirra dos reis Pedroni
ProJeto de eXteNso GrAVideZ NA AdoLesCeNCiA: um relato de experinciaBrizzi Faria Mendes, daiana de Paula Coelho, daniele Augusta da Costa, rosilene da Consolao....................................................................69Moura Coutinho, renata Lacerda Prata rocha
FArMCiA
tALidoMidA: AsPeCtos QUMiCos e teCNoLGiCos.....................................................................................................................................75thais Mendes diniz, sonaly Cristine Leal, Anderson Hollerbach Klier
-
8 | ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785
babY booMers, x e Y:diferentes geraes coexistindo
nos ambientes organizacionais
resUMo: o presente artigo tem como objetivo abordar as caractersticas de cada perfil de gerao, apresentando um comparativo entre as geraes Baby Boomers, X e Y no mercado de trabalho. so expostas ainda situaes rotineiras ao contexto organizacional no qual essas ger-aes coexistem e as possveis maneiras de se gerir estas particularidades geracionais com maior assertividade. Quanto aos procedimentos metodolgicos, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, sendo que para investigar o problema de pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliogrfica sobre a temtica central deste trabalho. Percebe-se que as geraes podem e devem conviver em um mesmo ambiente de trabalho, de forma que a integrao entre elas possa minimizar as suas fragilidades e por consequncia agregar as organizaes novas foras, para lidar com a dinmica de um mercado empresarial cada vez mais diferenciado e exigente.
PALAVrAs-CHAVe: Geraes; Conflitos; Mercado de trabalho.
INTRODUO
em meio s transformaes nas carreiras e mudanas das re-laes produtivas, torna-se cada vez mais difcil delinear as conexes geracionais, que agrupam um grupo de pessoas no apenas em fun-o dos marcos temporais. Conforme weller (2010) o nascimento em uma mesma poca no um fator suficiente, para se compreender as conexes e diferenas entre as geraes, na verdade, os fatos presenciados e as experincias semelhantes que funcionam como marcadores geracionais.
os indivduos que compe uma gerao podem ter expectativas e comportamentos caractersticos de uma gerao prxima por fatores relacionados s histrias de vida, personalidade e valores individuais. dessa forma, questes relacionadas demarcao cronolgica, so apenas formas de simplificar a aproximao de pessoas, sendo os ele-mentos histrico-sociais os verdadeiros fatores de integrao a uma gerao. As experincias vividas e o compartilhamento desses acon-tecimentos durante o processo de socializao podem influir no modo de pensar e agir desses sujeitos (CArrArA; NUNes; sArsUr, 2013).
As empresas que buscam entender as diferentes caractersticas dos perfis de cada gerao, estimulando o trabalho em equipe entre esses colaboradores e lidando com seus eventuais conflitos, j se pr-dispe a destacarem-se no mercado. este esforo conjunto tender a fortalecer a organizao frente s inconstncias do ambiente empre-sarial. A boa convivncia dos trabalhadores de diferentes geraes e a cooperao entre todos, deve ser vista como uma vantagem com-petitiva pela organizao, pois ao integrar os grupos possvel extrair as potencialidades de cada um, sendo que usualmente as limitaes de cada gerao podem ser compensadas pelas foras das demais.
diante do exposto, este artigo tem por objetivo analisar, por meio de uma reviso da literatura, as caractersticas dos perfis das gera-es Babby Boomers, X, Y, traando um comparativo entre elas. Alm disso, busca-se neste trabalho compreender como estas se relacio-nam e quais seriam os eventuais conflitos enfrentados. Pretende-se dar uma contribuio aos responsveis por gerenciar este capital in-telectual, no sentido de se observar que colaboradores com atributos diferentes trabalhando de forma integrada, podero fazer uma organi-
zao mais fortalecida e competitiva.Quanto aos procedimentos metodolgicos, este estudo carac-
teriza-se como uma pesquisa qualitativa, pois desta forma foi poss-vel uma melhor abordagem do objetivo proposto. Para investigar o problema de pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliogrfica, que conforme Vergara (2013, p. 43) o estudo desenvolvido com base nos materiais publicados em livros, revistas, jornais, redes eletrnicas, isto materiais acessveis ao pblico em geral. A reviso da literatura que foi realizada para a construo deste trabalho, segundo sampieri, Collado e Lucio (2006), permite identificar e consultar a bibliografia que trate dos temas correlatos a um determinado estudo, extraindo e selecionando as informaes pertinentes para a elaborao da pes-quisa. tal procedimento permite que se identifiquem possveis lacunas na abordagem tericas na literatura existem, contribuindo assim para o enriquecimento dos estudos acadmicos.
Pretende-se com este artigo, fomentar a discusso sobre a rela-o das diferentes geraes no mercado de trabalho, principalmente no contexto brasileiro. Considera-se que muitas vezes pode haver conflitos geracionais e estes precisam ser gerenciados, a fim de propiciar um ambiente de trabalho saudvel nas organizaes. dessa forma, em fun-o das temticas apresentadas e das discusses estabelecidas, o tra-balho foi estruturado nos seguintes tpicos: geraes; baby boomers; gerao x; gerao y; comparativo entre as geraes; e gerenciando conflitos. Por fim, so tecidas as consideraes finais da pesquisa.
GERAES
Cordeiro e Albuquerque (2013) afirmam que a constituio de uma gerao parte de dois pressupostos bsicos: o primeiro se remete ao acontecimento de eventos que de alguma forma quebraram a con-tinuidade histrica; j o segundo elemento central, est relacionado vivncia deste marco histrico por um grupo de sujeitos, integrados em uma faixa etria, durante seu processo de socializao. dessa forma, ressalta-se que o que se entende por geraes est diretamente rela-cionado a um contexto nacional, pois h uma clara distino entre os percursos histricos das diferentes naes, nas dimenses histrica, social, cultural e econmica, que influenciaram a vida dos indivduos e
Felipe Gouva pena1
TaliTa SoareS MarTinS2
-
ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785 | 9
serviram de marcadores geracionais. Corroborando, Feixa e Leccardi (2010) ressaltam ainda que os sujeitos podem se caracterizar como pertencentes a uma gerao, ao compartilharem crenas e valores por terem vivenciado em conjunto certas situaes temporais.
No entanto, weller (2010, p. 210) a partir dos pressupostos da obra de Mannheim, afirma que necessrio problematizar as especi-ficidades do convvio de indivduos que inicialmente apresentam-se interligados por uma unidade geracional. torna-se importante com-preender que tais unidades no consistem em uma adeso voltada para a criao de grupos concretos, preocupados em constituir uma coeso social, ainda que, ocasionalmente, algumas unidades gera-cionais possam vir a constituir grupos concretos, tais como os movi-mentos juvenis. Alm dos casos especficos, pelos quais a conexo geracional pode ocasionar a constituio de um grupo concreto, Mannheim destacou que tal conexo seria como um simples marco temporal, podendo os sujeitos casualmente pertencer a ela, mas no haver um sentimento de pertencimento ao grupo concreto.
ressalta-se que no possvel reduzir a discusso de perten-cimento a uma gerao, apenas a estrutura biolgica das pessoas. Considerando que os problemas de cunho sociolgico que se impe as geraes, se iniciam somente quando a relevncia sociolgica desses elementos se mostram de forma realada. situaes de clas-se e geracional apresentam-se interligados diante do contexto s-cio-histrico a que os indivduos esto inseridos. Porm, tal posio ocasiona uma forma especfica do viver e do pensar, sendo essas pessoas agentes ativos da construo histrica de suas sociedades (weLLer, 2010). Neste sentido importante ponderar que
Mannheim considerou as geraes como dimenso analti-ca profcua para o estudo da dinmica das mudanas sociais (sem recorrer ao conceito de classe e ao ncleo da noo marxista de interesses econmicos), de estilos de pensamen-to de uma poca e da ao. Estes, de acordo com Mannheim, foram produtos especficos capazes de produzir mudanas sociais da coliso entre o tempo biogrfico e o tempo hist-rico. Ao mesmo tempo, as geraes podem ser consideradas o resultado de descontinuidades histricas e, portanto, de mu-danas. (FEIXA; LECCARDI, 2010, p.189).
Cortella (2010) afirma que nas ltimas cinco dcadas, houve uma acelerao do tempo e os espaos entre as geraes foram diminuindo cada vez mais. segundo o autor, o modo de produzir e comercializar se alterou consideravelmente, em funo principalmen-te dos avanos tecnolgicos que criaram marcas temporais, impac-tando no comportamento das sociedades e consequentemente nas relaes dentro do mundo corporativo. Nesse cenrio, as diferen-ciaes percebidas entre as geraes que coexistem no mercado de trabalho, no se restringem apenas ao campo das tecnologias, mesmo sendo este um campo importante. Alm dessa varivel, per-cebe-se que algumas dimenses dos comportamentos apresentados nos ambientes organizacionais, como processos de comunicao, os estilos de liderana, os objetivos de vida e de carreira, esto direta-mente relacionais aos perfis dos diferentes profissionais que integram os grupos de trabalho.
A partir disso, Kullock (2010) afirma que quando as trs geraes, Baby Bommers, X e Y, se encontram no mercado de trabalho acontece um n, pois grande parte dos profissionais no entende que estas, possuem diferentes modelos mentais, e, portanto exigir que todos pen-sem e ajam da mesma forma no faz sentido. Percebe-se, que quando no h tal discernimento, o clima organizacional, que tenta mensurar o nvel de satisfao e ou insatisfao das pessoas no ambiente de
trabalho, no positivo, ocasionando uma instabilidade nas relaes interpessoais e gerando conflitos que no so construtivos.
o gerenciamento empresarial, com foco na gesto de pessoas, deve, portanto ser feito a partir do entendimento das singularidades dos colaboradores, concomitantemente, aproveitando o potencial que cada gerao tem a oferecer, estimulando um ambiente de tro-ca mtua e de aprendizagem entre a equipe de trabalho. Para tanto, ressalta-se a importncia de discutir as concepes que o sentido do trabalho pode ter para as organizaes e sociedades
uma vez que ele determina aquilo que as pessoas julgam ser legtimo no contexto ocupacional, o que esto ou no dis-postas a tolerar, como os custos que as elites aceitam para direcionar as vrias atividades do mundo do trabalho, at a fa-cilidade com que indivduos se dispem a mudar hbitos para satisfazer os imperativos de novas tecnologias. (CAVAZOTTE; LEMOS; VIANNA, 2012, p. 165).
Logo, compreender os significados atribudos ao trabalho pelos indivduos e grupos essencial, para a investigao dos comporta-mentos humanos nas organizaes de um mundo ps-moderno. Neste, a dimenso profissional ainda apresenta-se como premissa basilar para a constituio de identidades e para o bem estar dos su-jeitos inseridos nos ambientes organizacionais (CAVAZotte; LeMos; ViANNA; 2012).
BABY BOOMERS
Carrara, Nunes e sarsur (2013, p.4) pontuam que os indivduos dessa gerao vivenciaram a esperana pelo desenvolvimento eco-nmico do ps-guerra, o aumento da competitividade e da dedicao ao trabalho em detrimento da vida pessoal e da necessidade de reco-nhecimento e valorizao. os Bommers usualmente so descritos na literatura como uma espcie de coorte, que valoriza a segurana no trabalho; possuem um vnculo de lealdade com as organizaes; so mais diligentes com relao s atividades; e altamente vidos pelo poder, que para esses sujeitos se materializa no status que a longa carreira proporciona e pelas recompensas extrnsecas em troca de tamanha dedicao. (CAVAZotte; LeMos; ViANA, 2012).
A gerao Baby Boomers pode ser identificada pelo conjunto de pessoas nascidas entre o perodo de 1940 a 1960. estes profissio-nais nasceram no trmino ou aps a segunda Guerra Mundial, e fo-ram educados com base na disciplina e rigidez. (sociedade Brasileira de Coaching). A terminologia em ingls que foi dada para esta gera-o, surgiu para caracterizar o aumento considervel de nascimento de bebs, no perodo ps-guerra, pois, com o regresso dos soldados que estavam em combate no segundo conflito mundial, foi constatado o aumento do nmero de mulheres que engravidaram nesse perodo.
Conforme Gerbaudo (2011) os indivduos dessa gerao, foram criados em uma poca caracterizada por um incipiente desenvolvi-mento tecnolgico e, por isso, muitos deles possuem dificuldades em lidar com novas tecnologias que se apresentam nos ambientes or-ganizacionais. santos et al (2011) destacam que a educao desses indivduos teve como base a rotina e a obedincia s regras, e tais caractersticas influenciaram fortemente a postura profissional, que ainda perpetua, adotada por essa gerao.
segundo oliveira (2012) a gerao Baby Boomers procurou construir uma carreira slida e estvel, almejando a realizao pesso-al. estes profissionais se preocupam com o dever e com a segurana, e so resistentes aos processos de mudanas. No ambiente de tra-balho, as pessoas dessa gerao geralmente so dotadas de grande experincia e com um elevado conhecimento tcito, que foi adquirido
-
10 | ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785
ao longo de uma carreira profissional estruturada, muitas vezes em uma mesma organizao.
Em geral, essa gerao vive para trabalhar, atua conforme re-gras estabelecidas, demonstra forte compromisso e lealdade com a organizao e procura estabilidade e segurana nessa relao. Tendem a preferir sistemas de reconhecimento por senioridade, sendo indicadores de sucesso a posio ocupa-da na hierarquia e o ganho financeiro. No ambiente organiza-cional evitam conflitos, utilizam a habilidade poltica ao lidar com a autoridade e so cautelosos diante de mudanas. (CARRARA; NUNES; SARSUR, 2013, p. 4).
Quando se observa o nvel de escolaridade dos Baby Boomers, percebe-se que h vrios deles, que mesmo no tendo cursado o ensino superior, conseguiram ocupar as posies de liderana nas empresas, em funo do tempo de servios prestados e da lealdade destinada a tais organizaes. estes profissionais vem o trabalho como a sua principal prioridade, por isso muitos so considerados workaholic, terminologia em lngua inglesa que significa viciados em trabalho. (oLiVeirA, 2012).
Com tamanha dedicao ao trabalho, estes profissionais exi-gem receber o reconhecimento por suas aes e estabelecem que a hierarquia seja respeitada por todos os colaboradores. As pesso-as dessa gerao normalmente se identificam mais com um perfil de empresa mecanstica, considerando que conforme Mintzberg (2003) os sistemas mecansticos possuem uma estrutura organizacional bu-rocrtica, com uma hierarquia rgida, centralizao das decises e um predomnio dos processos de comunicao formal.
os Baby Boomers caracterizam-se ainda pela resistncia a questionamentos, principalmente se estes vierem das geraes mais jovens, sendo que como para eles a liderana sinnimo de controle, ser chefiado por profissionais mais jovens nem sempre algo bem aceito. Neste cenrio, os profissionais da gerao X, pedem espao e apresentam-se dispostos a galgar por cargos mais elevados na hie-rarquia das organizaes.
GERAO X
Aqueles que nasceram entre o perodo de 1960 a 1980, po-dem ser classificados com integrantes da gerao X. estes indiv-duos presenciaram fatos histricos importantes para a humanidade e foram influenciados pelos movimentos revolucionrios (socieda-de Brasileira de Coaching). No contexto brasileiro, essa gerao conviveu com diferentes planos econmicos que buscavam resol-ver as crises de inflao, por isto esses sujeitos caracterizam pela busca continua da estabilidade financeira.
Carrara, Nunes e sarsur (2013, p.5) corroborando com esses pressupostos, ao afirmarem que os membros da gerao X vivencia-ram tempos turbulentos de ordem econmica, que os tornaram mais prticos e focados em resultados individuais que lhes garantissem uma vida equilibrada. estes profissionais, no se apegam demasiadamente em cargos ou empregos, estando mais abertos a mudanas e s mo-vimentaes de carreira desde que atendam a seus objetivos. Buscam um trabalho que tenha sentido claro, com autonomia e liberdade.
Gerbaudo (2011) afirma que essas pessoas cresceram com as transformaes tecnolgicas e aprenderam a lidar com a tecnolo-gia na adolescncia. queles indivduos com poder aquisitivos mais elevados representantes dessa gerao conseguiram cursar uma fa-culdade e, consequentemente, adaptaram-se mais facilmente as mu-danas e ao mercado de trabalho. oliveira (2012) pontua que esses profissionais, possuem apego a ttulos e a cargos, e procuram eviden-
ciar para a sociedade a posio que ocupam dentro das empresas. segundo o mesmo autor, essa postura de afirmao caracterstica da gerao X uma vez que para eles o cargo como o smbolo de uma conquista, mrito de muito trabalho, dedicao e esforo.
uma gerao com maior foco em realizaes, seus mem-bros enxergam o trabalho como um lugar para aprender e crescer, so mais empreendedores do que os da gerao an-terior e gostam de arriscar. Atualmente a gerao que est no pice da produtividade profissional e ocupa a maior parte dos cargos executivos do topo organizacional. (Carrara, Nunes e Sarsur, 2013, p.5)
os profissionais dessa gerao usualmente apresentam-se como independentes e autoconfiantes, so comprometidos com os objetivos organizacionais, quando esto aliados aos individuais, e costumam valorizar conhecimentos, habilidades e atitudes que estru-turam as competncias, quando assumem os postos de liderana. Alm disso, a gerao X caracteriza-se pelo perfil empreendedor, mas seu principal temor ser substitudo ou chefiado pela gerao Y, que sempre procura a inovao, e apresenta grande facilidade em lidar com as novas tecnologias e vem assumindo seu espao no mercado de trabalho (oLiVeirA, 2012).
GERAO Y
essa gerao formada por aquelas pessoas que nasceram entre o perodo de 1980 a 2000, uma poca marcada pela prospe-ridade econmica, revoluo tecnolgica, globalizao e diversida-de. (sociedade Brasileira de Coaching). segundo oliveira (2012) os representantes dessa gerao foram educados com um excesso de segurana e receberam estmulos constantes por parte dos pais. Ao contrrio dos antecessores, gerao X, os Y no viveram rupturas so-ciais significativas, valorizam a democracia, a liberdade poltica e a prosperidade econmica. esses jovens profissionais chegam s orga-nizacionais e com um essa incessante busca pela satisfao pessoal, acabam interferindo na dinmica dos processos, nas normas e nas relaes entre os trabalhadores.
Esses jovens tm uma nova forma de ser e agir em socieda-de, principalmente no que se refere relao com o trabalho, o que traz uma srie de novos desafios para mant-los nas or-ganizaes, bem como amenizar os conflitos geracionais que possam surgir. Por ser uma gerao que nasceu na era da tec-nologia, na maior parte das vezes, esses jovens acompanham e dominam seus avanos. (ROCHA-DE-OLIVEIRA; PICCININI; BITENCOURT, 2012, p. 551).
Nascidos na era digital, onde as barreiras geogrficas caram por terra, os integrantes da gerao Y, de forma geral, cresceram acostumados a ser o centro das atenes, por isso geralmente per-cebe-se que eles possuem traos caractersticos como: autoconfian-a, inquietao, independncia, ousadia, so vidos pela inovao e corriqueiramente avessos a regras (Carrara, Nunes e sarsur, 2013). esses indivduos chegam ao mercado de trabalho com uma forma-o mais atualizada, quando comparados com as outras geraes e com atividades que fomentam sua formao profissional. Para eles o trabalho mais uma fonte de satisfao e aprendizado, do que pro-priamente uma fonte de renda e para tanto buscam o equilbrio entre a vida pessoal e profissional.
de acordo com Gerbaudo (2011) eles precisam de razes e est-mulos para se manter no emprego e acreditam que para ocuparem uma
-
ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785 | 11
posio de liderana necessrio ter criatividade e apresentar projetos que dem resultados imediatos para a organizao. Com ideias inova-doras, procuram mudar a empresa, pois querem ter novos desafios e qualidade de vida. esses profissionais so geralmente impulsivos, im-pacientes, gostam de participar dos processos decisrios e, sobretudo almejam reconhecimento e ascenso rpida na carreira profissional.
No entanto, percebe-se que esses indivduos tm um ciclo me-nor de trabalho nas empresas, quando comparados as outras gera-es. isso se deve ao fato de que quando insatisfeitos com o ambiente de forma geral e principalmente quando no obtm reconhecimento, buscam outros espaos ocupacionais. Nesse sentido, estes profissio-nais, preferem trabalhar em empresas mais orgnicas, uma vez que estas possuem uma estrutura mais flexvel, havendo predomnio da comunicao informal e direta, existindo a descentralizao de poder.
oliveira (2012) afirma ainda que esses profissionais quando ocupam cargos de liderana necessitam de uma legitimao de sua autoridade, principalmente quando esto gerenciando equipes forma-das por outras geraes. Usualmente, os gestores preferem trabalhar com a gerao Y porque ela aberta a novos modelos de trabalhos e se adaptam melhor as mudanas organizacionais impostas pelo ambiente. Alm disso, gestores da gerao Y associam o controle a algo desnecessrio e burocrtico dentro do ambiente organizacional, sendo assim delegam maior autonomia para suas equipes, e incenti-
vam que o ambiente de trabalho seja mais descontrado e com formas de controle mais brandas. Cavazotte, Lemos e Vianna (2012) reiteram que os indivduos dessa gerao almejam desde a experincia do prazer na realizao de tarefas, da liberdade para decidir quando e como realiz-las e de equilbrio entre a vida profissional e pessoal, at a satisfao atravs do reconhecimento de suas realizaes.
COMpARATIvO ENTRE AS GERAES
diante do exposto percebe-se a importncia de se conhecer as diferentes caractersticas dos perfis dos profissionais que atuam no mercado, pois ao identific-las os gestores podem, com maior des-treza e segurana, estimular o trabalho em equipe aproveitando o po-tencial inerente a cada uma dessas geraes. Cordeiro e Albuquerque (2013) indicam que ao compreender os perfis de carreiras, possvel com que os indivduos percebam suas identidades e direcionem a forma como desejam construir sua trajetria profissional. de forma a apresentar esta ideia, foi estruturado a tabela 1 com o comparativo entre os Baby Boomers, geraes X e Y tendo em vista as seguintes variveis: perfil profissional, posio na empresa, postura com o tra-balho, a relao com a liderana, a qualidade de vida e, por fim, sua relao com as tecnologias.
Percebe-se, por meio da anlise apresentada na tabela 1, que a flexibilidade dentro do ambiente organizacional e a busca contnua por
-
12 | ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785
novos desafios, so pressupostos importantes para a gerao Y que nasceu na era digital sendo altamente comprometida com os seus valores. em contraponto, os Baby Boomers possuem dificuldade em lidar com as novas tecnologias, porm este no um fator que restringe essa gerao no alcance dos resultados e na dedicao ao trabalho. J a gerao X busca o equilbrio entre a carreira e a vida pessoal, desta-cando-se pelo comprometimento com a cultura organizacional, porm receosos em serem substitudos pelas geraes mais novas.
dentre as distines elencadas entre as geraes, a tecnolo-gia parece ser um ponto chave para a discusso, pois as organiza-es contemporneas cada vez mais tm seus processos atrelados a inovaes tecnolgicas, sendo que os indivduos que apresentam conhecimento tcnico para tais questes acabam por se diferenciar no mercado de trabalho. Neste sentido, importante se alertar para essa situao para que a balana competitiva no tenda apenas para uma gerao, pois considerando um pas de grandes desigualdades sociais como o Brasil
acreditar que no presente h apenas uma gerao, marcada pelo domnio da tecnologia e pelo imperativo de suas esco-lhas, algo deslocado da realidade e serve apenas para re-forar a lgica de que existem ganhadores e perdedores na sociedade e que aqueles que no possuem as caractersticas da gerao Y so despreparados para vivenciar o seu tempo e alcanar os melhores postos de trabalho. (ROCHA-DE-OLI-VEIRA; PICCININI; BITENCOURT, 2012, p.553).
GERENCIANDO CONFLITOS
Cada gerao possui fatores motivacionais e aspiraes espe-cficos ao adentrar no mercado de trabalho, dessa forma as organiza-es que esto atentas a necessidade de reter seus talentos devem identificar esses motivadores para ter elementos que permitam ex-plorar novas abordagens e atuar nos principais fatores de reteno de pessoas que contribuem para seu crescimento e posicionamento competitivo no mercado. (Carrara; Nunes; sarsur, 2013, p. 5)
diante das caractersticas de perfis profissionais extrema-mente distintos, com modelos mentais dissonantes e expectati-vas diferenciadas para com o trabalho, percebe-se que gerenciar conflitos geracionais , antes de tudo, um exerccio contnuo de autoconhecimento e abertura para as diferenas. esta analogia deve ser realizada pelas empresas como um todo, de forma que se compreenda e valorize as diferenas, que podem agregar no-vos valores a organizao.
A definio de conflito pode ser a de um processo que tem in-cio quando uma das partes percebe que a outra parte afeta, ou pode afetar, negativamente, alguma coisa que a primeira considera impor-tante. (robbins, 2005, p. 326). Porm, os conflitos organizacionais nem sempre representam um mal para as organizaes, sendo que para isso necessrio um esforo para haja um alinhamento entre as partes envolvidas nos processos organizacionais. Por mais que haja uma resistncia em associar conflitos a algo positivo, ressalta-se que
os sinais de conflitos construtivos podem ser observados quando h melhora na qualidade das decises tomadas, a cria-tividade e inovao so estimuladas e o interesse e curiosidade dos membros das equipes fomentam um ambiente onde os problemas so abertamente apresentados e solucionados, as tenses diminuem e onde prevalece um cenrio motivador de trabalho. Dessa forma o conflito agir como fora propulsora da mudana e inovao, tornando o trabalho mais eficiente e satis-fatrio no ambiente organizacional. (COSTA et al, 2014, p. 365)
oliveira (2012) ressalta ainda, que as empresas devem geren-ciar os conflitos e os potenciais entre as geraes atravs da desburo-cratizao do ambiente de trabalho, oferecendo um plano de carreira com oportunidades de ascenso profissional iguais para todos os membros e facilitando as formas de comunicao dentro da empresa. Nesse sentido, a rea de recursos humanos deve ao mesmo tempo integrar os membros de diferentes geraes, procurando eliminar os conflitos organizacionais, por meio do conhecimento das caractersti-cas de cada gerao de forma que seja possvel compreender o perfil de cada uma delas.
Nesse contexto, as diferenas geracionais impactam na viso de mundo que os indivduos possuem, nos estilos e perspectivas de aprendizagem, obrigando as organizaes a formularem estratgias para lidar com as mudanas e demandas que lhes so impostas. Quando no h tal esforo organizacional, percebe-se a constituio de conflitos internos, insatisfaes, absentesmo e em algumas situa-es condutas retaliatrias (CoLListoCHi et al, 2012)
Assim, em um esforo de gerenciar os conflitos entre as gera-es preciso romper com os antigos paradigmas relacionados forma de comunicao dentro do ambiente organizacional e buscar adotar novas prticas de integrao. diante disso, apresenta-se na tabela 2 algumas situaes que so recorrentes ao ambiente de tra-balho e que nem sempre so bem conduzidas, alm de algumas propostas de possveis aes gerenciais.
-
ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785 | 13
depreende-se, portanto, e, a partir do exposto, que um bom ambiente de trabalho resultado da integrao entre a equipe. en-tende-se que a forma de se propiciar uma comunicao assertiva en-tre todos, pode convergir para o alcance das metas organizacionais. Alm disso, importante que as caractersticas de cada gerao se-jam respeitadas e que as organizaes busquem pontos em comum entre os diferentes perfis de profissionais, com vista a tornar a gesto mais produtiva e competitiva. Para Cavazotte, Lemos e Vianna (2012, p.163) as transformaes em curso colocam as organizaes diante do desafio de seguir motivando e envolvendo uma fora de trabalho com menor propenso a desenvolver laos de lealdade e a compro-meter-se com as organizaes nas quais atuam.
ressalta-se que na busca pela integrao das diferentes geraes nas organizaes, necessrio entender que os membros dos grupos de trabalho possuem habilidades e comportamentos que nem sempre estaro alinhados, havendo ento a necessidade de ad-ministrar tais variaes no transcorrer das atividades cotidianas de forma equnime e responsvel. Para tanto, as organizaes devem buscar promover a aprendizagem de seus membros, por meio de um constante processo de inovao (CoLListoCHi et al, 2012).
Cavazotte, Lemos e Vianna (2012) exemplificam a exposio geral feita na tabela 2, ao pontuarem que ao longo dos anos e por consequncia na transio de uma gerao para a outra, possvel inferir que o peso relativo que se estabelecia entre deveres e direitos dos trabalhos, trocou de posio na balana das relaes
Entre os Boomers aparentemente havia muito mais peso no prato dos deveres, sobretudo a disposio para se sacrificar pelo emprego e pela carreira vertical. O principal direito alme-jado era exatamente permanecer e crescer verticalmente em um sistema. Na gerao seguinte, os Xrs, o prato dos deveres parece ter ficado um pouco mais leve, pois que condiciona-
dos vigncia de interesses e vantagens transacionadas pelo indivduo com a organizao. O prato dos direitos parece ga-nhar mais peso tambm, com expectativas de maior participa-o, de desenvolvimento de competncias e de qualidade de vida. No entanto, talvez seja entre os Yrs que o prato dos direi-tos tenha ganhado mais reforos, dado que aparentemente os contratos psicolgicos dessa gerao incluem um repertrio ampliado de expectativas (prazer, gratificao, liberdade, res-peito aos seus limites, relaes de qualidade etc). (Cavazot-te; Lemos; Vianna, 2012, p.177-178)
dessa forma, h um processo mtuo de permanncia de deter-minados padres comportamentais, ao mesmo tempo em que h a constituio de novas condutas e perspectivas de cada gerao. Nveis de hedonismo, pragmatismo e impulsividade, por exemplo, so mani-festados pelos diferentes indivduos no mercado de trabalho das mais diferentes formas. Nesse sentido, o esforo das organizaes no deve estar limitado simplesmente em como equacionar o que aparentemen-te pode incomodar, mas sim em agregar as potencialidades de cada gerao, sejam elas quais forem, sejam elas quantas forem.
CONSIDERAES FINAIS
Conhecer o perfil de cada gerao, a partir do estudo das ca-ractersticas que as definem, de suma relevncia para que os gesto-res mantenham os profissionais integrados e comprometidos com os objetivos e as metas das organizacionais. sendo assim, deve-se de forma contnua, estimular o trabalho entre equipes heterogneas de modo que estas, juntas, somem suas particularidades, objetivando a conquista de um resultado positivo maior.
ressalta-se que as geraes podem e devem conviver em um mesmo ambiente de trabalho, de forma que a integrao entre elas possa minimizar as suas fragilidades e por consequncia agregar as
-
14 | ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785
organizaes novas foras para lidar com a dinmica de um mercado empresarial cada vez mais diferenciado e exigente. Cabe, portanto, entender que as caractersticas que definem os perfis de cada gera-o so singulares, e para tanto no se pode exigir padres de com-portamentos nicos, mas valorizar as especificidades de cada grupo.
dessa forma o gerenciamento das expectativas de cada ge-rao, bem com as tentativas de conciliao dos conflitos que sur-gem entre esses diferentes profissionais, so vistos como aspectos essenciais para as organizaes que pretendem alcanar um maior comprometimento de suas equipes. No ambiente organizacional, as expectativas elevadas dos jovens podem exigir das empresas gran-des esforos para abarcar esses anseios e reter os talentos na orga-nizao.
Ao trmino, deste trabalho, acredita-se que as ponderaes nele contidas tenham contribudo para proporcionar uma reflexo so-bre o tema pesquisado. sugere-se aos responsveis pela gesto das equipes nas organizaes, uma ateno a esta temtica, a partir da sistematizao de informaes e orientaes direcionadas pelo estu-do das diferentes geraes existentes no mercado de trabalho. orien-ta-se ainda e estimula-se aos acadmicos que muito ainda precisa ser pesquisado e consolidado sobre o assunto.
Por fim, destaca-se a importncia do conceito de geraes a partir dos elementos que compe a cultura nacional, respeitando as-sim fatores intrnsecos histria e sociedade brasileira (roCHA-de-oLiVeirA; PiCCiNiNi; BiteNCoUrt, 2012). entende-se que o conceito de gerao seja uma simplificao, que usualmente no ob-serva as caractersticas prprias de uma regio, havendo sempre uma tentativa em enquadrar os padres estrangeiros de forma total a reali-dade nacional. dessa forma, sugere-se que estudos futuros que abor-dem temticas como: a classificao das geraes diante do contexto cultural do Brasil; os sentidos que as geraes brasileiras atribuem ao trabalho; e como as organizaes esto lidando com a eminente che-gada da nova gerao que suceder os Ys; podem trazer grandes contribuies para o desenvolvimento das cincias sociais aplicadas.
REFRNCIAS
CArrArA, tnia Maria Paiva; NUNes, simone Costa; sArsUr, Amyra Moy-zes. Reteno de Talentos de Diversas Geraes em um mesmo Contexto Organizacional. in: eNCoNtro de Gesto de PessoAs e reLAes de trABALHo, iV, 2013, Braslia. Anais... Braslia: ANPAd, 2013.
CAVAZotte, Flvia de souza Costa Neves; LeMos, Ana Heloisa da Costa; ViANA, Mila desouzart de Aquino. Novas geraes no mercado de trabalho: ex-pectativas renovadas ou antigos ideais. Cadernos EBAPE. BR, rio de Janeiro, v. 10, n. 1, 2012.
Collistochi, Camila Cristina; Fonseca, tatiane Loureno da; silva, Aline Navais da; watanabe, Cibele Guerrero; Bertoia, Natacha; Nakata, Lina eiko. A Relao entre as Geraes e o Processo de Aprendizagem em uma Organizao Ban-cria. in: eNCoNtro de eNsiNo e PesQUisA eM AdMiNstrAo e CoN-tABiLidAde, XXXVi, 2012, rio de Janeiro. Anais... rio de Janeiro: ANPAd, 2012.
Cordeiro, Helena talita dante; ALBUQUerQUe, Lindolfo Galvo. Perfis de carreira da gerao Y. in: eNCoNtro de eNsiNo e PesQUisA eM AdMiNs-trAo e CoNtABiLidAde, XXXVii, 2013, rio de Janeiro. Anais... rio de Ja-neiro: ANPAd, 2013.
CostA, L. F. L. G.; Mendona, C. M., rodrigues Jr, G., Arajo, M. V. P., Alloufa, J. M. L.; silva, r. C. Conflitos organizacionais entre geraes: um estudo emprico com a equipe de desenvolvimento de software do iFrN. HOLOS, v. 30, n. 4, p. 361, 2014
CorteLLA, Mrio srgio. Gerao X,Y e Z. As mudanas no mercado de tra-balho. srie Geraes Jornal da Globo. disponvel em: . Acesso em: 20 mai. 2014.
FeiXA, Carles; LeCCArdi, Carmem. o conceito de gerao nas teorias sobre a juventude. Revista Sociedade e Estado, Braslia, v.25, n.2, p. 185-204, mai./ago. 2010.
GerBAUdo, Paula. Como fortalecer a liderana para diminuir o conflito entre as geraes X e Y. FAZU em Revista, Uberaba, n.8, p. 205-210, 2011.
KULLoCK, eline. Gerao X,Y e Z. As mudanas no mercado de trabalho. srie Geraes Jornal da Globo. disponvel em: . Acesso em: 22 mai. 2014.
MiNtZBerG, Henry. Criando organizaes eficazes: estrutura em cinco confi-guraes. 2 ed. so Paulo: Atlas, 2003.
oLiVeirA, sidnei. Que gerao essa?. disponvel em: . Acesso em: 19. Abril. 2014.
roBBiNs, stephen P. Comportamento organizacional. so Paulo: Peason Pren-tice Hall, 2005.
roCHA-de-oLiVeirA, sidinei; PiCCiNiNi, Valmiria Carolina; BiteNCoUrt, Be-tina Magalhes. Juventudes, geraes e trabalho: possvel falar em gerao Y no Brasil?. Organizaes & Sociedade, v. 19, n. 62, p. 551-558, 2012.
sAMPieri, roberto Hernndez; CoLLAdo, Carlos Fernndez; LUCio, Pilar Bap-tista. Metodologia de Pesquisa. 3 ed. so Paulo: McGraw-Hill, 2006.
sANtos, Cristiane Ferreira dos; ArieNte, Marina; diNiZ, Marcos Vincius Car-doso; doViGo, Aline Aparecida. O processo evolutivo entre as geraes X, Y e Baby Boomers. in: seMiNrio eM AdMiNistrAo FeA-UsP, XiV, 2011, so Paulo. Anais... so Paulo: seMeAd, 2011.
soCiedAde BrAsiLeirA de CoACHiNG. Como Gerenciar Conflitos de Ge-raes: Gerao X, Y e Baby Boomers. disponvel em: . Acesso em: 20 mai. 2014.
VerGArA, sylvia Constant. Projetos e relatrios de pesquisa em administra-o. 14 ed. so Paulo: Atlas, 2013.
weLLer, wivian. A atualidade do conceito de geraes de Karl Mannheim. So-ciedade e Estado, v. 25, n. 2, p. 205-224, 2010.
NOTAS DE FIM
1 Mestrando em Administrao pela Universidade Federal de Minas Gerais. Graduado em Administrao pelo Centro Universitrio Newton Paiva. Contato: [email protected] cv: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4836065P2
2 Graduanda em Administrao pela Universidade Federal de Minas Gerais e bolsista pelo programa de iniciao Cientfica da Universidade Federal de Minas Gerais. Contato: [email protected]: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8154966Z8
-
ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785 | 15
uM estudo sobre as principais causas de Mortalidades de eMpresas de peQueno e
Mdio porte. coMo a ausncia de uMa eFiciente Gesto eMpresarial, alinHada a deterMinados
coMportaMentos eMpreendedores, FoMentaM esta estatstica
resUMo:Para ser um empresrio de sucesso, ter uma boa ideia e aproveitar a oportunidade no garantia de sucesso. Como no cair nesta armadilha o objetivo deste trabalho que tem como premissas avaliar at que ponto os conceitos e aplicaes prticas de gesto empresarial e comportamento empreendedor podem ser fator crtico de seu sucesso em pequenas e mdias empresas, e at mesmo da sua sobrevivncia no atual momento econmico. Como seus conceitos so utilizados pelas empresas que sobrevivem e prosperam. tendo como metodologia uma pesquisa bibliogrfica de carter qualitativo. tendo obtido como resultado principal que a principal deficincia das pequenas e mdias empresas a falta de conhecimentos de gesto do proprietrio e de falhas em seu comportamento empreendedor.
PALAVrAs-CHAVe: empreendedorismo. Gesto. Planejamento.
1 INTRODUO
o sucesso das empresas usualmente comea graas a um l-der natural, capaz de empreender o negcio certo, na hora certa com uma metodologia gerencial dele mesmo que tambm d certo. o que ele faz? Parodiando Glauber rocha uma ideia na cabea e uma obstinao na mo convence a tudo e a todos do poder de seu ne-gcio e os ventos sopravam a seu favor.
Amigos e parentes emprestam o dinheiro que faltava, alguns de-les so convidados a ajudar pessoalmente, principalmente no incio, e so escolhidos mais pela fidelidade e confiana que demonstram do que pela competncia profissional. os planos, todos de curtssi-mo prazo, flexveis e rapidamente mutveis, so mantidos na cabea do tal lder, que decide tudo sozinho; d instrues detalhadas sobre tudo a todos, pois nas reunies s ele fala, vai pessoalmente a tudo que evento ligado empresa. o primeiro a chegar e o ltimo a sair. de tudo que ele delega, vai atrs para ver como esto sendo feitos e cobra vrias vezes at sair. e, nas atividades de controle, ento, como so tom, s acreditava no que enxerga com os prprios olhos. de acordo com Matias (2014) todos planos de curto prazo.
Neste modelo de negcio a gesto vai de vento em popa... e mui-tas das atuais grandes empresas brasileiras atuais, se criaram nesse cenrio. e muitos pequenos e mdios empresrios ainda se valem des-te modelo de negcio como alavanca para o sucesso. Acontece que, na atualidade, num determinado ponto, tudo aquilo que descrito acima d absolutamente certo passa a dar errado na maioria das pequenas e mdias empresas, que invariavelmente acabam por fechar as portas. A experincia do autor como consultor de empresas do segmento e pes-quisas realizadas pelo sebrae/sP (2014), atestam que alm dos fatos
apontados acima so trs as principais causas deste fato: planejamen-to prvio, gesto empresarial e comportamento empreendedor.
o objetivo geral deste trabalho descrever como os conceitos de gesto empresarial, planejamento e comportamento empreende-dor so fatores crticos de sucesso para qualquer empresa, no caso especificamente nas pequenas e mdias que padecem pela falta de conhecimento tcnico no assunto. Para tal utilizou-se de estatsticas fornecidas pelo seBrAe NACioNAL e seBrAe/sP que destacou fa-tores predominantes do fracasso e do sucesso do atual empresariado brasileiro descrito acima.
2 METODOLOGIA DE pESqUISA
Uma pesquisa pode ser definida como um processo formal e sistemtico de desenvolvimento do mtodo cientfico de forma a se descobrirem respostas para problemas por meio do uso de procedi-mentos cientfico (Gil, 1987).
o autor que ressalta a importncia do planejamento da pes-quisa para que se possam obter informaes confiveis e adequadas aos seus propsitos. segundo seltiz et al (1974):
Uma vez que o problema de pesquisa tenha sido formulado de maneira suficientemente clara para que possam especificar os tipos de informaes necessrias, o pesquisador precisa criar o seu planejamento de pesquisa...que varia de acordo com o objetivo da mesma.
Logo este trabalho se caracteriza por uma pesquisa qualitati-va documental (Godoy, 1995) que busca o exame de materiais de
leonardo BaSToS vila*
-
16 | ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785
diversas natureza e que podem ser reexaminados por meio de inter-pretaes complementares. Utilizou como base de dados estudos realizados pelo sebrae/sP durante o ano de 2013 onde se analisou dados referentes aos ltimos trs anos e pelo sebrae Nacional sobre os anos de 2011 e 2012 sobre as principais causas de mortalidade de pequenas e mdias empresas.
Neste sentido os elementos temporais se equivalem, visto que temos uma perspectiva de uma unidade da federao e da unidade como um todo, permitindo o confronto entre uma realidade e outra sem prejuzo de validao de dados.
3 GESTO EMpRESARIAL
3.1 Conceito de PlanejamentoPlanejar consiste em estabelecer com antecedncias as aes
executadas dentro de cenrios e condies preestabelecidas, esti-mando os recursos a serem utilizados e atribuindo as responsabilida-des, com finalidade de atingir os objetivos fixados.
os objetivos fixados podero ser atingidos somente com um sistema de planejamento adequadamente estruturado. (HoJi, 2006)
Conforme (tereNCe, 2002) definem as seguintes caractersti-cas que formam o conceito de planejamento:
a) a definio de um futuro desejado e de meios eficazes para alcan-los;
b) significa o desenvolvimento de um programa para realizao de objetivos e metas organizacionais, envolvendo a escolha de um curso de ao, a deciso antecipada do que deve ser feito e a deter-minao de quando e como a ao deve ser realizada;
c) o processo de estabelecer objetivos e linhas de ao deve ser realizada.
o conceito de planejamento apresenta dois aspectos bastan-te destacados na administrao: eficcia e eficincia. A eficcia diz respeito capacidade de obter o sucesso com o qual os objetivos so alcanados; j eficincia a capacidade de obter bons produtos utilizando a menor quantidade de recursos. (CAteLLi, 2007).
de acordo com Kwasnicka (2007), a funo planejar definida como anlise de informaes relevantes do presente e do passado e a avaliao dos provveis desdobramentos futuros, permitindo que seja traado um curso de ao que leve a organizao a alcanar bom termo em relao a sua estratgia competitiva e obter vantagem competitiva perante seus concorrentes.
os objetivos do planejamento podem ser englobados em dois: determinar objetivos adequados e preparar para mudanas adapta-das e inovaes. Produzindo estado futuro desejado e os caminhos para atingi-lo.
segundo Maximiano (2008), objetivos so resultados deseja-dos, que orientam o intelecto e a ao. so fins, propsitos, inten-es ou estados futuros que as pessoas e as organizaes preten-dem alcanar, por meio da aplicao de esforos e recursos. stoner e Freeman (1999) destacam que os objetivos precisam ser especficos, mensurveis, realistas e claros.
3.2 Caractersticas do PlanejamentoAs principais caractersticas do planejamento so abordadas a
seguir, de acordo com os autores Mosimann e Fish (1999):a) o planejamento antecede as operaes. essas devem ser
compatveis com o que foi estabelecida no planejamento.b) o planejamento sempre existe em uma empresa, embora
muitas vezes no esteja expresso ou difundido. Quando informal, es-tar contido, no mnimo, no crebro do gestor.
C) o planejamento deve ser um processo dinmico, associado
ao controle permanente, para poder se adaptar s mudanas ambien-tais. Quando no h planejamento, no pode haver controle.
d) os riscos envolvidos no processo decisrio, aumentando a probabilidade de alcance dos objetivos estabelecidos para a empresa.
e) o planejamento deve interagir permanentemente com o con-trole, para que possa saber se est sendo eficaz, isto alcanando seus objetivos, pois planejamento sem controle no tem eficcia.
f) Associado ao controle, o planejamento serve para a avaliao de desempenho da empresa e das reas.
3.3 Tipos de Planejamentode acordo com Mosimann e Fish (1999), a amplitude ou nvel de
atuao do planejamento pode classific-los em trs tipos:1) Planejamento estratgico;2) Planejamento ttico (gerencial) e;3) Planejamento operacional.o planejamento estratgico e operacional, tendo em vista que
o planejamento ttico enfocado aqui como sendo o planejamento estratgico de cada rea.
Confunde-se, pois, com o prprio planejamento estratgico da empresa como um todo se tratarmos cada rea da empresa como ou-tra empresa, inserida num cenrio ambiental que a empresa maior.
3.3.1 PLANeJAMeNto estrAtGiCo
Planejamento estratgico o processo de estruturar e esclarecer os cursos de aes da empresa e os objetivos que devem alcanar. H diversos componentes nesse processo intelectual, principalmente:
l A misso, que a razo do ser da organizao, onde reflete seus valores, sua vocao e suas competncias;
l o desempenho da organizao;l os desafios e oportunidades do ambiente;l os pontos fortes e fracos dos sistemas internos da organizao;l As competncias dos planejadores em termos de conheci-
mentos, de tcnicas, suas atitudes em relao ao futuro e seu interes-se em planejar.
segundo drucker (2003), o planejamento estratgico no envol-ve decises futuras e sim a futuridade das decises atuais. o que interessa ao administrador so efeitos que sua deciso, hoje ter no futuro previsvel. As consequncias e efeitos futuros desejados so as molas propulsoras do ato de decidir agora.
A finalidade do planejamento estratgico estabelecer quais se-ro os caminhos a serem percorridos para se atingir a situao dese-jada. a arte de passagem do estgio onde estou para onde quero ir.
Pode-se conceituar, ento, planejamento estratgico como aquele planejamento que, centrado na interao da empresa com seu ambiente externo, focalizando as ameaas e oportunidades ambien-tais e seus reflexos na prpria empresa, evidenciando seus pontos fortes e fracos, define as diretrizes estratgicas.
3.3.2 Planejamento ttico (gerencial)Planos funcionais (tambm chamados estratgias ou planos
administrativos, departamentais ou tticos so elaborados para pos-sibilitar a realizao dos planos estratgicos. Abrangem reas de ati-vidades especializadas da empresa (marketing, operaes, recursos humanos, finanas, novos produtos).5 exposio dos dados
Fazendo-se uma anlise sobre o levantamento estatstico feito pelo seBrAe (2013), podemos chegar a alguns determinantes a res-peito da morte precoce de pequenas e mdias empresas:
l Com relao a planejamento 46% dos empreendedores no levantaram informaes sobre o nmero de clientes potenciais e
-
ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785 | 17
seus hbitos de consumo, 39% destes no sabiam qual era o capital de giro necessrio para abrir o negcio, 38% no sabiam o nmero de concorrentes que teriam, 37% no sabiam a melhor localizao, 33% no tinham informaes sobre fornecedores, 32% no conhe-ciam os aspectos legais do negcio, 31% no sabiam o investimen-to necessrio para o negcio, 18% no levantaram a qualificao necessria da mo de obra e 55% no elaboraram sequer o plano de negcios. Aprofundando sobre o planejamento 50% no defini-ram estratgias para evitar desperdcios, 50% no determinaram o valor de lucro pretendido, 42% no calcularam o nvel de vendas para cobrir custos e gerar lucro, 38% no identificaram necessida-des atendidas pelo mercado, 24% no identificaram tarefas e os res-ponsveis por realiza-las e 21% no identificaram sequer o pblico alvo do negcio.
l das empresas em atividade 69% planejaram o negcio por at seis meses e 31% por mais de seis meses. das empresas encer-radas 82% planejaram at seis meses e 18% por mais de seis meses.
l Com relao a gesto empresarial, das empresas em ativida-de 72% j possuam experincia ou conhecimentos no segmento de negcios, contra 58% que no possuam experincia ou conhecimen-tos no segmento de negcios e cujos empresas fecharam. Ainda em relao a gesto empresarial, 38% dos empreendedores procuram oferecer produtos e servios diferenciados contra 26% que no o fa-ziam, e fecharam suas portas.
l Com relao ao comportamento empreendedor algumas ca-ractersticas se distinguem dos que obtiveram sucesso, dos demais: 3.3.3 Planejamento operacional
de acordo com Nascimento e reginato (2009), o planejamento operacional tem por origem fixar parmetros e direcionar a execuo das decises. de forma mais especfica, ele a representao quanti-tativa das diretrizes originadas do planejamento estratgico.
Ao mesmo tempo o planejamento operacional passa a ser a base de controle e avaliao de desempenho, visto ser o parmetro para qua-lificar a eficcia atingida pela execuo das operaes realizadas. Assim o planejamento operacional que ir viabilizar a tomada de decises.
Maximiano (2008), relata que o planejamento operacional o processo de definir meios para a realizao de objetivos, como ati-vidades e recursos. os planos operacionais, tambm chamados estratgias operacionais, especificam atividades e recursos que so necessrios para a realizao de qualquer espcie e objetivo.
o planejamento operacional consiste na definio de polticas e metas operacionais da empresa, consubstanciadas em planos para determinado perodo de tempo, em consonncia com as diretrizes estratgicas estabelecidas.
da mesma forma, como no planejamento estratgico, a misso, as crenas, os valores, o modelo de gesto e a responsabilidade so-cial da empresa fazem parte do input do planejamento operacional. informaes a respeito da situao atual, objetivo que se quer atingir (situao desejada) e mais as diretrizes estratgicas, resultantes do planejamento estratgico, tambm perfazem as entradas do sistema de planejamento operacional.
4 O EMpREENDEDORISMO
o empreendedorismo foi identificado inicialmente pelos econo-mistas, segundo Casson (1982) como um elemento til para entender o desenvolvimento. em seguida, os estudiosos de perspectiva compor-tamental tentaram entender o empreendedor como uma pessoa. entre-tanto, este campo de estudo ainda se encontra em plena ebulio, e cada vez mais envolve diversas outras perspectivas e disciplinas.
sobre a perspectiva de simon (2002) as definies de empreen-dedorismo dentro do contexto deste estudo :
O Empreendedorismo o processo de identificar, desenvolver e trazer uma viso para vida. Essa viso pode ser uma ideia inovadora, uma oportunidade, ou simplesmente uma nova ma-neira de fazer algo. O resultado final desse processo a cria-o de um novo empreendimento, estruturado sob condies de risco e incerteza.
segundo o autor, o empreendedor deve reunir a viso, a ideia, a inovao, a oportunidade, o seu olhar comportamental, ao risco e a incerteza, e o seu olhar gerencial.
diante desta separao econmica e comportamental do tema, stevenson et. al. (1990) estendeu a categorizao do estudo do em-preendedorismo organizando-o em 3 grupos: as origens comporta-mentais do empreendedorismo, os efeitos dos empreendedores na economia e as formas de atuao do empreendedor.
Nos concentraremos apenas na questo do perfil e comporta-mento do empreendedor, embora no desconsideramos a importn-cia de estudos que concentram-se no impacto econmico do empre-endedorismo.
Apesar de no haver uma definio nica sobre o tema, foi schumpeter que realmente lanou o campo de estudo do empreen-dedorismo nos tempos modernos, atravs de sua clara associao com a inovao (FiLioN, 1998).
o estudo de schumpeter (1984 apud Barini, 2003) trouxe gran-des contribuies agregando um sentido humano aos estudos econ-micos sobre o tema. Para o autor, o empreendedorismo requer:
Atitudes que esto presentes em apenas uma frao da popu-lao e que definem o tipo empreendedor e tambm a funo empresarial. Essa funo no consiste essencialmente em in-ventar nada ou crias as condies para sempre exploradas por uma empresa. Consistem em fazer as coisas acontecerem.
dentro da perspectiva comportamental, o autor que trouxe a contribuio mais importante para o estudo do empreendedorismo foi McClelland. (McLelland, 1971 apud Braga, 2003; McLelland, 1971 apud Filion,1998), quando afirmou que o empreendedor aquele que exerce controle sobre a produo, e que no se limita apenas a produ-zir para consumo prprio, levando em considerao aspectos como caractersticas pessoais, motivao, e a forte necessidade de realiza-o nas atividades empreendedoras.
4.1 Perfil e Comportamento EmpreendedorGrande parte do estudo e pesquisa no campo do empreende-
dorismo se concentra na identificao do perfil do empreendedor. (davidson, 2000; dornelas, 2003; drucker,1986).
segundo McClelland (1971, apud oliveira, 2003) os empreende-dores tm caractersticas psicolgicas que os diferenciam de outras populaes, como por exemplo, os gerentes. desta forma, a identifi-cao de fatores de sucesso de empreendedores a partir da anlise de seu perfil e comportamento, poderia contribuir na conteno des-tes insucessos.
A seguir, a partir da complementao bibliogrfica da tabela desenvolvida por Carland et al. (1984), temos um resumo das carac-tersticas dos empreendedores identificadas cronologicamente na li-teratura organizacional:
-
18 | ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785
5 EXpOSIO DOS DADOS
Fazendo-se uma anlise sobre o levantamento estatstico feito pelo seBrAe (2013), podemos chegar a alguns determinantes a res-peito da morte precoce de pequenas e mdias empresas:
l Com relao a planejamento 46% dos empreendedores no levantaram informaes sobre o nmero de clientes potenciais e seus hbitos de consumo, 39% destes no sabiam qual era o capital de giro necessrio para abrir o negcio, 38% no sabiam o nmero de concorrentes que teriam, 37% no sabiam a melhor localizao, 33% no tinham informaes sobre fornecedores, 32% no conheciam os aspectos legais do negcio, 31% no sabiam o investimento neces-srio para o negcio, 18% no levantaram a qualificao necessria da mo de obra e 55% no elaboraram sequer o plano de negcios. Aprofundando sobre o planejamento 50% no definiram estratgias para evitar desperdcios, 50% no determinaram o valor de lucro pre-tendido, 42% no calcularam o nvel de vendas para cobrir custos e gerar lucro, 38% no identificaram necessidades atendidas pelo mer-
cado, 24% no identificaram tarefas e os responsveis por realiza-las e 21% no identificaram sequer o pblico alvo do negcio.
l das empresas em atividade 69% planejaram o negcio por at seis meses e 31% por mais de seis meses. das empresas encer-radas 82% planejaram at seis meses e 18% por mais de seis meses.
l Com relao a gesto empresarial, das empresas em ativida-de 72% j possuam experincia ou conhecimentos no segmento de negcios, contra 58% que no possuam experincia ou conhecimen-tos no segmento de negcios e cujos empresas fecharam. Ainda em relao a gesto empresarial, 38% dos empreendedores procuram oferecer produtos e servios diferenciados contra 26% que no o fa-ziam, e fecharam suas portas.
l Com relao ao comportamento empreendedor algumas ca-ractersticas se distinguem dos que obtiveram sucesso, dos demais:
l Aps o fechamento do negcio 35% foram ser empregados com direitos trabalhistas, 25% passaram a atuar como autnomos, 20% voltaram a empreender, 16% foram ser empregados sem direitos trabalhistas e 4% se aposentaram.
l Ainda tratando do comportamento do empreendedor, das em-presas ainda em atividade, 35% dos empresrios realizaram algum cur-so de capacitao, 29% obtiveram emprstimo em banco, 12% fizeram
aes conjuntas com outras empresas e 11% venderam para o governo. das empresas encerradas, 24% dos empresrios realizaram algum cur-so de capacitao, 23% obtiveram emprstimo em banco, 10% fizeram aes conjuntas com outras empresas e 6% venderam para o governo.
l Quanto a sobrevivncia das empresas, 34% afirmam que uma boa gesto pr requisito de sucesso, enquanto somente 22% das empresas encerradas afirmaram tal prtica.
-
ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785 | 19
6 ANALISE DOS DADOS
os dados acima levantados demonstram algumas caracters-ticas que permeiam o empreendedor de sucesso, daqueles que fra-cassaram. so elas um forte planejamento e gesto antes e durante a vida empresa com afinco; e caractersticas empreendedoras como experincia e conhecimentos do negcio, antecipar aos fatos e busca por informao.
outra informao de relevncia, que mesmo aps fracassa-rem 45% dos empreendedores voltam a empreender como autno-mos (25%) e novas empresas (20%).
7 CONCLUSO
Num contexto empresarial cada vez mais acirrado, saber gerir sua prpria empresa requer alm de conhecimento, competncias comportamentais capazes de tornar o gestor apto a sobreviver num ambiente altamente hostil.
Levantar nmeros de empresas abertas e nmero de empre-sas fechadas por um determinado perodo de tempo, em juntas co-merciais simplesmente, no determina se est ocorrendo sucessos e insucessos neste contexto. preciso levantar causas e entende-las. Neste sentido o presente trabalho pode comprovar tal fato.
Comprovou-se tambm que as causas de mortalidade de em-presas, inicia-se na formao de empreendedores capazes de gerir uma empresa, sob o aspecto tcnico e, quanto ao seu perfil e sua busca incessante pela perfeio.
Percebe-se que o empreendedorismo por oportunidade, asso-ciado as caractersticas citadas, permeiam o sucesso de um neg-cio. Neste sentido, o empreendedorismo por necessidade tendem a diminuir em funo do alto grau de profissionalismo que hoje se exigem. Caso tal premissa no se prevalea estas estatsticas ten-dem a perdurar.
deixando ento como sugesto para futuros trabalhos, a pesquisa sobre como o empreendedorismo trabalhado no am-biente acadmico, e se este molda o acadmico de fato para em-preender como dono de seu negcio ou como intraempreendedor em empresas.
6 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BAriNi FiLHo, U. A Teorizao da Formao da Competncia Empreen-dedora fundamentada na abordagem da complexidade: um estudo de caso. so Paulo, 2013. dissertao de Mestrado Programa de estudos para Ps-Graduados em Administrao, Pontifcia Universidade Catlica, so Paulo, 2013.
BrAGA, J. N. P. O Empreendedor como instrumento de desenvolvimento. O programa IES/Softex. salvador, 2013. dissertao de Mestrado escola de Ad-ministrao. Universidade Federal da Bahia, 2013.
CArLANd, J. w. et al. Differentiating entrepreneurs fromsmall business owners. A Conceptualization. the Academy of Management review, v.9, April, p.354-359, 1994.
Certo, samuel C.; Peter, J. Paul. Administrao estratgica: planejamento e implantao da estratgica. so Paulo: Makron Books, 1995.
CAssoN, M. The Entrepreneur - An Economic Theory. oxford: Martin-robert-son. 1982.
CAteLLi, Armando. Controladoria: uma abordagem de gesto econmica-GE-CON. so Paulo. Atlas, 2007.
dAVidssoN, P. and the PeG research team A Conceptual Framework for the Study of Entrepreneurship And the Competence to Practice It. 2000. disponvel em < www.ihh.hj.se/eng/research/peg/documents/framework%20pdf.pdf >
dorNeLAs, J. C. A. Empreendedorismo Corporativo. Campus: rio de Janeiro, 2003.
drUCKer, P. inovao e esprito empreendedor: prtica e princpios. so Pau-lo: Pioneira, 1986.
drUCKer, P. Administrao na prxima sociedade. so Paulo: Nobel, 2003.
FiLioN, L. J. Fromentrepreneurship to entreprenology. HeC, the University of Montreal Business school, 1998.
GiL, A. C. Mtodos e tcnicas da pesquisa social. so Paulo: 1987.
GodoY, A. s. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. revista de administra-o de empresas, so Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, mai/jun, 1995.
HoJi, M. Administrao Financeira: uma abordagem prtica. so Paulo: Atlas, 2006.
KwAsNiCKA, eunice Lacava. Introduo Administrao. so Paulo: Atlas, 2007.
MAtiAs, A. B. Finanas Corporativas de Curto Prazo. so Paulo: Atlas, 2014.
MAXiMiANo, Antnio Cesar Amaral. Introduo Administrao. so Paulo. Atlas, 2008.
MosiMANN, Clara P. ; FisCH, silvio. Controladoria: seu papel na administrao das empresas. so Paulo: Atlas, 1999.
NAsCiMeNto, Moreira Auster; reGiNAto, Luciane. Controladoria: um enfoque na eficcia organizacional. so Paulo: Altas, 2009.
oLiVeirA, d. C. Perfil Empreendedor e Aes de Apoio ao Empreendedoris-mo: o NAE/SEBRAE em questo. Portal PUC MG disponvel em < www.iceq.pucminas.br/apimec > 2003
seBrAe/sP disponvel em < www.sebraesp.com.br > acesso em 06/04/15.
seBrAe disponvel em < www.sebrae.com.br > acesso em 07/04/15.
seLLtiZ, C.; JAHodA, M.; deUtsCH, M.; CooK, s. w. Mtodos de pesquisa nas relaes sociais. so Paulo: editora Pedaggica Universitria, 1974.
siMoN, d. How can a company create and attract entrepreneurs? Evaluation of the strategy-oriented factors concerning entrepreneurial improvement of in-novation in a company. Universitt st. Gallen, 2012.
stoNer, J. A. F.; FreeMAN, r. e.; Administrao. rio de Janeiro: Atlas, 1999.
steVeNsoN, H. H., JAriLLo, J. C., A paradigm of entrepreneurship: entrepre-neurial management. Strategic Management Journal, v.11, p17-27, 1990.
NOTAS DE FIM* Graduado em Cincias econmicas, MBA em Administrao estratgica, MBA em Gesto de Pessoas, Mestre em administrao de empresas, doutorando em admi-nistrao de empresas. Atua como consultor de empresas de pequeno e mdio porte h mais de 15 anos. Atualmente Professor do Centro Universitrio Newton Paiva.
-
20 | ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785
coMo as estratGias de MarKetinG de substituio so utiliZadas
no vareJo FarMacutico
leonardo BaSToS vila*
INTRODUO
segundo dados da FeBrAFArMA Federao Brasileira da in-dustria Farmacutica (2012), o varejo farmacutico um dos setores de maior faturamento na economia brasileira, respondendo por um fatura-mento bruto anual de mais de 25 bilhes de reais. este segmento vem passando por mudanas drsticas nos ltimos anos, em que o varejista tradicional ou se adapta a nova realidade ou acaba por sair do mercado.
o mercado de medicamentos sempre se caracterizou segun-do a ABrAFArMA Associao Brasileira de Farmcias e drogarias (2012) pela grande fragmentao de drogarias fora dos grandes centros econmicos, sendo formado por pequenas redes que so aquelas empresas com at (10) lojas e drogarias isoladas que as que possuem somente uma loja ou ponto de venda. A disputa pelo cliente no varejo farmacutico tem remodelado este mercado, surgindo no-vos negcios com estruturas diferentes da antiga drogaria. este novo modelo se caracteriza pela formao de grandes redes varejistas que no vendem somente medicamentos, mas tambm: itens de perfuma-ria, produtos para animais de estimao, produtos de convenincia e correlatos; e tambm por empresas com estratgia voltada para o telemarketing, realizando a entrega de medicamentos em domicilio com preos altamente atrativos, por no ter a estrutura de custos de uma drogaria convencional.
entende-se por marketing de substituio o conceito de Hoff (2005, p.1):
Estratgia do Marketing de Substituio desenvolver produ-tos capazes de substituir inmeros outros ou, ainda, reposi-cion-los a fim de simplificar para as pessoas o processo de deciso de compra ou consumo.
esta estratgia adotada pelas pequenas redes se torna um pou-co distinta de seu conceito original, pois o que efetivamente se faz e a manipulao de medicamentos e produtos de perfumaria, substituin-do os tradicionais medicamentos de marca e produtos consagrados por estes, obtendo-se nesta troca uma margem de ganho um pouco melhor do que se teria usualmente.
essa adaptao das pequenas redes torna-se ento uma estra-tgia de sobrevivncia, adequando sua estrutura a um novo cenrio, mostrando-se um fato relevante e de interesse para todos aqueles que se dedicam ao estudo e interveno no campo da estratgia. re-sultando da a justificativa para este estudo.
pROBLEMA DE pESqUISA E OBJETIvO
o foco de pesquisa deste trabalho realizar um levantamento des-critivo sobre o marketing de substituio em pequenas redes de droga-rias, cujo objetivo consiste em analisar sua fundamentao, em termos de condio de competitividade e fundamentao de sua estratgia.
REFERENCIAL TERICO
A palavra estratgia remonta a antiguidade. os gregos utiliza-vam esta palavra para designar generais militares. Na china antiga o termo tambm era utilizado para nomear militares. No fim do sculo XiX, com o aparecimento das grandes empresas integradas vertical-mente e que investiam pesadamente em manufatura, marketing e hierarquias gerenciais, o pensamento estratgico foi articulado pela primeira vez por sua gerncia.
Utilizou-se da estratgia para execuo de seus objetivos, como aumento de market share e melhor posicionamento no mercado, por exemplo. Porter (1989, p.43) deixou bem claro o papel da estratgia nas empresas modernas: se havermos de assegurar sucesso du-radouro, necessrio que se estabelea uma estratgia competitiva eficaz que seja entendida e aceita pela empresa.
o ambiente organizacional moderno caracteriza-se pela grande instabilidade dos mercados. isso acontece em funo das constantes mudanas ocorridas no sistema macroeconmico mundial. A grande mudana que gerou est mutao foi na metade nos anos 60 quando o modelo fordista de produo comeou apresentar sinais de declnio na maior parte das economias industriais desenvolvidas. A busca por novas estratgias a este modelo era ento de fundamental importn-cia para sobrevivncia das empresas diante do futuro adverso que se mostrava. Como crescer e se desenvolver em face deste novo cenrio econmico?
resUMo: o varejo farmacutico vem sofrendo profundas mudanas. A reduo do nmero de drogarias que no pertencem aos grandes conglomerados do setor uma realidade; e a possvel sobrevivncia das que esto no mercado uma interrogao no contexto da gesto empresarial. Para isso, as mesmas tm utilizado diferentes estratgias. o objetivo deste trabalho realizar um levantamento descritivo sobre uma destas estratgias: o marketing de substituio. Foi realizado um estudo de caso para melhor entender como a mesma foi empregada, obtendo o resultado proposto de apresentar como a unidade de estudo utiliza a estratgia em questo.
PALAVrAs-CHAVe: Varejo. Marketing de substituio. Gesto.
-
ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785 | 21
Segundo Montgomery et al (1998, p.1):Muitas ferramentas e tcnicas primitivas de planejamento es-tratgico foram sendo substitudas por abordagens mais f-ceis e adequadas. Tais avanos surgiram num momento em que o mundo se confrontava com uma competio crescente, com o rompimento das barreiras do comrcio internacional e a retrao da interferncia dos governos. A definio de uma estratgia bem fundamentada deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade.
A partir destes fatos ento, passou o pensamento estratgico a ser condio bsica de sobrevivncia nas empresas.
1 OS 5 pS DA ESTRATGIA
Como reavaliar ou avaliar a estratgia adotada por uma orga-nizao, passa a ser vital para qualquer empresa face as constantes mudanas ocorridas em nossa sociedade moderna atual. Mintzberg e Porter (2001, p. 56) definem os 5 Ps da estratgia como:
1 Plano algum tipo de ao consciente tomada para lidar com uma determinada situao;2 Pretexto ao realizada como uma manobra especifica com a finalidade de confundir o concorrente ou competidor;3 Padro fluxo de aes, uma consistncia no comporta-mento, quer seja pretendida ou no aos poucos, abordagens bem sucedidas podem se fundir em um padro de ao que se torna uma estratgia;4 Posio maneira de colocar a organizao no ambiente (a estratgia de torna a fora de medio ou harmonizao entre a organizao e o ambiente, abrangendo os contextos interno e externo); e5 Perspectiva olha-se para dentro das cabeas dos estra-tegistas, coletivamente, mas com uma viso mais ampla, cujo contedo consiste no apenas de uma posio escolhida, mas de uma maneira enraizada de ver o mundo (esta definio uma perspectiva compartilhada de ver o mundo, podendo a organizao priorizar certas reas, como marketing, engenha-ria ou qualidade de servios) .
Como avaliar a melhor estratgia a ser adotada? Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) definiram-na em dez escolas, que se divi-diram em funo das melhores caractersticas que se apresentavam para formulao da estratgia adequada.
2 A ESCOLA DO DESIGN
Percebe-se ento diante do j exposto que quando se fala em estratgia, avaliamos o ambiente interno e externo de uma empre-sa a as aes que facilitam o alcance dos resultados desejados. de
acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 65) a escola do design representa:
Sem dvida, a viso mais influente do processo de formao da estratgia. Seus conceitos-chave continuam a formar as bases dos cursos de graduao e mestrado em estratgia, bem como grande parte da prtica da administrao estrat-gica. Em sua verso mais simples, a Escola do Design prope um modelo de formulao de estratgia que busca atingir uma adequao entre as capacidades internas e as possibilidades externas.
3 A ESCOLA DE pOSICIONAMENTO
de acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 85:
O ano de 1980 foi um divisor de guas, quando Michael Porter publicou seu livro Estratgia Competitiva, que no foi o criador de uma escola, mas agiu como um estimulante para aglutinar os interesses de uma gerao de acadmicos e consultores. Seguiu-se uma enorme onda de atividade, que tornou a Escola do Posicionamento, em pouco tempo, a escola dominante na rea da estratgia.
A escola do Posicionamento tem como premissa que poucas estratgias-chave como posies no mercado so nicas em uma empresa, descartando uma premissa da escola do design de que as estratgias so nicas e sob medida para cada empresa. A escola do Posicionamento criou e aperfeioou um conjunto ferra-mentas analticas com objetivo de adequar a estratgia correta as condies da empresa.
A estratgia competitiva a busca de uma posio competitiva favorvel em uma indstria, a arena fundamental onde ocorre a concorrncia. A estratgia competitiva visa estabelecer uma posio lucrativa e sustentvel contra as foras que determi-nam a concorrncia na indstria. (Porter, 1989, p.1)
4 ESCOLAS DE pENSAMENTO ESTRATGICO
Alm das escolas citadas acima, escola do posicionamento e escola do design; Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) definiram outras escolas de pensamento estratgico em perodos distintos do desenvolvimento da administrao estratgica. estas surgiram em pe-rodos diferentes, algumas tiveram seu apogeu, outras se desenvolve-ram pouco, mas merecem ser citadas pela sua significncia e outras encontraram seu apogeu.
todas podem ser classificadas, por sua natureza limitada, de acordo com o quadro abaixo:
-
22 | ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785
6 A ESTRATGIA DO MARkETING DE SUBSTITUIO
A grande quantidade de produtos disponveis ao consumidor muitas vezes o leva a incertezas no momento da compra gerando es-tresse e confuso em sua mente. em um mundo, onde os consumi-dores so cada vez mais atarefados, seja em relao ao trabalho ou a famlia, esta grande quantidade de produtos a disposio, para atender a uma mesma necessidade, pode gerar uma reao adversa justamen-te no momento da compra, exatamente por apresentar um excesso de informao num momento inoportuno. segundo Hoff (2005, p.1):
Pode-se dizer que tantas alternativas ou mesmo possibilida-des acabam por funcionar de maneira inversa ao pretendido. E neste caminho muitas marcas ou produtos correm o risco de serem relegadas. Por isso, fundamental que se busque alternativas atravs de um enxugamento em algumas linhas de produtos em prol do favorecimento de outras. ai que entra o Marketing de Substituio.
Ainda de acordo com Hoff (2005, p.2) complementando o citado acima:
E isto j est se percebendo em algumas redes de vare-jo, que aos poucos esto reduzindo as linhas de produtos ofertados. Esta alternativa est se caracterizando como um antdoto para o que se chama de cegueira da marca, que
nada mais do que consumidores confusos com a multipli-cidade de opes de um produto nas quais no se conse-gue perceber diferenas.
desta forma inmeros produtos ou servios que representariam para o consumidor inmeras decises necessrias acabam por ser poucos produtos. Percebe-se ento de alguns anos para c, as gran-des redes de supermercado colocando marcas prprias com objetivo de facilitar a escolha do cliente e melhorar sua margem de lucro, que se fosse de produtos lderes de venda no seria to atrativa. e por terem seus preos abaixo dos lderes de venda, no correm o risco de ver sua marcar depreciada.
Como complemento Hoff (2005, p.2) destaca os quatro compo-nentes do marketing de substituio:
l Recolocao: trata-se da reduo das escolhas e da sim-plificao do cenrio das marcas, recolocando alguns poucos produtos no lugar de inmeros produtos;l Reposicionamento: visa facilitar a migrao para pro-dutos melhores dentro de uma mesma marca, tornando uma soluo principal mais acessvel a um maior nmero de consumidores, inclusive atraindo aqueles considerados excludos;l Reagrupamento: busca uma soluo integrada mais sim-ples, oferecendo um nico ponto de contato ao consumidor atravs da reunio de mltiplos produtos em um nico pacote;
As escolas do design, Planejamento e Posicionamento tm ca-rter prescritivo, e tem por objetivo encontrar a melhor forma de formu-lar a estratgia, ou seja, como devem ser formuladas.
As prximas seis escolas descritas no quadro acima so mais descritivas: a escola empreendedora descreve a formulao da estratgia resultante da viso do lder natural e forte; a escola cog-nitiva entende o que se passa na ideia humana que resulta em uma estratgia; a escola do Aprendizado sugere que a estratgia adequada vem de um processo de aprendizado, quando se passa por situaes adversas; a escola do poder acha que a estratgia adequada oriunda de um processo de negociao em ambiente hostil; a escola cultural releva a dimenso do grupo no processo; a escola ambiental sugere que a estratgia ideal fruto de res-postas do ambiente externo.
e a escola da configurao um misto de todas as outras escolas, adotada como estratgia dependendo de cada situao.
5 AS FORAS COMpETITIvAS DE pORTER
de acordo com Porter (1986): a essncia da formulao de
uma estratgia competitiva est em relacionar uma empresa ao seu meio ambiente. embora o meio ambiente relevante seja vasto, envolvendo vrias foras sociais e econmicas, seu aspecto prin-cipal o seguimento da indstria em que ela compete. A estrutura industrial tem grande importncia e influencia para se determinar as regras do jogo, bem como as potenciais estratgias disponveis a serem adotadas pela empresa. A concorrncia em uma indstria oriunda de sua estrutura bsica e alcana alm do comportamento de seus concorrentes.
o nvel de concorrncia neste ambiente depende de cinco foras competitivas bsicas: a ameaa de novos entrantes, o poder de barganha dos compradores, o poder de barganha dos fornecedores; a ameaa de produtos ou servios substitutos, e a rivalidade entre os competidores. o conhecimento dessas foras subjacentes prope ao conhecimento dos pontos fortes e fracos da empresa, alinhando desta forma a estratgia de modo a maxi-mizar as foras da empresa e minimizar suas fraquezas. A figura abaixo mostra as cinco foras que determinam a concorrncia de uma indstria.
-
ps eM revista do centro universitrio newton paiva 2015/1 - nMero 10 - issn 2176 7785 | 23
l Reposio: funciona como um msculo de movimento in-voluntrio atravs da eliminao gradual das diversas possibi-lidades de escolha, fornecendo ininterruptamente aos consu-midores leais produtos sem defeitos e com preos aceitveis, buscando a fidelizao do cliente no longo prazo.
METODOLOGIA DE pESqUISA
Para obter os resultados de uma pesquisa cientifica necessrio por parte do pesquisador julgar a adequao dos mtodos pelos quais os resultados foram obtidos. de acordo com selltiz et al (1974, p. 112):
Cada vez mais exigida do pesquisador a capacidade de ava-liar e empregar resultados de pesquisa: julgar se um estudo foi realizado de forma a permitir que se tenha confiana em seus resultados e saber se estes so aplicveis situao especi-fica que enfrentamos.
Ainda tem como finalidade apresentar de forma clara e especifi-ca as caractersticas de uma situao, um grupo ou indivduo (com ou sem hipteses especificas iniciais sobre a natureza de tais caracters-ticas). Neste caso o estudo ser denominado descritivo, sendo este o modelo adotado neste artigo.
A metodologia cientifica tem por objetivo evidenciar os proces-sos tcnicos e instrumentais utilizados ao longo de um trabalho cien-tifico. de acordo com tal conceito, o presente artigo estruturou-se sob o mtodo de estudo de caso, pois foi investigada uma organizao em profundidade. segundo de Bruyne et al (1991, p. 225): este foco de investigao rene informaes to detalhadas quanto possveis, com vistas a apreender a totalidade de uma situao.
Ainda Lakatos et al (1992, p. 47) diz a respeito do mtodo:
Este o mtodo mais indicado, por consistir-se em um exa-me intensivo tanto em amplitude como em profundidade de uma unidade de estudo, ao mesmo tempo em que concede ao pesquisador a liberdade de empregar qualquer tcnica de investigao, seja qual for ordem.
Para Yin et al (2001, p. 73):
O estudo de caso como estratgia de pesquisa contribui de for-ma inigualvel para a compreenso que temos dos fenmenos individuais, organizacionais, sociais e polticos, sendo cada vez mais utilizado como ferramenta de pesquisa em cincias sociais. Representa uma investigao emprica que analisa um fato con-temporneo no contexto na vida real, especialmente quando os li-mites entre tal fato e seu contexto no esto claramente definidos.
o centro de pesquisa deste artigo foi o setor varejista de medi-camentos na regio do alto Paraopeba no interior do estado de Minas Gerais; e a unidade de anlise, a empresa denominada Medcenter, nome fictcio por solicitao de seus proprietrios. A unidade de ob-servao focou em pessoas que atuam e possuem grande conheci-mento do setor varejista de medicamentos no Brasil, bem como uma grande viso do segmento.
As pessoas entrevistadas forneceram valiosas informaes so-bre a empresa foco do estudo e seu mercado atual, sendo estas:
l Alta gerncia da drogaria Medcenter;l representantes da ANVisA na regio do alto Paraopeba,
estado de Minas Gerais.l Farmacutico representante da siNFArMiG sindicato dos
Farmacuticos do estado de Minas Gerais;
l representantes da distribuidora de Medicamentos santa Cruz Ltda.;
l representantes da distribuidora de Medicamentos Profar-ma Ltda.;
l representantes do Laboratrio Pfizer do Brasil.
As entrevistas foram direcionadas a partir de um roteiro que teve como objetivo evidenciar todos os pontos que envolvem o tema deste artigo. (Ver ANeXo). Aps as entrevistas, foi realizada uma anlise do discurso obtido, da qual resultaram as informaes expostas a seguir.
ANALISE DAS INFORMAES OBTIDAS
HISTORICO DO SETOR
o varejo farmacutico sofreu profundas mudanas recentemen-te. Anterior ao Plano real em 1994, perodo de inflao alta e incon-trolada, com constantes remarcaes de preos, os medicamentos no fugiram a regra. Neste perodo, os preos dos medicamentos no paravam de subir, proporcionando falsa iluso de lucratividade. de acordo com a alta gerencia da Medcenter: Comprava-se pelo preo antigo e vendia-se pelo preo remarcado, o que no demandava do empresrio do setor maiores preocupaes com custos e margens de lucro.
Aps este perodo, com a inflao controlada os ganhos ilus-rios terminaram, gerando dificuldades para aqueles que no estavam estruturados ou que no tinham uma administrao profissional. este novo cenrio afetou principalmente as drogarias isoladas e as peque-nas redes. segundo a ABrAFArMA (2012): A partir desse instante, estas empresas passaram a ser testadas quanto a sua capacidade de gesto, e por serem em sua grande maioria micro e pequenas em-presas, o setor no estava preparado para o cenrio que comeava a desapontar.
Neste novo cenrio, as grandes redes buscaram melhores con-dies de compra junto aos fornecedores, com objetivo de conseguir vantagem competitiva junto aos concorrentes. intensificou-se, portan-to a expanso das grandes redes de drogarias.
Concomitantemente, as drogarias isoladas que so aquelas com somente uma loja e pequenas