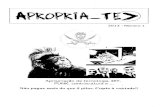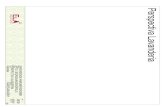PROJETO NACIONAL E APROPRIA O SOCIAL) DOS... · ideia de que um projeto, muito mais do que uma...
Transcript of PROJETO NACIONAL E APROPRIA O SOCIAL) DOS... · ideia de que um projeto, muito mais do que uma...
PROJETO NACIONAL E APROPRIAÇÃO LOCAL
A CRECHE PREINFANCIA
Cátia dos Santos Conserva Arquiteta pela UnB. Especialista em Construção Sustentável, IPOG.
"Minha casa é meu chapéu."
Frase atribuída a Lampião no dia em que queimaram sua casa.
RESUMO O objetivo desse artigo é refletir sobre como acontece a apropriação dos espaços quando caminhamos pelas obras de implantação do projeto padrão da Creche PREINFANCIA, fornecido pela Administração Pública Federal às prefeituras para ser construído em todo o território nacional, através de convênios de repasses de recursos. Para ser licitado, a lei exige que exista um projeto básico. Como equacionar um projeto a ser replicado em todo o país sendo o Brasil um país de dimensões continentais e enorme diversidade entre as regiões? Como o projeto básico é recebido nas diferentes cenários urbanos, ambientais, sociais e históricos? Para isso buscou-se estabelecer a relação entre espaço projetado e espaço vivenciado, na hipótese de que o espaço visto como algo rígido, o espaço da prancheta, padronizado, renderizado, pode apresentar surpresas ao ser vivenciado. Pretendemos o objetivo de estudar a questão da arquitetura pensada e elaborada pela gestão Federal para ser construída, administrada e vivenciada pela gestão municipal, refletindo a presença de diferentes atores e interesses, que vão se contrapor à visão do espaço como se fosse algo rígido, enclausurado em padrões e padronizações. Como acontece a recepção dessa arquitetura aparentemente sem identidade, mas que supostamente representa o sonho coletivo ainda que dissociada das suas experiências vividas? O que acontece para que o espaço do habitar se construa a partir do projeto básico, sempre igual? Especificamente, buscaremos os objetivos de estudar:
• a recepção do projeto padrão, suas relações e interdependências, a espacialidade socialmente criada; • atividades não previstas acontecendo, desconstruindo o discurso do desenho separado da dinâmica da
vida, do tempo e do espaço; • A adaptabilidade das atividades a uma configuração espacial fixa.
Tendo as cidades de Araporã e Prudente de Morais MG, Lagoa de Pedras RN, Formosa e Jatái GO, Veranópolis RS e Tangará RN, como eventos para estudo, analisam-se imagens escolhidas que nos remetem a reflexões sobre o espaço como lugar onde se desenvolvem relações, formas e comportamentos que se combinam formando uma espacialidade muitas vezes diferente daquelas pensadas em projeto e sacralizadas pelas normas e leis, quebrando o senso comum, buscando a compreensão da relação espaço/sociedade. Palavras chave: arquitetura, projeto, apropriação, replicar, habitar
INTRODUÇÃO A educação para os pequenos data do final dos anos 70, quando vemos os primeiros movimentos para incorporação de crianças de 4 a 6 anos nas políticas públicas de educação. Em consulta à Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, vemos que o Estado deverá garantir o atendimento às crianças de zero a cinco anos de idade, em creches e pré-escolas. A Constituição de 1988 tornou-se um marco histórico para a elaboração de políticas públicas para a infância ao colocar as crianças como sujeitas de direitos em vez de objetos de tutela, obrigando os sistemas de educação a reorganizarem suas propostas para a educação infantil. A Lei 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), ratificou o direito à Educação Infantil ao explicitar uma "garantia" de atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a cinco anos de idade. Em 2006, a Política Nacional de Educação Infantil (2006), reafirmou o conceito da criança como “um ser histórico, produtor de cultura e nela inserido.” Leis nós temos e muitas, como aplicar essas leis é que é o gargalo. Para creche, há o consenso geral de que ela é uma instituição especializada, onde a família deixa suas crianças de 0 a 6 anos, levando e trazendo todos os dias a fim de que lhes dêem o tempo livre para trabalhar, ao mesmo tempo em que suas crianças recebem benefícios de desenvolvimento e aprendizagem. (BARROS, 2002). Segundo a Fundação ABRINQ, Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (2011), o Brasil tem 10 milhões de crianças de 0 a 3 anos sem acesso a creches, sendo preciso construir 12 mil novas unidades. O PREINFANCIA é um programa da Administração Pública Federal destinado à construção de Escolas de Educação Infantil. Porém, se pensarmos essa construção em seu sentido existencial, do ser e estar, permanecer, morar, o habitar e suas representações comportamentais nos termos de Heidegger1, vamos nos deparar com cenas cotidianas do espaço vivenciado nas quais vamos perceber que o planejado para cada ambiente construído nem sempre será apropriado conforme o planejado. Como gestor dos recursos em nível federal, o MEC participa do processo com o fornecimento do projeto básico e a aprovação do projeto de implantação no qual os municípios inserem o projeto fornecido em um terreno pertencente à prefeitura. A licitação e a execução da obra são encargo da Prefeitura. Após, a equipe de engenheiros e arquitetos do MEC faz o monitoramento das obras até o seu recebimento. Após, tida como encerrada a obra, a Prefeitura cessa o vínculo com a Administração Pública Federal em todos os sentidos, inclusive a manutenção da obra é encargo único da Prefeitura. Aqui a percepção de que na esfera da Administração Pública o conceito do projeto se conclui antes da apropriação do espaço, ou seja, a elaboração do conceito não contempla a compreensão do produto por parte de quem o habita. A respeito dessa separação do universo mental e do universo prático, vemos em Brandão2(1999) a ideia de que um projeto, muito mais do que uma elaboração mental, pode servir "sobretudo, para a compreensão do produto do seu trabalho por parte de quem o habita", ultrapassando o campo especificamente gráfico, transcendendo para o campo da história e da poesia, fazendo dialogar os universos de quem projeta e de quem habita. ------------ 1 Heidegger em seu texto "Construir, habitar, pensar". 2 Brandão em seu texto "Linguagem e Arquitetura".
1. O PROJETO PREINFANCIA O projeto padrão PREINFANCIA foi concebido, em parceria com a Universidade de Brasília, para atender 240 crianças em dois turnos ou 120 em um único turno. São 1.200 m2 divididos em 4 Blocos: Administração, Serviço, Creches I e II, Creche III/Pré-Escola/Sala de Leitura e de Informática. O Bloco Administrativo contempla ambientes de Recepção, Secretaria, Diretoria, Sala de Professores, Almoxarifado e Sanitários. O Bloco de Serviço contempla Cozinha, Lactário, Copa e banheiros para Funcionários, Depósito, Lavanderia, Rouparia e Despensa. Para a Creche I, destinada a crianças de 4 a 11 meses foram previstos Fraldário, Berçário e área de amamentação.
Figura 01. Planta Baixa PREINFANCIA Fonte da imagem: www.fnde.gov.br, 13 de março de 2013
Figura 02. Fachada 1 PREINFANCIA Fonte da imagem: www.fnde.gov.br, 13 de março de 2013
Figura 03. Fachada 2 PREINFANCIA
Fonte da imagem: www.fnde.gov.br, 13 de março de 2013
Figura 04. Fachada 3 PREINFANCIA Fonte da imagem: www.fnde.gov.br, 13 de março de 2013
Figura 05. Corte AA PREINFANCIA
Fonte da imagem: www.fnde.gov.br, 13 de março de 2013
Figura 6: PREINFANCIA Perspectiva Fonte da imagem: www.fnde.gov.br, 13 de março de 2013
A volumetria aponta jogo de telhados coloniais e cores nas fachadas revestidas com cerâmica 5 x 5 cm amarela e azul, pintura branca e vermelha. A configuração geometrizada dos espaços "modernos". Na volumetria do edifício chama a atenção a Caixa D´água com capacidade para 45 000 litros em um grande volume cilíndrico amarelo com detalhes e escadas azuis. Detalhe interessante é que já vistoriamos obras no Piauí onde não havia água para encher os reservatórios. Aqui caberia a pergunta: Será que o problema da crise da educação no Brasil se resolve com a construção de Escolas? Sobre isso nos fala Heidegger:
Por mais difícil e angustiante, por mais avassaladora e ameaçadora que seja a falta de habitação, a crise propriamente dita do habitar não se encontra, primordialmente, na falta de habitações. A crise propriamente dita de habitação é, além disso, mais antiga do que as guerras mundiais e as destruições, mais antiga também do que o crescimento populacional na terra e a situação do trabalhador industrial. A crise propriamente dita do habitar consiste em que os mortais precisam sempre de novo buscar a essência do habitar, consiste em que os mortais devem primeiro aprender a habitar. (...) De outro modo, porém os mortais poderiam corresponder a esse apelo senão tentando, na parte que lhes cabe, conduzir o habitar a partir de si mesmo até a plenitude de sua essência? Isso eles fazem plenamente construindo a partir do habitar e pensando em direção do habitar. (HEIDEGGER, 1954 p.10)
Portanto, a crise na Educação pode ir além da necessidade de construção de Escolas. Importante também pesquisar como acontece a essência do aprender nas diversas culturas regionais do país e como se poderá fortalecer a educação regionalmente, fazendo uso dos artifícios, costumes e vivências locais. Vemos na Lei 8.666/93, a definição do que seria o projeto básico:
Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. (Lei 8.666/93, Art. 6º, IX,)
De acordo com a Resolução 361/91 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia:
O nível de detalhamento dos elementos construtivos de cada tipode Projeto Básico, tais como desenhos, memórias descritivas, normas demedições e pagamento, cronograma físico, financeiro, planilhas de quantidadese orçamentos, plano gerencial e, quando cabível, especificações técnicas deequipamentos a serem incorporados à obra, devem ser tais que informe e descrevam com clareza, precisão e concisão o conjunto da obra e cada uma de suas partes. (Resolução 361/91,CONFEA, Art. 4º, parágrafo 1)
Vemos ainda na Lei 8.666/93, Art. 7º, parágrafo 2º, que as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários. Ora, não há como calcular custos unitários sem a existência de um projeto básico.
A Orientação Técnica OT-IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas nos diz que:
Projeto Básico é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa caracterização da obra a ser executado, atendendo às Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento. Deve estabelecer com precisão, através de seus elementos constitutivos, todas as características, dimensões, especificações, e as quantidades de serviços e de materiais, custos e tempo necessários para execução da obra, de forma a evitar alterações e adequações durante a elaboração do projeto executivo e realização das obras. (OT-IBR 001/2006, p.2)
É de se destacar, porém, que os normativos e leis em nenhum momento acenam para a necessidade de que o projeto básico seja único, rígido e aplicável em todo o país, em nível nacional. Entendemos sim, que a existência do projeto básico completo, incluindo os complementares, é condição para as definições como avaliação de custos, prazos etc, no entanto, a lei não diz que o projeto não possa ser flexível, adaptável e aberto às condições de vivências e costumes regionais, envolvido com a capacidade de fecundar novos frutos a partir daquilo que colhemos no estudo dos modos de vida regionais. No dizer de Brandão (1999): "Aquele que concebe, portanto, é aquele que colhe, seja o grão ou seja a experiência vivida, para serem usados como alimentos ou para relançá-los à terra e gerar novos frutos a serem entregues ao mundo."
2. A PADRONIZAÇÃO A padronização incorpora o conceito da repetição de uma forma modelo, otimizada pela racionalização dos recursos para sua viabilização econômica e financeira, buscando ir contra os desperdícios nos processos produtivos, aplicando raciocínios sistemáticos, lógicos e resolutivos, isentos do influxo emocional. A padronização com racionalizações e repetições, surge na história principalmente com a Revolução Industrial, uma vez que o processo produtivo industrial demanda eficiência e controle para evitar desperdícios e garantir a qualidade dos produtos. Já a padronização construtiva aposta na simplificação do processo produtivo a fim de que se permitam ganhos com a economia de escala, importante para aumentar a produtividade na construção. (BARROS, 2002). Para Lúcio Costa, a arquitetura revela as mudanças do início do século “desnacionalizando-se”, ligando a prática do trabalho do arquiteto com a busca de padrões. Para ele “Todo verdadeiro estilo é uma estandardização, e o fato de estarmos encontrando um standad para a arquitetura é sinal irrefutável de que estamos às portas de uma nova era, de um grande e genuíno estilo.” (PEREIRA, 1999). No Brasil, é prática corrente a padronização de projetos em instituições bancárias, de saúde, correios, hospitais, habitações populares e educação, como, por exemplo, os CIEPS (Centro Integrado de Educação Pública) associados ao Governo Brizola no Rio de Janeiro. O projeto padrão é, portanto, uma prática comum em projetos públicos, os quais buscam atender programas de necessidades padronizadas. Sobre a repetição de padrões em arquitetura, vemos em Holanda que a obra de arquitetura sempre trará a sensação de surpresa, ainda que se façam peças de repetição, pois haverá em cada célula, em cada vão, em cada espaço, um quê de imponderável, sobrevindo da apropriação do recinto como unidade formadora do conceito de lugar. Afinal a arquitetura insere-se num contexto socioambiental, corpo e mente esperando dos lugares a satisfação de expectativas e desempenhos em função de variados aspectos. (Holanda, 2013) Ao analisarmos o processo de projeto em arquitetura, vemos como fundamental a definição de necessidades que representem um cliente a ser atendido, além do conhecimento e estudo das condições do local, sejam topográficas, do clima etc. Conhecer o cliente é, ponto pacífico, essencial
para a definição de cada ambiente. Esses procedimentos, em um projeto padrão, são, no mínimo, prejudicados, quando não eliminados. Ainda que se busque a fundamentação desse programa de necessidades em alguns parâmetros digamos, gerais, buscando a padronização dos programas de necessidades, vemos que não se consegue representar a variedade das situações reais, levando a generalizações que podem nos poupar a convivência com o inédito, com a infinidade de possibilidades, com a compreensão maior da realidade em que vivemos. Conhecer o cliente diretamente é essencial para especificar o uso de cada ambiente, já que conceitos abstratos, estereotipados, colocados em bitolas, podem se mostrar bastante inapropriados. A homogeneização dos espaços, o discurso universalizante nos mostrando, na análise do PREINFANCIA, seu aspecto ficcional. Principalmente se levarmos em consideração os arcabouços do desenvolvimento dito sustentável, no qual, os ditames do capitalismo selvagem cedem lugar à inclusão das expectativas sociais tanto quanto as econômicas e ambientais, atendendo às condições de clima, usos, costumes, emprego de materiais locais e mais uma grande quantidade de itens que, conectados, formarão a concepção dita sistêmica, voltada para o entendimento dos sistemas complexos da vida. Conforme questiona Capra:
Não é verdade que um mesmo fato testemunhado por um grupo de pessoas pode ser percebido de forma diferente por diferentes pessoas? E a realidade invisível, inaudível, intocável, não passível de percepção pelos nossos sentidos normais? E o íntangível que não conseguimos demonstrar em nossos "balanços" e relatórios, quer se trate do país, da empresa ou mesmo de nossa vida pessoal? Não sería a realidade visível um instantâneo do processo da vida? O que está ocorrendo neste exato momento não seria conseqüência de algo que já está em processo? E esse processo não irá continuar gerando ainda outras conseqüências, ou seja, uma sucessão de outros instantes, encadeados e conectados entre si? (Capra, 1996, p.9)
Assim, quando uma aranha constrói sua teia, o processo pode se dizer padronizado, mas, a cada investida, as partes criadas serão sempre diferentes. Cada teia é bela, única e perfeita, adaptada para cada situação. O processo, que é uniforme e simples, interage com uma variedade infinita, em diversas circunstâncias para produzir teias particularmente diferentes (ALEXANDER et al., 1977). Existe a padronização na natureza certamente, mas não uma padronização monótona, cada nova investida terá nova forma, cada elemento é reconhecido e apropriado de modo inteligente e inédito. Compreender essa teia é compreender a interdependência das suas partes, se acrescentado, ainda, a percepção de como essa teia está encaixada no seu ambiente social e natural, o todo organizado, que é a linha de frente do pensamento sistêmico:
A tensão básica é a tensão entre as partes e o todo. A ênfase nas partes tem sido chamada de mecanicista, reducionista ou atomística; a ênfase no todo, de holística, organísmica ou ecológica. Na ciência do século XX, a perspectiva holística tornou-se conhecida como "sistêmica", e a maneira de pensar que ela implica passou a ser conhecida como "pensamento sistêmico".(Capra, 1996, p.29).
Na abordagem sistêmica de Bertalanffy, as propriedades das partes só podem ser entendidas dentro de um contexto, lidando sempre com interconexões, em um processo de incorporação contínua. Nesse sentido, a ideia de um padrão seria, não a de uma representação, mas a de uma parte envolta em uma teia caleidoscópica de relações, como fractais analisados no âmbito da topologia. (Bertalanffy apud Capra, 1996, p. 64) 3. OLHARES SOBRE O ESPAÇO EM IMPLANTAÇÃO Implantação não é apenas inserir um projeto em um contexto de prédios e ruas, mas em um sistema de cenários, superfícies, espaços, seres, clima, topografia, condições geológicas, afastamentos, taxa
de ocupação, índice de aproveitamento etc. A implantação começa pela análise das qualidades específicas e peculiares de cada local. Pode-se dizer que a implantação é a arte de ordenar o espaço para dar suporte ao comportamento humano (LYNCH, 1972).
Figura 7 - PREINFANCIA - PRUDENTE DE MORAIS MG Creche II
Fonte da imagem: arquivo da autora, 2010
Figura 8 - PREINFANCIA - LAGOA DE PEDRAS RN Cozinha
Fonte da imagem: arquivo da autora, 2010
Foucault (1967), em seu texto "De Outros Espaços" apresenta a noção de utopia como referente a lugares que não são reais, como a imagem em um espelho, ela existe e tem um lugar, mas não um lugar fixo. Já a heterotopia se refere a lugares reais, mas que estão fora do aceitável como normal pela sociedade, é o lugar do desvio, do conflito, das relações de poder de uma sociedade determinada. Nesse sentido, vemos na figura 7 o que seria a imagem da irreverência, do socialmente inaceitável, da presença que incomoda aqueles que imaginaram aquele espaço como o símbolo da modernidade limpa, pura e sem mácula. Sendo o espaço deserto a regra, a presença de animais seria uma espécie do desvio de Foucault, a dicotomia entre o urbano e o rural, quase entre o sagrado e o profano:
espaços que existem e que são formados na própria fundação da sociedade -que são algo como contra-sítios, espécies de utopias realizadas nas quais todos os outros sítios reais dessa dada cultura podem ser encontrados, e nas quais são, simultaneamente, representados, contestados e invertidos. Este tipo de lugares está fora de todos os lugares, apesar de se poder obviamente apontar a sua posição geográfica na realidade. (Foucault, 1967, p. 3)
Durante a construção vemos, na figuras 8, trabalhadores e suas necessidades particulares de abrigo que vão configurar situações nas quais se percebe o habitar no sentido de Heideger (1954). 4. OLHARES SOBRE O ESPAÇO EM APROPRIAÇÃO A perspectiva que nos direciona para a análise desse tema procura, na medida do possível, tratar a noção do habitar em momentos distintos de cenas cotidianas na creche PREINFANCIA ocupada e vivenciada pelas comunidades em seus estados e municípios. A noção de ser-no-mundo, como em Heidegger na Conferência Construir, Habitar, Pensar, realizada em um contexto de reconstrução pós-guerra. No momento daquela conferência o importante era construir, reconstruir, refazer um espaço que fora destruído pela guerra. No meio desse processo as inquietações a respeito da relação construir-habitar. As fotografias 9 a 14 nos levam a pensar sobre os universos de quem projeta e de quem habita, principalmente em se tratando de um projeto a ser replicado nacionalmente. Veremos que enquadrar a arquitetura em padrões fixos nos reserva surpresas pois cada ato de projeto é (deveria ser) único
em relação ao seu contexto. Cada espaço vai receber aquela arquitetura a seu modo, com transformações de uso de acordo com suas experiências, contextos, tradições, costumes, memórias.
Figura 9 - PREINFANCIA - FORMOSA GO
Creche I Fonte da Fotografia: arquivo da autora, fev 2013
Figura 10 - PREINFANCIA – FORMOSA GO
Sala de Professores Fonte da Fotografia: arquivo da autora, fev 2013
Na Creche I, destinada a crianças de 0 a 1 ano, a área de amamentação, que é onde se vê, na foto, os colchões empilhados, foi, em Formosa GO (Figura 9) desconstruída "porque as mães não querem amamentar", deixam seus filhos e vão para seus trabalhos, não retornam para amamentar, nenhuma delas. As poltronas brancas destinadas ao ritual da amamentação foram removidas para a sala dos professores (Figura 10). A área projetada para ser o berçário é a área em que vemos, na foto 9, mesas fornecidas para compor o espaço do refeitório que fica no Pátio Central. Nessa cena, as divisórias que comporiam o berçário foram retiradas para que o espaço ficasse mais permeável e "mais fresquinho". Para Heidegger "é somente na travessia da ponte que as margens surgem como margens." (Heidegger, 1954), a forma de apropriação daquele espaço é que vai configurar o habitar, não tanto o conteúdo representado mas (muito mais) o conteúdo vivido. Adaptações foram feitas pelas professoras para que ajustassem suas necessidades a um espaço já construído.
Figura 11 - PREINFANCIA - JATAI, GO
Creche I Fonte da Fotografia: arquivo da autora, outubro 2010
Figura 12 - PREINFANCIA - VERANÓPOLIS, RS
Creche I Fonte da Fotografia: MEC (2013)
Na figura 11, em Jataí , GO, os berços foram posicionados no lado de fora do berçário, pela opção da conveniência do melhor contato visual pelas professoras, além das questões do conforto térmico. Na
parede a inscrição em grandes letras: "Sua presença é muito importante para nós." A busca do clima do aconchego através da palavra escrita, uma vez que, talvez, não se tenha conseguido esse aconchego na simples vivência do espaço. De qualquer forma, a apropriação de um espaço pressupõe a possibilidade de que o usuário venha a colocar ali as suas marcas, alterando esse espaço de algum modo, pelo desenho, pela escrita, pela disposição dos objetos, pela cor, em exercícios de transformação do seu mundo. Daí a premissa de que é importante que os usuários façam parte do processo de projeto, expressando individualidades, singularidades, peculiaridades. Difícil imaginar uma arquitetura que não seja assim, voltada para a comunidade, para as pessoas a quem se destina a obra, sua identidade em construção, memórias, sonhos. Isso sem falar de características específicas daquele sítio, o clima, a infraestrutura, a topografia, além dos aspectos históricos e sociocomportamentais da localidade. A figura 12, cena de Veranópolis, RS, apresenta outra situação na recepção do lugar para a Creche I. No local para amamentação foram pendurados balanços, ficando o lavatório em situação que chega a atrapalhar a ação de brincar. O berçário com sua configuração projetual de portas e fechamentos foi bem-vindo para o clima frio do Rio Grande do Sul. O habitar aconteceu dentro do espaço definido e pensado para ser amamentação, não como amamentação, mas aconteceu como um parque de diversões trazido para dentro daquele espaço. A acepção de permanecer, no sentido do lugar onde se dá a instauração do ser, o habitar na sua dimensão existencial. O ser no sentido de estar envolvido, presente, atuante, vivenciando o espaço a seu modo. Nessa perspectiva, Heidegger (1954) lembra que a palavra alemã "buan" que significa construir, significa do mesmo modo habitar. Da mesma forma a expressão alemã "ich bin" significa "eu sou". Daí, ao dizer "eu sou", diz-se também "eu habito", exprimindo o sentido que indica que "o homem é à medida que habita". Raciocínio confirmado e ressaltado em outra passagem de "Construir, Habitar, Pensar": "Não habitamos porque construímos, mas construímos à medida que habitamos.", ou seja, à medida que ocupamos o lugar ao nosso modo, uma demora junto às coisas. Salvar a terra, acolher o céu, aguardar os divinos, conduzir os mortais eis os quatro traços do habitar pensado por Heidegger, a quadratura. Quatro instâncias que revelam o ser e a sua totalidade. Esse resguardar das quatro faces configurando aessência do habitar, uma relação, portanto, de caráter existencial.
Figura 13 - PREINFANCIA - TANGARÁ, RN
Refeitório Fonte da Fotografia: MEC (2013)
Figura 14 - PREINFANCIA - ARAPORÃ, MG
Sala de Informática Fonte da Fotografia: arquivo da autora, outubro 2010
Para Heidegger, a noção do habitar é central para a constituição do sentido do ser, no sentido de um "demorar-se dos mortais em meio às coisas", implicando o sentido do deixar as coisas serem. Em Tangará, RN, (figura 13), apesar de no projeto haver todo um ritual previsto em que os alimentos passariam por uma abertura passa-pratos, do passa-pratos para um balcão em frente, na planta chamado "buffet" e aí então, nesse balcão “buffet” seriam servidos os pratos das crianças. Na figura 13, a merendeira ignora tudo isso e leva a panela para o meio do Pátio. Aqui é como se algo tivesse faltado em um trabalho preliminar de projeto, como se tivesse faltado a entrevista preliminar, aquela em que absorvemos os gostos e anseios do cliente antes de fazer um projeto. Aqui o espaço foi entregue com um comportamento suposto, talvez imposto (o de usar o passa-pratos e a bancada), “determinado”, para só depois ficarmos sabendo que o que o cliente queria era ir para o meio do salão com a panela na mão, como uma mãe faria com seus filhos. A forma singular de apropriação daquele espaço é que vai configurar o habitar, não o conteúdo representado, mas o conteúdo vivido. Esse é, assim, o lugar da instauração do ser, configurando o habitar no sentido da presença no mundo, que por sua vez remete à noção de morar, permanecer, cultivar, estar envolvido. Na figura 14, professora e crianças ocupando o espaço previsto para sala de informática, funcionando como brinquedoteca. O programa de inclusão digital do governo consegue atender a bem poucas escolas, que dirá as creches. O espaço, não como um conteúdo representado, mas a noção de algo que se modifica à medida em que é habitado e vivenciado, uma "demora junto às coisas" no dizer de Hidegger
Quando se fala do homem e do espaço, entende-se que o homem está de um lado e o espaço de outro. O espaço, porém, não é algo que se opõe ao homem. O espaço nem é um objeto exterior e nem uma vivência interior. Não existem homens e, além deles, espaço. (Hidegger, 1954, p.7)
A capacidade de habitar vista como a referência do homem e seu lugar de acolhimento, presença e autenticidade do ser na articulação e produção dos seus espaços. Conhecer o cliente, a percepção das especificidades é, ponto pacífico, essencial para entender o funcionamento de cada ambiente, considerando que já aprendemos que conceitos abstratos e estereotipados sobre o cliente e o seu lugar podem ser inapropriados em situações variadas. Aquela arquitetura pensada no papel poderá ser bem equivocada se prejudicada na inserção correta no local, na cultura e no momento social e político do país. Holanda (2013) nos diz sobre isso que a questão do “determinismo arquitetônico” está mal discutida, pois muitas vezes ignora-se que a arquitetura tenha implicações outras que vão além de seus aspectos geométricos e de configuração convencionais. É preciso atinar que arquitetura e urbanismo não comandam vontades, não se brota uma nova sociedade a partir da ponta de um lápis ou de uma imagem perfeitamente renderizada. Segundo Holanda “projetamos a forma a ser construída, não as convenções pelas quais virá a ser utilizada.”
Às barreiras e às permeabilidades físicas sobre o chão (sintaxe) se superpõem regras de utilização (semântica) que acrescentam significado simbólico à sintaxe do lugar e contribuem para constituir- produzir e reproduzir – padrões de interação social. O conjunto de permissões e restrições relativo às interações pessoais está “colado” à sintaxe e à semântica da arquitetura.” (Holanda, 2013,P. 24)
Das sofisticadas e luxuosas mansões e obras de arte a humildes casas de operários, toda construção pode ser lida como um documento histórico, capaz de revelar aspectos da natureza dos homens e das sociedades que delas se apropriam. Não obstante entendemos que na prática profissional o arquiteto precisa exercitar um certo grau de causalidade entre o projeto e seus efeitos, certos arranjos no espaço podem sugerir certas formas de uso, mas não sempre. O que se aprende com as situações apontadas é que precisamos sim ter cuidado com implicações lineares, absolutas, diretas, sempre sabendo que a arquitetura é um
sistema complexo por excelência, o que nos leva a prever possibilidades de haver sempre outras faces para uma mesma configuração, diferentes efeitos e usos na passagem entre as intenções de projeto e o espaço contruído. Segundo Hillier (1984), fundador da Teoria da Sintaxe Espacial, o espaço arquitetônico é feito de barreiras e permeabilidades, e estas podem contribuir para a reprodução de padrões de interação social, espaço físico e comportamentos humanos. Cabe ao arquiteto ter a noção de até que ponto o seu projeto vai agir sobre a vida das pessoas, sempre ciente de que a arquitetura, envolta na sua complexidade de relações, pode contribuir sim para o cotidiano das pessoas, mas não sozinha, sempre caminhando junto com vários outros aspectos, inúmeras faces, as quais terão efeitos expressos em nossos modos de agir, sentir, pensar, por vezes imprevistos. (Hillier apud Holanda, 2013, p.19) CONSIDERAÇÕES FINAIS Arquitetura não é projeto. Arquitetura é um processo. Processo que se inicia com um rol de necessidades, as idéias básicas, daí segue se desenvolvendo até que se julgue em condições de dar início à construção, depois vem a ocupação do edifício que faz parte também desse processo. E ainda os estudos de pós-ocupação, a manutenção e a demolição. O projeto não se conclui com o projeto, mas segue com a vivência do espaço. Cada ato de projeto é único com relação ao seu tempo, ao seu lugar, ao seu usuário que precisa necessariamente fazer parte do processo para expressar seu caráter, sua individualidade. Além disso, na época da busca pelo desenvolvimento dito sustentável, não se pode mais admitir uma arquitetura que não utilize materiais locais, atendendo às condições específicas de clima, usos e costumes. Percebe-se que o projeto padrão consegue fixar alguns parâmetros, mas não consegue atender a diversidade e variedade das situações reais. O projeto quando passa a pertencer a um determinado local, não é mais abstrato, passa a fazer parte daquele contexto. E em um projeto replicado, vê-se que cada implantação produz uma situação única. A observação das cenas cotidianas em visitas após a ocupação, aponta para discrepâncias entre proposições de projeto e realidade. Em sentido mais amplo os avanços e aperfeiçoamentos das atividades em arquitetura se dão justamente quando a acumulação de contradições entre a teoria e a experiência vivida enriquecem o processo com o aceno de novas possibilidades, de novos processos de projeto. Na simples replicação, o processo de projeto acaba sendo uma inversão de procedimentos porque fica faltando algo, fica faltando o dualismo que buscasse um face to face com a realidade daquele local, daquele cenário urbano, daquela cultura, daquele momento social e político. A receita já segue antes, o modelo já segue pronto. Não há um estudo da realidade local para que essa realidade forneça subsídios para uma intervenção no local. Daí o esvaziamento da atividade teórica, pois falta a ela a reflexão da experiência dos espaços vividos, da frutificação futura, da época da colheita. A lei tem que ser cumprida, mas a concepção do projeto básico único e replicado em nível nacional, se desfaz na constatação de que, sem que se considere a etapa da apropriação, o projeto é apenas uma promessa, uma expectativa, uma obra de ficção. O conceito em arquitetura, não se esgota nas linhas do projeto, é preciso que se re-estude o que se concebeu com vistas a futuras colheitas e novas potencialidades. O planejamento segue um caminho, a realidade pode seguir outro. O espaço precisa ser apropriado, vivido, antes de ser dado como concluído, se é que em algum momento o será, se pensarmos que a identidade muda em certos aspectos, o espaço vai se transformando sempre e sempre.
Esse enfoque pode significar sim o fim das certezas implícitas em um projeto padrão. O sentimento de que é preciso o envolvimento da comunidade, dos usuários, buscar talvez mais perguntas que respostas. Daí a inquietação de que a pesquisa se faça, na percepção de que a flexibilidade do projeto básico, em relação ao tempo, lugares e usos, chegue a ser um elemento de projetação, com uma Análise Pós Ocupação, não apenas do ponto de vista técnico e de uso de materiais, mas com a aferição de níveis de satisfação e transformação do espaço pelo usuário. Não ceder à tentativa de dar algo a todos em vez de tudo a alguém, facultando ao projeto adaptações posteriores, tornando possível externar itens diferenciados e particulares de cada sítio de implantação, requerendo reflexões específicas e possibilidades de opções e flexibilidade de aplicação. A percepção das especificidades dos lugares, como vistas nas creches analisadas nesse artigo, atuando como elemento importante para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico que fale, cante e encante, transcenda e surpreenda. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALEXANDER, C.; ISHIKAWA, S.; SILVERSTEIN, M. A Pattern language. Oxford, University Press, Nova York, 1977. BARROS, Lia A. F. (1); KOWALTOWSKI, Doris C.C.K.(2); Avaliação de projeto padrão de creches em conjuntos habitacionais de interesse social: o aspecto da implantação. NUTAU, 2002 Brandao, Carlos Antonio Leite. Linguagem e Arquitetura. O Problema do Conceito. ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.
BRASIL. Lei 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996. BRASIL. Lei 8.666, Lei de Licitações, 1993. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, Política Nacional de Educação
Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação. Brasília: MEC, SEB 2006.
CAPRA, F. A Teia da Vida. São Paulo: Cultrix, 1996.
FOUCAUL, M. De Outros Espaços. Conferência proferida no Cercle d'Études Architecturales, em 14 de Março de 1967.
HEIDEGGER, M. Construir Habitar Pensar. Conferência pronunciada por ocasião da Segunda Reunião de Darmastad, VortageundAufsatzse. Pfullingen, 1954. HILLIER, B.; HANSON, J. The Social Logic of Space. Cambridge, University Press, 1984. Holanda, Frederico. Arquitetura e Urbanidade, 2013 Holanda, Frederico. Dez Mandamentos da Arquitetura, 2013 LYNCH, K. Site planning. Massachusetts, M.I.T. Press, 1972.
Ministério da Educação, MEC. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, disponível em <http://fnde.gov.br> Jornal O GLOBO, 27/11/2011, disponível em <http://oglobo.globo.com/pais/estimulo-na-primeira-infancia-beneficios-para-vida-inteira-3336769> consultado em 14/12/2012. Orientação Técnica OT-IBR 001 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, 2006. PEREIRA, M.S , Os Correios e Telégrafos no Brasil, um Patrimônio Histórico e Arquitetônico. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, São Paulo, 1999. Resolução 361. Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 1991.