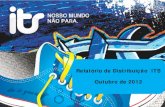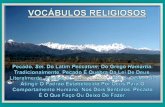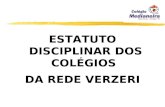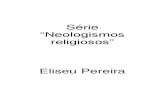Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social da ... · a um grupo de diretores de colégios...
-
Upload
phunghuong -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social da ... · a um grupo de diretores de colégios...
2
Universidade Católica de Brasília
Outubro 2010
Reitor
Professor MSc. Pe. José Romualdo Degasperi
Pró-Reitor de Graduação
Professor Dr. Ricardo Spindola Mariz
Coordenadora da Unidade de Assessoria Didático Educacional
Professora MSc. Tatiana da Silva Portella
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa
Professor Dra. Adelaide dos Santos Figueiredo
Pró-Reitor de Extensão
Professor Dr. Luiz Síveres
3
SUMÁRIO
1. HISTÓRICO ...................................................................................................................................................... 5
1.1. HISTÓRICO INSTITUCIONAL ..................................................................................................................... 5
1.2. HISTÓRICO DO CURSO ........................................................................................................................... 10
1.2.1 Percurso e desafios do Ensino em Comunicação no Brasil .................................................................. 10 1.2.2 A trajetória do Curso de Comunicação Social da UCB ......................................................................... 16
1.3. PROJEÇÃO DA MISSÃO INSTITUCIONAL ......................................................................................... 22
1.3.1. PROJEÇÃO DA MISSÃO INSTITUCIONAL NA ÁREA E NO CURSO ......................................................... 23 1.4 PROGRAMA DE MELHORIA DA FORMAÇÃO BÁSICA DOS ESTUDANTES ............................................... 25
2. CONTEXTUALIZAÇÃO ............................................................................................................................... 29
2.1. CENÁRIO PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO DA HABILITAÇÃO JORNALISMO......................... 32 2.2. CENÁRIO PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO PARA PUBLICITÁRIOS ........................................ 37
2.3. DIFERENCIAIS DO CURSO ..................................................................................................................... 40
2.3.1. RELAÇÃO COM A EXTENSÃO E A PESQUISA ............................................................................... 42
Pesquisa ....................................................................................................................................................... 43 Extensão ....................................................................................................................................................... 50
2.4. FORMAS DE ACESSO ............................................................................................................................... 51
2.5. PERSPECTIVA INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO ..................................................................................... 52
Serviço de Orientação Inclusiva (SOI) ........................................................................................................... 54 Perspectiva Inclusiva no Curso de Comunicação Social ............................................................................... 54
3. ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ......... ................................................................. 55
3.1. CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM ......................................................................................................... 55 3.2 PRINCÍPIOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS ........................................................................................... 57 3.3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ............................................................................................................ 60 3.4 INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO .............................................................. 61 3.5 PAPEL DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA ....................................................................................................... 62
4. ATORES E FUNÇÕES ................................................................................................................................... 64
4.1. Perfil de gestão acadêmica ................................................................................................................... 65 4.2 Perfil do docente da Área ....................................................................................................................... 66 4.2.1 Formação Continuada dos Docentes da Universidade Católica de Brasília ........................................ 66 4.3.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE ................................................................................................... 67 4.3.2 Colegiado do Curso ............................................................................................................................. 68 4.4 Perfis de Colaboradores Técnico-Administrativos .................................................................................. 69 4.5. Perfil dos discentes da área .................................................................................................................. 69 4.6. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO.................................................................................................................... 70
4.7. PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL .......... ....................................................................... 74
5. RECURSOS ..................................................................................................................................................... 76
5.1. RECURSOS INSTITUCIONAIS ................................................................................................................ 76
5.1 .1Unidade de Assessoria Didático-Administrativo – UADA .................................................................... 77 5.1.2 Unidade de Assessoria Didático-Educacional - UADE ........................................................................ 78 5.1.3 Informações Sobre o Sistema de Bibliotecas da Universidade Católica de Brasília ............................ 79
5.2. RECURSOS ESPECÍFICOS DO CURSO ................................................................................................. 82
4
5.2. 1. Centro de Rádio e Televisão – CRTV .................................................................................................. 83 5.2. 2. Laboratório de Televisão ................................................................................................................... 84 5.2. 3. Laboratório de Rádio ......................................................................................................................... 84 5.2. 4. Laboratório de Produção Gráfica – Casa da Mão ............................................................................. 85 5.2. 5. Estúdio Fotográfico ........................................................................................................................... 85 5.2. 6. Núcleo de Fotografia Captura ........................................................................................................... 87 5.2. 7. Núcleo de Estudos de Comunicação na América Latina .................................................................... 88 5.2. 8. Jornal-Laboratório – Artefato ........................................................................................................... 89 5.2. 9. Oficina de Produção de Notícias ....................................................................................................... 91 5.2. 10. Matriz Comunicação – Agência Júnior do Curso de Comunicação Social ....................................... 92 5.3 Laboratórios de Informática .................................................................................................................. 94
6. MATRIZ CURRICULAR .............................................................................................................................. 94
6. 1. OBJETIVOS DE FORMAÇÃO GERAL E ESPECÍFICOS ............................................................................... 94 6.2. FLUXO DAS DISCIPLINAS E ESTRUTURA DA MATRIZ CURRICULAR ........................................................ 98 6.2.1 Grade Curricular da Habilitação Jornalismo – Currículo 1552 (matutino e noturno)........................ 100 6.2.2 Grade Curricular da Habilitação Publicidade e Propaganda – Currículo 1553 (matutino e noturno)124 Habilitação em Publicidade e Propaganda – Currículo 1553 (matutino e noturno) .................................. 126 6.3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES ........................................................................................................ 147 6.4. DINÂMICA DO TCC .............................................................................................................................. 148 6.5. ESTÁGIO .............................................................................................................................................. 149
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................................................... 151
ANEXOS ............................................................................................................................................................ 152
5
1. HISTÓRICO
1.1. HISTÓRICO INSTITUCIONAL
A história traz, em si, a presença da memória individual e coletiva dos sujeitos e fatos
que a constituem. O registro e a sistematização factual induzem a análises que necessitam
do contexto particular e geral onde os fenômenos se manifestam. Esse é o princípio que
norteia a história da UCB quanto às suas opções metodológicas e pedagógicas.
A decisão política de Juscelino Kubitschek em construir Brasília nos anos de 1955/56
promoveu a expansão econômica e a interiorização regional do país na direção do Centro-
Oeste, Norte e Nordeste brasileiros. As conjunturas históricas do Brasil nas décadas de
1960/70 possibilitaram um franco desenvolvimento urbano de Brasília e do entorno, o que
foi determinante para criação da Universidade Católica na nova capital. Essa criação deve-se
a um grupo de diretores de colégios religiosos da jovem cidade.
Os idealizadores da futura Universidade Católica de Brasília tomaram iniciativas no
sentido de unir propósitos de dez entidades educativas católicas que se desdobraram em
atividades e fundaram, em primeiro lugar, a Mantenedora e, a curto prazo, uma instituição
que seria a primeira unidade de ensino.
A fundação da União Brasiliense de Educação e Cultura – UBEC – se deu no dia 12 de
agosto de 1972, como uma sociedade civil de direito privado e objetivos educacionais,
assistenciais, filantrópicos e sem fins lucrativos. Instituída a UBEC, iniciou-se o processo de
criar a primeira unidade, a Faculdade Católica de Ciências Humanas – FCCH. Os jornais
realçavam a importância de Taguatinga em relação ao desenvolvimento e crescimento
populacional e à dificuldade que os jovens possuíam para fazerem seus cursos superiores em
razão da distância do Plano Piloto, onde se encontravam a Universidade de Brasília - UnB e
outras Faculdades Particulares: a AEUDF, o CEUB e a UPIS. Sediada no Plano Piloto de
Brasília, a nova Faculdade teve inicio em 12 de março de 1974, com os cursos de Economia,
de Administração de Empresas1 e com o curso de Pedagogia ministrado na Cidade Satélite
de Taguatinga, por razões de espaço físico2.
1 Diário Oficial, Ano CXII, nº 100, Capital Federal, 28/05/1974. 2 Decreto nº 73.813, assinado pelo Presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. O decreto nº 73.813 foi reafirmado com o de nº 74.108 de 27 de maio de 1974 e assinado pelo novo Presidente da República Ernesto Geisel cujo artigo 1º definia a autorização do funcionamento da Faculdade Católica de Ciências Humanas, mantida pela União Brasiliense de Educação e Cultura—UBEC.
6
Os cursos criados deveriam, então, ser ministrados de maneira a atrair os interesses
da população, com aulas no horário noturno, modelo de ensino especificamente
desenvolvido para os discentes que, em sua maioria, trabalhavam durante o dia e
dispunham apenas da noite para atividades acadêmicas. A Metodologia de Ensino da
Faculdade foi definida a partir do Curso de Introdução aos Estudos Universitários - IEU, onde
os estudantes recebiam as informações sobre o ensino superior e o funcionamento da
Instituição. Havia uma exigência de que a organização de conteúdos e as aulas fossem feitas
por trabalho em equipes de educadores, para cada disciplina, no início de cada semestre.
Material instrucional era distribuído aos estudantes, o que acabou resultando no Banco do
Livro e no IEU para os matriculados no básico. Todas as equipes de educadores atuavam de
acordo com as propostas metodológicas definidas para a FCCH, reforçados por um trabalho
de formação dirigido aos educadores, instituindo-se o Curso de Formação de Educador
Universitário.
Em 8 de agosto de 1980 foi realizada uma alteração nos Estatutos e Regimentos da
UBEC e FCCH, em razão de novas realidades conjunturais, permitindo que a instituição se
organizasse em uma estrutura de ensino mais coerente e adequada à sua própria expansão.
Ocorreu, então, a instalação das Faculdades Integradas da Católica de Brasília – FICB3,
reunindo a Faculdade Católica de Ciências Humanas, a Faculdade Católica de Tecnologia e a
Faculdade (Centro) de Educação4.
Os cursos de licenciatura que foram autorizados pelo CFE eram frutos de uma longa
etapa de escutar a sociedade brasiliense, considerando o interesse despertado no mercado,
a atenção constante da Direção, que avaliava as necessidades da comunidade de Brasília e
do seu entorno e, principalmente, de Taguatinga, reforçando, assim, a opção pelas
licenciaturas. A Católica priorizou as iniciativas de cursos na área de educação, capacitação
docente da Fundação Educacional do DF e graduação na área de ciência e tecnologia,
levando-se em conta o conhecimento, experiências históricas e proposições das FICB nessa
área. A criação da Faculdade Católica de Tecnologia, que reunia os cursos de Ciências
(Matemática, Física, Química e Biologia) e o Curso Superior de Tecnologia em
Processamento de Dados, evidenciava a expansão do processo de informatização em todos
3 De acordo com o Parecer nº 273/81 do antigo Conselho Federal de Educação – CFE. 4 Regimento das Faculdades Integradas da Católica de Brasília, 1981-1984.
7
os setores empresariais, inclusive a própria implantação do sistema de controle acadêmico
por computação, na Católica. A Faculdade Católica de Ciências Humanas continuava
oferecendo os cursos de Administração de Empresas e de Economia, compatibilizando a
grade curricular com proposta do MEC/SESU e do Conselho Federal de Técnicos de
Administração – CFTA. Os cursos deveriam estar alinhados em conhecimentos e habilidades
em relação à oferta de empregos nas áreas de atuação do administrador e atitudes
profissionais sustentadas pela ética.
A disposição pedagógica das FICB organizou-se em Departamentos Acadêmicos,
racionalizando os trabalhos dos professores e criando oportunidades de integração
professor/estudante. Programas foram desenvolvidos para melhorar o convívio entre as
pessoas e foram elaboradas propostas de trabalhos que reunissem conjuntos de estudantes
de diferentes cursos, diferentes ocupações profissionais e diferentes professores. O objetivo
era melhorar as condições para que a Instituição se desenvolvesse de maneira global, em
lugar de enfatizar o desenvolvimento parcial e unitário.
Em 12 de março de 1985, o Campus I da Católica de Brasília foi inaugurado, em
Taguatinga, com o primeiro prédio, hoje denominado de Prédio São João Batista de La Salle.
A expansão das FICB era inquestionável, confirmando as possibilidades de trabalhos cujos
objetivos, diretrizes de ação e metas a serem alcançadas visavam à elaboração do Projeto
para o reconhecimento das FICB em Universidade Católica de Brasília.A cidade de
Taguatinga, um local estratégico, foi inaugurada em 05 de junho de 1958. Essa cidade
cresceu, a 25 km do Plano Piloto, e tornou-se um polo econômico, com avenidas que se
tornaram referência na cidade, altos prédios e uma população hoje, estimada em
aproximadamente 300.000 habitantes. Sua expansão liga-se à própria condição de Brasília
ser um espaço geopolítico que atraiu a “gente brasileira” com todos os seus conflitos sociais.
O espaço geográfico do Campus I da Católica, com suas edificações, acabou se
transformando em um ponto de convergência populacional, com pessoas do Plano Piloto,
Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Taguatinga, Guará, Gama, Ceilândia, Samambaia,
Brazlândia, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo. Os vários cursos criados
atendiam à demanda de uma população que buscava a formação acadêmica como forma de
ascensão social, pessoal e profissional.
A partir de 1988/89, a Direção Geral das FICB, com administração dinâmica,
renovando atitudes, acelerou as condições para o futuro reconhecimento em Universidade.
8
Um dos principais objetivos dessa direção foi, exatamente, o desenrolar do processo para o
reconhecimento, junto ao Conselho Federal de Educação. Os 17 cursos oferecidos estavam
reunidos na Faculdade de Educação, Faculdade de Tecnologia, Faculdade de Ciências Sociais,
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mais os cursos de especialização e mestrado da
Pós-Graduação.
Depois de intenso trabalho, ao longo de dois anos, o Ministro de Estado da Educação
e do Desporto assinou a Portaria de Reconhecimento das FICB como Universidade Católica
de Brasília – UCB, em 28 de dezembro de 1994, com sede na Cidade de Taguatinga (DF). No
dia 23 de março de 1995 ela foi oficialmente instalada em seu Campus I. Iniciava-se a
primeira gestão universitária da UCB de acordo com o que estava sendo definido nos Planos
de Ação e no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. Nesse mesmo ano foi
desenvolvida uma metodologia específica para elaboração de Planos de Ação, os “PAs
Anuais”. O objetivo geral dessa metodologia era permitir a elaboração, o acompanhamento
e a avaliação dos Planos Anuais - planejamento setorial/operacional - da Universidade,
devidamente vinculado ao PDI. Os PAs passaram a ser planejados, executados e avaliados,
anualmente, considerando a acelerada expansão dos núcleos urbanos próximos à posição
geográfica da UCB.
A segunda Gestão Universitária iniciou-se em 23 de março de 1999 e confirmou as
atitudes tomadas anteriormente, ampliando e expandindo os cursos de graduação e pós-
graduação para as áreas mais demandadas pela sociedade e entidades de classe da época.
Preocupou-se, sobremaneira, com a Pós-Graduação, com a Pesquisa e a Extensão e
redefiniu-se o corpo docente, contratando mestres e doutores em tempo integral.
Programas e projetos de extensão marcaram a presença da Universidade na comunidade de
Brasília, Águas Claras e Taguatinga e o avanço do Ensino a Distância teve agregado a sua
projeção o Curso “Aprendizagem Cooperativa e Tecnologia Educacional na Universidade em
Estilo Salesiano”.
Até o ano de 2000, a Coordenação de Planejamento criou e implantou,
prioritariamente, o Plano Estratégico, em um horizonte que ia de 2002 a 2010. Nesse plano
está estabelecida a Missão, a Visão de Futuro, os objetivos e as estratégias da UCB para o
período. Implantou-se o Sistema de Planejamento – SISPLAN - que permitiu a elaboração, o
acompanhamento e a avaliação dos PAs, de forma on-line, totalmente automatizado. A
9
orientação básica desse sistema era de acompanhar e avaliar tanto os PAs quanto o Plano
Estratégico.
Em 23 de março de 2003, uma nova equipe assumiu a terceira Gestão Universitária,
com vistas à sustentação do patrimônio universitário e com uma proposta de trabalhar,
cooperativamente, visando manter alguns projetos já delimitados pelas gestões anteriores e
implementar o Projeto de Realinhamento Organizacional, o Projeto de Gestão Acadêmica e
o Projeto Identidade. Os rumos tomados visavam satisfazer às necessidades dos cursos
relacionados à estrutura de Centro de Educação e Humanidades, Centro de Ciências da Vida,
Centro de Ciência e Tecnologia e Centro de Ciências Sociais Aplicadas – que abrangiam um
total de 92 Cursos oferecidos pela Graduação, Ensino à Distância e Pós-Graduação, além dos
programas e projetos de pesquisas da Extensão. As avaliações institucionais e de curso,
realizadas durante esse período, atestaram a excelência da educação superior realizada na
UCB, bem como a indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão.
Em continuidade às avaliações positivas da UCB, a quarta Gestão Universitária
assumiu em 31 de Janeiro de 2007 com o propósito de se tornar uma instituição de
referência na extensão, na pesquisa e no ensino, indissociáveis e comprometidos com o
desenvolvimento sustentável e a justiça social. Uma reorganização estrutural interna da
Universidade foi necessária, nesse sentido o processo de ensino oferecido pela UCB, foi
revisado a partir das Diretrizes para o Ensino Superior, definidas pelo Conselho Nacional de
Educação, além de ser analisado o mercado e as ofertas de curso nas diversas instituições da
região.
Essa gestão baseou seu trabalho em quatro princípios: o de promover a
indissociabilidade, a extensionalidade, a sustentabilidade e a pastoralidade da Universidade;
Elegeu a Qualidade de Gestão, sustentada no processo ensino aprendizagem, na convivência
saudável e nas qualificações profissionais como meta a ser atingida; Entendeu como
importante a Docência com Convivência, onde prevaleceu a investigação, a transferência do
aprendizado e a extensionalidade; voltados para uma Comunidade Educativa onde se
expressou a fraternidade, a solidariedade, o valor do espírito humano e a ética.
Nesse sentido a PRPG promoveu um trabalho de reformulação de todos os projetos
pedagógicos dos cursos de graduação, instituiu o programa de melhoria da formação
discente e o programa de formação docente; a Pró-Reitoria de Extensão se dedicou a uma
proposta de re-estruturação da Extensão. Elaborou as Diretrizes de Extensão, e com isso
10
definiu categorias de extensão, entre elas, a que estimula os cursos de graduação a
responsabilidade de elaboração, execução e acompanhamento de projetos de extensão.A
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa se empenhou na manutenção da qualidade da
pesquisa e criação de novos programas stricto e latus senso, além de alavancarem o
processo de construção do Parque Tecnológico de Inovação da UCB. O crescimento da
Católica Virtual, merece destaque nesta gestão. Em relação à parte administrativa a
instituição passou por um período de readequação do quadro docente e administrativo da
casa.
A história da UCB está atrelada à história de Brasília, o Projeto Pedagógico da UCB
não perde de vista as contradições dos sistemas políticos e econômicos da atualidade e luta
com as próprias dificuldades internas, na ânsia de vencer as crises e sustentar seu espaço
físico e de produção científica, cultural e de intervenção social no quadro da realidade
nacional e regional do Brasil.
1.2. HISTÓRICO DO CURSO
1.2.1 Percurso e desafios do Ensino em Comunicação no Brasil
O ensino da Comunicação no Brasil já tem mais de 60 anos de existência. Iniciou-se
em 1947, com a criação do primeiro curso de Jornalismo, mantido pela Faculdade Cásper
Líbero, em São Paulo. Possuía duas características que, de resto, marcariam os outros cursos
criados até a década de 1960. Buscava proporcionar uma formação humanística,
influenciado por uma orientação de inspiração européia. Até o final da década de 1960,
havia 10 cursos em funcionamento em todo o País.
O período que se seguiu seria marcado por profundas transformações no sistema de
ensino, em particular a partir da segunda metade da década de 1960. Influenciado pelo novo
modelo de crescimento e modernização implantado, neste momento, no país, o sistema de
ensino de Comunicação sofre profunda mudança. Expande-se com rapidez, aumentando o
número de escolas. Simultaneamente, o enfoque, antes restrito ao Jornalismo, amplia-se
para outras atividades profissionais do campo da Comunicação. Esta nova orientação é
oficializada pela Resolução 11/69, do Conselho Federal de Educação. O curso passa a ser de
Comunicação Social, contemplando, além do Jornalismo, as habilitações em Relações
Públicas, Publicidade e Propaganda e Editoração. Se antes a orientação seguida pelos cursos
11
era de base humanístico-européia, agora passa a se inspirar no modelo norte-americano da
Communication Research, em que prevalecia o enfoque científico, de caráter empírico,
quantitativista, comportamentalista e funcionalista da Comunicação. No plano das técnicas
profissionais, as escolas ainda não conseguiam oferecer um ensino eficiente e de boa
qualidade.
Em 1978, o parecer (3/78) do CFE, ampliou o número de habilitações, incorporando
ao curso de Comunicação Social as habilitações em Rádio e em TV/Cinema, tendo sido
eliminada Editoração. O novo currículo do curso de Comunicação Social se organizava em
torno de três linhas de conhecimentos, visando proporcionar uma fundamentação geral
humanística, uma fundamentação específica em Comunicação e uma formação técnica.
Neste período, a influência norte-americana começa a ser contrabalançada pela influência
de novos modelos teóricos, tanto de orientação latino-americana – como o modelo cepalino
da Teoria do Desenvolvimento – quanto de origem européia – como os da Teoria Crítica e da
Semiologia.
Na década de 1970, ao lado da formação estritamente técnica para o Jornal, o Rádio
e a Televisão, o Ensino da Comunicação foi enriquecido com uma linha teórica – a Análise de
Conteúdo – que ensaiava uma decolagem para uma metodologia apropriada de análise da
mídia. A análise de conteúdo permitiu um distanciamento do puro fazer, através de uma
abordagem quantitativa da produção dos meios de comunicação, pelo modelo estatístico da
amostragem e pela classificação de temas segundo sua ocorrência. Desse modo, já era
possível um olhar sobre os produtos da mídia, assim como um esboço de uma nomenclatura
para uma fala sobre ela. A partir da Análise de Conteúdo, o Ensino da Comunicação foi sendo
enriquecido com as metodologias de análise do discurso e da imagem, estas decorrentes dos
desenvolvimentos formais das ciências da Linguagem nos anos 1970, centrados,
basicamente, nas doutrinas de Ferdinand de Saussure e de Charles Sanders Peirce,
traduzidos no Brasil entre o final dos anos sessenta e o início dos setenta do século XX.
Os Cursos de Pós-Graduação em Comunicação formaram o núcleo de disseminação
desses estudos e dessas abordagens, formais em sua base, e histórico-críticos em seu
arcabouço. De instrumentos para uma abertura da percepção e para a formação de uma
visão do conjunto da produção dos objetos de comunicação, essas abordagens tornaram-se
o principal elemento no desenvolvimento dos estudos da chamada comunicação de massa,
estendendo-se, durante os anos oitenta, no Ensino da Comunicação, através de um grande
12
número de livros, periódicos e traduções, das principais editoras brasileiras. Foi a partir
dessa divulgação de autores brasileiros e estrangeiros que a Pesquisa em Comunicação teve
o seu grande incremento e um incisivo papel junto ao Ensino: à transmissão de uma prática
da comunicação foi possível agregar um instrumental teórico, legitimado em sua diversidade
pela adoção nas Ciências Sociais de modelos transdisciplinares.
Ao longo dos anos setenta, desenvolveu-se no Brasil uma imprensa alternativa, que
correspondeu a uma reação ao autoritarismo e ao centralismo do poder político e da mídia;
e a percepção do potencial e da autonomia da sociedade civil e das comunidades. Essa
manifestação vai alimentar algumas linhas de pesquisa em comunicação nos anos oitenta.
A implantação do novo currículo, todavia, sofreu vários adiamentos e contratempos.
Um deles foi a campanha desencadeada por alguns grandes jornais contra a regulamentação
legal da profissão de jornalista, que exigia, para o seu exercício, o diploma de curso de
graduação em Comunicação – habilitação em Jornalismo. Um dos desdobramentos desta
campanha foi a proposta de extinção dos cursos em nível de graduação, levando o Conselho
Federal de Educação a formar uma comissão para estudar o assunto. As pressões contrárias
levaram o CFE a manter os cursos e a promover uma reformulação do currículo mínimo em
vigor.
O novo currículo mínimo, definido através do Parecer 480/83 e da Resolução 2/84 do
Conselho Federal de Educação – CFE, do Ministério da Educação, estabeleceu as bases do
ensino de Comunicação cujas influências perduram até hoje. As habilitações oferecidas por
esse currículo mínimo são seis: 1. Jornalismo; 2. Relações Públicas; 3. Publicidade e
Propaganda; 4. Radialismo (rádio e televisão); 5. Cinema; 6. Produção Editorial. As disciplinas
que compõem esse currículo estão organizadas em torno de um tronco comum a todas as
habilitações e de uma parte específica para cada uma das habilitações. Essas têm como
objetivo proporcionar uma formação de cultura geral e específica em Comunicação, tanto
teórica quanto prática. Refletindo a importância da redação para o exercício da profissão,
Língua Portuguesa passou a ser uma matéria obrigatória em sete semestres do Curso,
sempre com ênfase na prática de textos. Estabeleceu-se que as escolas seriam obrigadas a
manter laboratórios devidamente equipados para o ensino das disciplinas práticas.
No campo da pesquisa, a década de 1980 foi marcada pela consolidação de uma
produção acadêmica nacional, ainda que fortemente influenciada pelos referenciais teóricos
e metodológicos vigentes nas décadas anteriores. O fim do regime militar e o retorno à
13
democracia acabaram por refletir uma mudança gradual no eixo das pesquisas realizadas no
Brasil. Aos poucos, ao enfoque político e crítico dos meios de comunicação, foram sendo
incorporadas novas abordagens, como a psicanalítica, com forte ênfase nas relações entre
comunicação e imaginário, e a culturológica (influenciada pelos estudos europeus que
relacionavam cultura e hegemonia). Um campo da pesquisa que se desenvolveu muito nessa
época foi o dos estudos de recepção. Outros temas também foram despertando o interesse
dos pesquisadores da área, como a comunicação organizacional ou empresarial e a
comunicação pública.
A aproximação do final do século XX encontrou os cursos de comunicação social em
profunda transformação. A proliferação de novos cursos se dá em plena era da velocidade e
do efêmero. Isso provocou uma sensação de quebra de paradigmas, no sentido kuhniano do
termo. Só que Thomas Kuhn5 caracterizava essas quebras como revoluções, que apontavam
para uma nova síntese e uma nova ordem paradigmática. Hoje, porém, o que reina é a
complexidade e a incerteza.
Um dos fatores que têm influenciado essa percepção é o incremento desenfreado da
tecnologia. A tal ponto que alguns autores vêem no fenômeno o perigo da obsolescência do
humano e da razão. E, com ela, o questionamento de todo um sistema de ensino e de
pesquisa que caracterizava a busca do saber científico. Esse incremento tecnológico está na
origem do fenômeno da globalização que, no entender de Octavio Ianni6, em seu processo
de aceleração, modifica, também, as noções de tempo e de espaço. A velocidade crescente
que envolve as comunicações, os mercados, os fluxos de capitais e tecnologias, as trocas de
idéias e imagens, nesse final de século, impõem a dissolução de fronteiras e de barreiras
protecionistas. Em todo momento, são estabelecidos tensos diálogos entre o local e o global,
a homogeneidade e a diversidade, o real e o virtual. A globalização e a regionalização em
blocos econômicos impõem uma nova forma de controle do Estado. No Brasil, essa mudança
já é presenciada: de um Estado que tudo controlava, passamos a um Estado que ainda
procura manter controle sobre algumas atividades, mas busca fazê-lo em parceria com
organizações privadas e com segmentos da sociedade.
5 KUHN, Thomas - A estrutura das revoluções científicas. 2ª. Edição. São Paulo: Perspectiva, 1978. 6 IANNI, Octavio - Teorias da Globalização - 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.
14
No campo do ensino, essa nova forma de controle já está dada: orientação para
resultados e para a qualidade. O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, do qual o
Exame Nacional de Cursos foi a parte mais visível, previa a análise de três aspectos essenciais
no ensino: 1. o rendimento dos estudantes; 2. a capacitação e o mérito dos docentes; 3. a
qualidade da instituição como um todo. A diferença deste sistema de avaliação é que está
diretamente vinculado ao processo de credenciamento e recredenciamento das instituições
junto ao MEC.
O desenvolvimento tecnológico cria, também, novas mídias e novas formas de
comunicação. Agora, como nunca, vislumbra-se a possibilidade da interação e o
fortalecimento do poder de quem antes apenas recebia a produção cultural. Hoje, como
afirma Lucien Sfez7, todos emitem e estabelecem novas relações com as mídias e com as
instituições sociais. Cabos óticos, satélites, redes, computadores, celulares, iPods, entre
outros, apontam para novas formas de fazer comunicação. Essas alterações tecnológicas
certamente devem influenciar uma nova forma de aprender a fazer comunicação.
É uma lógica hipermoderna, na qual é preciso ser mais que moderno, mais que jovem
e estar mais que na moda para poder acompanhar a velocidade do mundo. Em tal contexto
há uma intensificação da lógica tecnocientífica, via clonagem, biotecnologia, conquista do
espaço, aliada a uma retomada dos debates em torno dos direitos humanos, em um cenário
dominado pela ideologia do mercado global.
Podemos afirmar, então, que os currículos dos cursos de Comunicação, classicamente
divididos entre um saber teórico básico e um saber prático tecnicista, encontram-se em
crise. Porque já não atendem às necessidades de saber desse novo mundo. Ainda hoje,
formam-se profissionais de jornalismo, publicidade ou relações públicas com o mesmo
enfoque tradicional de formação de mão-de-obra. Em muitos casos, treinam-se os
estudantes para reproduzirem informação, quando o mundo está exigindo tradutores e
intérpretes nessa verdadeira babel de dados e empreendedores sociais.
A velha fórmula de formação de técnicos para o mercado de trabalho já não se
justifica, porque o próprio mercado de trabalho está em mutação. Presenciamos, hoje, um
processo de forte concentração econômica na chamada indústria da mídia (jornais, rádios,
7 SFEZ, Lucien - Crítica da Comunicação - São Paulo: Ed. Loyola, 1994.
15
TV, cinema, vídeo, telecomunicações etc.), com a conseqüente redução da demanda por
profissionais nas redações e nas agências. No Brasil, particularmente, os grandes grupos de
comunicação encontram-se em crise financeira que vem precipitando, no campo do
jornalismo e do entretenimento, a abertura ao capital externo. Em contrapartida, vemos a
abertura de infinitas novas possibilidades em outros campos ainda pouco explorados, como
a comunicação pública, que engloba não somente as novas formas de ação do Estado, como
toda uma área ligada ao terceiro setor (não governamental e apoiado na sociedade civil
organizada) que agora se profissionaliza. Nesse segmento, é possível vislumbrar um campo
fértil para a inserção social da Universidade na sua região de influência, não somente na
formação do profissional que aqui atuará, mas também como agente de transformação,
como agente de educação para a leitura da mídia, no sentido de intervir para a emancipação
simbólica da população que aqui vive.
Há, ainda, o incremento da procura por profissionais com visão sistêmica e
estratégica, para apoiar as ações de comunicação de organizações e atuar na gestão de
processos comunicacionais e culturais nos mais variados campos. Sem falar na crescente
aproximação com o marketing e a administração.
Outro segmento que ganha força é o incremento das técnicas de comunicação como
instrumentos de apoio à educação. As novas tecnologias possibilitam uma maior
interatividade no ensino, fazendo aparecer novas formas de educação – à distância, via
Internet e por meio de teleconferências –, exigindo dos docentes maior qualificação e
domínio dos recursos multimídia. Com as novas técnicas e as novas competências, é possível
vislumbrar a emergência da universidade virtual.
Assistimos, também, ao surgimento de novas profissões que, embora não
regulamentadas, devem ser inseridas no elenco curricular, como forma dos cursos
universitários manterem um diálogo constante com as comunidades onde se inserem, na
busca de atender às crescentes demandas sociais.
As novas competências profissionais, como vimos, extrapolam os limites do saber
técnico. Exige-se, cada vez mais, uma postura de pensador, de aprendiz, de alguém que é
capaz de compreender as múltiplas facetas de um fenômeno e interferir sobre elas, com
comprometimento social. Cobra-se dos novos profissionais uma abertura ao novo e aos
domínios de um saber plural. E, para isso, os currículos devem contemplar uma flexibilidade
tal que possam ser adaptados constantemente, de forma a superar a chamada crise do
16
ensino e a aversão dos estudantes aos métodos ultrapassados da transmissão unilateral do
conhecimento.
Os currículos tendem a apontar para o tratamento de novos enfoques teóricos,
ancorados na multidisciplinaridade e na flexibilidade, que não podem se resumir à simples
sucessão de disciplinas. Ao contrário, devem ampliar o diálogo entre as várias disciplinas,
como forma de atribuir algum sentido ao denominado campo da Comunicação, por si só, ao
mesmo tempo interdisciplinar e específico. Esse diálogo tende a englobar não somente os
conteúdos como também os processos de avaliação e de reflexão pedagógica.
Uma leitura atenta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, instituída pela Lei n.º
9.394, de 20 de dezembro de 1996, permite concluir que a descentralização e a autonomia
para as escolas e universidades, com a instituição de um processo regular de avaliação do
ensino, constituem um caminho sem volta. Os cursos de Comunicação Social encontram-se,
portanto, diante do desafio de se adaptarem não apenas ao novo contexto de flexibilização
dos currículos, respeitadas as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação, mas também,
e principalmente, às novas demandas sociais por um saber crítico, criativo e, sobretudo,
ético.
As Diretrizes Curriculares para a área de Comunicação Social e suas habilitações,
encaminhadas ao MEC em julho de 1999, homologadas pela Resolução nº 16, de 13 de
Março de 2002, e publicadas no DOU de 09.04.2002, reafirmam essa tendência para a
integração e para a multidisciplinaridade.
1.2.2 A trajetória do Curso de Comunicação Social da UCB
O Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Brasília foi planejado
tendo como pressuposto o Projeto de Credenciamento da Universidade, encaminhado ao
MEC, em janeiro de 1990, pela UBEC – União Brasiliense de Educação e Cultura. Nesse
documento, a educação é entendida como o desenvolvimento da liberdade e da
solidariedade humanas, pelo cultivo de valores que dignificam o homem na medida em que
aprende a ser livre, aprende a escolher, o que escolher, como agir consigo mesmo e em
relação aos seus semelhantes.
Com a transformação das Faculdades Integradas da Católica de Brasília – FICBS em
Universidade, no final do ano de 1994, desencadeou-se um acelerado processo de
crescimento. Nessa época, houve expansão tanto da sua estrutura física, como de seus
17
cursos, em razão da necessidade de atender à demanda por oportunidades de acesso ao
ensino superior. Portanto, a criação do Curso de Comunicação Social deu-se em
cumprimento a uma das metas, então estabelecidas, no Plano de Expansão, para o período
1995-1999.
Em outubro de 1995, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE aprovou
a proposta de criação do Curso e, em novembro do mesmo ano, o Conselho Universitário –
CONSUN efetivou a criação do Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de
Brasília – UCB. Os argumentos apresentados pelo CONSEPE fundamentavam-se em aspectos
operacionais e vocacionais. Já havia, à época, comprovada procura pelos cursos de
Comunicação em Brasília, e se configurava a expectativa de que a UCB "viesse a oferecer
uma oportunidade a um número significativo de jovens, desejosos de ingressar numa área
bastante promissora" (parecer do CONSEPE n.º 17/95). A localização estratégica da
Universidade, em um pólo regional de crescente importância social, econômica e política,
representava um fator de êxito para o empreendimento.
Por outro lado, a Comunicação Social se constituía em tema especialmente afinado
com a vocação da Universidade como instituição confessional de ensino. Com efeito, desde
o Concílio Vaticano II, em 1963, a Igreja Católica, segundo Marques de Melo, "transita de
uma posição de intolerância, em relação à imprensa, para assumir uma postura de
libertação, defendendo não apenas o direito formal de expressão, mas também o direito
social à informação" 8. Nesse contexto, Ismar Soares nos lembra de que:
em contraposição às expressões comunicação de massa ou comunicação coletiva, largamente utilizadas nos compêndios, pesquisas e revistas dedicadas ao tema na década de 60, a Igreja Católica, em seu documento conciliar sobre os veículos de comunicação, Inter Mirifica, publicado em 1963, fala em meios de comunicação
social".9
A partir de então, essa perspectiva, juntamente com essa expressão, tornam-se de
uso geral, denominação de Cursos de Comunicação Social em instituições de ensino
Católicas e em escolas não confessionais.
8 MARQUES DE MELO, José. Prefácio. In: SOARES, Ismar de Oliveira. Do Santo Ofício à Libertação: o discurso e a prática do Vaticano e da Igreja Católica no Brasil sobre a comunicação social. São Paulo: Paulinas, 1988. 9 SOARES, Ismar de Oliveira. Comunicação Social. In: Temas Básicos em Comunicação. São Paulo: Intercom/Paulinas, 1983.
18
Assim, a razão mais profunda da UCB para a criação do novo Curso de Comunicação
Social, era "servir à comunidade em que se acha inserida [a Universidade] e formar
profissionais tecnicamente capacitados e eticamente orientados"10, considerando que a
instituição não poderia omitir-se, "em se tratando de um campo profissional onde a
competência e, sobretudo, a ética, se revestem de particular importância"11 e, que "a
imprensa nas suas diferentes formas, assim como os mecanismos da publicidade, são, sem
dúvida, fatores de suma importância na construção de uma sociedade mais justa e mais
fraterna"12.
A UCB pretendia, pois, "oferecer um Curso de Comunicação Social que trabalha este
perfil específico que a caracteriza na certeza de que prestará um serviço de grande
significação à comunidade do DF e ao país"13. Esse propósito mantém-se ao longo do
processo de expansão e consolidação da Universidade Católica de Brasília e é reafirmado
quando se define que sua “missão é atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento
integral da pessoa humana e da sociedade”14.
O Curso de Comunicação Social da UCB foi aberto no primeiro semestre de 1996. Sua
Matriz Currícular engloba as Habilitações em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda. Foi,
originalmente, elaborado de acordo com a Resolução n.º 2/84, do Conselho Federal de
Educação – CFE, do Ministério da Educação. Fundamenta-se na filosofia de ensino da
Universidade Católica de Brasília, em consonância com as novas tendências científicas e
tecnológicas, além das demandas decorrentes das transformações do mercado de trabalho,
no campo da Comunicação.
O Curso tem suas bases legais de funcionamento definidas em dois documentos
firmados em 1995:
Parecer n.º 17/95, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UCB - CONSEPE (31
de outubro de 1995) - aprova a proposta de criação do Curso;
Resolução n.º 17/95, do Conselho Universitário da UCB - CONSUN (28 de novembro
de 1995) - cria o Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Brasília - UCB.
10 Parecer n. º 17/95, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UCB - CONSEPE . op. cit. 11 Idem. 12 Ibidem. 13 Ibidem. 14 Ibidem.
19
A habilitação em Jornalismo foi reconhecida pelo Ministério da Educação pela
Portaria Ministerial n. 2.108, de 01/10/2001, publicada no D.O.U., em 03/10/2001. O
reconhecimento foi renovado em 2004, pela Portaria Nº 4.237, 22 de Dezembro de 2004 de
Renovação de Reconhecimento do Curso Comunicação Social, por mais cinco anos, após o
curso ser avaliado por Comissão do MEC e obtido conceito CMB em todos os quesitos.
A habilitação em Publicidade e Propaganda foi reconhecida pelo MEC pela Portaria
Ministerial n. 526, de 27/02/2002, publicada no D.O.U., em 28/02/2002. Em 2007, passou
por nova avaliação para renovação do reconhecimento e obteve aprovação.
Os instrumentos orientadores do Curso, e norteadores deste Projeto Pedagógico, vão
desde as diretrizes nacionais para os cursos universitários e para o ensino da Comunicação
Social, até as definições administrativas e pedagógicas da Universidade Católica de Brasília.
A legislação federal refere-se à área de atuação do Ministério da Educação e seus
órgãos especialmente voltados ao ensino superior: a Secretaria de Ensino Superior – SESU e
o Conselho Nacional de Educação. No âmbito da Universidade, o Projeto Pedagógico do
Curso de Comunicação Social e as atividades a ele inerentes são desenvolvidos a partir de
um Plano de Ação, elaborado a cada ano, e tem como referência o Planejamento Estratégico
da Universidade.
O Plano de Ação corresponde ao planejamento operacional do Curso, sendo formado
por Projetos que estão vinculados ao Plano Estratégico e ao Projeto Pedagógico Institucional
da Universidade Católica de Brasília. Esse Plano de Ação permite a visão de curto prazo no
período de um ano e orienta a formulação do orçamento.
Os documentos norteadores do Curso de Comunicação Social da UCB são:
Plano Estratégico da Universidade Católica de Brasília (PE/UCB), que explicita a
Missão e os Fins da Universidade, bem como sua Visão de Futuro, e projeta metas
para o período de 1999 a 2012.
Projeto Pedagógico Institucional da Universidade Católica de Brasília – que apresenta
as diretrizes norteadoras das ações da UCB e os ideais que fundamentam sua
proposta;
Plano de Ação e Orçamento do Curso de Comunicação Social.
A primeira turma de profissionais da Comunicação formados pela UCB concluiu sua
Graduação em agosto de 2000, já contando com uma boa estrutura de laboratórios – como
20
o Centro de Rádio e Televisão (CRTV), laboratórios e espaços de ensino-aprendizagem
específicos – como a Matriz Comunicação, a Casa da Mão e a OPN (Oficina de Produção de
Notícias). Nos anos seguintes, foram sendo adquiridos mais equipamentos, desde câmeras
fotográficas digitais a ilhas de edição não-lineares; o Estúdio Fotográfico foi implantado em
2006, com o intuito de atender às demandas de disciplinas como Introdução à Fotografia,
Fotojornalismo I e II, Foto Publicitária, bem como da disciplina Projetos Experimentais e de
trabalhos de cobertura fotográfica de eventos como a Semana Universitária. Desde 2005, já
funcionava como projeto laboratorial o Núcleo de Fotografia Captura. No que dizia respeito
à Semana Universitária, evento que marcou época na Universidade até 2006, o curso sempre
teve participação efetiva, por exemplo: no planejamento do evento – sempre havia pelo
menos um educador para integrar o comitê gestor do evento; na divulgação – a agência
Matriz foi responsável pela criação de campanhas publicitárias; e na realização de cobertura
– a OPN formou equipes de estudantes e educadores orientadores para noticiar as
atividades da Semana, com produção de jornal diário e de cobertura via internet. Portanto,
os equipamentos e espaços conquistados beneficiam não apenas o curso, mas a
Universidade como um todo.
O curso também tem conquistado importantes prêmios em eventos como: o
Festrádio Transamérica, que tem sempre um estudante do curso entre os cinco vencedores
de cada ano; o Festival do Minuto; e a Intercom – nas modalidades iniciação científica e
trabalhos experimentais que já contou com estudantes do curso entre os vencedores. Os
trabalhos premiados contaram com a orientação de educadores do curso ou resultaram do
aprendizado nas disciplinas ou em atividades desenvolvidas em núcleos de estudo, projetos
de pesquisa, estágios, monitorias ou orientações diversas. O curso também foi premiado
com o Prêmio Engenho de Comunicação em 2008, principalmente pela experiência de
coberturas nacionais e internacionais. Em outubro de 2009, a habilitação em Jornalismo foi
escolhida a melhor do Centro-Oeste e a terceira melhor do País em ranking montado pela
Revista Imprensa. Desde 2003, o curso também é bem avaliado pelo Guia do Estudante, da
Editora Abril. Em 2009 e em 2010, essa avaliação contemplou as habilitações Jornalismo e de
Publicidade e Propaganda com 4 (quatro) estrelas.
Entre 2004 e 2006, o curso de comunicação foi responsável pela Comunicação
Organizacional e pelo Marketing da UCB. Vários docentes e discentes participaram da
21
experiência. A Agência Matriz foi a principal agência da Universidade, quando desenvolveu
campanhas institucionais e de vestibulares.
Ainda na década de 1990, iniciou-se a tradição de coberturas multimídia, com a
cobertura do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Em 2000, o curso enviou professores,
estudantes e técnicos para a cobertura dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Sydney na
Austrália, com apoio institucional da UCB e de parceiros. Em 2000, também foi feita a
cobertura dos eventos dos 500 anos do Descobrimento, em Porto Seguro. Em 2003,
cobriram-se os Jogos Panamericanos de Santo Domingo. Em 2004, o Projeto Atenas,
autossustentável e com apoio institucional da UCB e de parceiros da imprensa, cobriu os
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Atenas, com a participação de docentes e estudantes.
Também foram feitas coberturas dos Jogos Indígenas de Palmas, de Porto Seguro e de
Recife. Em 2008, o Projeto Pequim enviou professores e estudantes a Pequim para cobertura
das Olimpíadas e Paraolimpíadas.
Por de meio de uma parceria com a Rede Vida de Televisão establecida em 2009, o
curso desenvolve o projeto Uma Agenda Positiva da Política, com a cobertura jornalistica
diária das ações políticas, projetos e propostas de emendas no Congresso Nacional. Também
são cobertos jornalisticamente outros temas que não despertam interesse da grande mídia,
com um foco 'positivo'. Atentos a formação do futuro profissional, são propostas atividades
que estão em consonância com as perspectivas do cotidiano profissional como a série de
reportagens sobre as eleições presidenciais e sobre o debate entre os presidenciáveis
ocorrido no campus I da UCB e a primeira série de reportagens especiais do JV, sobre a
Amazônia.
Outro aspecto importante da história do curso é o caminho para a pesquisa, para a
extensão e para a pós-graduação.
Em 1999, a pesquisa e a iniciação científica começaram com a parceria com a UnB no
Projeto SOS Imprensa. Em 2001, abriu-se a primeira pós-graduação derivada do curso de
graduação, com o MBA Gestão da Comunicação nas Organizações que já formou 10 turmas
até 2009. Em 2002, registrou-se o primeiro Grupo de Pesquisa no CNPQ – Grupo de Pesquisa
Comunicação, Cultura e Cidadania. Em 2005, montou-se o Grupo de Pesquisa Epistemologia
da Comunicação e Comunicação-Razão-Poesia. Em 2008, um novo grupo se consolidou junto
ao CNPq: Grupo de Estudos Avançados em Comunicação Mediática e Organizacional. Dos
projetos de pesquisa, dois obtiveram apoio via Edital Universal do CNPq: A comunicação da
22
história/na história: análise editorial e mercadológica de periódicos e Ouvidoria-Mídia
organizacional.
A consolidação da pesquisa contribuiu para a formação da massa crítica e para o
aumento da produção docente que permitiram a abertura do Mestrado em Comunicação,
homologado pela CAPES em 2008.
Até junho de 2009, o Curso contava com aproximadamente 1100 egressos, entre
jornalistas e publicitários.
1.3. PROJEÇÃO DA MISSÃO INSTITUCIONAL
O compromisso da UCB em elevar o nível humanístico e técnico dos profissionais
brasileiros está presente em sua Missão: “atuar solidária e efetivamente para o
desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade, por meio da geração e
comunhão do saber, comprometida com a qualidade e os valores éticos e cristãos, na busca
da verdade”. Nesse sentido, a Instituição não quer formar apenas profissionais, mas
cidadãos que contribuam para o desenvolvimento do país em todos os níveis, conforme
expresso na Carta de Princípios, de 1998, marco referencial para diversos outros
documentos elaborados posteriormente: os Projetos Pedagógicos dos Cursos, os Planos
Estratégicos, o Projeto Pedagógico Institucional e a elaboração de sua Missão e Visão de
Futuro. A Carta de Princípios afirma que “a UCB lê a realidade do contexto em que se
encontra e orienta a sua existência à luz da prática educativa dos fundadores das
congregações religiosas integrantes da UBEC, privilegiando:
a catolicidade como abertura ao diálogo;
a cidadania como compromisso de integração social;
a competência em todo o seu agir”15.
A área de Ciências Sociais Aplicadas (CSA), à qual se vinculam os programas
(graduação e pós-graduação lato e stricto sensu) em Administração, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Relações Internacionais e Serviço Social,
caracteriza-se pela formação de profissionais que lidarão com a complexidade de uma
15 Cf. Carta de Princípios. Universa: Brasília, 1998, p. 1.
23
sociedade em transformação e dinâmica. Exige agilidade, habilidade para lidar com crises e
solucionar problemas, competência de negociação, percepção de vários públicos e ausência
de respostas prontas e fechadas. Regida pelos princípios e valores da missão da UCB, busca,
para além da formação profissional voltada ao mercado de trabalho, atender a demandas e
necessidades da sociedade, que cada vez mais exige cidadãos bem informados, éticos,
atualizados e abertos à educação continuada.
1.3.1. PROJEÇÃO DA MISSÃO INSTITUCIONAL NA ÁREA E NO CURSO
Quando a Instituição reconhece como sua missão o desenvolvimento integral da
pessoa e da sociedade, e estabelece compromisso com a qualidade e os valores éticos,
unem-se as justificativas institucional e a social para a criação e o funcionamento de um
Projeto, especialmente quando se trata de um Projeto de Ensino.
Com efeito, a própria localização da UCB sinaliza para uma especialização de suas
atividades de Ensino, Extensão, Pesquisa, pois está situada, estrategicamente, em um ponto
de convergência das atividades socioeconômicas do Distrito Federal e de expressivo
crescimento regional, representado por Taguatinga, Águas Claras, Ceilândia, Riacho Fundo,
Samambaia, Santa Maria, Guará e Núcleo Bandeirante. Sua área de influência se estende,
além do Plano Piloto, a núcleos urbanos mais afastados como Brazlândia, Gama e o Entorno.
Essa localização peculiar lhe sugere responsabilidades imediatas de conhecer e
construir a realidade local e da região. No caso da Comunicação Social, propõe-se tornar o
comunicador alerta à sua participação nas transformações sociais.
Por outro lado, confirmou-se, em nível local e regional, a expansão de um mercado
promissor para as atividades ligadas ao jornalismo e à publicidade. Surgem novos espaços e,
paralelamente, reforça-se a demanda por profissionais qualificados. Dessa forma, o curso da
UCB atende a essas demandas, num diálogo com as premissas da Comunicação e com a
missão da UCB.
O compromisso e a busca pelo Desenvolvimento Humano Sustentável são valores
presentes em toda a grade curricular do curso de Comunicação Social da UCB. A integração
com a Área de Ciências Sociais Aplicadas se dá por meio da interação dos diversos cursos na
socialização de disciplinas comuns oferecidas pela área, além de realização de atividades
acadêmicas conjuntas como eventos, pesquisas e atividades extensionistas.
24
A construção da interdisciplinaridade se torna mais visível em disciplinas como
Sociologia Geral, Realidade Brasileira e Regional e Agência Experimental em Comunicação
Comunitária desenvolvidas em cooperação com curso de Serviço Social. Na segunda, são
compartilhadas com o estudante ferramentas para o diagnóstico e a análise da situação
brasileira contemporânea, em que os aspectos econômicos recebem destaque, mas não são
considerados exclusivos na aferição da qualidade de vida de um povo. Na terceira disciplina,
discutem-se os fundamentos para a interlocução dos comunicadores com a comunidade,
seus limites e possibilidades, e as condições necessárias para a consolidação desse diálogo.
Foram desenvolvidas na disciplina Agência Experimental em Comunicação Comunitária
atividades de planejamento de campanhas de comunicação, em mobilização social para
campanhas de economia de água, prevenção de HIV para jovens e idosos, doação de medula
óssea e oficinas de comunicação comunitária de rádio, jornal e TV para idosos e crianças.
Essa relação é construída na medida em que a realidade vivenciada em associações,
movimentos sociais, cooperativas e comunidade em geral apresenta elementos desafiadores
para a Universidade favorecendo um processo de aprendizagem voltada para o atendimento
de necessidades reais vivenciadas fora da Universidade.
A troca de saberes apresenta-se como um elemento principal de construção de
conhecimentos capazes de transformar a sociedade em uma realidade mais justa e menos
desigual. Estes referenciais metodológicos apresentados por elas contribuirão para que os
estudantes dos cursos tenham fundamentos para analisar a realidade social dentro de uma
visão mais profunda dos problemas sociais apresentados tanto dentro do âmbito local como
regional.
Outro elemento importante da área diz respeito NEAFRO – Núcleo de Estudo e
Pesquisa Afro – Brasileiro. O NEAFRO surgiu por iniciativa e demanda dos estudantes do
curso de Serviço Social, em conjunto com os estudantes dos cursos de Comunicação,
Pedagogia e Direito. As discussões em torno de criação de um núcleo de estudos contribuiu
para a ampliação de mais um espaço multidisciplinar e interdisciplinar necessário à
qualificação dos futuros profissionais das várias áreas de formação acadêmica, congregando
professores, estudantes e pesquisadores de diferentes áreas. A integração com outras áreas
do saber ocorre também por meio da disciplina Diversidade e Inclusão que é uma disciplina
também trabalhada em outros cursos da UCB.
25
Ao freqüentarem essas disciplinas e ao vivenciarem essas discussões, os estudantes
de Comunicação Social começam a construir sua percepção da missão da Universidade
Católica de Brasília, o que deve acompanhá-los por toda a sua vida profissional.
Deve-se destacar, também, a perspectiva inclusiva de educação da Instituição e do
curso. Ao receber estudantes com deficiência, o Curso repensa as suas estruturas, abre-se
para o mundo e implementa uma nova perspectiva de ensino, de aprendizagem e de
Comunicação.
1.4 PROGRAMA DE MELHORIA DA FORMAÇÃO BÁSICA DOS ESTUDANTES
Com a ampliação do acesso à educação superior tem se percebido com mais
evidência a fragilidade da formação da maioria dos estudantes brasileiros. A ampliação da
Educação Superior não cria a fragilidade, mas a revela à medida que os eliminados de
outrora hoje conseguem acesso. Assim, boa parte dos ingressantes na Educação Superior
brasileiro não possui o conhecimento escolar que esperamos para o ingresso neste nível.
Outro elemento que merece destaque, e que em alguma medida também é reflexo
deste contexto, é a evasão nos primeiros anos dos cursos superiores. Embora possamos
considerar que a ampliação do acesso à Educação Superior já é um ganho para o país, assim
como foi a ampliação da Educação Básica, é preciso cuidar para garantir um acesso com
qualidade, que se preocupe essencialmente com a formação oferecida e com a
aprendizagem dos estudantes.
É preciso, então, considerar este contexto e entender que o desafio da melhoria da
formação básica dos estudantes ingressantes não apresenta uma solução simples, pois exige
empenho profissional e político para não fazer da Educação Superior um “faz de conta” para
parte dos estudantes que recebemos. Gentilli (2001), já sinalizava a questão, classificada
pelo autor como um ‘processo de exclusão includente’, lembrando que o acesso à educação
não significa o acesso ao mesmo tipo de educação no que tange à qualidade.
Para tanto, devemos ter em conta o estudante real, que tem suas necessidades,
interesses, nível de desenvolvimento, representações, experiências anteriores (história
pessoal). Este estudante muitas vezes é distinto do estudante idealizado ou do sonho de
alguns professores. É preciso pensar a Educação Superior em função do que o estudante é, e
não do que gostaríamos que fosse.
26
Neste sentido, é importante ainda lembrar que os nossos estudantes não são
calouros de escola, pois possuem pelo menos 11 anos de escolaridade. Neste período, os
estudantes se acostumaram com professores que fazem perguntas e que ensinam respostas,
e não com professores que se fazem perguntas. Essa escola, frequentemente, seja para os
estudantes, seja para os professores, se constitui enquanto uma opção formal que muitas
vezes abdica do caráter político e existencial do fazer pedagógico, ao tomar o trabalho
intelectual como um fim em si mesmo, desvinculado dos significados, sentidos e
compromissos que deveriam orientá-lo.
Como forma de enfrentamento, é urgente não apenas reconhecer este cenário, mas
buscar diferentes estratégias de aproximação a fim de se relacionar com esse contexto,
respeitando e considerando sua complexidade. Um movimento inicial e essencial para essa
aproximação é o reconhecimento do estudante como um ser ativo, que precisa ter
participação consciente no processo de construção da significação de sua ação e de seu
conhecimento, o que, já lembrava Freire (1981), é tarefa de sujeito, e não de objeto.
Entendemos, desta forma, que o caminho para o acesso à Educação Superior com qualidade
passa, necessariamente, pelo reconhecimento do sujeito que aprende, de sua história e do
lugar de protagonismo e autoria que ele ocupa no processo de aprendizagem.
É sobre esse alicerce que se constrói a proposta do componente curricular
‘Introdução a Educação Superior’. Este componente, obrigatório para o primeiro semestre
de todos os cursos de graduação da Universidade, aposta na ruptura com a forma tradicional
de ensinar e aprender e com os procedimentos acadêmicos inspirados nos princípios
positivistas da ciência moderna, resgatando o lugar e o valor do sujeito que aprende (como
protagonista e autor de seu processo).
A proposta do componente curricular ‘Introdução a Educação Superior’ se constitui,
dessa forma, como uma das ações de melhoria da formação básica dos estudantes. Esse
componente de introdução possui o foco no “conteúdo do sujeito”, ou seja, no cuidado com
cada estudante que entra na Universidade. Ele precisa se sentir acolhido, respeitado em sua
história (com todas as fragilidades acadêmicas, culturais e sociais que ela pode possuir) e
desafiado a viver um momento singular em sua vida: a Educação Superior.
Esse componente curricular se constitui como um encontro do sujeito com a
Universidade, baseada na crença de que é possível ampliar acesso sem perder qualidade.
Seus princípios se sustentam na relação fundamental entre os conteúdos dos sujeitos
27
(estudantes) e os conteúdos da matéria, no acompanhamento do processo de aprendizagem
através dos registros de estudantes e professores, na autoria e autonomia necessária ao
processo de aprender e na rotina da aula, abordando o eixo dos conhecimentos acadêmicos,
relacionais e culturais à medida que apóia e desafia os estudantes nesta nova fase. O
componente ainda trata das questões da leitura e da escrita na Educação Superior, do
conhecimento científico e da comunicação e tecnologias a partir da história de vida dos
estudantes. Pretende-se, neste sentido, apresentar respostas aos desafios de manutenção
da qualidade e redução da evasão, constituindo-se um compromisso político e pedagógico
dessa instituição.
Outras ações estratégicas:
Projeto Monitoria
No Projeto Monitoria são previstas a atuação de estudantes da graduação, de todos
os cursos, e a Monitoria com bolsistas da pós-graduação. Nesta proposta, as monitorias não
são plantões de dúvidas; portanto, precisam de um plano de estudo de monitoria em estrita
harmonia com o plano de ensino das disciplinas de maior índice de retenção de estudantes,
ou seja, o plano de estudo da monitoria deve ser um pré-requisito do plano de aula da
disciplina. O Programa de Reconstrução das Práticas Docentes organiza e oferece a formação
aos Monitores (da graduação e da pós-graduação).
Projeto Jovem Pesquisador do Futuro
Esse projeto consiste especialmente na oferta de treinamentos para iniciação
científica do estudante de graduação. O projeto foi implementado no segundo semestre de
2010, e deve atender a 100 (cem) estudantes por semestre.
Perfil docente para atuação nas disciplinas de primeiro semestre
Como ação complementar ao acolhimento e atenção diferenciada ao estudante
ingressante, é realizada análise do perfil dos professores que atuam nas disciplinas de
primeiro semestre. Nesta ação os gestores contam com a colaboração da Diretoria de
Desenvolvimento, Planejamento e Avaliação, responsável pela realização da avaliação
específica desses professores e da Coordenação da disciplina Introdução a Educação
Superior, na articulação entre os professores da disciplina de IES e o restante dos
professores que atuam no primeiro semestre.
Acompanhamento dos Ingressantes
28
Essa ação corresponde ao envolvimento da gestão dos cursos e ao suporte
pedagógico oferecido pelo Serviço de Orientação e Acompanhamento Psico-Pedagógico da
UCB. Cada direção de curso recebe o resultado do processo avaliativo dos estudantes
ingressantes do curso: avaliação diagnóstica, dados do perfil e avaliação final. A partir do
perfil e do desempenho dos estudantes, as direções poderão implementar ações
complementares no âmbito do curso. Os diretores também são convidados a refletir sobre o
programa de monitoria no curso e o perfil dos docentes que atuam no primeiro ano. Os
docentes que atuam com a Introdução a Educação Superior também devem se encontrar
com o diretor do curso de referência dos estudantes que acompanha para aproximar o
trabalho da disciplina ao contexto do curso, partilhar informações e impressões sobre o
perfil dos estudantes, atividades desenvolvidas e acertos coletivos para a continuidade da
ação. Outra ação complementar é a oferta de oficinas pelo Serviço de Orientação e
Acompanhamento Psico-Pedagógico. Estas oficinas são pensadas e organizadas a partir do
diagnóstico construído no componente curricular ‘Introdução a Educação Superior’, para
estudantes que passaram pela disciplina e ainda necessitam de um apoio sistemático.
Clube de Leitura
Coordenado pela Biblioteca da UCB, com participação de bibliotecárias (os) e de
estudantes voluntários do curso de Letras, é aberto aos estudantes universitários,
especialmente os estudantes da disciplina de IES. Seu grande objetivo e a formação de
leitores.
Apoio à aprendizagem em Matemática Básica
Ministrado aos sábados por professores do curso de Licenciatura em Matemática,
atende preferencialmente os estudantes que no diagnóstico inicial demonstraram
dificuldades em Matemática Básica ou estudantes com histórico de baixo desempenho nesta
área.
Visitas dirigidas aos laboratórios
A coordenação da formação básica da área de ciências da vida, em parceria com o
programa de mestrado e doutorado em Biotecnologia organiza visitas dirigidas aos
laboratórios do programa e laboratórios parceiros: Embrapa, Lacen e UnB.
Cinema, cultura e educação
Cineclube saúde: projeto semanal de exibição de filmes e debates, coordenado por
professores da formação básica da área de ciências da vida.
29
Cine-filosofia: projeto semanal de exibição de filmes e debates, coordenado por
professores do curso de Filosofia
Curta-Educação: projeto semanal de exibição de documentários sobre
personalidades do pensamento social brasileiro, coordenado pelo curso de Pedagogia.
Quinta Cultural – Eventos culturais mensais, coordenado pelo curso de Pedagogia.
Projetos Especiais
Grupos de Estudo Temáticos: grupos de estudo com encontros semanais com
temáticas diversas coordenado por professores de diferentes áreas e cursos.
Encontro interdisciplinar: encontros para discussão de um tema interdisciplinar
envolvendo professores de várias disciplinas. Os encontros são promovidos a partir de uma
temática importante na conjuntura do semestre.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
A Globalização, fenômeno que tem servido de “pano de fundo” de praticamente
todos os debates sobre a sociedade contemporânea, deverá continuar por muito tempo a
ser considerada uma temática atual. É uma realidade que não se pode ignorar ou evitar, pois
ela já se acha instalada na economia mundial, do que é prova a internacionalização dos
mercados e das crises, com repercussões em todos os continentes. Esse fenômeno
influenciará, indubitavelmente, o desenvolvimento das nações no século XXI, refletindo-se
não somente nas economias locais, mas também na própria cultura dos povos.
Nesse cenário de mudanças, e também de oportunidades, de limites, porém de
possibilidades, a UCB é chamada a dar a sua contribuição por meio do alto nível técnico e
humanístico de seus egressos, que são estimulados a se inserirem profissionalmente de
forma competente, criativa, empreendedora e sobretudo ética. Para fundamentar sua
atuação, a UCB considera os assuntos além das fronteiras nacionais, ao evitar as percepções
apenas domésticas da realidade econômica, cultural e social. A Instituição dialoga com os
grandes centros produtores de conhecimento, com as demandas e necessidades da
sociedade, e com os saberes locais sem perder sua dupla vocação: é universal, mas está
inserida no Distrito Federal e na denominada “Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno (RIDE)”, composta por 22 municípios que exercem pressão sobre o
30
Distrito Federal no que concerne ao mercado de trabalho, equipamentos públicos e relações
comerciais.
Segundo os dados cadastrais fornecidos pela Secretaria Acadêmica da UCB, em
janeiro de 2007, 80% dos seus estudantes moram na região de abrangência da UCB,
residindo 31% em Taguatinga, 15% na Ceilândia, 7% no Guará, 6% em Samambaia, 5% em
Águas Claras, 5% no Gama, 5% no Núcleo Bandeirante, 3% no Riacho Fundo, 2% no Recanto
das Emas e 1% em Brazlândia. Esses estudantes, por fazerem parte dessa comunidade, são
mais identificados com os seus problemas sócio-comunitários e certamente estarão mais
comprometidos com a proposta de interação universidade-comunidade, possibilitando o
retorno a esta última, seja por meio de sua participação em projetos de pesquisa e/ou
programas de extensão, seja por meio de sua futura atuação profissional nessa ou noutras
regiões.
Os dados do Distrito Federal concernentes ao Produto Interno Bruto nominal revelam
uma aceleração vertiginosa do desenvolvimento econômico da região na década de 90 e
início dos anos 2000. Da mesma forma, verificava-se a tendência para um elevado PIB per
capta, colocando-o, em 2001, à frente de todos os outros estados brasileiros.
Historicamente, o Distrito Federal tem mostrado uma dinâmica econômica
fundamentalmente terciária (serviços). A partir da consolidação da Capital Federal, o setor
terciário tornou-se o mais forte da economia local, sendo responsável por grande parcela da
renda e pela maioria dos empregos gerados. As principais atividades terciárias estão
relacionadas à administração pública, ao comércio, ao segmento de hotéis, bares e
restaurantes, e de imóveis.
O mercado de trabalho no Distrito Federal, impulsionado pela dinâmica da economia
local, acompanhou suas fases de desenvolvimento, sempre concentrando o maior número
de empregos no setor terciário, induzido, direta ou indiretamente, pelo setor público. As
limitações à instalação de indústrias no Distrito Federal restringiram a diversificação
produtiva na região, resultando na expansão da malha urbana nos mesmos moldes daquela
caracterizada nas regiões metropolitanas. A região polarizadora é Brasília, onde estão a sede
do Governo Federal, e a maior concentração dos postos de trabalho. Vale frisar que nos
últimos anos a Região Administrativa de Taguatinga, onde está localizado o Campus I da
Universidade Católica de Brasília, também vem se destacando e ganhando características de
uma grande metrópole.
31
Nada obstante, as particularidades das origens e da vocação administrativa do
Distrito Federal, e a correspondente dependência que tem de investimentos públicos, existe
a preocupação das autoridades locais em incentivar a ampliação dos investimentos privados,
garantindo maior autonomia para o Distrito Federal, com oferta de produtos e empregos
compatíveis com a sua demanda.
As estatísticas do mercado de trabalho do Distrito Federal, com base na Pesquisa de
Emprego e Desemprego (PED/DF), têm início em fevereiro de 1992, quando a Secretaria de
Trabalho do Governo do Distrito Federal, em parceria com a Companhia do
Desenvolvimento do Planalto Central (CODEPLAN), o Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) e a Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados (SEADE/SP), implantaram a pesquisa. Com base nesses 14 (quatorze) anos de
pesquisa (1992 a 2005), é possível ter uma radiografia do mercado de trabalho local,
conhecendo-se como a dinâmica da geração de empregos interage com o crescimento
demográfico.
A População em Idade Ativa (PIA), correspondente ao contingente de habitantes com
10 (dez) anos e mais, passou de 1,2 milhão em 1992 para 1,7 milhão em 2003. A População
Economicamente Ativa (PEA), equivalente ao conjunto de trabalhadores ocupados mais o de
desempregados, estava estimada em 733 mil pessoas em 1992, alcançando 1,1 milhão em
2003.
As estatísticas sobre a ocupação no Distrito Federal indicam que o mercado de
trabalho, desde 1992 até 2002, absorveu mais trabalhadores com o ensino médio completo
e ensino superior incompleto, acumulando crescimento de 103,1% e 134,7%,
respectivamente. O contingente de ocupados com o ensino superior completo obteve
variação percentual acumulada de 69,4%; com o ensino médio incompleto o aumento foi de
60,9% e, por fim, com o ensino fundamental completo foi de 30,1%. Já entre os
trabalhadores com o ensino fundamental incompleto e os analfabetos, o quantitativo de
ocupados diminuiu de 8,5% e 42,8%, respectivamente. Esses dados demonstram, por um
lado, a seletividade do mercado de trabalho e, por outro, um processo de escolarização da
população, induzida pela elevação das exigências do mercado.
Além de concentrar grande quantidade de Órgãos Públicos, das esferas Federal e
Distrital, relativos aos três poderes da República, quais sejam, Executivo, Legislativo e
Judiciário, o Distrito Federal concentra, ainda, grande quantidade de organizações
32
representativas de quase todos os países do mundo. Relativamente à área privada, todo o
Distrito Federal e região do entorno conta com um grande número de empresas prestadoras
de serviços, comerciais, industriais, financeiras, hospitalares e organizações não
governamentais.
A área de Ciências Sociais Aplicadas da UCB pode contribuir para atender as
demandas e necessidades do mercado de trabalho do DF e Região, que exige profissionais
cada vez mais qualificados técnica e eticamente para lidar com problemas complexos e
ações complexas. Em resposta às novas exigências ambientais e socioculturais a área elegeu
como eixo fundamental o conceito de “Desenvolvimento Humano Sustentável” (DHS).
Adotado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o DHS
considera não só aspectos econômicos ou de renda para avaliar as condições de um povo,
mas sobretudo o acesso à maior participação social, política, econômica, aos bens culturais,
à informação e ao lazer, à eqüidade e à justiça nas relações de gênero, étnicas e de classe
social, confluindo para uma melhor qualidade de vida e para o protagonismo dos atores
envolvidos no processo.
Desse modo, os egressos da Católica, na diversidade de suas atuações profissionais,
são estimulados a considerar que o desenvolvimento econômico é um aspecto importante,
mas não exclusivo, na avaliação do patamar de desenvolvimento de um país; são motivados
a olhar para a complexidade dos problemas humanos também pelo prisma cultural e social e
a defender o direito à diferença em suas várias manifestações, agindo como
empreendedores na transformação da sociedade.
2.1. CENÁRIO PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO DA HABILITAÇÃO JORNALISMO
O mercado jornalístico sempre teve uma característica local muito forte. Antes de ser
um fenômeno global, o jornal é algo marcadamente da cidade, do bairro, da região. É ali que
se constrói identidade e formam-se leitores. Mas as novas tecnologias, como a Internet, têm
proporcionado ao jornal invadir outros espaços. Hoje é possível, a um clique do mouse,
acessar informações veiculadas por jornais de todos os cantos do planeta, sendo que boa
parte desses jornais é exclusivamente eletrônica, ou seja, não se originaram de versões
previamente impressas.
33
O mesmo fenômeno acontece no campo das revistas, da TV e do rádio, onde, cada
vez mais, torna-se facilitado o acesso a um volume crescente de informações e de produções
culturais e também aos recursos de emissão.
Mesmo com essas características locais, muitos jornais e emissoras de rádio e TV
também passam por um processo de concentração liderado pelas megacorporações globais
de comunicação. Essas corporações resultam, muitas vezes, da associação entre empresas
de telecomunicações, da indústria informática e de produção de conteúdo.
Nesse cenário, ao mesmo tempo em que há cortes nos quadros de empregados, em
razão do ajuste das empresas às novas regras de competição internacional, cresce, em
contrapartida, a demanda por profissionais capazes de lidar com o universo simbólico
multimídia. Confirma-se, aqui, a tendência apontada por Robert Reich16 de uma crescente
demanda mundial por uma elite de profissionais competentes na arte de análise e produção
simbólica.
Em recente estudo conduzido pelo Projeto de Excelência no Jornalismo, da
Universidade de Columbia17, afirma-se que o “jornalismo em 2004 está no meio de uma
transformação histórica, provavelmente tão impactante quanto a invenção do telégrafo e da
televisão. O jornalismo não está se tornando irrelevante. Está se tornando mais complexo.
Estamos testemunhando tendências conflitantes de fragmentação e convergência
simultaneamente, e elas às vezes levam a direções opostas”.
Uma das características da globalização é a organização de nações em torno de
blocos inicialmente econômicos, mas que acabam se integrando nos mais diversos aspectos
sociais, políticos e culturais. O Mercosul, podemos afirmar, passa por esse processo. Aqui,
ampliam-se as associações entre empresas e organizações. E uma das fases que ainda
precisam ser devidamente acordadas é a que trata da organização do trabalho. Já ocorreram
reuniões entre representantes dos países membros, no sentido de equalizar as legislações
trabalhistas, principalmente nos aspectos relacionados com a formação e a habilitação
profissional. O Brasil era o único dos países que tinha regulamentado o exercício da profissão
de jornalista, embora, no momento, esta regulamentação esteja em discussão, em função de
16
REICH, Robert - The Work of Nations - Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism. Nova Iorque:
Random House, 1992. 17
Pesquisa “O Estado da Mídia Informativa 2004”, Columbia University, Disponível em:
<http://www.stateofthemedia.org >. Acesso em 17/03/2004.
34
decisões judiciais. Em 17 de junho de 2009, uma decisão do Superior Tribunal Federal retirou
a obrigatoriedade de formação superior para exercer a profissão de jornalista. A decisão,
contudo, não significou o decréscimo da importância dos cursos de graduação em
Jornalismo.
No campo específico da oferta de empregos, observamos que veículos de
comunicação brasileiros e de outros países também buscam associações para suprimento de
conteúdos e compartilhamento de recursos técnicos. Como exemplo, podemos citar os
acordos de cooperação entre a RBS – Rede Brasil Sul, o grupo Clarin e o El País, do Uruguai.
Cresce, também, a demanda por profissionais bilíngües e conhecedores das especificidades
da região.
O mercado de trabalho para jornalistas no Brasil é seletivo e exigente. Segundo dados
publicados na Sinopse Estatística da Educação Superior de 2007, divulgado pelo INEP, os
cursos de Comunicação Social18 colocam no mercado cerca de 76.657 mil novos
profissionais. Destes, cerca de 27.182 são jornalistas, provenientes de 1.810 cursos. Observa-
se que, desde 1996, o número de cursos de comunicação e de jornalismo no País, seguindo
tendência de todos os segmentos na Educação Superior, aumentou em progressão
geométrica.
Segundo dados do Guia do Estudante Abril:
“A comunicação corporativa ou empresarial é uma área promissora para os recém-formados, pois ela oferece mais oportunidades de trabalho do que as redações de revistas, jornais e agências de notícias. Uma pesquisa com mil grandes empresas nacionais e estrangeiras, encomendada pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), em 2008, revelou que cerca de 65% das companhias entrevistadas pretendem aumentar os investimentos em comunicação nos próximos anos, o que deve ampliar a procura por profissionais formados em Jornalismo. Segundo Ângela Schaun, coordenadora de Extensão do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, as mídias digitais são outra área relevante para o graduado em Jornalismo. ‘Esse mercado está em expansão, já que proliferam a versão on-line das revistas segmentadas, as páginas das empresas na internet, os sites independentes e os blogs’, diz ela. O profissional que optar por uma área específica do Jornalismo, como moda, ciência, saúde, meio ambiente e tecnologia, por exemplo, encontra espaço para atuar como redator setorizado, seja em mídia digital, seja na impressa. Os maiores empregadores continuam em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte
18
Considerando todas as Áreas Gerais, Áreas Detalhadas e Programas e/ou Cursos em Comunicação Social: Jornalismo e reportagem; Cinema e vídeo; Comunicação social (redação e conteúdo); Jornalismo; Produção editorial; Rádio e telejornalismo; Marketing e propaganda; Marketing e publicidade; Mercadologia (marketing); Publicidade e propaganda; Relações públicas são 1.810 cursos no país. Em 2001 eram cerca de 15 mil novos profissionais destes, cerca de 12.700 jornalistas, provenientes de 324 cursos.
35
e Brasília, mas cresce o número de oportunidades em cidades do interior,
sobretudo da Região Sudeste”19
.
Ainda que insuficientes, as vagas existem, mas são preenchidas principalmente por
quem já está no mercado (72% das contratações, segundo a Revista Imprensa). Dados do
Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), de 1993, revelam que grande parte dos
jornalistas na ativa tem entre 18 e 39 anos, correspondendo a 70,5% do total de
profissionais. Distribuem-se da seguinte maneira: 9,8% do total têm entre 18 e 24 anos;
21,6% estão na faixa dos 25 aos 29 anos e 40,1% têm entre 30 e 39 anos.
Aos jovens tem restado a opção de ingressar no mercado via cursos de adaptação e
aperfeiçoamento promovidos pelas próprias empresas jornalísticas, como forma de suprir as
carências de formação técnica dos recém-graduados.
Ainda assim, uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa do Mercado de
Trabalho (NUPEM), sob a coordenação da professora Maria Imacollata Vassalo Lopes, da
ECA-USP e concluída em 1995, depois de ouvir 3.431 egressos de faculdades de
comunicação social de todo o país entre 1989 e 1993, abrangendo recém-formados de seis
habilitações (jornalismo, rádio e TV, relações públicas, publicidade e propaganda, cinema e
editoração), mostra-nos que dos 1.374 jovens formados em jornalismo, 26% encontravam-se
em "desvio ocupacional", ou seja, tinham um emprego fora da área de comunicação social, e
74% estavam trabalhando na área com uma das habilitações consideradas pela pesquisa.
Desses últimos, 80% trabalhavam em jornalismo na época. Os números relativos à
continuidade dos estudos também são positivos. A grande maioria não deixou de estudar.
Dos formados em jornalismo, 39% fizeram outro curso de graduação, 38% procuraram a
chamada educação continuada, ou seja, cursos complementares de especialização, extensão
ou atualização, e 9% fizeram pós-graduação (dados publicados na Revista Imprensa, julho de
1998).
Entretanto, o mercado que mais tem crescido é o de assessoria de comunicação em
empresas, órgãos públicos e organizações do Terceiro Setor. De acordo com a CONJAI,
Comissão Nacional dos Jornalistas em Assessoria de Imprensa, esse mercado cresce em
torno de 15% ao ano. No início de 1998, segundo estimativas da Comissão e de Sindicatos
19
Disponível em <http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-informacao/profissoes_279107.shtml>. Acesso em 26/10/2009.
36
associados à Federação Nacional dos Jornalistas, mais de 60% dos profissionais registrados
estavam trabalhando com assessoria.
Segundo estudos realizados pelos órgãos patronais e dos empregados
representativos das categorias jornalísticas que operam no Distrito Federal, existem aqui
cadastrados, no campo do Jornalismo Impresso: 3 jornais diários; 1 semanal; 60 mensais; 4
revistas mensais com circulação regular e 10 eventuais; 3 newsletters regulares e dezenas de
veículos produzidos por órgãos públicos e empresas. Além disso, os grandes jornais de todas
as capitais brasileiras mantêm sucursais ou correspondentes em Brasília. No campo do
Jornalismo Eletrônico: 13 televisões geradoras e sucursais das principais televisões dos
estados: 21 estações de rádio comerciais e comunitárias; dezenas de sites especializados
operando com o jornalismo on-line; e 25 correspondentes de agências de notícias
internacionais e nacionais.
Brasília é, ainda, a sede de assessorias de comunicação e de imprensa em órgãos
públicos e privados, além de assessorias privadas prestadoras de serviços jornalísticos.
O Distrito Federal é o segundo mercado de trabalho do Brasil para o exercício da
profissão de jornalista, superado somente pelo estado de São Paulo. Esta posição deve-se à
presença do Governo Federal e às sucursais e escritórios de outros estados e países
representados na Capital da República.
O Governo do Distrito Federal absorve grande número de egressos dos cursos de
Jornalismo no DF, embora os órgãos vinculados aos três poderes da esfera federal apareçam
como os grandes instrumentos geradores e multiplicadores de oportunidades para o
jornalismo profissional.
Nesse contexto, pode-se observar a existência de um mercado potencial para o
jornalista, no DF, que tem, inclusive, exportado profissionais para outras regiões do País e
reivindica a possibilidade de colocar seus profissionais, em futuro próximo, também em
outros países do continente. Para isso, é necessária a formação de profissionais com
conhecimento mais amplo tanto na área da política e da economia, quanto ajustado aos
novos parâmetros da sociedade do conhecimento e da informação. Fica evidente que o
jornalista graduado em Brasília tem maior oportunidade de se especializar em política, para
melhor lidar com questões como: justiça social; solidariedade; distribuição de renda;
qualidade de vida; violência e criminalidade. É preciso, portanto, que o Curso dê visibilidade
a essas questões inerentes à atividade do jornalista. O mercado requer competências e
37
criatividade profissional, de modo a envolver, na avaliação de oportunidades, o
planejamento das atividades e o exercício responsável do jornalismo.
Vale observar, por outro lado, que, em 2004, onze instituições ofereciam cursos
regulares de Comunicação no Distrito Federal. Em 2009, são 15 instituições ofertantes20.
Esse número tende a aumentar, considerando-se os processos de autorização que tramitam
no MEC.
2.2. CENÁRIO PROFISSIONAL E MERCADO DE TRABALHO PARA PUBLICITÁRIOS
A globalização tem a marca da propaganda, mas também influencia e transforma
radicalmente esse segmento. Muitos dos grandes anunciantes têm optado por globalizar sua
propaganda. Hoje, acentua-se o alinhamento internacional de contas. A tendência, contudo,
não caminha apenas para uma propaganda internacionalmente padronizada, uma vez que
até mesmo grandes marcas como Nike e Coca-Cola produzem campanhas regionais. Com os
alinhamentos, fortalecem-se as grandes agências mundiais, que têm ampliado sua presença
nos mais diversos países, adquirindo agências locais ou associando-se a elas. Na maioria dos
casos, essas fusões ou aquisições representam redução de postos de trabalho. Segundo
dados publicados na edição de dezembro de 1994 do Journal of Advertising, a média de
redução tem ficado em torno dos 50% dos quadros. Mas o mesmo jornal aponta um
incremento dos pequenos negócios ligados à propaganda, impulsionados, certamente, pelas
novas tecnologias e pelo comércio eletrônico.
O Mercosul também tem alterado o mercado da propaganda. Na região, também se
presencia um incremento das fusões e aquisições. Agências brasileiras e argentinas vêm
disputando espaço. Outra tendência, que acompanha o resto do mundo, é a das campanhas
regionais. Empresas que atuam nos países do Mercosul têm optado por adotar estratégias
unificadas de comunicação. As associações ligadas à propaganda não têm dados concretos,
mas apontam um crescimento no intercâmbio de profissionais entre os países do bloco.
Fortes mudanças vêm acontecendo no mercado publicitário em razão do crescimento
dos grandes grupos de comunicação, tanto estrangeiros quanto nacionais. Reestruturação
interna, busca de diálogo com clientes e esforço para evitar perda da rentabilidade vêm
marcando a indústria da propaganda desde o final da década de 1990. A transição para o
20
Consulta ao mecanismo de busca E-mec, disponível em <http://emec.mec.gov.br/ Acesso em 20/10/2009.
38
mercado desregulamentado e o reposicionamento das agências nessa nova realidade deram
o tom do desempenho do setor.
Desde junho de 1997, com a revogação do Artigo 5.760, que estabelecia as regras
para a fixação das comissões de veiculação e produção de publicidade, o mercado
publicitário instituiu o CENP - Comitê Executor das Normas-Padrão, com a finalidade de
desenvolver um projeto de auto-regulamentação. Desse processo, foi homologado em 16 de
dezembro de 1998 o documento Normas Padrão de Atividade Publicitária, que reflete os
princípios que passaram a reger as relações comerciais entre os principais agentes da
atividade de comunicação no Brasil.
Aliás, o impacto da desregulamentação foi determinante para o reposicionamento do
mercado, que agora focaliza a eficiência e redução de custos, uma vez que o faturamento
pode ter aumentado, mas as receitas caíram. Muitas agências têm ampliado sua atuação
para além das fronteiras da propaganda. Hoje, aumenta o número de agências que oferecem
serviços totais de comunicação, incluindo consultoria, estratégia, assessoria de imprensa e
de Relações Públicas, além de suporte a novas tecnologias e novos canais de comunicação. A
crescente tendência de as empresas aumentarem o investimento em novas mídias, e não
apenas em propaganda tradicional, também faz com que muitas agências ampliem sua
atuação no chamado segmento Below the line, ou seja, tudo o que não envolve mídia, como
material de ponto-de-venda, merchandising e promoção.
Isso tem provocado fortes reduções no número de empregados nos variados
segmentos da publicidade. Por outro lado, o mercado registra um crescimento de pequenas
agências especializadas em nichos bem específicos, como o varejo, por exemplo, além de
birôs de criação, agências de mídia interativa e de ações promocionais.
Mas o quadro não é de todo preocupante. Segundo dados da assessoria de imprensa
do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, publicada na revista Propaganda do mês de
agosto de 1998, as atividades de Publicidade e Propaganda ocupavam o terceiro lugar entre
as que mais demandavam estagiários. Perdiam apenas para Administração de Empresas e
Direito.
Ainda segundo a revista Propaganda, baseada em pesquisa desenvolvida pela Escola
Superior de Propaganda e Marketing – ESPM junto a egressos, de um universo de 100% de
formados em cursos de publicidade, apenas 15% consegue ser absorvido pelas agências,
75% encontra oportunidades nos departamentos de marketing das empresas e os 10%
39
restantes encaminham-se para as produtoras de vídeo, áudio, internet e eventos, por
exemplo. Segundo declarações de donos de agências, encontrar um bom criador é até fácil,
mas selecionar pessoas voltadas ao planejamento estratégico, com bagagem cultural e
sensibilidade, é bem mais difícil.
Simon Franco, headhunter e consultor de Recursos Humanos, diz, na mesma revista,
que essa disparidade entre candidatos e vagas no mercado de trabalho não traduz,
necessariamente, algo negativo. Para ele, as escolas têm um papel importante na formação
de uma espécie de celeiro de talentos.
Em termos do ensino de Graduação em Publicidade e Propaganda, dados do MEC
indicavam a existência de 370 cursos no País, no ano de 2004. Segundo dados do Censo da
Comunicação Brasília, realizado em 2003, pelo Instituto Opinião, sob solicitação do Sindicato
das Agências de Propaganda e do Sindicato dos Publicitários do DF, atuam aqui 115 agências,
sendo 81 delas qualificadas pelo CENP – Conselho Executivo de Normas Padrão. O número
começa a revelar o potencial de um mercado publicitário que pode ser considerado o 3º do
Brasil, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. Essa posição deve-se à presença do
Governo Federal, o grande cliente das grandes agências de publicidade de Brasília e de filiais
de agências de São Paulo aqui instaladas. Caso este dado fosse desconsiderado, o DF
passaria a ser o 8º no mercado publicitário brasileiro.
Numa ordem decrescente de participação no mercado, podemos destacar: Governo
Federal, Governo Distrital, grandes anunciantes permanentes e comércio de bens e serviços
em geral. O governo possui a maior verba publicitária local, anunciando mais do que
shoppings e supermercados, por exemplo. O comércio ocupa o terceiro lugar na
movimentação anual estimada em R$ 539 milhões. Para se ter uma idéia, a iniciativa privada
movimenta 26% deste valor médio, enquanto o governo movimenta 74%. Este dado revela
uma instabilidade inerente ao mercado local, pois dependendo de verbas de governo, as
agências e seu quadro de funcionários ficam sujeitos às mudanças ocorridas a cada eleição.
A pesquisa indica também que grande parte do empresariado local ainda não está
disposta a investir em publicidade. Mesmo assim, as pequenas e médias agências
sobrevivem com verbas da iniciativa privada, sem desconsiderar que os montantes mais
significativos destas ficam com as grandes agências. Mas ainda que vivam numa situação
competitiva, a instabilidade nas pequenas e médias agências é menor do que nas grandes,
cujo faturamento depende da movimentação da verba governamental.
40
Nesse contexto, podemos notar a necessidade de desenvolvimento de uma parcela
do mercado local: a iniciativa privada, ou seja, o comércio e os serviços em geral. Ainda
existe a necessidade de uma mão-de-obra especializada para atender a esta demanda e, aos
poucos, desenvolver os negócios de empresários que ainda não investiram em publicidade
satisfatoriamente. Para isso, é necessária a formação de profissionais com um conhecimento
mais amplo tanto da área de criação, quanto da área de negócios. Em relação a esta última,
uma pesquisa realizada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM reforça a
necessidade do novo profissional de publicidade dominar conhecimentos na área de
finanças, vendas e marketing. Esta necessidade responde a uma demanda do mercado e
aponta uma falha em currículos tradicionais de Publicidade e Propaganda: a priorização da
criação. Não há como negar a importância desta área, até mesmo no sentido de dar
visibilidade à atividade publicitária. Porém, o mercado deseja um profissional que, além de
criativo, seja capaz de planejar, controlar a veiculação e avaliar resultados de campanhas.
A nova proposta curricular atende, portanto, a necessidades do mercado e dos
estudantes, uma vez que muitos não desejam atuar somente na área de criação. Além disso,
eles precisam conhecer a realidade da propaganda brasileira e global para atuar no mercado
regional, procurando desenvolvê-lo, a ponto de torná-lo uma referência nacional. Um dos
passos mais importantes para que o mercado atinja esta meta é a presença de profissionais
capazes de captar novos clientes e de fazer com que seus investimentos sejam bem-
sucedidos. Desta maneira, a propaganda poderia ampliar sua presença na economia
brasileira, movimentando mais do que 12 bilhões anualmente (1% do PIB – Produto Interno
Bruto) e gerando mais empregos dos que os 55 mil estimados atualmente.
2.3. DIFERENCIAIS DO CURSO
A oferta de cursos universitários, inclusive os da área da comunicação, vem
aumentando. Nesse contexto, a configuração de um perfil acadêmico diferenciado é
fundamental para a consolidação de cada curso ou escola. No caso do Curso de
Comunicação Social da Universidade Católica de Brasília, esse diferencial vem sendo buscado
pela importância conferida aos aspectos éticos do exercício profissional, e pela aproximação
com a realidade local, por meio da atuação em projetos e atividades acadêmicas de
relevância social.
41
Além disso, o Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Brasília
estimula a produção de conhecimento por meio da pesquisa, que permitiu formar uma
massa crítica que resultou no Mestrado em Comunicação (por si só, também, outro
diferencial).
Esses diferenciais caracterizam o Curso de Comunicação Social da UCB e se
expressam por:
a) a abertura para o mundo, fundamentada no pressuposto de que Comunicação não
se aprende somente em sala de aula, mas no estímulo à participação em Congressos,
Conferências, Coberturas Jornalísticas e Festivais Publicitários e na realização de viagens de
estudos, assinalada, na grade curricular. A disciplina da habilitação Jornalismo que
contempla tais atividades é Jornalismo Especializado I, com a cobertura de grandes eventos
jornalísticos como, por exemplo, as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos e Bienais de Artes
e de Literatura. O curso já realizou, numa iniciativa inédita, mundialmente, várias dessas
coberturas, levando uma equipe de estudantes às Olimpíadas e a Paraolimpíadas de Sidney,
de Atenas, de Pequim, Jogos Pan-Americanos, Jogos Indígenas e à Copa do Mundo da
Alemanha, e à Copa do Mundo da Alemanha, entre outros eventos. Essas atividades
propiciaram aos estudantes uma vivência das práticas profissionais em suas condições reais
de produção. Na habilitação Publicidade e Propaganda, a disciplina que contempla tais
atividades é Linguagem Publicitária – que prevê a participação dos estudantes, por exemplo,
na Semana Internacional da Criação Publicitária, realizada durante o mês de abril, em São
Paulo e no Festival de Publicidade de Gramado. A importância do evento está no contato
com profissionais e produções de publicidade e marketing de diferentes regiões do mundo,
o que permite conhecer outras maneiras de se pensar e executar campanhas publicitárias,
promocionais etc., a partir de exemplos inclusive de países pouco mencionados na mídia e
com uma cultura bastante diferente da nossa;
b) a resposta às demandas e necessidades locais, perfazendo um curso voltado pra as
características do DF, o que se expressa em disciplinas como Assessoria de Comunicação,
Jornalismo Político e Econômico, Planejamento de Campanhas;
c) a existência de laboratórios e núcleos que permitem um crescimento individual dos
estudantes em suas áreas de maior interesse, viabilizando espaços de experimentação
pedagógica em que se valorizam atividades e conhecimentos artísticos, científicos e
filosóficos próprios da área da Comunicação, bem como a superação de desafios e
42
dificuldades, com o acompanhamento de educadores e técnicos inclusive em horários
diferentes aos da aula;
d) a atuação de estudantes e professores em projetos de extensão e de pesquisa,
financiados pela Universidade Católica de Brasília, e que colocam permanentemente em
pauta o desafio da indissiobilidade ensino, pesquisa e extensão. Muitos desses projetos são
realizados por equipes multidisciplinares, envolvendo áreas de conhecimento distintas como
Antropologia, Sociologia, Psicologia, Medicina.
2.3.1. RELAÇÃO COM A EXTENSÃO E A PESQUISA
O texto Indissociabilidade: mito, meta, princípio e processo, aprovado pelo CONSEPE
– Resolução 63/2009, de 19/06/2009, sugere algumas formas para o desenvolvimento
concreto de iniciativas que levem em conta a tríade ensino-pesquisa-extensão, e que
demandam o envolvimento de todos os níveis, instâncias e atores da Universidade:
“No ensino, o princípio pedagógico da indissociabilidade movimenta a revisão crítica dos conteúdos ensinados e possibilita outras construções e aprendizagens a eles relacionados. Sendo assim, estarão presentes, no ensino, o espírito inquiridor, que tradicionalmente caracteriza o processo de pesquisa, e também o compromisso com a inserção social do saber e respectivo retorno à comunidade, tradicionalmente considerados como eixos da extensão universitária. Deste modo, então, conteúdos e material didático empregados em sala de aula, por exemplo, não devem perder a referência do contexto histórico, social e cultural onde foram produzidos, não devem se apresentar alienados às questões éticas com os quais estão relacionados, nem apresentados de um modo desvinculado aos fins a que se destinam.
Na pesquisa, o processo de investigação interagirá com questões colocadas em sala de aula, alimentando-as e sendo por elas alimentado; e o pesquisador encontrará, nas urgências e perplexidades do mundo vivido, e no contato com o contexto histórico, cultural, e técnico-científico, a legitimação para as suas pesquisas. Sendo assim, o espírito da indissociabilidade, se realizará não propriamente sob forma de metodologias ou técnicas de pesquisa específicas, mas sim no profundo comprometimento ético dos pesquisadores com os fundamentos, características e fins daquilo que pesquisam e daquilo que é gerado por meio de suas investigações. Aqui não se trata, então, de necessariamente qualificar a chamada pesquisa básica em detrimento da chamada pesquisa aplicada, ou vice-versa, mas de se perguntar sobre que segmentos da sociedade estão sendo beneficiados ou não com os resultados desta pesquisa, seja ela de que natureza for.
Na extensão, suas ações acadêmicas, artísticas e comunitárias, além de promoverem a produção e difusão do conhecimento e transformação social por elas mesmas, serão também um mote para novos projetos de pesquisa, em busca da geração de novos conhecimentos, e dialogarão com a sala de aula, instigando a consolidação de saberes mais críticos. Por meio do princípio pedagógico da indissociabilidade, os atores das atividades de extensão universitária reafirmarão as
43
implicações éticas do processo de conhecimento, já que este tem história e ajuda a construir história, vindo de um contexto social e ajudando a modificá-lo.
Finalmente, cabe ressaltar que, para a construção da indissociabilidade, são necessárias condições concretas, como o estabelecimento de relações de trabalho que propiciem, aos docentes e aos funcionários, tempo e motivação para se sentirem autores do conhecimento. Destaca-se, dentre essas condições, um bom diálogo entre o administrativo, o acadêmico e o pedagógico, de forma que os dois primeiros não minem as ousadias e as inovações propostas pelo terceiro. Por fim, a UCB defende que uma premissa fundamental para essa construção é a atitude acolhedora por parte de todos os atores institucionais, percebendo que, como qualquer processo humano, a indissociabilidade é complexa, vive momentos de avanço e recuo, mas pode ser atingida sempre que se ousa conhecer. E na concretização e consolidação dessas ações, devemos sempre ter presente o princípio fundante de construir um processo de aprendizagem e uma atitude aprendente voltados para a realização de uma Universidade realmente indissociável e, portanto, viva.”
Tendo esses princípios como desafio, meta e processo, o curso de Comunicação
Social tem desenvolvido projetos de pesquisa e de extensão em áreas da Comunicação, do
Jornalismo e da Publicidade, e em associação a outras áreas do saber.
Existem no curso e nas Pró-reitorias de Extensão e de Pesquisa linhas e projetos
permanentes e outros que se formam de modo esporádico em torno de questões pontuais.
Pesquisa
Projeto de Pesquisa Personagens da Propaganda Brasileira – como grupos sociais
são e podem ser representados na mídia
O objetivo primordial do Projeto era desvendar os mecanismos empregados na
criação de personagens para tornar a linguagem da propaganda adequada às expectativas,
desejos e emoções do público, procurando verificar como este é representado nos enredos.
Para a análise, foram utilizados como referenciais teóricos a Semiótica da Cultura e a Teoria
das Representações Sociais. O principal produto do projeto é um livro composto por todos
os artigos escritos por educadores e estudantes integrantes da equipe.
Núcleo de Estudos e Pesquisas da Imagem
O Núcleo comportava uma convergência de interesses de estudo e de pesquisa,
ancorado que estava na estrutura didático-científica do Curso de Comunicação Social da
Universidade Católica de Brasília. Tratava-se da criação de uma base teórica, no âmbito da
44
Arte e da Ciência, que tornasse consistentes as possíveis abordagens da “Imagem”, nos
diferentes sistemas de valores, de significação e de comunicação, neste nosso tempo.
As atividades eram desenvolvidas com regularidade semanal, de modo a propiciar a
estudantes e educadores do Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de
Brasília ocasiões de informação e de debates.
A revista eletrônica IMAGEM N, lançada em maio de 2004, foi o espaço de divulgação
de textos e de produtos resultantes dos nossos estudos e das nossas pesquisas. A revista
atingiu quatro números publicados que continuam no ar para acesso da comunidade
acadêmica.
No âmbito do Núcleo, foram desenvolvidas atividades de orientação e de elaboração
de projetos, dissertações de Mestrado e de teses de Doutorado de estudantes e educadores
do Curso de Comunicação Social. O Núcleo desenvolveu o projeto: “Fundamentos da
Comunicação e da Formação Estética”, envolvendo os seis pesquisadores-membros e seis
estudantes estagiários, além da parceria com pesquisadores da Universidade de Brasília,
Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal do Ceará e Universidade Cândido
Mendes.
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura e Comunicação
O Núcleo correspondia a uma associação voluntária de educadores e estudantes com
os objetivos de promoção do conhecimento, realização de pesquisas científicas e produção
em linguagem audiovisual. Em sua dinâmica, tratava de estudar as contribuições científicas
fundamentais para a definição dos campos de interesse do grupo: a cultura e a
comunicação. Incentivava e apoiava a pesquisa docente e discente, por meio da discussão,
elaboração e proposição de projetos. Fomentava e publicava artigos e livros nas áreas de
comunicação, sociologia e antropologia, estendendo seus resultados à sociedade. Além de
produzir obras de comunicação, particularmente narrativas em vídeo, seja como
documentário ou produto televisual.
Projeto Ética na Mídia
O Projeto Ética na Mídia nasceu em 2001 de uma parceria entre o curso de
Comunicação da Universidade Católica de Brasília e a Universidade de Brasília, com o
45
protagonismo de estudantes e professores que desejavam unir ensino, pesquisa e extensão.
Envolveu aproximadamente 80 estudantes, em várias etapas, que consistiram em:
a) Leitura de autores ligados à ética, moralidade e eticidade para se pensar os limites
e possibilidades da discussão de ética em Comunicação Social;
b) Acompanhamento de discussões realizadas no Congresso Nacional, em especial da
Campanha "Quem financia a baixaria é contra a cidadania", para buscar alternativas à
censura para controle dos conteúdos dos Meios de Comunicação;
c) Estudo de Teorias de Comunicação para a análise de programas de televisão,
observando-se como estética e ética dialogavam e entravam em conflito;
d) Realização de um estudo com nove mulheres do bairro do Areal, utilizando-se a
técnica da História de Vida, para entender como elas dialogavam com a telenovela Mulheres
Apaixonadas, da Rede Globo, com especial destaque para a violência contra a mulher, o
casamento e a separação, a relação com os filhos e as conquistas econômicas das
personagens femininas. O estudo rendeu um livro (Mulheres na Janela, Brasília, 2003);
e) Realização de três seminários (Ética na Mídia, Morte na Mídia e A vingança do
sujeito) para compartilhamento das inquietudes do grupo com a Comunidade;
f) Alocação de cinco bolsas de Iniciação Científica para membros do Projeto;
g) Realização de cinco Trabalhos de Conclusão de Curso com temáticas relacionadas
ao Projeto;
h) Realização de uma pesquisa com 500 universitários de dez instituições de ensino
do DF sobre a recepção do Programa Big Brother.
Com o fim oficial do projeto, em 2006, constatou-se que a temática é dinâmica e
perpassa os conteúdos de toda a graduação.
Epistemologia da Comunicação
A proposta desse projeto de pesquisa era mergulhar nas questões concernentes ao
conceito e ao objeto da disciplina Comunicação, busca de desnaturalizar conceitos-chaves
fundamentais para compreender o nosso campo de pesquisa.
De forma semelhante às atividades de Pesquisa, a articulação do Ensino de
Comunicação com a Extensão vai se delineando desde o início do Curso.
46
O Núcleo Temático da Práxis da Comunicação expressava essa articulação entre
disciplinas – do Núcleo Básico Comum ao Núcleo Específico por Habilitação
Profissionalizante – e projetos acadêmicos de perfil eminentemente de inserção social.
Além dos grupos acima citados, já extintos, o curso de Comunicação Social da
Universidade Católica de Brasília conta com os seguintes grupos de pesquisa ativos e
cadastrados no CNPq:
Grupo de Estudos Avançados de Cultura Mediática e Organizacional
O grupo tem por objetivo produzir conhecimento em Comunicação a partir da
tradição do pensamento comunicacional e das pesquisas já produzidas no País e no exterior,
situando-o histórica e epistemologicamente, justificando suas tendências teóricas e
metodológicas, de forma a avançar na circunscrição do campo da comunicação como
ciência, destacando a valorização da formação docente e as possibilidades de inserção
transformadora nos processos da comunicação operados na mídia, na cultura e nas
organizações sociais. Este grupo foi formado em março de 2005, congregando originalmente
professores do Curso de Comunicação Social da UCB e serviu de embrião para a proposição
do Mestrado em Comunicação, aprovado pelo CTC da CAPES em 27 de fevereiro de 2008.
Um dos produtos desse grupo foi a coletânea Os Saberes da Comunicação: dos fundamentos
aos processos (Brasília: Casa das Musas, 2007, 252p, ISBN: 978-85-98205-26-7) e a revista
científica Comunicologia, periódico eletrônico de Comunicação e Epistemologia que visa
discutir e problematizar, seja por ensaios temáticos, seja por reflexões pontuais, a relação da
comunicação com o conhecimento científico, artístico e filosófico.
Grupo Razão-Poesia e Comunicação
O Grupo de Estudos em Razão-Poesia e Comunicação, da Universidade Católica de
Brasília (UCB), desenvolve suas pesquisas a partir da noção de Razão-Poesia no sentido da
construção de uma Comunicologia e de uma Comunicosofia. Assim, investiga a teoria da
comunicação, a filosofia da linguagem e a história das idéias comunicacionais a partir da
ótica da arte e da poesia. O Grupo está interessado em produzir, discutir e refletir em torno
da temática da poesia como possibilitadora do pensamento. Visa a criação de um espaço de
reflexão sobre a teoria da comunicação a partir dos diálogos entre arte e pensamento numa
47
perspectiva aberta e criativa que instigue a reflexão e o conhecimento. O Grupo organizou
tanto na UNB como na UCB grupos de leitura e estudo sobre o pensamento poético-
filosófico de Martin Heidegger, Octávio Paz e Roberto Juarroz. Produção, Edição e
lançamento de dois livros a partir das discussões do grupo, ambos do Prof. Gustavo de
Castro e Silva, a saber: O MITO DOS NÓS - AMOR, ARTE E COMUNICAÇÃO (Ed. Funiversa,
2006) e ITALO CALVINO - PEQUENA COSMOVISÃO DO HOMEM (Ed. UnB, 2006) fazem parte
do escopo da produção do grupo. Formação de grupo de estudos razão-poesia na internet,
com 25 participantes de todo o país. Palestra na Escola Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM) no 4 Simpósio Nacional de Comunicação e Práticas de Consumo, com a conferência:
Imaginação, Linguagem e Consumo visto a partir da Teoria da Razão Poesia, dia 24.08.2006.
Mesa Redonda "Artepensamento: as encruzilhadas da Razão-Poesia", nos dias 27 e 29 de
Setembro (2006), no auditório Top 006, da Universidade Católica de Brasília com a
participação dos artistas plásticos e professores Rômulo Andrade; Newton Scheufler e
Florence Dravet. A mesa foi coordenada pelo Prof. Gustavo de Castro e Silva.
Deve ressaltar, também, o papel dos Gabinetes de Pesquisa do Mestrado em
Comunicação da Universidade Católica de Brasília, com impacto direto na graduação:
Projeto “Patrimônio Imaterial da RIDE -Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno”
Coordenação na UCB: Prof. MSC. Alex da Silveira
De 2004 a 2006, o curso participou do Projeto “Patrimônio Imaterial da RIDE -Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno”, que ficou conhecido como
“Entorno que Transborda” e teve como característica o entrelaçamento de atividades de
pesquisa, ensino e extensão.
O objetivo geral foi inventariar e documentar expressões imateriais da cultura em
cinco municípios do Entorno do Distrito Federal, e foi desenvolvido como projeto
interinstitucional, contando com nove professores e doze estudantes-bolsistas do Curso de
Comunicação Social da Católica, e duas professoras e três estudantes-bolsistas do Curso de
História da Universidade de Brasília. Teve o patrocínio da Petrobras e o incentivo do
Ministério da Cultura e resultou na produção de livro, catálogo, exposição fotográfica e
vídeos referentes a cada um dos municípios pesquisados, lançados oficialmente em evento
interativo.
48
Mídias Organizacionais
Coordenação: Prof. Dr. Luiz Carlos A. Iasbeck
RESUMO: Organizações como fenômenos sociais comunicativos e comunicantes. A
função da comunicação na estruturação da ordem e na perpetuação dos vínculos que
justificam a existência das organizações. As instituições que administram e intermedeiam os
relacionamentos entre organizações e públicos de interesse. As relações de interesse e o
interesse que motiva relações. A ouvidoria e sua função midiática na compatibilização e na
conciliação de interesses. As peculiaridades das mídias e a orquestração de seus papéis no
concerto organizacional.
Palavras-Chaves: Mídias Organizacionais, Gestão da Comunicação, Comunicação
Organizacional, Ouvidoria, Serviços de Atendimento ao Consumidor, Comunicação
Integrada.
Linha de Pesquisa: Processos Comunicacionais nas Organizações
Rupturas da Convergência Digital: na Comunicação, nas Organizações, na Sociedade
Coordenação: Prof. Dr. João José Azevedo Curvello
RESUMO: E ste projeto se apresenta com o objetivo de avançar na compreensão das
rupturas paradigmáticas provocadas pela convergência digital e pelo advento de culturas
emergentes no contexto das organizações e da sociedade do conhecimento, de forma a
desvendar os mecanismos de construção autopoiética das novas redes de comunicação. As
bases teóricas para o tratamento desses temas se encontram nas contribuições de autores
como Niklas Luhmann, Darío Rodriguez Mansilla, José Luis Molina, Suzanne Holmström, Loet
Leydesdorff. Do ponto de vista metodológico, trabalharemos na perspectiva do
construtivismo radical e da cibernética de segunda ordem, da Análise de Redes Sociais e com
a concepção da teoria do ator-rede, desenvolvida principalmente por Callon e Latour.
Palavras-chaves: rupturas, paradigmas, convergência digital, tecnologia,
organizações, redes
Linha de Pesquisa: Processos Comunicacionais nas Organizações
Blog: rupturasdaconvergenciadigital.wordpress.com
Artes Tradicionais na Cultura Mediática
49
Coordenação: Profª. Drª Florence Marie Dravet
RESUMO: Na cultura mediática, o artista pode lançar mão de estratégias diversas
para construir sua legitimidade e se inserir no circuito institucionalizado da arte, tanto como
pode permanecer na invisibilidade. Quais são os mecanismos de legitimação e
reconhecimento do valor artístico da obra de um pintor, ou de um poeta, esses artistas que
falam através de linguagens tradicionais e não das formas multimediáticas e espetaculares
da arte tecnológica? De que forma o artista tradicional, para se inserir no circuito mediático
e assim ter mais chances de alcançar reconhecimento e visibilidade, tem que se submeter
aos ditames desse circuito ou, na perspectiva inversa, se valer de tal circuito, ou ainda,
dispensar tal circuito?
Linha de Pesquisa: Processos Comunicacionais na Cultura Mediática
Narrativas Publicitárias
Coordenação: Profª Drª Márcia Coelho Flausino
RESUMO: Objetivo de analisar a produção publicitária como narrativa do
contemporâneo, privilegiando as campanhas feitas para veiculação na televisão, mídia
impressa e internet. Tomamos como suporte teórico-metodológico os estudos culturais e a
narratologia, numa abordagem que toma estes discursos no processo de construção de
identidades a partir do consumo na cultura da mídia.
Linha de Pesquisa: Processos Comunicacionais na Cultura Mediática
Mídia e Cidadania
Coordenação: Profª Drª Liliane Maria Macedo Machado
RESUMO: O impacto social exercido pelas mídias eletrônicas e impressas no cenário
nacional contemporâneo; as mídias e a construção dos imaginários sociais; as mídias frentes
os grupos sociais minoritários: mulheres, homossexuais, negros, indígenas, deficientes; a
construção da mídia cidadã.
Palavras-chaves: mídias impressas, mídias audiovisuais, diferenças, identidade,
espetacularização, sensacionalismo, minorias, representações sociais, imaginários,
cidadania.
Linha de Pesquisa: Processos Comunicacionais na Cultura Mediática
50
Mídias Digitais
Coordenação: Profª Drª Elen Cristina Geraldes
RESUMO: Comunicação e novas tecnologias: inclusão e exclusão digital; novas formas
de recepção e produção midiáticas associadas às novas tecnologias; políticas de
Comunicação referentes às novas tecnologias; impactos na atuação do profissional de
Comunicação diante das novas tecnologias.
Linha de Pesquisa: Processos Comunicacionais na Cultura Mediática
Comunicação, Espiritualidade e Arte
Coordenação: Prof. Dr. Roberval Marinho
RESUMO: O estudo sistemático das relações fenomenológicas, conceituais e
complementares da comunicação com a espiritualidade e com a arte. O fenômeno da magia
na arte, na comunicação, na religiosidade e cultura populares. Encanto e magia nas
linguagens artísticas e mediáticas do passado. Encanto e magia nas linguagens artísticas e
mediáticas contemporâneas. Arte, comunicação e magia nas linguagens religiosas
contemporâneas.
Linha de Pesquisa: Processos Comunicacionais na Cultura Mediática
Extensão
Projetos Comunidades Educativas
Um exemplo de atuação do curso em atividades de relevância social está no Projeto
de Extensão Alfabetização e Comunidade Educativa, que se divide em 03 versões adequadas
a diferentes localidades do DF: Riacho Fundo II, Recanto das Emas e Areal. O projeto é
construído com moradores de regiões pouco favorecidas economicamente e busca realizar
ações sócio-educativas, culturais e de mobilização social nas mesmas, com o intuito de
melhorar a qualidade de vida da população. Em princípio, os gestores do projeto na UCB,
entre os quais há um educador, estagiários e voluntários do curso de Comunicação Social,
buscam conhecer a realidade local; procuram por pessoas com potencial de liderança e
determinado conhecimento popular (artesanato, música, plantas medicinais etc.) ou
profissional (construção civil, por exemplo); realizam treinamentos, com espaços e recursos
51
da universidade e da localidade de cada ação, para que estas pessoas difundam o
conhecimento adquirido na comunidade.
Dentre os projetos desenvolvidos por professores e estudantes do Curso estão
oficinas de imagem popular (fotografia e vídeo), documentação fotográfica, atividades de
leitura crítica e política da imagem.
Revista Dialogos e Coordenação de Comunicação
Uma das atividades do curso de Comunicação Social diretamente vinculada à
extensão é a participação na Revista Dialogos, publicação nos formatos impresso e digital,
sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão da UCB, criada em 2002. Trata-se de um
periódico semestral, que tem como objetivo fomentar e divulgar a produção de
conhecimento sobre Extensão Universitária em nível nacional.
A Dialogos conta com a colaboração de docentes do curso de comunicação na sua
equipe editorial também com a atuação de dois bolsistas e de monitores voluntários, todos
alunos integrantes dos projetos do curso de Comunicação Social, Captura e da Casa da Mão,
sob orientação dos professores responsáveis. Professores e alunos participam do cotidiano
das atividades extensionistas bem como exercem atividades diretamente vinculadas à
prática do profissional da imprensa, tais como redação de textos, captação e tratamento de
imagens, divulgação e contato com a comunidade acadêmica de todo o país. Ao longo de
oito anos, foram editados 10 volumes da revista, trabalho que propiciou a aproximação
entre graduação, pesquisa e extensão beneficiando o desenvolvimento humanístico, ético e
acadêmico dos envolvidos no projeto.
A coordenação de comunicação da extensão é formada por professores e estudantes
do Curso de Comunicação Social, que além de estratégias comunitárias de mobilização, atua
na manutenção e desenvolvimento do site da PROEx, em coberturas fotográficas, em ações
conjuntas com a Diretoria de Comunicação e Marketing da Universidade.
2.4. FORMAS DE ACESSO O estudante ingressa no Curso de sua escolha por meio de processo seletivo,
denominado vestibular, que é realizado em data e horário estabelecidos em edital
amplamente divulgado. A execução técnico-administrativa do concurso vestibular fica a
cargo da Fundação Universa – Funiversa, conforme o Oitavo Termo Aditivo ao Acordo de
52
Mútua Cooperação No 80.019/2005, celebrado entre a União Brasiliense de Educação e
Cultura – UBEC (Mantenedora da UCB) e a Fundação Universa – Funiversa. Os cursos de
Graduação funcionam sob o regime de créditos, com pré-requisitos estabelecidos na Matriz
Curricular. Tal regime possibilita ao estudante cursar, a cada semestre, disciplinas que
totalizem diferentes quantidades de créditos, a partir do mínimo de 12 créditos. Poderão se
inscrever no processo seletivo os candidatos que já tenham concluído ou estejam em fase de
conclusão do ensino médio ou equivalente, devendo apresentar obrigatoriamente o
documento de conclusão do Ensino Médio no ato da matrícula. O Processo Seletivo consta
de dois cadernos de provas sobre os conteúdos dos programas dos ensinos fundamental e
médio, sendo 1 (uma) prova de Redação e 4 (quatro) provas objetivas, comuns a todos os
candidatos. As provas objetivas constarão de questões de Língua Portuguesa, de
Conhecimentos Gerais (Geografia, História e Atualidades), de Matemática e de Ciências
(Biologia, Física e Química) para todos os cursos. Será eliminado do Processo Seletivo o
candidato que obtiver resultado 0 (zero) ponto em uma ou mais das provas objetivas, e/ou
nota menor que 20 (vinte) em Redação (de um total de 100).
Na possibilidade de ter vagas ociosas, a UCB recebe estudantes advindos de outras
IES, desde que estas estejam regularizadas em consonância com a legislação brasileira. Há,
na hipótese de vagas ociosas, possibilidade de aceitar candidatos que apresentam
desempenho em outros processos seletivos realizados em outras IES, desde que tragam
declaração de desempenho com aproveitamento mínimo de 70%. Nesse caso, também é
possível o ingresso de candidatos que tenham realizados avaliações oficiais, tais como o
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. A UCB, como participante do Programa de
Governo Universidade para Todos, possui vagas reservadas para os candidatos
encaminhados pelo MEC habilitados para receberem bolsa PROUNI.
2.5. PERSPECTIVA INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO
O outro em sua diferença nos constituiu, logo a diversidade é uma condição para
nossa humanidade. A partir dessa perspectiva, o Ministério da Educação teve como iniciativa
o programa Diversidade na Universidade para favorecer o ingresso e permanência na
universidade da população socialmente desfavorecida, através da melhoria da qualidade do
ensino médio, da inclusão social e do combate à discriminação racial e étnica. É importante
53
adotar a filosofia da inclusão considerando ainda, as pessoas com necessidades educacionais
especiais (PNES)21.
A Universidade Católica de Brasília, sensibilizada com a problemática da inclusão,
está totalmente adaptada em termos de infraestrutura física, além de promover ações de
extensão, cujo objetivo é apoiar a inclusão de estudantes com ausência de visão, audição,
fala ou mobilidade física no contexto universitário. Para tanto, desenvolve ações
interdisciplinares e integradas que possam favorecer a implantação de uma política
institucional que garanta o acesso e a permanência de pessoas com necessidades especiais
na UCB. Além de ações de capacitação e acompanhamento profissional de funcionários(as)
da Instituição com necessidades especiais.
Fator relevante para o processo inclusivo são as disciplinas humanísticas de formação
institucional, pois têm caráter de formação integral, permitindo a reflexão sobre a sociedade
e seus valores, bem como as mudanças preconizadas em cada tempo, promovendo a
criticidade e a abordagem de temas contemporâneos relevantes para a convivência social.
Uma das ações implantadas na UCB para atender PNES constitui-se no
funcionamento de uma sala de apoio aos estudantes com necessidades educacionais
especiais onde são disponibilizados diversos serviços, entre eles: ledor; escrevente;
digitalização de capítulos (recurso muito utilizado para os deficientes visuais); alocação em
salas em andar térreo e, próximas a banheiros adaptados; auxílio de computador com
programa de voz; intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e outras demandas de
acordo com a necessidade dos estudantes e possibilidade de atendimento. A todos os PNES
também é ofertado a possibilidade de realização de atividade física.
Acreditando que seu papel social é definidor de sua missão, além da inclusão por
necessidades educacionais especiais, a UCB conta com programas de bolsas sociais próprios
e compõe com programas sociais do Governo Federal.
21
A DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, de 1994, sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais, Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. adota a expressao "necessidades educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem também sugere o uso expressão “pessoas com deficiência”, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Brasília, Setembro de 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=424&Itemid=>
54
Com estas ações, a UCB reafirma seu papel de formação integral da pessoa, pois
perpassa suas dimensões e necessidades, independente de sua natureza. Apesar de todas as
ações já desenvolvidas e em desenvolvimento, a questão da inclusão e diversidade se
aponta como um grande desafio para UCB, em especial no campo da formação de seus
professores e gestores. O desafio da tarefa formativa é o próximo passo nesta caminhada. 22
Serviço de Orientação Inclusiva (SOI)
O Serviço de Orientação Inclusiva (SOI), projeto vinculado à Diretoria de Programas
de Pastoral da Pró-Reitoria de Extensão – UCB, tem como intuito implementar uma política
de inclusão de pessoas com deficiência na Universidade, desenvolvendo ações continuadas
de acompanhamento aos estudantes e colaboradores com deficiência e orientando
professores, estudantes e demais setores da instituição quanto à construção de atitudes
pedagógicas e cooperativas que favoreçam as condições de acesso e permanência desse
público no contexto acadêmico e profissional.
É um projeto que responde ao desafio de orientar a instituição nas adaptações
inclusivas e promoção de acessibilidade, realizando levantamentos de infra-estrutura, perfil
dos estudantes com deficiência e intervindo em situações que prejudicam a mobilidade e
comunicação dessas pessoas. Além disso, o SOI desenvolve diariamente serviços de apoio
aos estudantes com deficiência, com adaptações de materiais, apoio como ledor e
escrevente, apoio de tradutor-intérprete de LIBRAS, guia para cegos, orientação profissional
e divulgação sobre oportunidades nos cursos de graduação, cursos de extensão e outras
informações da Universidade.
Perspectiva Inclusiva no Curso de Comunicação Social
Por meio de ações inclusivas, o curso de Comunicação Social recebe e apoia a
permanência de estudantes com deficiência na UCB. Com o intuito de propiciar o melhor
22
Texto compilado do Projeto Pedagógico Institucional, 2007.
55
aproveitamento das atividades acadêmicas são desenvolvidas ações de acolhimento com o
apoio da Assessoria pedagógica.
A partir do recebimento semestral da relação dos estudantes com deficiência
encaminhada pelo SOI, os professores do curso são comunicados através de e-mails sobre os
alunos com deficiência em cada turma, afim de que sejam tomadas providencias para que
suas atividades sejam adaptadas de acordo com a necessidade do aluno que irá receber. No
caso de disciplinas laboratoriais, é verificado se o laboratório atenderá a deficiência do
estudante.
A Assessoria pedagógica também faz contato com os estudantes com deficiência para
sondar sua adaptação no semestre, colhendo informações sobre possíveis necessidades de
algum tipo de equipamento específico ou se há quaisquer dificuldades com a disciplina.
Todos os casos são avaliados e sugeridas alternativas de adequação.
Além dos estudantes com deficiência, o curso também recebe estudantes bolsistas
do governo federal, distrital e de modalidades de bolsa social.
3. ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
3.1. CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM
A UCB tem consciência do vasto campo no qual se insere a educação e seus desafios,
seja na formação dos estudantes, seja na formação científica e pedagógica de seus
professores. Por essa razão, entende que nem só de ciência vive um professor. Um professor
se faz de ciência e pedagogia. E mesmo essa constatação já encerra um universo amplo para
o entendimento. Nesse sentido, opta por focar a aprendizagem, sua orientação e sua
avaliação. E o faz com a perspectiva de aproximar os professores e os estudantes dos
resultados mais recentes e relevantes das pesquisas sobre como as pessoas aprendem,
traduzindo-as para um processo de interação, no qual o professor se coloca como orientador
do ato de aprender e avaliador do desempenho e dos resultados em andamento.
Compreende-se que as pessoas aprendem de diversas maneiras, a partir do que já
sabem e, de certa forma, contra o que já sabem. Em uma perspectiva de integração, o
sabido é acolhido e problematizado, nunca negado. A atividade de criação precisa
intermediar o encontro do senso comum com o senso crítico, construindo, em diversos
movimentos, um conhecimento crítico e com sentido. Tornar o já sabido e aceito algo
56
incômodo e questionável é papel do processo formativo. Isso não se faz por uma única via,
ou seja, ao problematizar o senso comum a universidade deve problematizar-se também,
percorrendo “criticamente o caminho da crítica”, como advertiu Boaventura de Sousa
Santos.
O conhecimento que os estudantes detêm é central para o processo pedagógico. É
ponto de partida: O que eles já sabem? O que fundamenta esse saber? Que trajetos
resultaram no saber atual? Essas questões apontam para um processo a ser percorrido pelo
diálogo e pela cooperação entre todos os envolvidos.
Compreendendo a aprendizagem como elemento central de sua proposta
pedagógica, a UCB se coloca uma questão política: a centralidade na aprendizagem significa
compromisso com o futuro. Complexidade, problematização e estruturação tomam conta do
discurso como perspectiva de releitura da realidade, tendo-a como objeto de análise, ao
mesmo tempo em que se compõe como espaço do fazer. Nesse sentido a condição crítica é
constitutiva da universidade e espera-se dela posicionamento que aponte para um futuro
mais promissor e ético se comparado com a nossa experiência presente.
Todos estes fatores relacionados à aprendizagem exigem um cuidado rigoroso com
os saberes já existentes, criticidade e compromisso ético e estético com os estudantes e com
a sociedade, além de exigir, também, uma revisão do lugar da aula dentro da universidade. A
centralidade da aula é resultado de uma perspectiva instrucional que não favorece a autoria.
Por vezes, a organização do trabalho pedagógico prende e isola os estudantes em salas,
assistindo aulas, ouvindo explicações e fazendo provas. Desse modo, priva-os do que uma
universidade tem de melhor: a experiência do debate, da crítica, da argumentação e da
elaboração própria.
A aprendizagem centrada na pesquisa e na autoria do estudante e do professor
aponta para uma redefinição do papel da avaliação no processo de aprendizagem.
Geralmente, em especial na perspectiva instrucional, a avaliação é reduzida a momentos
especiais de aplicação de provas ou testes, onde se verifica o resultado das aulas. Nesse
sentido, infelizmente, algumas vezes as avaliações são utilizadas como momentos de
“acertos de contas” na relação entre professores e estudantes, com prejuízo para os últimos.
É preciso considerar que o processo de avaliação é um momento de exercício de poder e
como tal, também precisa ser avaliado.
57
A UCB aceita a avaliação como tendo, antes de tudo, um caráter formativo, ou seja,
avalia-se para ampliar o processo de aprendizagem, para apreender o que se está
aprendendo, o que ainda não está compreendido e seus motivos.
O processo de avaliação é um instrumento para revisão da intervenção dos
professores. Avaliando a aprendizagem dos estudantes se avalia o itinerário tomado pelo
professor. Portanto, a avaliação, mais do que seu caráter formativo, possui sua dimensão de
diagnóstico e subsídio para o plano de ensino. Além disso, a avaliação precisa tornar-se
prática de retorno, de revisão de conteúdos, de visualização do erro no processo, momento
especial de retomada do aprendizado e de redirecionamento da atuação de professores e
estudantes.
3.2 PRINCÍPIOS DA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Os Cursos de CSA oferecem ao seu corpo discente possibilidades de vivenciar a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e na busca e desenvolvimento do conhecimento,
promovendo a participação em projetos tais como: núcleos de estudos, núcleos de
simulação, empresas juniores, núcleos de prática jurídica, projetos sociais, disciplinas
comunitárias, atividades de iniciação científica e monitoria, dentre outros, que permitem ao
interagir com a comunidade, ajudando a transformá-la e sendo por ela transformado. Essa
indissociabilidade, além de ter implicações diretas sobre a vida dos educandos, tem também
repercussões no planejamento e nas atividades dos educadores. Dada a abrangência da
interação entre ensino, pesquisa e extensão na UCB, a universidade necessita constituir-se
em um elo efetivo entre sociedade e ação acadêmica propiciando o desenvolvimento de
competências e habilidades necessárias para a formação integral.
Formando profissionais tecnicamente preparados e, ao mesmo tempo, cidadãos
éticos, os Cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas alinham-se perfeitamente com um
dos objetivos estratégicos mais relevantes da UCB: aprimorar a excelência em todas as
áreas. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da área de CSA trazem em seu bojo processo
dialógico, permitindo aos estudantes de todos os Cursos da área optar por disciplinas de seu
interesse acadêmico. Assim, é comum, em diversas disciplinas oferecidas encontrar
estudantes não somente do curso responsável por aquele conteúdo, mas também
estudantes de outros cursos de CSA.
58
Ademais, tal interação também pode ser vista, através da lista de disciplinas
optativas dos Cursos de CSA, aberta a todos os cursos da UCB. Finalmente, ao propor uma
formação integral da pessoa humana, a UCB poderá aportar uma contribuição concreta e
diferencial ao desenvolvimento da nova realidade brasileira e das relações do País no âmbito
externo, com particular impacto para o DF e sua projeção no cenário nacional e
internacional. Essa interação acadêmica com a comunidade, “baseada na criação,
sistematização e difusão do conhecimento” (PDI, Pg. 16), é salutar e contribui, por meio do
compartilhamento dos saberes, para o desenvolvimento tanto da Universidade quanto da
própria sociedade.
Na área de Ciências Sociais Aplicadas, todos os Cursos e Programas baseiam seu
projeto pedagógico e sua estrutura curricular em uma concepção de aprendizagem como
processo interativo, de constante intercâmbio de saberes entre os educandos e os
educadores.
Nesse sentido, tanto professores quanto os estudantes carregam responsabilidades
no processo de aprendizagem, processo esse que vai além da mera repetição e reprodução
de conteúdos na perspectiva da hierarquia do saber, em que um professor – com
conhecimentos “superiores” – projeta ou despeja sobre o – “despossuído de conteúdos” –
um manancial de conhecimentos que espera que este último apreenda.
Na verdade, a partir da percepção da aprendizagem como um conjunto de práticas
pedagógicas e didáticas, um caminho de mão dupla no qual todos aprendem e todos
ensinam, as CSA visualizam o aluno como protagonista e o professor como mediador.
Dessa forma, se compõe o quadro das metodologias utilizadas. A partir dessa
perspectiva a sala de aula não seria mais o único espaço fundamental de encontro, pesquisa,
troca de saberes, discussão e projeção da extensionalidade do saber. O estudante passa a
buscar o seu conhecimento através da pesquisa, na realização de programas de extensão e,
ainda, em outros espaços de aprendizagem, como as plataformas de ensino a distância, que
também são utilizadas como ferramenta de complementação de conteúdo e comunicação
direta entre estudantes e professores em cursos presenciais.
A sistematização das práticas didático-pedagógicas em apenas um Projeto
Pedagógico por curso, que aparentemente poderia refletir-se em limitações ao processo
ensino-aprendizagem, revela-se positiva na medida em que é exatamente esse Projeto que
dá organicidade ao desenvolvimento e compartilhamento dos saberes. Ele reflete, na
59
verdade, uma diretriz clara e específica, ainda que ela permita interpretações variadas e
seja, de fato, um eixo norteador das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito
dos Cursos.
Os Projetos Pedagógicos de todos os Cursos das Ciências Sociais Aplicadas, ademais,
interagem e se intercomunicam, dado que sua própria elaboração é conduzida a várias
mãos: no âmbito do Curso, participam Direção, Colegiado, professores e estudantes; no nível
colegiado de área, as Direções também trabalham em conjunto, cooperando com vistas a
buscar o máximo de consonância, como cabe ser em uma Universidade.
É necessário enfatizar que, para a área, como também para toda a UCB, a proposta
pedagógico-didática passa pela necessária indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão. A educação superior não pode prescindir da interligação entre a produção do
saber, sua disseminação, comunicação e utilização, e é nessa via que os Cursos e Programas
de CSA concebem seu próprio desenvolvimento. Esses são os eixos estruturantes da prática
didático-pedagógica nas Ciências Sociais Aplicadas.
Há um núcleo de disciplinas compartilhadas nas CSA, além das de formação comum a
toda a Universidade. Para viabilizar esse compartilhamento, cada curso organiza horários e
turnos de disciplinas a serem ofertadas, com o intuito de atender às diferentes demandas
dos estudantes e otimizar a formação das turmas. Os docentes de diferentes cursos deve ser
estimulados a elaborar planos de ensino que considerem a diversidade de públicos em sua
disciplina, isto é, acolham os estudantes de cursos diferentes, com perspectivas variadas de
aproveitamento dos conteúdos para a formação profissional.
Quando não é possível realizar um intercâmbio com todos os cursos da área,
estimula-se a parceria com cursos mais próximos, que tenham interesses afins. Por exemplo,
Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis; ou Direito e Relações
Internacionais; Comunicação e Serviço Social; ou ainda Relações Internacionais e Ciências
Econômicas. Mas o profissional formado em qualquer curso de Ciências Sociais Aplicadas na
UCB deve perceber a sua vinculação com outras profissões da mesma aérea do
conhecimento e deve ser estimulado a buscar o intercâmbio.
Essa troca pode se dar de várias formas – o aluno deve ser orientado a cursar
optativas ofertadas pelos diversos cursos da área, desenvolver trabalhos em equipe com
estudantes de outros cursos nas disciplinas comuns e inclusive ler autores comuns a Ciências
Sociais Aplicadas, o que é facilitado pelo grande acervo da área.
60
As atividades complementares são outra oportunidade de compartilhamento de
saberes, experiências e recursos. Por exemplo, a realização de Seminários e de cursos de
extensão em conjunto com temáticas emergentes como direitos humanos, desenvolvimento
sustentável, empreendedorismo, finanças, entre outras, marcam a participação da área em
eventos como a Semana Universitária e favorecem a ampla discussão, por meio de
diferentes perspectivas, de temas da pauta social.
3.3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Tendo em vista as diversas práticas pedagógicas existentes na Universidade e por ela
valorizadas, bem como os princípios operativos da avaliação anteriormente referidos, cabe
fazer referência também a métodos de avaliação da aprendizagem e de aferição da
apreensão dos conteúdos disseminados e partilhados. Na UCB e, portanto, nas CSA, não se
privilegia um ou outro tipo de avaliação, mas se enfatiza a necessidade de um processo
coerente, inteligível, justo e equânime, além de progressivo e cumulativo. A coerência
significa que a avaliação deve estar de acordo com os conteúdos partilhados; a
inteligibilidade diz respeito à clareza com que as regras são instituídas; a justiça é afeita à
isenção na elaboração e correção dos processos avaliativos; a equanimidade refere-se à
generalidade e abrangência do processo, estando todos a ele sujeitos, ainda que se
privilegiem diferentes saberes de diferentes indivíduos; a progressividade e cumulatividade
se relacionam com a existência de múltiplas oportunidades de avaliação e de exigências
adequadas aos conteúdos partilhados até cada momento avaliativo. A opção por provas
escritas ou orais, dissertativas ou objetivas, trabalhos em equipe ou individuais, ou qualquer
outra forma de avaliação é, de fato, elemento a ser discutido e implantado a partir de um
consenso. Esse consenso pode dar-se entre educador e estudantes, entre Direção e
educadores, ou de forma mais abrangente, entre a Universidade e a comunidade. O mais
relevante é que de cada Plano de Ensino conste detalhadamente todo o processo avaliatório
para que todos os envolvidos – educadores ou educandos – estejam plenamente cientes de
cada passo e cada diretriz.
Mais especificamente no curso de Comunicação, a diversidade dos tipos de avaliação
é grande e não se constitui um problema, mas uma oportunidade de identificar e valorizar
diferentes perfis e aptidões profissionais. Há espaço, por exemplo, para os seminários, que
estimulam o trabalho cooperativo e a expressão oral; os artigos e monografias como
61
importantes instrumentos para a consolidação da reflexão e o aprofundamento na discussão
de temáticas complexas e polêmicas; as avaliações subjetivas para a aferição da capacidade
de síntese e de análise, bem como para a percepção do domínio do tempo para a execução
de objetivos; os exercícios de simulação das práticas profissionais como confirmação e/ou
superação dessas práticas. Tem-se em comum o cuidado em aferir as dificuldades e as
conquistas de cada estudante, fundamentando-se todo o processo de ensino-aprendizagem
e a etapa específica da avaliação numa relação cordial e afetuosa de respeito pelo histórico e
pelo perfil de cada um, evitando-se o distanciamento e a padronização.
3.4 INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Ao longo da história, a universidade foi identificada como o lugar do conhecimento.
Essa referência ao conhecimento implica em ter que considerar tanto o sujeito, quanto seu
processo e seu resultado. Em relação a esse conhecimento a Constituição Federal (1988)
definiu que universidades devem obedecer ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. Tais atividades, quando atuam de forma indissociável, potencializam as
competências e habilidades do educador e do estudante e oferecem maior consistência às
atividades comunitárias, atingindo, dessa forma, as finalidades mais significativas da
educação.
O princípio da indissociabilidade direciona e confere unidade intrínseca à criação,
sistematização e acessibilidade do conhecimento. O que configura, portanto, uma
integração entre essas atividades não é a somatória de um conjunto de ações, mas a
introdução de um processo que estimula a disposição do sujeito para ensinar e aprender por
meio da pesquisa, do ensino e da extensão.
As atividades do ensino, da pesquisa e da extensão são tempos, espaços e processos
de aprendizagem, em vista da formação do educando e da transformação social. Para tanto,
a universidade precisa constituir-se, cada vez mais, numa comunidade de aprendizes onde
se desenvolvem os talentos, as competências e as habilidades necessárias para a formação
pessoal, profissional e social. A atitude aprendente é, portanto, o elemento integrador das
diversas formas de produção e comunicação do conhecimento.
62
O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para constituir-se
num processo pedagógico tem necessidade de estabelecer, por um lado, uma aliança entre
aprendizes que desejem percorrer diversos caminhos para descobrir, degustar e divulgar
conhecimentos e, por outro, pautar esses conhecimentos, segundo as finalidades da
educação propostas pela Lei de Diretrizes e Bases, para o pleno desenvolvimento do
educando, o exercício da cidadania e a capacitação para o trabalho.
Por fim, a UCB, inspirada pelos princípios estruturantes da pastoralidade, da
extensionalidade, da sustentabilidade e da indissociabilidade, deseja construir um processo
educativo que seja a concretização da sua Missão. O Projeto Pedagógico Institucional precisa
revelar essa opção.
3.5 PAPEL DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
As tecnologias de comunicação estão provocando profundas mudanças em todas as
dimensões da sociedade, sejam elas educacionais ou não. Elas vêm colaborando, sem
dúvida, para modificar o mundo. Nesse sentido, há um evidente interesse da Universidade
Católica de Brasília em aproveitar os benefícios de seu alcance e difusão.
Sabendo que as tecnologias viabilizam novas e produtivas metodologias de ensino e
que as redes de comunicação permitem o processo ensino e aprendizagem, em tempo real,
em qualquer lugar do mundo, o ensino a distância viabiliza a produção compartilhada, a
formação de grupos cooperativos e o surgimento do trabalho em grupos.
No intuito de agregar as qualidades que tal modalidade de ensino permite e em
consonância com a Portaria do MEC 4.059/2004, que autoriza as Universidades a introduzir
na organização curricular dos seus cursos 20% de disciplinas semipresenciais, a Universidade
Católica de Brasília oferece disciplinas com a mesma carga horária do ensino presencial. Tais
disciplinas são acompanhadas por docentes da instituição com vínculo ao curso,
desenhando, assim, uma rede de interação semipresencial com os estudantes, a partir da
realização de encontros presenciais. Eis a portaria:
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, considerando o
disposto no art. 81 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no art. 1o do Decreto no
2.494, de 10 de fevereiro de 1998, resolve:
63
Art. 1o
. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização
pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas
integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial, com base no art. 81 da Lei
n. 9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria.
§ 1o
. Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semipresencial como
quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na
auto-aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes
suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota.
§ 2o
. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral ou
parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga horária
total do curso.
§ 3o
. As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida no caput serão
presenciais.
§ 4o
. A introdução opcional de disciplinas previstas no caput não desobriga a
instituição de ensino superior do cumprimento do disposto no art. 47 da Lei no 9.394, de
1996, em cada curso superior reconhecido.
Art. 2o
. A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir métodos e
práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de
informação e comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos, bem como prever
encontros presenciais e atividades de tutoria.
Parágrafo único. Para os fins desta Portaria, entende-se que a tutoria das disciplinas
ofertadas na modalidade semipresencial implica na existência de docentes qualificados em
nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, com carga horária específica
para os momentos presenciais e os momentos a distância.
Tendo em vista o crescente número de alunos matriculados na instituição, com
interesses e objetivos diferentes, a UCB procura oferecer maior flexibilidade na composição
da grade horária, possibilitando a inserção de disciplinas virtuais em todos os seus currículos
para que os estudantes, ao mesmo tempo em que têm a oportunidade de conhecer um
pouco do ensino a distância, estejam em contato com as novas ferramentas de comunicação
64
e informação. Dentre as razões indicadas pelos alunos da universidade para realizar tais
disciplinas, destacamos:
- Maior flexibilidade de estudo no que diz respeito ao tempo e ao espaço;
- A vontade de experimentar uma nova modalidade de aprendizagem, reconhecendo-
o como oportunidade de atualização;
- O reconhecimento de que as disciplinas oferecidas semipresencialmente são uma
forma de apoio para a qualidade das estruturas educacionais existentes;
- A percepção de que este é um espaço rico em interação e possibilidades de
comunicação;
- A possibilidade de estudo autônomo.
4. ATORES E FUNÇÕES A gestão do Curso de Comunicação Social, vinculado ao Centro de Áreas do
Conhecimento em Ciências Sociais Aplicadas, é definida por indicação da Reitoria a cada 4
anos, a partir de uma lista tríplice encaminhada pelo colegiado do curso a Pró-reitoria da
UCB. Para apoiar desenvolvimento das atividades inerentes à Gestão do Curso é definida
uma equipe de professores do curso para assessoramento pedagógico. No tocante ao perfil
dessa equipe, almeja-se adequada capacidade de acompanhamento e solução de problemas,
atuação crítica e pró-ativa e abertura ao diálogo, sempre em sintonia com os princípios que
orientam a prática pedagógica da Instituição e as diretrizes legalmente instituídas pelos
órgãos competentes.
No propósito de se manter fiel aos princípios estruturantes da UCB, sua Missão e sua
Visão de Futuro, as equipes de gestão, de docentes e colaboradores técnicos-administrativos
do Curso de Comunicação Social atuam de forma coordenada, participativa, sistêmica, ágil e
competitiva na dinâmica diária, na organização das demandas inerentes as especificidades
curriculares, de seus laboratórios e atividades correlatas.
Concebendo-se que a sociedade, por meio de suas instituições, deve assegurar aos
seus cidadãos um futuro de oportunidades dignas, a universidade – como uma dessas
instituições – deve contemplar, em seus projetos, as necessidades existentes e futuras da
comunidade. Necessita compor pautas de reflexões, análise e discussões internas do
processo educacional, contemplando alguns aspectos como: atores sociais e o seu próprio
65
processo de envolvimento – professores, estudantes, diretores, coordenadores,
colaboradores administrativos e comunidade na qual se inserem –, mudanças sociais e
econômicas ocorridas no mundo contemporâneo que afetam a escola e processos
educacionais.
Reunir esses elementos em um processo analítico e comprometido com a realidade
educacional e do país significa buscar subsídios para que todos os atores sociais consigam
atuar, participar e transformar a sociedade.
4.1. Perfil de gestão acadêmica
Em conjunção com os estudantes e educadores, os cursos da UCB dispõem de uma
equipe de gestão composta pelos diretores, assessores e pessoal técnico-administrativo de
apoio ao ensino. No tocante ao perfil dessa equipe, almeja-se adequada capacidade de
acompanhamento e solução de problemas, atuação crítica e pró-ativa e abertura ao diálogo,
sempre em sintonia com os princípios que orientam a prática pedagógica da Instituição e as
diretrizes legalmente instituídas pelos orgãos competentes. Em relação à tomada de
decisão, destaca-se o estímulo às decisões colegiadas e compartilhadas. Espera-se, portanto,
que o conjunto de atores e processos articulem-se de forma a possibilitar o alcance da
Missão Institucional, bem como da formação necessária e desejada para os profissionais da
área formados pela UCB. O gestor do Curso de Comunicação Social, portanto, está alinhado
aos objetivos propostos pelo PPI da Universidade Católica de Brasília, empenhado em
cumprir a Missão Institucional, voltando-se para três importantes tarefas: 1) gestão
acadêmica; 2) gestão de pessoas; 3) gestão orçamentária.
Dessa forma, cabe ao gestor buscar excelência em sua unidade e investir na formação
permanente tanto de seus colaboradores quanto na própria, ocupando-se não só “dos
desafios de uma pequena parte, mas dos desafios gerais da instituição, zelando pela
excelência acadêmica, pela satisfação dos colaboradores e pelo equilíbrio financeiro do
conjunto” (PPI, 2008, p.33).
Essa formação permanente, especialmente no que tange ao corpo docente, é uma
preocupação da Universidade Católica de Brasília e se encontra prevista no PRPD (Programa
de Reconstrução das Práticas Docentes) e outros documentos da instituição. O PRPD
estabelece então, como meta da formação permanente, o desenvolvimento contínuo das
66
habilidades do docente, num processo coletivo de aperfeiçoamento das práticas
educacionais.
4.2 Perfil do docente da Área
Nessa perspectiva, é de fundamental importância que o educador que compõe o
quadro das CSA seja capaz de mediar o processo de aprendizagem utilizando-se do
permanente diálogo, produzindo com os estudantes conhecimentos voltados para uma
atuação crítica e propositiva em relação às demandas e necessidades da sociedade. Esse
processo deverá conduzir os envolvidos à reflexão sobre os desafios presentes e incentivar a
busca de soluções criativas e empreendedoras.
Assim, o perfil do educador da área fundamenta-se na necessidade de ser orientador
da aprendizagem e, dessa forma, capaz de propor, acompanhar e avaliar o processo de
aprendizagem dentro de um enfoque plural e aberto a novos métodos. Tendo como núcleo
basilar a construção da aprendizagem, vista de acordo com os princípios pedagógicos da UCB
nos quais ela “é meio e fim de seu fazer”, os processos relacionados devem envolver: uma
dimensão pedagógica, capaz de orientar o ensino, a pesquisa e a extensão, articulando-os
com os problemas da sociedade e da cidadania; uma dimensão científica, que tem como
foco a expansão e comunicação do conhecimento; e uma dimensão ética, que permita
atuação profissional adequada e com respeito aos direitos humanos. Dessa forma, a área
fortalece a aprendizagem como um processo de trocas, em que a pesquisa, o ensino e a
extensão são indissociáveis e a avaliação não se restringe a uma perspectiva instrucionista,
ou seja, à aplicação de provas ou testes.
4.2.1 Formação Continuada dos Docentes da Universidade Católica de Brasília
A formação continuada dos professores da Universidade Católica de Brasília é
realizada por meio do Programa de Reconstrução das Práticas Docentes (PRPD). Este
programa parte dos pressupostos fundamentais de que o professor não é objeto da
formação, mas sujeito do seu processo formativo e de que a docência se dá numa relação
dialógica com os estudantes. O programa tem como premissa evitar submeter o professor à
lógica do treinamento, instigando-o a assumir a própria prática como objeto de sua
curiosidade e elaboração. Como meta final, o programa pretende que o docente consiga
67
articular o projeto pedagógico institucional com os planos de ensino de cada uma de suas
disciplinas.
Neste sentido, o objetivo do PRPD é realizar um processo formativo que tenha como
ponto de partida a experiência docente dos professores, estimulando-os a refletirem e a
reconstruírem suas práticas, de modo a contribuir para a consolidação coletiva do perfil
docente desejado pela universidade.
As atividades realizadas no PRPD articulam momentos presenciais e virtuais com o
intuito de potencializar o tempo do professor e aproximá-lo da dinâmica do papel das mídias
na educação. Os conteúdos desenvolvidos nestas atividades são: aprendizagem (orientação
e avaliação da aprendizagem), diversidade, juventude, cooperação e novas tecnologias
educacionais.
O programa é composto por três fases. A fase I visa pensar a prática a partir da
questão norteadora “Como Ensino”. A fase II tem como objetivo aprofundar a reflexão em
torno do fazer docente. Para isto, os professores são instigados a fazer leituras dos autores
que pensam a aprendizagem, avaliação e orientação da aprendizagem. A fase III é o
momento de elaboração. Após a reflexão sobre o conteúdo da prática e o acesso às teorias,
os professores são motivados a elaborar e re-elaborar o seu fazer.
O processo descrito acontece em salas de aulas virtuais. Nos momentos presenciais
ocorrem oficinas, grupos de trabalho sobre a prática docente, palestras e mesas redondas
que aprofundam os conteúdos citados anteriormente.
4.3. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE E COLEGIADO
4.3.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE
O Núcleo Docente Estruturante é formado pelo diretor e cinco docentes diretamente
engajados nos processos de criação, implementação, avaliação e revisão do Projeto
Pedagógico do Curso. Sua composição leva em consideração, além da titulação e do regime
de dedicação do docente, o envolvimento do docente com o curso e a representatividade
das áreas de formação do curso, conforme Parecer CONSEPE n.º 91/2010 de 24 de agosto de
2010.
O Núcleo Docente Estruturante é formado por um grupo de professores diretamente
engajados nos processos de criação, implementação, avaliação e revisão do Projeto
68
Pedagógico do Curso. Sua composição leva em consideração, além da titulação e do regime
de dedicação, o envolvimento do docente e a representatividade das áreas de formação do
curso.
O Curso de Comunicação Social possui, na composição de seu NDE, professores
representantes das duas habilitações (Publicidade e Propaganda e Jornalismo), bem como
das diversas áreas (formação humanística, gráfica, audiovisual, web, texto, pesquisa em
comunicação) que compõem a sua estrutura curricular.
São realizados ordinariamente encontros mensais para acompanhamento do PPC,
das avaliações internas e externas para, a partir delas, traçar estratégias e ações com vistas
ao diálogo mais estreito entre disciplinas, à melhoria das condições de ensino e dos
resultados alcançados no processo ensino-aprendizagem. O NDE cuida ainda da
indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão preconizada pela Universidade Católica
de Brasília no cotidiano de suas práticas educativas.
Em situações mais desafiadoras, como na revisão de todo o Projeto Pedagógico do
Curso, de mudanças curriculares nacionais, a periodicidade dos encontros do NDE é regida
pela necessidade dessas demandas.
4.3.2 Colegiado do Curso
Os colegiados são formados por docentes que atuam no curso, independente de sua
titulação, formação ou dedicação; e por um representante do corpo discente e um do corpo
técnico-administrativo.
O colegiado do Curso de Comunicação Social, de caráter consultivo, é composto por
integrantes com representatividade e importância nas decisões sobre assuntos acadêmicos
do curso:
· Docentes: Todos os professores interessados em participar das discussões
propostas.
· Discentes: representantes do Centro Acadêmico e/ou representantes de turma.
· Administrativo: assessora pedagógica do Curso e/ou técnico administrativo de
laboratórios e EAPs.
Dentre suas atribuições destacam-se:
· Discussão, elaboração, acompanhamento e avaliação de políticas para aproximar
corpo docente, discente e administrativo.
· Debate de projetos educativos e de investimentos prioritários.
69
· Criação e implementação de melhorias da qualidade de trabalho e das condições de
ensino-aprendizagem.
· Construção de um projeto de Curso com vistas à sustentabilidade.
Em seu funcionamento, o Colegiado deve comprovar a sua constituição e as suas
atribuições, por meio de documentos oficiais da instituição.
São realizados habitualmente encontros mensais, com a possibilidade de aumento
dessa freqüência em situações de maior complexidade.
4.4 Perfis de Colaboradores Técnico-Administrativos
São 14 funcionários e 5 estágiarios ligados mais diretamente ao curso de
Comunicação Social da UCB e que atuam nos laboratórios específicos de Rádio e TV,
fotografia e na Direção do Curso. A seleção para estas funções leva em conta o
conhecimento específico da área, a experiência, bem como a capacidade de trabalho em
equipe e de relacionamento com outros funcionários, professores e estudantes.
A maioria dos colaboradores técnico-administrativos do Curso de Comunicação Social
da UCB estudam ou estudaram na Instituição, seja na graduação ou em cursos de
especialização. Muitos são ex-alunos do curso de Comunicação Social. Dessa forma, a
Instituição estimula a formação continuada de seus profissionais, ação que reverte para a
qualidade do trabalho e do curso.
4.5. Perfil dos discentes da área
A área de Ciências Sociais Aplicadas tem como foco a formação de estudantes e
egressos com capacidade de pensar, propor e conduzir, de forma crítica e ética, ações
voltadas para a construção da sociedade em que vivem. Para isso, torna-se necessária uma
abordagem calcada na integração, em que o saber é problematizado e não se limita à sala de
aula, sendo um processo construído a partir de diferentes percepções. A especificidade da
área de Ciências Sociais Aplicadas está na conjugação de conhecimentos e olhares nos mais
diversos aspectos da vida social: econômicos, políticos, culturais, jurídicos, contábeis,
administrativos, sociológicos, tendo em vista o âmbito doméstico e o internacional.
Os estudantes da área, por sua vez, ao chegarem à Universidade devem estar abertos
às oportunidades oferecidas, no sentido de estimular suas capacidades e habilidades de
pensar criticamente, de analisar e se comprometer com a solução dos problemas da
70
sociedade. É desejável também que o estudante possua capacidade de trabalho em equipe e
interação com outras pessoas e culturas, sendo capaz de respeitar as diferenças e conviver
com elas. Que possa também encontrar na experiência formativa proporcionada pela UCB
uma porta de entrada para uma postura de constante aprendiz diante da vida.
Pretende-se, com isso, que o estudante da UCB possa contribuir para a sua própria
transformação, atuando crítica e eticamente, transitando nas mais diferentes áreas do
saber, adaptando-se e desenvolvendo-se em outras áreas diferentes daquela de sua
formação. A necessidade de construir seu conhecimento no conjunto dos diversos saberes
da área fortalece a capacidade dos estudantes e egressos de caminhar em diferentes
situações, buscando de forma conjunta a promoção de ações comprometidas com os
desafios da sociedade.
A partir dessa perspectiva, espera-se que os egressos da área de Ciências Sociais
Aplicadas da UCB apresentem sólida formação geral e humana, que proporcione postura
crítica e flexível diante da complexidade. Além disso, os egressos da área deverão
desenvolver as devidas habilidades para a atuação profissional competente e
constantemente atualizada, sempre comprometida com a sociedade. Espera-se, em relação
às atitudes, um comportamento ético e compromissado, que revele capacidade para a
tomada de decisões, espírito crítico, liderança e facilidade de atuação em grupo, adequada
capacidade de comunicação oral e escrita, iniciativa, empreendedorismo e compromisso
com a permanente atualização.
4.6. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
4.6.1 Perfil do Egresso do Curso de Comunicação Social
O egresso do Curso de Comunicação Social, da Universidade Católica de Brasília
deterá as competências necessárias para o livre e responsável exercício das atividades
profissionais exigidas do jornalista e do publicitário nos meios de comunicação da
Administração Pública, da Empresa Privada e do Terceiro Setor. Além disso, deverá ser um
cidadão capaz de:
• atuar como tradutor e intérprete da realidade, com a capacidade de
compreender criticamente os mecanismos envolvidos nos processos de
produção e recepção das mensagens e seu impacto sobre os diversos setores
da sociedade;
71
• agir de forma integrada e cooperativa em programas envolvendo equipes
multidisciplinares;
• apoiar atividades profissionais em pesquisa na área de comunicação;
• empreender projeto empresarial próprio no mercado das comunicações;
• apoiar, com visão sistêmica e estratégica, as ações de comunicação de
organizações e atuar na gestão de processos comunicacionais e culturais;
• dominar as novas competências multimídia;
• assumir uma postura de pensador, de aprendiz, de alguém que é capaz de
compreender as múltiplas facetas de um fenômeno e interferir sobre elas. Ou
seja, alguém com abertura ao novo e com os domínios de um saber plural e
comprometido socialmente;
• ser crítico, criativo, participativo e ético.
4.6.2 Perfil do Egresso da Habilitação em Jornalismo
Para compor o perfil da habilitação Jornalismo, pode-se evidenciar algumas das
expectativas estabelecidas na Portaria 288, de 30 de janeiro de 2002. No delineamento do
perfil profissional, o egresso deve ter:
• domínio de conteúdos teóricos e metodológicos relevantes para a prática e
reflexão jornalística;
• capacidade para perceber os fatos de interesse jornalístico, apurá-los e
transformá-los em mensagens para diferentes meios de comunicação;
• capacidade para compreender, analisar, interpretar, explicar e contextualizar
as informações do mundo em que vive;
• competência para lidar com situações novas, desconhecidas e inesperadas;
• capacidade de adaptar-se a diferentes situações de trabalho ou atuação;
• posições independentes, no que diz respeito às relações de poder e a todas as
mudanças que ocorrem na sociedade;
• capacidade de empreender projetos na área de comunicação;
• capacidade para trabalhar em equipe com profissionais e fontes de
informação de qualquer natureza.
• Além disso, o egresso da Habilitação em Jornalismo deverá ser capaz de:
72
• produzir conhecimentos com base em fatos atuais, a partir de uma visão geral
desses fatos, com distanciamento crítico, para o desenvolvimento social;
• sintetizar e disponibilizar informações de interesse da sociedade;
• desenvolver a atividade jornalística com precisão e correção, fundamentando-
se no Código de Ética do Jornalismo;
• trabalhar em veículo de comunicação e em instituições que exerçam
atividades próprias da imprensa e de informações jornalísticas de interesse
geral e setorizado.
4.6.3 Competências e Habilidades do Egresso da Habilitação em Jornalismo
O egresso do Curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo, deverá ser
capaz de:
• registrar o fato jornalístico, interpretando-o e transformando-o em notícias e
reportagens;
• contextualizar as informações;
• validar informações, produzir textos jornalísticos, com objetividade, editando-
os em tempo real;
• elaborar pautas, planejar e realizar coberturas jornalísticas;
• elaborar questionários e realizar entrevistas;
• ter acesso a quaisquer fontes de informações;
• ser capaz de lidar com situações inesperadas;
• ser capaz de desenvolver projetos – cumprindo suas etapas – na área de
comunicação jornalística;
• ser capaz de proceder à análise crítica de produtos e empreendimentos
jornalísticos;
• conduzir eticamente as informações de interesse público, assumindo
compromisso com a cidadania;
• manter postura ética frente às relações de poder e à sociedade;
• dominar a língua nacional para bem desenvolver as suas atividades
jornalísticas;
• adequar a linguagem às diferentes tecnologias;
73
• prestar assessoria de comunicação em organizações públicas, privadas e do
terceiro setor.
4.6.4 Perfil do Egresso da Habilitação em Publicidade e Propaganda
Para a composição do perfil específico da habilitação Publicidade e Propaganda, são
consideradas as seguintes características:
• capacidade de se posicionar como profissional da área de negócios,
procurando estabelecer estratégias, solucionar problemas de comunicação e
atender aos objetivos institucionais e de mercado;
• habilidade para atuar em áreas como planejamento, criação, produção,
difusão e gestão da comunicação publicitária;
• competência para desenvolver trabalhos em agências de publicidade, veículos
de comunicação e assessorias de comunicação e de marketing nas esferas
pública, privada e do terceiro setor.
4.6.5 Competências e Habilidades do Egresso da Habilitação em Publicidade e
Propaganda
Como habilidades específicas para essa habilitação acrescentam-se conhecimentos
que deem a esse profissional de Publicidade e Propaganda a possibilidade de:
• obter dados por meio de pesquisas, selecionar e organizar informações para
fazer diagnóstico da situação dos clientes, estabelecer estratégias e formas de
criação, produção e avaliação dos resultados de campanhas publicitárias;
• dominar linguagens e ter competência estética e técnica para criar, orientar e
julgar materiais de comunicação pertinentes às suas atividades;
• contratar e acompanhar serviços de fornecedores;
• executar e/ou orientar o planejamento de mídia, aí incluindo análise de
pesquisas, seleção de veículos, programação e controle de veiculação;
• compreender os papéis desempenhados pelos clientes (anunciantes),
agências e mídias (veículos); assimilar criticamente conceitos que permitam a
compreensão das práticas e teorias referentes à Publicidade e a Propaganda.
74
• planejar, criar, produzir, difundir e gerir comunicação publicitária, ações
promocionais, eventos e patrocínio, atividades de marketing e assessoria
publicitária;
• trabalhar em agências especializadas de propaganda, empresas anunciantes,
promoção, veículos de divulgação e em outras empresas que desenvolvam
atividades ligadas à área.
• realizar e interpretar pesquisas quantitativas e qualitativas de opinião, de
mercado, de mídia, de criação e de comportamento que subsidiem soluções
recomendadas aos clientes, bem como a seleção do veículo de comunicação;
• planejar campanhas de publicidade, propaganda e marketing, definindo
objetivos e estratégias de trabalho de criação e produção;
• dominar linguagens e técnicas para criar, orientar e julgar matérias de
comunicação;
• dominar as características peculiares da linguagem própria de cada mídia
como instrumentalização de ações da comunicação;
• segmentar o mercado e estudar o seu comportamento para identificar os
desejos e as necessidades de consumidores, bem como as variáveis que o
levam a preferir um determinado produto;
• dominar novas tecnologias para produzir peças de campanha publicitária;
• estabelecer a inter-relação dos diversos atores envolvidos no ambiente onde
se desenvolvem a publicidade e a propaganda – anunciante, agência e veículo
de comunicação;
• identificar a evolução econômico-social, em nível nacional e global, que
influencia o ambiente onde se desenvolvem a Publicidade e a Propaganda;
• estabelecer relação entre a sua profissão e as demais, identificando a
importância do profissional da Publicidade e Propaganda para a sociedade;
• prestar assessoria de marketing e comunicação em organizações públicas,
privadas e do terceiro setor.
4.7. PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL A Comissão Própria de Avaliação – CPA é um conselho consultivo, com participação
de membros da comunidade externa e interna da Universidade, criada pela Portaria UCB nº
75
154/04, de 27/05/2004. De acordo com o disposto no art.11 da Lei 10.861/04, cada
instituição deve constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu processo
interno de avaliação e disponibilizar informações. A CPA é composta por profissionais e
cidadãos da Comunidade Universitária e representantes da Sociedade Civil Organizada, em
função de reconhecida capacidade e idoneidade para colaborar com a Universidade. A
CPA/UCB é constituída de 10 integrantes representantes dos 4 segmentos – corpo docente,
corpo discente, corpo técnico-administrativo e sociedade civil organizada.
A Autoavaliação Institucional é um processo permanente de construção e formação,
por isso abrange diferentes dimensões e agentes. Deve ser uma construção coletiva dos
sujeitos que integram a Universidade buscando o aperfeiçoamento de práticas. As
informações referentes à CPA/UCB e as autoavaliações podem ser obtidas através do site
http://www.cpa.ucb.br/.
O processo de autoavaliação da Universidade está consolidado desde 1996, antes
mesmo da criação da CPA/UCB, e aborda as seguintes categorias: a) avaliação do projeto
institucional; b) avaliação do ensino; c) avaliação dos cursos; d) avaliação do contexto social
e do processo seletivo; e) avaliação da extensão; f) avaliação da pesquisa; g) avaliação
setorial e de gestão; h) avaliação da educação a distância; i) outras avaliações. As
especificidades de cada avaliação estão explicitadas no Programa de Autoavaliação
Institucional – PAIUCB.
Esse processo de autoavaliação, está fundamentado em parâmetros que partem da
avaliação da aprendizagem dos cursos na Universidade, chegando à particularidade da
avaliação do desempenho dos serviços de apoio. As avaliações empreendidas são
referenciadas pelo programa institucional e têm uma função predominantemente
diagnóstica/formativa, representando a possibilidade de ampliar o autoconhecimento,
corrigindo os rumos e os meios para atingir os objetivos propostos.
Nesse sentido toda a comunidade universitária – Alta Gestão, Direções de Curso,
Núcleo Docente Estruturante, docentes, discentes e a equipe de Avaliação Institucional –
participa do processo de Avaliação Institucional.
No que se refere aos Cursos de Graduação, a avaliação é realizada semestralmente,
com a participação de professores e estudantes, onde são avaliadas as condições de
desenvolvimento das habilidades e competências previstas nos objetivos dos cursos e nos
Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC. São realizados diagnósticos do
76
ensino/aprendizagem, que avaliam a qualidade do ensino e da aprendizagem desenvolvida
em sala de aula, e o comportamento acadêmico de docentes e discentes, por meio de
aplicação de questionário on-line. A avaliação tem por objetivo melhorar a qualidade do
ensino, proporcionando “feedback” aos professores e estudantes sobre seus desempenhos
em sala de aula e identificar pontos críticos relacionados ao processo educativo. A pesquisa
também diagnostica as condições da estrutura necessária ao ensino e analisa as condições
de vida acadêmica no Campus.
Por ser um trabalho de construção coletiva, os dados colhidos no processo de
autoavaliação são discutidos pela CPA/UCB e os resultados são direcionados aos setores
competentes. Neste sentido, as avaliações obtidas dos cursos de graduação são
encaminhados para o Núcleo Docente Estruturante, discutir, propor ações e apresentar ao
Colegiado do Curso para servir de parâmetros para a tomada de decisão pela gestão do
curso. Os professores, igualmente, recebem avaliação feita pelos estudantes e podem
realizar uma autoavaliação sobre seu desempenho no ensino, buscando estratégias
particulares para a melhoria de desempenho.
5. RECURSOS 5.1. RECURSOS INSTITUCIONAIS
Na década de 90, ganhava força o conceito de sustentabilidade, definida como a
capacidade que empresas, instituições, organizações e grupos devem desenvolver para
planejar e executar ações que objetivem preservar recursos naturais e humanos, evitando o
desperdício, maximizando sua utilização de maneira racional e tendo em mente a
sobrevivência das futuras gerações. Sustentabilidade envolve, portanto, aspectos
ambientais, econômicos e administrativos, sem desrespeitar as questões culturais envolvidas
nessas decisões. Um dos pilares desse conceito é o compartilhamento – de saberes, de
experiências, de capacidades, de recursos.
O compartilhamento na UCB é fundamentado na política de Fomento e Manutenção
dos laboratórios, que se consolida por meio das atividades de uma Comissão de
Investimentos, composta por membros de todas as áreas, além de técnicos e especialistas.
Esse compartilhamento não se dá somente por meio da divisão de espaços e custos, mas
também pelo aproveitamento conjunto do trabalho dos técnicos, que apóiam,
normalmente, a mais de um curso na mesma área. A UCB caminha para a implementação,
77
em todas as áreas de conhecimento, de laboratórios multiuso, que se destacam pela baixa
ociosidade, pela maior sustentabilidade e pelo estímulo ao ensino, à pesquisa e à extensão,
realizados conjuntamente, na mesma área e em áreas afins do conhecimento.
Com o intuito de favorecer o ambiente universitário de diálogo e convívio entre
várias carreiras, a UCB estimula a oferta de disciplinas comuns a vários cursos, entendendo
que este é um caminho importante para a sustentabilidade e também para uma formação
profissional multidisciplinar.
5.1 .1Unidade de Assessoria Didático-Administrativo – UADA
A Unidade de Assessoria Didático-Administrativo (UADA) é o órgão encarregado de
fornecer suporte administrativo aos colegiados de área de conhecimento, diretorias de
cursos e programas, espaços de aprendizagens práticas e demais setores de apoio ao ensino
de graduação, e de gerenciar os espaços administrativos e acadêmicos da Universidade
Católica de Brasília. A UADA pauta suas ações a partir das informações geradas pelos
indicadores de resultados obtidos mensalmente, pela Seção de Informação e Análise (SAI).
Nesse sentido, compete à UADA, entre outras atribuições, assessorar a PRG e Reitoria
com relatórios e pareceres com informações pertinentes ao gerenciamento de espaço, para
acompanhamento e tomada de decisões, bem como Monitoramento dos Relatórios de
Atividades e Indicadores de Resultados das Seções.
A UADA coordena ainda as seguintes supervisões:
Supervisão de Espaços de Aprendizagem Prático-Profissionais – EAPs. Os EAPs são
ambientes que propiciam aos discentes oportunidades de realizar experimentos,
treinamentos, observações e análises científicas, de modo a consolidar a sua aprendizagem,
articulando teoria e prática. Os EAPs atualmente são constituídos por 124 laboratórios
acadêmicos e 30 laboratórios de informática.
Supervisão de Apoio ao Professor – SAP. Encarregada de supervisionar e coordenar
os trabalhos desenvolvidos nos diversos setores de atendimento localizados em cada bloco
do Campus I e Campus II, A SAP supervisiona também a utilização das salas de aula
equipadas com projetor de multimídia, sistema de som, tela de projeção e computador com
acesso a internet, e demais espaços destinados a atividades acadêmicas dos professores.
Supervisão UCB Serviços: Unidade de negócio que visa à normatização e unificação
dos procedimentos sobre a prestação de serviço da Universidade Católica de Brasília
78
Enquanto a UADA responsabiliza-se pelos importantes aspectos operacionais
imprescindíveis à aprendizagem, a Unidade de Apoio Didático-educacional (UADE) colabora
com as direções de curso no fornecimento de dados, acompanhamento da legislação
vigente, elaboração de projetos pedagógicos e planos de metas, revisão de planos de ensino,
apoio às visitas das comissões do Ministério da Educação e na participação dos cursos em
diversos exames oficiais de aferição de aprendizagem.
5.1.2 Unidade de Assessoria Didático-Educacional - UADE
A Unidade de Assessoria Didático-Educacional - UADE - é uma assessoria pedagógico-
acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação. Confere a esta Unidade a realização de estudos
relativos à Educação Superior e o acompanhamento da gestão acadêmica dos cursos de
Graduação.
Nesse sentido, acrescenta-se às atribuições desta o acompanhamento e orientação
da previsão e execução orçamentária dos cursos, a supervisão e lançamento de carga horária
docente, o acompanhamento de estágio supervisionado obrigatório e monitoria e o
acompanhamento e implementação de PPCs por intermédio da Câmara de Graduação,
conforme legislação vigente.
A UADE se envolve ainda com informações relativas à avaliação de desempenho
docente, à formação pedagógica dos docentes que atuam na graduação, ao exame – interno
e externo - de desempenho dos estudantes, bem como o monitoramento do desempenho
dos cursos. Realiza, também, o acompanhamento na implementação da disciplina de
Introdução à Educação Superior que compõe, a partir do 1º semestre de 2010, os currículos
de todos os cursos de Graduação presenciais da UCB e das demais ações que compõem o
Programa de Melhoria da Formação Básica.
Os dados e informações gerados e manuseados, em articulação com a Secretaria
Acadêmica, a Diretoria de Desenvolvimento, o Recursos Humanos, a Gestão de Pessoas e a
Controladoria, constituem base fundamental para o serviço diferenciado que a UADE presta
à Pró-Reitoria e aos gestores de cursos, especialmente no que se refere à melhoria do
acompanhamento ao desempenho do professor e qualidade da interação entre docente e
discente.
A Biblioteca representa e expressa esse compartilhamento de recursos.
79
5.1.3 Informações Sobre o Sistema de Bibliotecas da Universidade Católica de Brasília
O Sistema de Bibliotecas - SIBI é um órgão suplementar diretamente subordinado a
Reitoria da Universidade Católica de Brasília - UCB. O SIBI-UCB, objetiva oferecer à
comunidade universitária serviços de informação e biblioteca, necessários ao
desenvolvimento dos programas de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade.
O SIBI é constituído pela Biblioteca Central (BC), Biblioteca Setorial da Pós-Graduação
(BPG) e Posto de Atendimento na Unidade Asa Sul, sendo o órgão responsável pelo
planejamento global, gestão de pessoal e de recursos financeiros destinados à constituição e
desenvolvimento do acervo bibliográfico, pela definição de padrões e procedimentos
operacionais das bibliotecas e postos de atendimento e pela representação da UCB em
fóruns, redes e programas cooperativos de bibliotecas e informação.
A Biblioteca Central executa de forma centralizada para todo o Sistema de Bibliotecas
as atividades técnicas e administrativas para a formação, desenvolvimento, processamento
das coleções e a manutenção da base de dados do acervo. O atendimento ao usuário é feito
pela Biblioteca Central, Biblioteca Setorial da Pós-Graduação e pelo Posto de Atendimento.
A Biblioteca Central localiza-se no Campus I, de Taguatinga e oferece um total de 525
lugares para usuários, dos quais 147 módulos para estudo individual e uma cabine de
estudos, com conexão à Internet, para uso dos alunos de pós-graduação. A Biblioteca
Central dispõe ainda de 18 cabines para estudo em grupo, com capacidade para seis
usuários por cabine (96 usuários ao todo) e uma sala para estudo em grupo com 20 mesas
de até 6 lugares, com capacidade total de até 96 usuários simultâneos. Uma sala especial de
uso exclusivo de docentes funciona com mesa para estudo em grupo com capacidade para
até 12 pessoas. Dispõe de uma sala de 55 m2 com capacidade para 50 lugares, destinada à
projeção de vídeos e realização de treinamentos de grupos.
A Biblioteca Setorial de Pós-Graduação é localizada no Campus II, Asa Norte. possui
um total de 50 lugares, dos quais 12 são módulos para estudo individual. A Biblioteca
Setorial da Pós-Graduação possui quatro cabines de estudo em grupo, que abrigam um total
de 38 usuários.
O Posto de Atendimento do Campus Avançado Asa Sul é localizado no Campus
Avançado Asa Sul, para atendimento aos cursos de Direito, Educação Física e Análise de
Sistemas. O acervo disponível é de 575 títulos e 1425 volumes, considerando que esta
80
unidade atende somente a 3 cursos a quantidade de lugares destinados aos usuários são de
20 assentos num total de 55m2 de área.
O Sistema de Bibliotecas (SIBI), oferta aos seus usuários os seguintes serviços:
Empréstimo domiciliar de livros, periódicos, folhetos e outros materiais;
Comutação bibliográfica;
Pesquisa bibliográfica;
Treinamento em bases de dados e Portal de Periódicos Capes;
Acesso ao catálogo on-line da biblioteca (para consulta, renovação e reserva);
Acesso ao Portal de Periódicos Capes;
Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos (ABNT);
Elaboração de fichas catalográficas.
Acervo
O acervo total é constituído de 84.188 títulos e 250.089 volumes, distribuídos em
obras do Acervo Geral, Coleção de Periódicos, Coleção de Materiais Especiais. O Acervo
Geral é formado por livros, anais de eventos, teses, dissertações, folhetos e obras de
referência. A Coleção de Periódicos é formada por títulos de periódicos científicos, jornais e
revistas nacionais e estrangeiras, impressas e eletrônicas. A Coleção de Materiais Especiais é
constituída de fitas VHS, obram em CD-ROM e DVD, disquetes e mapas.
A distribuição do acervo por área do conhecimento e por tipo de material pode ser
vista a seguir:
Tabela 1: Acervo total, por área do conhecimento, 2010.
Área Títulos Volumes
Ciências Exatas, da Terra 5.611 21.952
Ciências Biológicas 1.875 7.452
Engenharias 1.740 5.634
Ciências da Saúde 6.685 32.708
Ciências Agrárias 581 2.067
Ciências Sociais Aplicadas 28.102 89.754
81
Ciências Humanas 26.159 61.461
Lingüística, Letras e Artes 12.586 25.609
Outros 850 3.452
Total 84.188 250.089
Fonte: Sistema Pergamum, abril/2010 Tabela 2: Acervo total, por área do conhecimento e tipo de material, 2010.
Áreas - CNPq
Livros Periódico Vídeos Materiais Especiais
Total
Tít. Vol. Tít. Vol. Tít. Vol. Tít. Vol. Tít. Vol.
Ciências Exatas, da Terra
5.275 15.536 210 6.174 113 226 13 16 5.611 21.952
Ciências Biológicas
1.746 5.115 89 2.258 31 70 9 9 1.875 7.452
Engenharias 1.623 2.964 66 2.588 49 80 2 2 1.740 5.634
Ciências da Saúde
5.971 19.277 506 13.051 197 364 11 16 6.685 32.708
Ciências Agrárias
524 885 33 1.148 22 27 2 7 581 2.067
Ciências Sociais Aplicadas
26.726 64.757 819 23.993 536 975 20 29 28.102 89.754
Ciências Humanas
25.252 45.535 599 15.475 297 434 11 17 26.159 61.461
Lingüística, Letras e Artes
12.229 23.206 126 2.092 206 279 25 32 12.586 25.609
Outros 793 1.542 19 1.856 31 46 7 8 850 3.452
Total 80.524 179.389 2.467 68.635 1.482 2.501 100 136 84.188 250.089
Fonte: Sistema Pergamum, Abril/2010
A coleção é complementada pelo acesso ao Portal de Periódicos da Capes, que
disponibiliza atualmente mais de 15.000 títulos de editores nacionais e internacionais.
82
Os alunos, docentes e funcionários da UCB têm acesso gratuito às mais de 90 bases
de dados referenciais e com resumos em todas as áreas do conhecimento, disponíveis no
Portal. Oferece também uma seleção de importantes fontes de informação acadêmica com
acesso gratuito na Internet.
O SIBI mantém também a assinatura dos seguintes jornais e revistas:
Jornais Diários: Correio Brasiliense; Valor Econômico; Folha de São Paulo;
Revistas de caráter informativo geral: Isto É; Isto É Dinheiro; Veja; Época e outras.
Anualmente o Curso de Comunicação Social efetua a conferência e a reavaliação das
bibliografias básicas e complementares indicadas para as disciplinas ofertadas nos currículos
das suas duas habilitações. Este diagnóstico permite que, no caso de obras que ainda não
existam no acervo, seja encaminhada à biblioteca uma lista com sugestões para aquisições
de títulos (livros, periódico, filmes, etc.) inclusive com indicação do número de exemplares
necessários de acordo com as demandas do curso.
5.2. RECURSOS ESPECÍFICOS DO CURSO Na UCB, em cada área do conhecimento são desenvolvidas práticas específicas de
compartilhamento, seguindo a orientação geral de promover a sustentabilidade e de abrir
fóruns de diálogo entre os vários cursos e habilitações. Para contribuir com o perfil complexo
dos egressos de CSA, é necessário valorizar a multi, a inter e a transdisciplinaridade nas
grades curriculares. E essa valorização pode ser colocada em prática no compartilhamento
de saberes, por meio da oferta de disciplinas comuns e do aproveitamento de docentes em
vários cursos da área.
Com uma prática já consagrada de apoio à formação e desenvolvimento de empresas
juniores, a área agora avança na realização de parcerias entre essas empresas para captação
de clientes e solução de problemas, mostrando aos estudantes o enriquecimento
proporcionado por diferentes abordagens profissionais diante do desafio da complexidade
do real.
Os cursos já avançam também na realização de Projetos de Pesquisa e de Extensão
em parceria, nos quais os estudantes dialogam com colegas e educadores de outros cursos e
com as demandas locais e comunitárias.
83
As práticas laboratoriais diferem em intensidade e forma utilização nos diferentes
cursos da área. Tem-se, contudo, buscado o desenvolvimento de layouts cada vez mais
adequados emas necessidades das Ciências Sociais Aplicadas, com possibilidade de trabalhos
em grupo, disposição dos computadores em ilhas e espaço para deslocamento dos docentes,
que podem, dessa forma, realizar acompanhamentos individuais aos estudantes.
O currículo básico do Ministério da Educação estabelece que, para o aprendizado de
matérias práticas, os estabelecimentos de ensino devem manter laboratórios especializados
para o treinamento dos alunos. O curso de Comunicação da Universidade Católica de Brasília
conta com os seguintes laboratórios:
5.2. 1. Centro de Rádio e Televisão – CRTV
O Centro de Rádio e Televisão é o laboratório de audiovisual do curso de
Comunicação Social. Educadores e estudantes, com o apoio de técnicos da área, realizam
atividades de produção e edição em áudio e vídeo, nos sistemas analógico e digital, no
âmbito de disciplinas curriculares e de projetos do próprio Curso.
Também participa de atividades da Extensão, bem como de instâncias científicas e
administrativas da Universidade e da comunidade.
O CRTV-UCB está instalado no segundo andar do prédio K, ocupando uma área de
226m², abrigando as dependências e estúdios de rádio e de televisão. O Centro é dotado de
um conjunto de equipamentos profissionais e dispõe de tratamento acústico e térmico,
conforme especificações técnicas. Desenvolve trabalhos utilizando tecnologia Sony DVCam,
no sistema analógico, e também dispõe de plataforma em tecnologia digital HDV Sony.
A plataforma de rádio utiliza tecnologia digital e, além das atividades das disciplinas,
serve de base de produção e veiculação de uma web rádio.
Em parceria com o Nuclam, o Centro de Radio e Televisão produz as pautas, realiza as
reportagens e entrega já editadas para a geração de BSB para SP e veiculação no JV, Jornal
da Vida, o principal telejornal da Rede Vida que vai ao ar diariamente às 21h30. A equipe do
CRTV conta 3 alunos estagiários , de jornalismo e publicidade e outros 7 participantes, em
média, que colaboram como voluntários. Já chegamos a ter 20 alunos participantes.
84
5.2. 2. Laboratório de Televisão
Destina-se a oferecer orientação específica às disciplinas Telejornalismo, Produção e
Edição em TV e Técnica de Redação e Produção para Cinema e TV, bem como oferece os
meios para a produção, edição e acompanhamento na realização de vídeos, documentários
e outros recursos audiovisuais demandados pelas demais disciplinas. Encampa Projetos
Experimentais (TCC), além de projetos do próprio Curso de Comunicação e de outras
instâncias da Universidade.
O Laboratório de TV ocupa uma área de 181m². Compõe-se de estúdio, sala de
switcher com direção de TV, estações de computação gráfica, ilhas de edição analógica e
pós-produção digital não-linear, além de salas de coordenação e produção de programas
para a TV UCB – canal universitário com veiculação na Internet. Dispõe ainda de plataforma
digital com storages, estações de edição não-linear e computação gráfica, destinadas a
pesquisa de conteúdos multimídia, games e interatividade na televisão.
5.2. 3. Laboratório de Rádio
O Laboratório de Rádio é composto por estúdio de gravação, estúdio/laboratório
para o desenvolvimento das disciplinas e estúdio com estação de web rádio. Conta com área
de produção e tecnologia digital de última geração, proporcionando as condições para o
ensino-aprendizagem das técnicas de linguagem do rádio. No local é dada orientação
específica aos estudantes em disciplinas curriculares - Radiojornalismo, Produção e Edição
em Rádio e Técnicas de Redação e Produção para Rádio. O laboratório também contribui
com outros cursos da UCB, inclusive integra programas da Extensão.
O conjunto do Laboratório de Rádio ocupa área de 45m², onde são produzidos: Jornal
Universitário - elaborado pelos estudantes de Radiojornalismo e programas produzidos na
disciplina de Produção e Edição em Rádio, veiculados na Rádio UCB (web rádio). A
programação é voltada para a comunidade acadêmica, com cobertura jornalística de
política, economia e cultura. Os programas divulgam diferentes estilos musicais e a obra de
grandes músicos brasileiros. Outra prioridade são os programas institucionais e de
conteúdos produzidos pela comunidade. Os estudantes de Publicidade e Propaganda
produzem jingles e spots, alguns deles premiados em concursos locais e nacionais.
85
5.2. 4. Laboratório de Produção Gráfica – Casa da Mão
A Casa da Mão desenvolve um processo intensivo de ensino-aprendizagem na área
das artes gráficas, o que inclui tanto questões conceituais (teorias da forma, da cor e da
composição), quanto técnicas (arte digital) e artísticas (artes plásticas). O projeto envolve a
participação de vários estudantes quer como estagiários formais, quer como voluntários,
que, desta forma podem desenvolver suas habilidades por meio de um aprendizado que vai
muito além da sala de aula.
Uma área específica de aplicação dos conhecimentos adquiridos é a área de web
design onde os estudantes podem aplicar, em meio digital, tanto as técnicas gráficas
aprendidas, quanto desenvolver projetos de animação e apresentação digital. A produção da
Casa da Mão já se incorporou ao cotidiano da UCB e se materializa em capas de livros e
publicações, cartazes, peças institucionais e instalações.
5.2. 5. Estúdio Fotográfico
O Estúdio Fotográfico do Curso de Comunicação foi implantado em 2006, com o
intuito de atender às demandas de disciplinas como Introdução à Fotografia, Fotojornalismo
I e II, Foto Publicitária, bem como da disciplina Projetos Experimentais I e II, presentes no
currículo vigente até então. Atualmente, com a reformulação curricular de 2009, atende
prioritariamente as turmas de Introdução à Fotografia, Fotojornalismo, Foto Publicitária e os
Projetos Experimentais I e II. Configura-se como um espaço reservado tanto para o
aprendizado e experimentação prática da fotografia, seus recursos de luz artificial e natural
quanto para prestador serviços à sociedade acadêmica. Enquanto laboratório acadêmico,
por meio das atividades coordenadas pelos professores, possibilita o exercício da prática
sempre estimulando a capacidade de refletir sobre o fazer responsável e ético, além de
propiciar ao estudante condição para posicionar-se criticamente sobre os resultados das
atividades devolvidas por cada aluno e pela coletividade.
Atualmente, o Estúdio fotográfico ocupa uma área de aproximadamente 80m², em
duas salas conjugadas. Na sala K 257 há um almoxarifado no qual são armazenados todos os
equipamentos, a documentação, e o material de escritório, e também uma secretaria para o
agendamento de empréstimos de equipamentos e atendimento a comunidade. A sala K 258
funciona como estúdio propriamente dito, sendo reservada a alunos e professores para
86
aulas práticas e expositivas de fotografia, de produção, de manipulação e tratamento de
imagens.
A infra-estrutura operacional conta com equipamentos especializados para
iluminação artificial de fotografia, como também equipamentos fotográficos analógicos e
digitais. São três computadores com softwares especializados para manipulação e edição
fotográfica a disposição de alunos e professores e um outro computador que atende as
necessidades da secretaria.
A equipe é formada por técnicos com conhecimentos específicos de fotografia,
experiência em manipulação dos equipamentos de iluminação e também no uso e
conservação das máquinas fotográficas e conta com o apoio de estagiários remunerados.
Essas habilidades dão apoio ás atividades desenvolvidas por professores e alunos, das
disciplinas relacionadas à fotografia em suas práticas diárias, como produção, edição e
manipulação das imagens realizadas. Para algumas disciplinas, as atividades são
acompanhadas também por monitor, selecionado a critério do professor.
Os técnicos do laboratório também responsáveis por manter organizados os
equipamentos fotográficos, acompanhar e controlar solicitações de empréstimos de
materiais a estudantes, docentes e corpo administrativo.
Os alunos de Publicidade e Propaganda utilizam este espaço para criação e produção
de peças publicitárias, como parte de seus trabalhos finais nas disciplinas. Todos os alunos,
mediante agendamento, tem acesso ao laboratório para execução trabalhos de conclusão de
curso - TCC, quando voltados à produção fotográfica. Eventualmente o estúdio atende
também as disciplina Produção e edição de impressos, que realiza o Jornal Artefato, e as
turmas de Direção de arte.
Por meio dos técnicos e estagiários, atende ainda demandas por trabalhos de
cobertura fotográfica requisitados pela Universidade em atividades desenvolvidas pela
DICOM e aos demais cursos, como por exemplo, a Revista Diálogos, o Jornal Informativo da
Católica e os catálogos da UBEC. Quando não há possibilidade ou necessidade de cobrir as
demandas internas, o estúdio cede equipamentos para que o registro dos eventos,
seminários, congressos, palestras, feiras, sejam feitas pelos próprios cursos organizadores.
87
Desde 2005, apóia o projeto laboratorial o Núcleo de Fotografia Captura e ainda
mantêm essa parceria cedendo tanto o espaço físico quanto a infra-estrutura realização de
reuniões e apresentações de trabalhos acadêmicos. Os estudantes que atuam no núcleo
OPN, Oficina de Produção de Notícia, na Matriz, Agência Júnior do Curso de Comunicação
Social, o Núcleo de Estudos de Comunicação na América Latina – NUCLAM também tem
acesso aos recursos oferecidos pelo estúdio fotográfico.
5.2. 6. Núcleo de Fotografia Captura
O Núcleo de Fotografia foi fundado em agosto de 1999 com o objetivo de ser um
espaço dedicado à reflexão e à prática da fotografia como meio de comunicação, de
expressão, de documentação. Enfim, um lugar onde alunos e professores possam encontrar-
se para discutir sobre a imagem e suas utilizações na contemporaneidade. Um espaço aberto
às especulações e curiosidades diárias, por parte dos alunos, a respeito da fotografia, sua
linguagem, sua composição e possibilidades de incorporá-la em outros segmentos da vida
acadêmica. O núcleo foi criado pensando também em abrigar as discussões teóricas a
respeito da imagem, que refletem o dia-a-dia do professor e seu trabalho em sala de aula.
Um espaço de conversações e interpretações sobre o que une as pessoas que ali convivem: a
fotografia
Especificamente, o núcleo desenvolve projetos que permitem o desenvolvimento do
estudante na área de sua afinidade e habilitação. Possibilita ao aluno um melhor
entendimento na apreensão/produção da imagem a partir do fazer continuado e das
análises empreendidas, no momento da edição. É uma oportunidade para que os alunos
que cursaram ou estão cursando disciplinas de fotografia, que compõem a grade curricular
do curso de Comunicação Social, possam aprimorar e aperfeiçoar o registro fotográfico.
Em função das novas tecnologias e buscando acompanhar a tendência mundial, a
Universidade Católica de Brasília fez sua opção pela imagem digital, potencializada por seus
laboratórios de informática. Assim, o aluno trabalha a imagem da sua apreensão à sua
finalização, o que o capacita a melhor entender as técnicas e lógicas da imagem no seu uso
social.
Na condição de espaço acadêmico, é importante nos desafiarmos a pensar a
fotografia no ambiente das novas tecnologias sem abandonar, no entanto, os meios
tradicionais de representação e o entendimento que a subjetividade do ator, criador
88
modifica as formas de apreensão. Buscamos, também, na utilização da fotografia, a
interação entre estudantes e educadores, entre o Curso de Comunicação Social, a
comunidade da Universidade Católica de Brasília e a sociedade.
Na cobertura fotográfica os alunos documentam diversos eventos, como ações
institucionais que acontecem dentro e fora da Universidade, projetos de pesquisa e de
extensão, como a Revista Dialogos; projetos acadêmicos, como Casamento Comunitário;
Programa de Projetos Filantrópicos, como Ciranda, CCI – Centro de convivência do idoso e
Alfabetização Cidadã e Programa Comunitário, como Comunidade Educativa Areal. Além de
todos esses programas, o Núcleo Captura desenvolve parcerias com outros laboratórios e
projetos do Curso, como Matriz, Casa da Mão, Nuclam, OPN e Artefato.
O Núcleo funciona na sala K 258 (Estúdio Fotográfico), do bloco K, no Campus I da
UCB, em Taguatinga.
5.2. 7. Núcleo de Estudos de Comunicação na América Latina
O Núcleo de Estudos da América Latina (Nuclam) é um espaço de estudos e projetos
que prioriza questões acerca da Comunicação na América Latina. A proposta do núcleo é
desenvolver o pensamento crítico na área da Comunicação para que nossos alunos tenham a
oportunidade de ocupar lugares específicos nos projetos de integração continental, ou,
especificamente, da América do Sul. O Nuclam, além de fazer interfaces com o curso de
Relações Internacionais, Letras e Educação Física, também desenvolve parcerias CRTV e as
pós-graduações em Comunicação e Relações Internacionais. Externamente, a parceria
acontece com alguns meios de comunicação (Rede Vida de Televisão, Rede Record, EBC,
Correio Braziliense, Jornal de Brasília, revista Roteiro, e outros). Internamente, o efeito
imediato buscado é a desprovincialização da formação profissional, gerando expectativas do
exercício de atividades jornalísticas em diferentes países, possibilidade que já foi aberta na
região do Mercosul para algumas profissões. Os trabalhos do Nuclam são desenvolvidos por
meio de projetos de formação de correspondentes internacionais e enviados especiais
(cobertura dos Jogos de Atenas, Berlim, Pequim, Johanesburgo; Jogos Indígenas, etc.);
projetos tecnológicos (Pedagogia dos Games); seminários intitulados “Américas sem
Fronteiras”; e atividades acadêmicas complementares nas disciplinas “Política e Legislação
da Comunicação” e “Jornalismo Político e Econômico - Cobertura Internacional”. Essas duas
disciplinas mantém acesa a discussão, sobre “Políticas, Meios de Comunicação e cobertura
89
jornalística de América Latina”. São realizados seminários e trabalhos, além de elaborarem
matérias jornalísticas e opinativas sobre a temática. Nesse sentido, grupos de estudantes
desenvolvem estudos e debates sobre Jornalismo e Publicidade e Propaganda na América
Latina.
O Nuclam tem produzido vídeos, livros, palestras, trabalhos de final de curso (TCCs) e
documentários sobre quase todas as experiências realizadas, sempre com a participação de
estudantes, professores e parceiros internos e externos, e que servem de subsídios para
atividades acadêmicas dentro e fora do curso de Comunicação. O Núcleo mantém ainda um
site com links sobre questões da América Latina, que já recebeu perto de 40 mil visitas e
disponibiliza indicações bibliográficas de uma lista com mais de 100 autores e livros sobre a
América Latina.
5.2. 8. Jornal-Laboratório – Artefato
As atividades de elaboração do jornal Artefato – jornal-laboratório do Curso de
Comunicação Social da UCB – são realizadas em laboratórios devidamente equipados com os
mais recentes programas de edição de texto e de editoração eletrônica. São três edições por
semestre, em formato tablóide, produzidas no âmbito da disciplina Produção e Edição de
Impressos.
O jornal-laboratório aparece, na maioria das vezes, como uma espécie de “vitrine”
dos cursos de Comunicação. Além de ser uma obrigação legal colocada pelo Ministério da
Educação (MEC), o jornal laboratório reflete o perfil dos estudantes, sempre convidados a
tomar a frente do produto, e do próprio curso de Jornalismo da Universidade Católica de
Brasília.
O jornal Artefato tem como objetivo levar os alunos a experimentar o planejamento
e a execução de um jornal impresso, desde a criação do projeto gráfico e editorial, passando
por diagramação, fotografia, edição de matérias e distribuição. Em cada edição, os alunos
assumem funções similares às de um jornal, com editor-chefe, editores de texto,
diagramadores e repórteres. A distribuição é realizada na universidade, nas grandes
redações da cidade e em pontos estratégicos como estações do metrô.
Pautado pelos princípios do jornalismo, como a ética, a objetividade, a diversidade de
opiniões, a apuração criteriosa, a edição correta e a originalidade, o Artefato busca construir
uma cobertura jornalística diferenciada da imprensa tradicional tanto na escolha de pautas
90
como na abordagem dos assuntos. Nos últimos semestres, vem sendo desenvolvida e
incentivada a cobertura extramuros da comunidade próxima à universidade, que tem pouca
visibilidade na grande imprensa da capital federal.
Além disso, durante todo o processo de produção, são levantadas discussões sobre o
jornalismo “ideal” que se busca produzir e defender nas páginas de um jornal – e que
impacta profundamente nos profissionais que os estudantes irão se tornar.
Como um produto experimental, busca manter diálogo com as diversas disciplinas e
projetos desenvolvidos no curso a cada semestre. O objetivo é aumentar o intercâmbio de
experiências e práticas dentro do curso. Como por exemplo, o trabalho integrado com o
fotojornalismo. Os alunos de ambas as disciplinas crescem exponencialmente diante dos
desafios de trabalhar em conjunto com texto e imagem, uma prática quase obrigatória no
mercado de trabalho. Ademais, os professores da disciplina de fotojornalismo prestam uma
orientação mais específica no que diz respeito às imagens do jornal, o que aumenta a
qualidade do material produzido.
A orientação gráfica também foi intensificada. Com isso, os alunos aumentam a
familiaridade com outras instâncias do processo de produção jornalística e, muitas vezes,
descobrem novas vocações quanto às maneira de tratar a informação.
Outras três iniciativas do semestre são a criação do Conselho Editorial, que se reúne
após o fechamento de cada edição, para realizar um balanço do jornal produzido. Em outra
frente, a versão on-line do jornal está sendo implantada. Não apenas o fac-símile da versão
impressa, mas a produção complementar ao que é veiculado nas páginas impressas. O site
da OPN é o canal para a veiculação dessa integração. Uma terceira inovação é o estágio
docente realizado em parceria com o programa de pós-graduação da UCB. Mestrandos
acompanham o processo de produção das edições e têm, com isso, aumentado a atenção
dedicada a cada pauta, a cada texto produzido pelo Artefato.
É importante lembrar ainda que o Artefato é produzido por meio de um encontro
semanal com os estudantes, vinculado a disciplina Produção e Edição de Impressos que com
apenas quatro créditos conseguem dar conta da complexidade da produção de um jornal.
Além da orientação geral e de texto, há um professor orientador para a parte gráfica.
91
5.2. 9. Oficina de Produção de Notícias
A OPN – Oficina de Produção de Notícias – compõe a rede de laboratórios do curso
de jornalismo do curso de Comunicação da Universidade Católica de Brasília (UCB). Criada
em 2001, por iniciativa de professores e alunos a OPN conta com estudantes do curso que se
revezam anual ou semestralmente no trabalho, sob a coordenação de professores do curso.
Ao longo de sua história, a OPN teve e tem diversos parceiros, como a Assessoria de
Comunicação Social da UCB e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).
O projeto se realiza sob orientação dois professores do quadro do Curso de
Comunicação e envolve estudantes matriculados no Curso de Comunicação Social,
habilitação Jornalismo.
O número de participantes é definido pelas estratégias de trabalho dos
coordenadores. Selecionados por provas práticas, os estudantes se dividem entre estagiários
voluntários, monitores remunerados e não-remunerados.
Eles aprendem a confeccionar pautas que vão gerar notícias e reportagens. Em
parceria com o núcleo de fotografia Captura, produzem textos e imagens para o site e para
os parceiros. Além disso, fazem coberturas de eventos no campus (simpósios, seminários,
congressos) e produzem notícias e reportagens para divulgação no site OPN Online
(www.opn.ucb.br), com acesso pela página do Curso de Comunicação Social da Universidade
Católica de Brasília. Existe a possibilidade, ainda, dos alunos de disciplinas regulares do Curso
de Comunicação e aqueles atuantes em outros projetos a serem convidados a colaborar na
OPN.
A OPN prevê pelo menos um encontro presencial por semana, com um dos
professores responsáveis pelo projeto. Já nas primeiras semanas de participação na oficina,
é perceptível a compreensão do fazer jornalístico por parte dos estagiários, desde a
realização de entrevistas à edição completa do material. Com a experiência da oficina, que
pode se estender por mais de um semestre, os estudantes passam a refletir com maturidade
o papel do jornalista na sociedade.
A OPN pretende ser não apenas um espaço para a experimentação e
aperfeiçoamento dos estudantes nas técnicas jornalísticas por meio da produção digital, mas
também exercer algumas atividades que ambientem o estudante com determinadas práticas
profissionais. Assim, de um lado, os estudantes se capacitam a transitar por linguagens,
técnicas e propostas diversas do exercício jornalístico.
92
De outro, se inteiram com rotinas que os aproximem das exigências do mercado
jornalístico e preparem para a inserção nesse mesmo mercado, crescentemente marcado
pela convergência de mídias, linguagens e ferramentas de produção de notícias; pela
onipresença do digital nos processos produtivos e difusores dos fatos; pela exigência da
rapidez aliada à qualidade.
Diante desse panorama, a OPN busca instigar os estudantes a transitarem por texto,
imagem, vídeo e outros formatos digitais. O foco jornalístico da OPN é, em grande escala,
duplo: a universidade e o que ocorre no campus; e a comunidade no entorno da UCB.
Esta proposta tem como premissa uma permanente discussão sobre os princípios
jornalísticos, sobre ética e responsabilidade social – especialmente no que diz respeito à
responsabilidade da universidade com a comunidade. Pensar a OPN como esse fórum de
discussão permite que a formação dos estudantes não seja apenas técnica e profissional,
mas que tenha um valor agregado que desperte/amplie em cada um deles o compromisso
social.
Assim, atuando no jornalismo, os estudantes também pensam o jornalismo,
interferem, interpelam, questionam, modificam os modos de produção atuais dominantes,
desde os valores-notícia tradicionais até decisões éticas, passando pela objetividade, pela
isenção e pelo compromisso com a informação atrelada à cidadania e à democracia. Ao
pensar o jornalismo, cada um deles repensa, também, o papel do jornalista na sociedade:
suas responsabilidades, funções, lealdades.
5.2. 10. Matriz Comunicação – Agência Júnior do Curso de Comunicação Social
Fundada em 8 de junho de 1999, a Matriz Comunicação é uma associação civil sem
fins lucrativos, organizada e gerida por estudantes de Graduação, que presta serviços e
desenvolve projetos para empresas, entidades e sociedade em geral, nas suas áreas de
atuação, sob a supervisão de educadores e de profissionais especializados.
Como toda empresa júnior, a Matriz Comunicação tem por finalidade incluir os
estudantes no mercado de trabalho antes da conclusão do curso, possibilitando a eles uma
maior interação com as atividades desenvolvidas pelos profissionais da área e também uma
maior capacitação para exercer a profissão, juntando sempre teoria e prática.
Agência Júnior da Universidade Católica de Brasília, a Matriz atende semestralmente
30 alunos do curso de Comunicação Social. Ela representa uma grande oportunidade para os
93
alunos do curso, pois propicia vivência direta com as práticas e exigências do mercado de
trabalho. O embasamento teórico-metodológico está presente na produção de cada peça ou
campanha, em seu planejamento e realização, nas pesquisas, discussões, e avaliações
permanentes, envolvendo os estudantes, os educadores e os clientes, além de profissionais
da área. Tal oportunidade de os estudantes trabalharem com casos reais, respondendo a
demandas concretas e sendo avaliados pela produção de campanhas e peças publicitárias,
dentre outros trabalhos. É fundamental na formação dos profissionais de Publicidade e
Propaganda.
Além dos alunos diretamente ligados à agência júnior, são indiretamente atendidos
aproximadamente 100 estudantes, em programas como “Casa de Parente” e “Colméia” em
que os participantes vivenciam as rotinas de cada área de uma agência e participam de
worshops, respectivamente. A atuação da Matriz não se restringe apenas à produção e
experimentação de alunos, mas também é um importante instrumento de captação de
novos alunos, conforme nossa experiência já demonstra.
Para o estudante esta experimentação enriquece o currículo e também propicia a
formação de multiplicadores, impactando diretamente nas disciplinas e na troca de
experiência com os colegas em sala de aula.
A Matriz Comunicação atua, no âmbito do Curso de Comunicação Social, da
Universidade Católica de Brasília e do mercado do Distrito Federal, na:
• alavancagem de novos negócios junto à sociedade do Distrito Federal, gerando inserção
social e comunitária para a universidade;
• colocação dos estudantes da UCB no mercado de trabalho em um prazo máximo de dois
anos;
• desenvolvimento de projetos de pesquisa técnico-científica na área de Publicidade e
Propaganda, por meio da realização de serviços comunitários e/ou sociais, com a
participação de estudantes, de educadores e da comunidade.
A Matriz Comunicação vem oferecendo produtos diferenciados para atenderem às
demandas internas - Curso de Comunicação Social e Universidade Católica de Brasília como
um todo - e externa - clientes externos à UCB:
• campanhas e peças publicitárias;
• assessoria e planejamento de comunicação e de marketing;
• estudos e pesquisas de mercado;
94
• divulgação e promoção de eventos;
• editoração e diagramação (livros, revistas, jornais, cadernos de comunicação, websites);
• vídeos e filmes publicitários e institucionais.
5.3 Laboratórios de Informática
Os Laboratórios de Informática utilizados pelo Curso de Comunicação Social estão
situados nos Blocos K, M, L e Central. Esses espaços são ocupados por educadores e
estudantes, assistidos por monitores do Centro de Informática – CEINF, na realização das
seguintes atividades:
- disciplinas que têm 100% de atividades laboratoriais;
- disciplinas que têm parte de suas atividades desenvolvidas nesses laboratórios;
- suporte de informática – disponibilização do espaço, equipamentos e recursos
tecnológicos para os estudantes elaborarem trabalhos referentes às disciplinas cursadas e a
projetos acadêmicos.
6. MATRIZ CURRICULAR A matriz curricular do Curso de Comunicação Social foi estabelecida e revisada por
meio do diálogo entre direção, docentes e discentes e da Unidade de Apoio Didático-
Educacional da UCB na proposição de ajustar ementas, conteúdos e denominações em
consonância com a missão pedagógica da Universidade Católica de Brasília, em atenção as
diretrizes do MEC, as os documentos da Área e das entidades de classe.
6. 1. OBJETIVOS DE FORMAÇÃO GERAL E ESPECÍFICOS
O Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Brasília tem por objetivo
geral a formação de um estudante eticamente qualificado, técnica e cientificamente
capacitado para o trabalho no campo da Comunicação Social, e preparado para o
desempenho inventivo, responsável e competente das tarefas exigidas para o livre exercício
profissional do Jornalismo e da Publicidade e Propaganda.
Como objetivo geral para a habilitação Jornalismo, estabelece-se a preparação de um
profissional em sintonia com novidades técnicas de produção e veiculação da notícia e da
reportagem, diante dos novos cenários de convergência midiática e dos novos espaços de
atuação jornalística, com bom desempenho estético e fundamentação ética.
95
Já para a habilitação Publicidade e Propaganda, o objetivo geral é formar
profissionais capazes de criar ações e mensagens publicitárias ou promocionais; planejar a
veiculação de peças, principalmente diante da multiplicidade de meios existente, ou a
concretização das ações; e avaliar os resultados do investimento dos clientes, considerando
também valores éticos e morais envolvidos na interação entre estratégias ou conteúdos e o
público.
Os objetivos específicos da Habilitação Jornalismo são:
� Propiciar ao estudante uma prática e um conhecimento das formas e dos
instrumentos de comunicação, no âmbito da tradição da história das
comunicações e dos avanços tecnológicos;
� Habilitá-lo a criar, gerenciar e desenvolver recursos técnicos, financeiros e
estéticos, para a otimização do uso dos meios de comunicação;
� Dotar o estudante de conhecimentos científicos e técnicos que o habilitem para o
desempenho profissional nas diferentes faixas e especialidades do mercado de
trabalho jornalístico;
� Prover o estudante de uma visão de mundo que lhe possibilite o exercício de uma
comunicação competente e transformadora no espaço profissional da produção
multimídia e jornalística;
� Garantir e incentivar a interface da aprendizagem acadêmica do estudante com a
experiência do trabalho profissional, no quadro atual do mercado das
comunicações dos pólos socioeconômico, político e cultural do Distrito Federal e
região do Entorno;
� Promover e apoiar a Pesquisa em Comunicação, ensejando a participação do
estudante em projetos específicos de comunicação e outros de natureza
interdisciplinar que o envolvam com as demais áreas de atuação da Universidade
Católica de Brasília e com a dinâmica social do Distrito Federal e região do
Entorno;
� Criar um ambiente de experimentação de forma a permitir ao estudante agir em
condições de produção, ritmo e periodicidade similares às que se encontram no
cotidiano da profissão;
96
� Criar condições para que o estudante exercite sua capacidade criativa no sentido
de experimentar novas linguagens e produtos de comunicação e se adaptar a
diferentes situações de trabalho e de atuação;
� Enfatizar a formação de um cidadão ético, crítico e comprometido socialmente.
Como objetivos específicos da Habilitação em Publicidade e Propaganda, o curso de
propõe a:
� Propiciar ao estudante uma visão histórica dos processos e avanços tecnológicos
da Comunicação e da Publicidade no país e no mundo;
� Permitir o reconhecimento das especificidades do mercado publicitário do
Distrito Federal e do Entorno;
� Estimular um ambiente de experimentação para o desenvolvimento da
criatividade e a identificação das aptidões individuais;
� Apontar os diferentes cenários de atuação do profissional da Publicidade e
Propaganda, incentivando a descoberta de novos espaços;
� Enfatizar a identificação de novas possibilidades tecnológicas, de novas mídias e
de novos consumidores;
� Esclarecer a responsabilidade social do profissional de Publicidade e Propaganda,
destacando os aspectos éticos envolvidos na profissão;
� Permitir a simulação de situações semelhantes às ocorridas no mercado, para que
o estudante se sinta preparado para a inserção profissional e se sinta estimulado
a melhorar rotinas e práticas já consagradas por esse mercado.
� Valorizar a pesquisa acadêmica em Publicidade e Propaganda, motivando o
estudante a considerar este espaço de aprendizado e de atuação profissional;
� Incentivar a visão de gestor e de profissional preocupado com a sustentabilidade
econômica e ambiental das ações publicitárias.
A nova proposta curricular do Curso de Comunicação Social prevê a formação do
Bacharel em Comunicação Social em duas habilitações – Jornalismo e Publicidade e
Propaganda – e atribui à integralização do Curso o mínimo de 8 (oito) e o máximo de 16
(dezesseis) semestres, num total de 160 (cento e sessenta) créditos, em Jornalismo, e de 160
(cento e sessenta) créditos em Publicidade e Propaganda, devendo o nosso estudante
97
cumprir, respectivamente, uma carga horária de 2700 (duas mil e setecentas) horas, para a
habilitação Jornalismo e de 2700 (duas mil e setecentas) horas, para a habilitação
Publicidade e Propaganda.
O ensino da Comunicação, surgido na convergência das ciências e das práticas sociais
de comunicação, se move, hoje, em duas grandes frentes de transmissão de conhecimento:
uma tecnocientífica; outra, estética. O Curso de Comunicação Social da Universidade
Católica de Brasília acrescenta, a essas, mais duas frentes: uma, de formação ética; outra, de
comprometimento do comunicador com a sociedade brasileira.
A sociedade brasileira, o mercado e as áreas profissionais da comunicação
constituem-se, pois, como norteadores do nosso curso, na medida em que aí podemos
encontrar os indicadores que servem à permanente rearticulação das disciplinas e das
atividades complementares, para a formação do estudante, em cada uma das habilitações.
Por sua vez, os efeitos da presença do egresso do curso na sociedade, no ambiente
profissional e no mercado da Comunicação deverá constituir-se em elemento de fecundação
ética, estética e tecnocientífica.
A proposta curricular do Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de
Brasília está construída a partir da integração dos eixos teóricos e técnicos. A trajetória do
nosso estudante é, portanto, orientada no percurso, desde o ingresso, entre as disciplinas de
fundamentação teórico-conceitual e as disciplinas de informação específica de cada uma das
habilitações que oferecemos.
A identificação desses eixos leva em consideração a exigência contemporânea de
permanente atualização no domínio das tecnologias de produção e difusão de informações e
mensagens aliada a uma necessária visão empreendedora da Comunicação no âmbito das
organizações, tendo em vista, igualmente, as questões da transmissão de um conhecimento
fragmentado e heterogêneo a permear o campo da Comunicação. Aponta ainda para a
indissociabilidade da práxis, da pesquisa e da teorização, indicando a viabilidade de avanços
técnicos e teórico-metodológicos, pela via de uma rede interdisciplinar de conhecimento.
Nesse sentido, o Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Brasília
promove uma constante atualização de seus educadores nas reuniões pedagógicas, nos
núcleos de estudos e pesquisas e nos diferentes projetos e atividades extra-classe,
conjugando o desenvolvimento de suas respectivas disciplinas ao Projeto Pedagógico e à
98
análise dos Planos de Ensino, com o pano de fundo do Diagnóstico Acadêmico e dos
resultados do Exame Nacional de Cursos.
6.2. FLUXO DAS DISCIPLINAS E ESTRUTURA DA MATRIZ CURRICULAR
Desde sua inscrição para o Processo Seletivo da UCB, o candidato ao Curso de
Comunicação Social faz a sua opção para a habilitação Jornalismo ou para a habilitação
Publicidade e Propaganda. Essa exigência prévia já coloca o candidato no sentido mais geral
da proposta curricular, qual seja o da formação do Bacharel em Comunicação Social, porém
com direcionamento para uma específica habilitação (Jornalismo ou Publicidade e
Propaganda).
Junto com o objetivo de introduzir imediatamente o estudante no campo da
Comunicação, a proposta curricular vai buscando equilibrar a presença de disciplinas
teóricas e de disciplinas laboratoriais, fazendo decrescer, ao longo dos semestres
subseqüentes, o número de disciplinas teóricas, à medida que se concentram as disciplinas
específicas de cada uma das habilitações.
A proposta curricular do Curso de Comunicação Social da Universidade Católica de
Brasília propõe uma formação do Bacharel em Comunicação Social – jornalista ou
publicitário – que se estabeleça sobre sólida base de língua vernácula, de modo a garantir
uma excelente performance do egresso com os códigos orais, escritos e audiovisuais. Essa
base é o suporte para as aquisições teóricas e técnicas que dizem respeito ao campo da
Comunicação e que vão constituir as competências exigidas para o desempenho profissional
do comunicador social.
Nesse sentido, a ampla utilização da Biblioteca, permanentemente atualizada, e dos
laboratórios de Informática, de Rádio, de TV e de Fotografia como espaços didáticos, torna
acessível ao estudante o desenvolvimento de projetos, de maneira que o princípio do ensino
por produtos já vai se estabelecendo como perfil característico do Curso. São esses produtos
– vídeos, programas radiofônicos, ensaios fotográficos, reportagens e ensaios jornalísticos,
cartazes, livros, folders e campanhas publicitárias, tanto em mídias analógicas, como nas
digitais– que se multiplicam no âmbito do trabalho das disciplinas, das Oficinas, dos Núcleos
de Estudos e Pesquisas e dos Projetos Experimentais, provocando uma interação de
conteúdos informacionais e de elementos de aprendizagem técnica. Desde o seu ingresso, o
estudante encontra uma organização curricular que possibilita a convergência de técnicas e
99
de saberes fundamentais para o desempenho profissional em Jornalismo e em Publicidade e
Propaganda, com foco no uso dos instrumentos da Comunicação, desenvolvidos em
atividades de produção de mensagens e de registro e documentação da Informação, para as
diferentes mídias.
No quadro das disciplinas oferecidas na presente proposta curricular, foi estabelecido
um número mínimo de pré-requisitos, segundo a pertinência epistemológica e a necessária
gradação de conhecimentos requeridos para cada disciplina, como pode ser acompanhado
na grade curricular, a seguir. Além disso, a proposta dá partida a um grande número de
horas para as atividades complementares, que se constituem de quatro eixos: disciplinas de
trânsito aberto, a serem cursadas na Universidade, de forma a propiciar uma trajetória
interdisciplinar ao estudante; cursos de extensão, palestras, participação em seminários e
congressos; cursos de línguas e de formação complementar (diagramação, editoração
eletrônica ou webdesign, prioritariamente); e publicações em revistas e livros da área.
Na grade curricular, algumas disciplinas desenvolvem projetos especiais com viagens
técnicas com o objetivo de ampliar a formação teórico-prática dos estudantes. Em
Jornalismo Especializado I, a prática constitui a viabilização e realização de viagens para
coberturas jornalísticas nacionais e internacionais, com recursos captados junto a
patrocinadores e planejados no orçamento do próprio curso. Já em Linguagem Publicitária,
as viagens de formação também podem ser nacionais e internacionais e os recursos, da
mesma forma, serão buscados junto à sociedade e à direção institucional, previamente
apontados no orçamento do Curso.
Desde sua criação, o curso de Comunicação Social mantém a preocupação de
atualizar a grade curricular ofertada aos seus estudantes, avaliando a pertinência da oferta
em sintonia com as exigências de adequação profissional. Atualmente não há nenhum
estudante matriculado em currículos referentes a projetos pedagógicos anteriores ao ano de
2004. As atualizações curriculares são ofertadas gradualmente e não afetam alunos já
matriculados em estrutras anteriores. Cabe ao aluno optar por se manter em seu currículo
de ingresso ou solicitar alteração de currículo. Em cada situação é realizado um estudo de
impacto curricular.
Na atual grade curricular constam alterações em nomes e ementas de disciplinas,
decorrentes de uma proposta de aprimoramento dos currículos implantados em 2007, assim
como substituição ou mudança de semestre de algumas disciplinas, cujo conteúdo será
100
aproveitado em processos de equivalência ou – se for o caso – obtenção de horas de
Atividades Complementares. Como exemplo, a disciplina Comunicação Digital foi excluída da
grade curricular da habilitação em Jornalismo pelo fato de seu conteúdo já não mais fazer
sentido diante de outras oferecidas e da própria formação paralela dos estudantes, no que
se refere às tecnologias. Por outro lado, a disciplina Ética e Legislação em Comunicação foi
incluída na grade de ambas as habilitações, diante da necessidade de uma disciplina
específica para contemplar conteúdos de ética e reflexões sobre práticas profissionais.
A disciplina Libras deixou de ser obrigatória para ambas as habilitações, dessa forma
foi ampliado o número de créditos disponíveis para que os estudantes possam escolher
também outras optativas, preferencialmente ofertadas pelo curso, de acordo com
levantamento de demandas entre os estudantes.
Como proposta da Universidade, foram excluídas as disciplina Leitura e Produção de
Textos e Metodologia Científica, ofertadas no primeiro semestre. Em seu lugar, será ofertada
Introdução a Educação Superior, com carga horária equivalente às duas anteriores. A
Secretaria Acadêmica acompanha e apoia a Direção do curso na implantação dos novos
currículos do Curso de Comunicação Social e no encaminhamento dos estudantes já
matriculados nos currículos vigentes.
6.2.1 Grade Curricular da Habilitação Jornalismo – Currículo 1552 (matutino e noturno)
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos
Créditos / carga horária Total créd.
Ch teórica
ch práti ca
ch lab.
Total horas
1º semestre 01 Introdução a Educação Superior -- 08 120 -- -- 120 02 História da Comunicação -- 04 60 -- -- 60 03 Sociologia Geral -- 04 60 -- -- 60 04 Comunicação Integrada -- 04 30 30 -- 60
SUBTOTAL 20 270 30 0 300
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos
Créditos / carga horária Total créd.
Ch teórica
ch práti ca
ch lab.
Total horas
2º semestre 05 Introdução à Fotografia 01 04 20 20 20 60 06 Antropologia da Religião 01 04 60 -- -- 60 07 Técnicas de Produção Jornalística I 01 04 20 20 20 60 08 Editoração Eletrônica 01 04 30 -- 30 60 09 Estética Aplicada 01 04 40 20 -- 60
SUBTOTAL 20 170 60 70 300
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré- Créditos / carga horária
101
Nº requisitos Total créd
Ch teórica
ch práti ca
ch lab.
Total horas
3º semestre 10 Fundamentos da Linguagem Audiovisual 05 04 20 20 20 60 11 Teorias da Comunicação I 03 04 60 -- -- 60 12 Técnicas de Produção Jornalística II 07 04 20 20 20 60 13 Comunicação e Cultura -- 04 60 -- -- 60 14 Design Gráfico para Jornalismo 08 04 30 -- 30 60
SUBTOTAL 20 190 40 70 300
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos
Créditos / carga horária Total créd
Ch teórica
ch práti ca
ch lab.
Total horas
4º semestre 15 Ética -- 04 60 -- -- 60 16 Teorias da Comunicação II 11 04 60 -- -- 60 17 Técnicas de Produção Jornalística III 12 04 20 20 20 60 18 Fotojornalismo 05 04 20 20 20 60 19 Jornalismo e Convergência Digital 07 04 30 10 20 60
SUBTOTAL 20 190 50 60 300
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos
Créditos / carga horária Total créd
Ch teórica
ch práti ca
ch lab.
Total horas
5º semestre 20 Observatório da Mídia 16 e 17 04 40 20 -- 60 21 Metodologia da Pesquisa em Comunicação 16 04 60 -- -- 60 22 Jornalismo Especializado I 17 04 30 20 10 60 23 Radiojornalismo 17 04 30 -- 30 60 24 Realidade Brasileira e Regional -- 04 40 20 -- 60
SUBTOTAL 20 200 60 40 300
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos
Créditos / carga horária Total créd
ch teórica
ch prática
ch lab.
Total horas
6º semestre 25 Produção e Edição de Impressos 17 04 -- 30 30 60 26 Produção e Edição em Rádio 23 04 20 20 20 60
27 Jornalismo Especializado II 22 04 20 20 20 60
28 Telejornalismo 23 04 20 20 20 60
29 Laboratório de Projetos em Comunicação 21 04 30 -- 30 60
SUBTOTAL 20 90 90 120 300
Nº CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-
requisitos Créditos / carga horária
Total créd
ch teórica
ch prática
ch lab.
Total horas
7º semestre
30 Agência Experimental em Comunicação Comunitária
-- 04 18 24 18 60
31 Produção e Edição em TV 28 04 20 20 20 60
32 Comunicação nas Organizações -- 04 50 10 -- 60
33 Políticas e Sistemas em Comunicação -- 04 40 -- 20 60
34 Jornalismo Político e Econômico 27 04 30 20 10 60
35 Projeto Experimental em Jornalismo I 29 02 20 10 -- 30
SUBTOTAL 22 180 80 70 330
102
Nº CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-
requisitos Créditos / carga horária
Total créd
ch teórica
ch prática
ch lab.
Total horas
8º semestre
36 Empreendedorismo em Comunicação 32 04 20 20 20 60
37 Ética e Legislação em Comunicação 15 04 60 -- -- 60
38 OPTATIVA 04 60 -- -- 60
39 Assessoria em Comunicação 32 04 20 20 20 60
40 Projeto Experimental em Jornalismo II 35 02 10 20 -- 30
SUBTOTAL 18 170 60 40 270
Disciplinas Optativas
01 LIBRAS --- 04 04 --- --- 60
02 Corpo e Voz para Rádio e TV --- 04 04 --- --- 60
QUADRO – SÍNTESE
CARGA HORÁRIA HORAS CRÉDITOS Obrigatória (total) 2340 156
Optativa 60 4
Atividades Extra-curriculares (total) 300 --
CARGA HORÁRIA TOTAL 2700 160
6.2.1.1 Ementas e bibliografia básica da Habilitação Jornalismo
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Habilitação em Jornalismo – Currículo 1552 (matutino e noturno)
1º semestre
Nº Disciplina / ementa Bibliografia
01 Introdução à Educação Superior
O estudante e seu contexto sócio-histórico.
Linguagem e Ciência: uma construção
histórica. O texto acadêmico-científico e
suas condições de produção e de recepção:
a construção de sentido e procedimentos
técnicos e metodológicos. A autoria e seus
efeitos: a construção de espaços de
autonomia e criatividade. Cultura digital:
novas práticas de leitura, de escrita e de
construção do conhecimento.
Básica
DUARTE JÚNIOR, J. F.. O que é realidade. São Paulo, SP:
Brasiliense, 1994.
FOUREZ, G. A construção das ciências: introdução à
filosofia e à ética das ciências. São Paulo: UNESP, 1995.
GARCEZ, L. H. Técnica de redação: o que é preciso saber
para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de
fichamento, resumos, resenhas. 11ª. ed. São Paulo:
Atlas, 2009.
Complementar
BARBOSA, S. A. M. & AMARAL, E. Redação: escrever é
desvendar o mundo. 19. ed. Campinas: Papirus, 2008. v.
1. 180 p.
CARVALHO, M.C.R [et al.]. Manual para apresentação de
trabalhos acadêmicos. 3a. ed. Brasília: [s.n.], 2010.
(disponível gratuitamente em PDF no sítio da UCB -
103
Biblioteca)
KOCH, I. V. Ler e compreender os sentidos do texto. São
Paulo: Contexto, 2006.
KOCHE, J. C. Fundamentos de Metodologia Científica.
Petrópolios: Vozes, 2006 – ISBN 85-326-180-49.
KUHN, T.S. A estrutura das revoluções científicas. São
Paulo: Perspectiva, 2007.
SANTOS, B. S.. Um discurso sobre as ciências. Porto:
Afrontamento: 2002.
02 História da Comunicação
Introdução ao conhecimento histórico.
História da comunicação, desenvolvimento
e impacto dos meios de comunicação.
Básica
BRIGGS, A.; BURKE, P. Uma história social da mídia: De
Gutenberg à Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
CADENA, N. Brasil - 100 Anos de Propaganda. São Paulo:
Referência, 2001.
MARTINS, W. A palavra escrita: história do livro, da
imprensa e da biblioteca. São Paulo: Ática, 2002.
Complementar
BENJAMIN, W. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios
sobre literatura e história da cultura. 7a. São Paulo:
Brasiliense, 1994. v.I (Obras escolhidas)
BURKE, P. A arte da conversação. São Paulo: Unespo,
1995.
CASTRO E SILVA, G. de. Filosofia da Comunicação:
comunicosofia. Brasília: Casa Das Musas, 2005. (Textos
em Comunicação, no.7).
MATTELART, A. Comunicação-Mundo: história das idéias
e das estratégias. Petrópolis: Vozes, 1994. (Coleção
Horizontes da globalização).
REIS, J.C. História & Teoria: historicismo, modernidade,
temporalidade e verdade. Rio de Janeiro: FGV, 2005
03 Sociologia Geral
Introdução ao conhecimento sociológico:
métodos compreensivo, funcionalista e
materialista. A Comunicação na sociedade.
Produção, mediação e recepção da
Comunicação.
Básica
GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. rev. e atual. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.
MARCELLINO, N. C. (org.). Introdução às ciências sociais.
3.ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 1989.
MARTINS, C. B. O que é sociologia. 38. ed. São Paulo:
Brasiliense, 1994.
Complementar
FREITAG, B. A teoria crítica: ontem e hoje. 4a.ed. São
Paulo: Brasiliense, 1993.
MARTIN-BARBERO, J. Dos Meios às Mediações:
comunicação, cultura e hegemonia. 2a. ed. Rio de
104
Janeiro: UFRJ, 2003.
MATTELART, A. A Globalização da Comunicação. Bauru:
EDUSC, 2000.
MOREIRA, A. (org.) Sociedade Global: cultura e religião.
2a. ed. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Universidade São
Francisco, 1998.
RAMONET, I. A Tirania da Comunicação. Petrópolis:
Vozes, 1999.
04 Comunicação Integrada
Conceitos introdutórios em Comunicação.
Visão plural e interdisciplinar da
Comunicação. As diferentes competências
e habilitações. Configurações,
possibilidades e tendências do mercado de
trabalho.
Básica
PERUZZOLO, A. C. A Comunicação como encontro.
Bauru: EDUSC, 2006. (Coleção Verbum)
POLISTCHUCK, I.; TRINTA, A. R. Teorias da Comunicação:
o pensamento e a prática da Comunicação Social. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2003.
WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J. H.; JACKSON, D. Pragmática
da Comunicação Humana: um estudo dos padrões,
patologias e paradoxos da interação. São Paulo: Cultrix,
1993.
Complementar
BERLO, D. K. O Processo da Comunicação: introdução a
teoria e a pratica. 4a. ed. Rio de Janeiro: Fundo de
Cultura, 1972.
GONTIJO, Silvana. O Mundo em Comunicação. Rio de
Janeiro: Aeroplano, 2001.
LEACH, E. R. Cultura e Comunicação: a lógica pela qual os
símbolos estão ligados; uma introdução ao uso da análise
estruturalista em antropologia social. Rio de Janeiro:
Zahar Editores, 1978.
SANTAELLA, L. e NOTH, W. Comunicação e Semiótica.
São Paulo: Hackers Editores, 2004. (Coleção
Comunicação).
SERRES, Michel. A Comunicação. Rés-Editora, Porto,
1990.
2º semestre
nº Disciplina / ementa Bibliografia
05 Introdução à Fotografia
Linguagem fotográfica. Técnicas de
fotografia. O uso da câmara fotográfica.
Tratamento de imagem. Operações de
laboratório.
Básica
BARTHES, R. Câmara Clara: a nota sobre a fotografia. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
BENJAMIN, W. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios
sobre literatura e história da cultura. 7a. São Paulo:
Brasiliense, 1994. v.I (Obras escolhidas).
KOSSOY, B. Realidades e ficções na trama fotográfica. 3a.
ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.
105
Complementar
AUMONT, J. A Imagem. Campinas: Papirus, 1993.
BARTHES, R. O óbvio e o obtuso: Ensaios críticos III. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
DUBOIS, P. O Ato Fotográfico e outros ensaios.
Campinas: Papirus, 1998.
FLUSSER, V. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma
futura filosofia da fotografia. 3a. ed. Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 2009. (Conexões).
HEDGECOE, J. Guia completo de fotografia. 2a. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2001.
06 Antropologia da Religião
Antropologia enquanto ciência. Categorias
básicas de análise do fenômeno religioso.
Cultura religiosa brasileira. Cidadania e a
construção do outro: etnocentrismo, a
diversidade e o relativismo cultural.
Básica
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito
antropológico. Rio de Janeiro: Zahar.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o
sentido do Brasil. São Paulo: Companhia de Letras, 1995.
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria
Neves. Antropologia. Uma introdução. São Paulo: Atlas.
2006, 6ª edição.
Complementar
BERGER, Peter. O dossel sagrado. São Paulo: Paulus,
1985, 2ª edição.
DA MATA, Roberto. Relativizando: uma introdução à
antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, 6ª
edição.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das
religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1999
LAGO, Lorenzo; REIMER, Haroldo; SILVA, Valmor da
(Organizadores). O sagrado e as construções de mundo.
Roteiro para as aulas de introdução à teologia na
Universidade. Goiânia /Taguatinga: UCG – Universa,
2004.
LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo:
Brasiliense, 1988
07 Técnicas de Produção Jornalística I
O texto jornalístico informativo. Pauta,
fonte e lide. Técnicas de entrevista.
Apuração, redação, edição e publicação de
notícias.
Básica
KUNCZIK, M. Conceitos de Jornalismo. São Paulo: EDUSP,
2002.
LAJE, N. Linguagem jornalística. 7ª ed. São Paulo: Ática,
2001. (Série Princípios)
MEDINA, C. de A. Notícia: um produto à venda. São
Paulo: Summus. 1988.
106
Complementar
FOLHA DE SÃO PAULO. Novo Manual da redação. 8ª ed.
São Paulo: Folha de São Paulo, 1998.
MEDINA, C. de A. Entrevista: o diálogo possível. 4ª ed.
São Paulo: Ática, 2000.
ROSENSTIEL, T. e KOVACH, B. Os elementos do
jornalismo: o que os jornalistas devem saber e o público
exigir. São Paulo: Geração Editorial. 2003.
08 Editoração Eletrônica
Elementos de diagramação. Estudo e
aplicação de ferramentas digitais. Meios
de pré-impressão e impressão.
Básica
RIBEIRO, M. Planejamento Visual Gráfico. Brasília: Linha
Gráfica, 1997.
HASLAM, A. O livro e o designer I: Como criar e produzir
livros. São Paulo: Edições Rosari, 2007.
CARDOSO, R. Uma introdução à história do design.São
Paulo: Ed.Edgard Blucher, 2004.
Complementar
Adorno, T. W. Teoria Estética. São Paulo: Martins Fontes,
1988.
COLLARO, A. C. Projeto Gráfico. São Paulo: Summus,
1996.
Escorel, A. L. O Efeito Multiplicador do Design. São Paulo:
Ed. SENAC, 1999.
MARCELI, T. Design de Jornais. Rio de Janeiro: Edit
Impress, 2006.
AVILA, R. N. P. Adobe InDesign CS3. Rio de Janeiro: ED.
Brasforte, 2008.
09 Estética Aplicada
Conceitos fundamentais de estética.
Trajetória das idéias estéticas. Teorias da
Percepção. Arte, Comunicação e
Contemporaneidade.
Básica
BARTHES, R. Inéditos: Imagem e Moda. São Paulo:
Martins Fontes, 2005. – (Coleção Roland Barthes, v. 3).
GOMBRICH, E. H. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC
Editora, 2000
SUASSUNA, A. Iniciação à Estética. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2004.
Complementar
ARHEIM, R. Arte e Percepção Visual: Uma psicologia da
visão criadora. São Paulo: Pioneira/Edusp, 1986.
HEGEL, Friedrich. Lições de Estética Aplicada. Brasília:
UnB, 1990.
NIETZSCHE, F. Assim Falou Zaratustra. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1986.
NIETZSCHE, F. O Nascimento da Tragédia. São Paulo:
Companhia das Letras, 1988.
107
OSTROWER, F. A Sensibilidade do Intelecto. Rio de
Janeiro: Campus, 1998.
3º semestre
Nº Disciplina / ementa Bibliografia
10 Fundamentos da Linguagem Audiovisual
A trajetória da linguagem audiovisual. O
processo de realização audiovisual: noções
de roteiro, cinematografia, produção,
montagem, sonorização e finalização.
Perspectivas do digital.
Básica
DANIEL FILHO. O circo eletrônico: fazendo TV no Brasil.
RJ: Jorge Zahar Ed., 2001.
MARTIN, M. A Linguagem Cinematográfica. São Paulo,
Editora Brasiliense, 1990.
SARAIVA, L. Manual de Roteiro, ou Manuel, o primo
pobre dos manuais de cinema e TV. São Paulo, Conrad
Editora do Brasil, 2004.
Complementar
COMPARATO, D. Da criação ao roteiro. Ed. rev. e
ampliada. RJ: Rocco, 2000.
DANCYGER, K. Técnicas de Edição para cinema e vídeo:
história, teoria e prática. 3a. Ed. Rio de Janeiro; Elsevier,
2003.
EISENSTEIN, S. A forma do filme. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1990.
MASCARELLO, F. História do Cinema Mundial. Campinas:
Papirus, 2008.
XAVIER, I. O discurso cinematográfico: a opacidade e a
transparência, 3a. Ed. São Paulo, Paz e Terra, 2005.
11 Teorias da Comunicação I
Conceitos de Comunicação e sua
construção como objeto de pesquisa.
Paradigmas clássicos das teorias da
Comunicação.
Básica
MARCONDES FILHO, Ciro (org). Dicionário da
Comunicação. Paulus, São Paulo, 2009.
NOTH, W. Panorama da Semiótica, de Platão a Peirce.
Annablume, São Paulo, 1995.
WOLF, M. Teorias da Comunicação. Editorial Presença,
Lisboa, 1995.
Complementar
DANCE, Frank E. X. (org). Teoria da Comunicação
Humana. Cultrix, São Paulo, 1973
MATTELART, A. & M. História das Teorias da
Comunicação. Campo das Letras, Porto, 1997.
MATTELART, A. Comunicação Mundo – História das
Idéias e das Estratégias. Vozes, Petrópolis, 1994.
RODRIGUES, A. D. As Dimensões Pragmáticas na
Comunicação. Diadorim, Rio de Janeiro, 1995.
SFEZ, Lucien. Crítica da Comunicação. Loyola, São Paulo,
108
1994.
12 Técnicas de Produção Jornalística II
Categorias do texto jornalístico:
informação, interpretação e opinião.
Pauta, apuração, redação, edição e
publicação de reportagens.
Básica
BELO. E. Livro-reportagem. São Paulo: Contexto, 2006.
CAPOTE, T. A sangue frio. São Paulo: Companhia das
Letras, 2009.
KOTSCHO, R. A prática da reportagem. São Paulo: Ática,
2008.
Complementar
AZEREDO, J. C.(org.) Letras e comunicação – Uma
parceria no ensino de língua portuguesa. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2001.
BARCELLOS, Caco. Abusado: o dono do Morro Santa
Marta. Rio de Janeiro: Record, 2003.
FUSER, Igor. A arte da reportagem. V. 1., São Paulo:
Scritta, 1996.
NOBLAT, R. A arte de fazer um jornal diário. São Paulo:
Contexto, 2002.
SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo:
Contexto, 2003.
13 Comunicação e Cultura
Conceitos de cultura. As matrizes de
produção de sentido na formação da
cultura brasileira. Crítica da produção
cultural. Cultura mediática.
Básica
SANTOS, Jair Ferreira dos. O Que é Pós-Moderno. São
Paulo. Brasiliense,1986.
TEIXEIRA COELHO, José. Dicionário Crítico de Política
Cultural. São Paulo. Fapesp e Editora Iluminuras Lt.,1999.
BOSI, Alfredo et.alli. Cultura Brasileira. São Paulo. Editora
Atica, 2003.
Complementar
RODRIGUES, Adriano Duarte. Comunicação e cultura: a
experiência cultural na era da informação. 2. ed. Lisboa:
PRESENÇA, 1999.
DeFLEUR, Melvin L. & BAL-ROKEACH, Sandra. Teorias da
Comunicação de Massa.Tr.: Octavio A.Velho. Rio de
Janeiro. Jorge Zahar Ed.,1993
HERSKOVITS, Melville J. Antropologia Cultural.Tr.: Maria
J.de Carvalho e Hélio Bichels. São Paulo. Editora Mestre
Jou, 1969.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tr.: Carlos I.da Costa. São
Paulo. Ed.34, 1999.
SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: Da
cultura das mídias à cibercultura. São Paulo. Paulus, 2003.
14 Design Gráfico para Jornalismo
Conceitos de design aplicados ao
Básica
HEILBRUNN, B. A logomarca. RS: Ed. Unisinos, 2002.
109
jornalismo. Fundamentação e
argumentação gráfica para a mídia
impressa. Composição gráfica de texto e
análise de legibilidade: tipografia e
diagramação. Identidade visual.
Tecnologias de impressão.
HOLLIS, R. Design Gráfico: Uma história Concisa.São
Paulo: Martins Fontes, 2001.
WILLIAMS, R. Design para quem não é Designer. São
Paulo: Callis Editora, 1995.
Complementar
ADORNO, T W. Teoria Estética. São Paulo: Martins
Fontes, 1988.
COLLARO, A. C. Projeto Gráfico. São Paulo: Summus,
1996.
ESCOREL, A. L. O Efeito Multiplicador do Design. São
Paulo: Ed. SENAC, 1999.
MCCLOUD, S. Desvendando os quadrinhos. São Paulo:
M.Books, 1993.
PETIT, F. Marca e meus personagens. São Paulo: Ed.
Futura, 2003.
4º semestre
nº Disciplina / ementa Bibliografia
15 Ética
Fundamentação etimológica e conceitual
da Ética. Caracterização e
desenvolvimento histórico da Ética.
Problemas éticos contemporâneos.
Básica
BOFF, L. Ethos Mundial. Um consenso mínimo entre os
humanos. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.
BUARQUE, C. A revolução das prioridades: da
modernidade técnica à modernidade ética. 2ª ed. São
Paulo: Paz e Terra, 2000.
VÁSQUEZ, A. S. Ética. 20ª ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2000.
Complementar
BOFF, L. Saber Cuidar. Petrópolis: Vozes, 1999.
KÜNG, H. Uma ética global para a política e a economia
mundiais. Petrópolis: Vozes, 1999.
NALINI, J. R. Ética Geral e Profissional. 5ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006.
VALLS, Á. L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense,
2006.
16 Teorias da Comunicação II
Paradigmas contemporâneos da
Comunicação. Emergência de novas
tecnologias, atores e processos
comunicacionais.
Básica
HOHLFELDT, A. e GOBBI, M. Teoria da Comunicação no
Brasil: antologia de pesquisadores brasileiros. Porto
Alegre: Sulina, 2004.
MIÈGE, B. O pensamento comunicacional. Petrópolis:
Vozes, 2000.
WOLF, M. Teorias da comunicação. Lisboa: Editora
Presença, 1995.
110
Complementar
ESCOSTEGUY, Ana Carolina (Coord.). Cultura midiática e
tecnologias do imaginário: Metodologia e pesquisas.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.
11. ed. Rio de Janeiro, RJ: DP&A, 2006.
HOHFELDT, A., MARTINO, L., FRANÇA, V (org.). Teorias da
Comunicação: conceitos, escolas e tendências.
Petrópolis: Vozes, 2002
KELLNER, D. A cultura da mídia: Estudos culturais:
identidade e política entre o moderno e o pós-moderno.
Bauru, SP: EDUSC, 2001.
LOPES, M. I. V. de. Pesquisa em comunicação. São Paulo:
Edições Loyola, 2005.
17 Técnicas de Produção Jornalística III
Apuração, redação e edição de textos do
gênero opinativo. Estilo e autoria no
jornalismo contemporâneo.
Básica
CALDAS, Á. (org.). Deu no jornal: o jornalismo impresso
na era da internet. Rio de Janeiro: PUC-Rio; São Paulo:
Loyola, 2002.
KOVACH, B. e ROSENSTIEL, T. Os elementos do
jornalismo: o que os jornalistas devem saber e o público
exigir. São Paulo: Geração Editorial, 2003.
MELO, J. M. de. Jornalismo opinativo: gêneros opinativos
no jornalismo brasileiro. 3ª ed. rev. e ampl. Campos do
Jordão: Mantiqueira, 2003.
Complementar
ABRAMO, C. A regra do jogo. São Paulo: Companhia das
Letras, 1988.
FILHO, Ciro Marcondes. Ser jornalista: a língua como
barbárie e a notícia como mercadoria. São Paulo: Paulus,
2009.
MELO, José Marques de. Jornalismo: compreensão e
reinvenção. São Paulo: Saraiva, 2009.
PIZA, Daniel. Jornalismo cultural. São Paulo: Contexto,
2003. (Coleção Comunicação).
SANT’ANNA, L. O destino do jornal: a Folha de S.Paulo, O
Globo e O Estado de S.Paulo na sociedade da informação.
Rio de Janeiro: Record, 2008.
18 Fotojornalismo
O fotojornalista e suas atribuições.
Abordagem fotográfica. A fotografia de
imprensa e sua relação com o texto. A
fotografia e as tecnologias de tratamento
de imagem. A relação do repórter com o
Básica
SONTAG, S. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das
Letras, 2004.
SOUZA, J. P. Uma história crítica do fotojornalismo
ocidental. Florianópolis: Letras Contemporânea, 2000.
ZUANETTI, R. Fotógrafo: O olhar, a técnica e o trabalho.
111
fato. Discussão da pauta. O fotojornalista e
suas atribuições. Regulamentação da
profissão.
Rio de Janeiro: Editora Senac.
Complementar
ARCARI, Antonio. A Fotografia: as formas, os objetos, o
homem. Portugal, Edições 70.
AUMONT, J. A Imagem. Campinas: Papirus, 1993.
DUBOIS, P. O Ato Fotográfico e outros ensaios.
Campinas: Papirus, 1998.
CARTIER-BRESSON, H. O imaginário segundo a natureza.
Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
JOLY, M. Introdução à análise da imagem. São Paulo:
Papirus, 1996.
19 Jornalismo e Convergência Digital
A emergência da comunicação digital.
Hipertexto, hipermídia, interfaces de
conteúdo. Plataformas interativas.
Cibercultura e influência das tecnologias
na comunicação informacional.
Características e estética do
webjornalismo. A interatividade como
conceito de criação e produção
informacional: questões de autoria e
colaboração.
Básica
FERRARI, P. Jornalismo Digital. São Paulo: Contexto,
2003.
PALÁCIOS, M; MACHADO, E. Modelos de Jornalismo
Digital. São Paulo: Calandra, 2003.
LÉVY, P, As Tecnologias da Inteligência. O Futuro do
Pensamento na Era da Informática. Lisboa, Instituto
Piaget, 1994.
Complementar
LÉVY, P. O que é virtual ? São Paulo: Editora 34, 1996.
157 p. (Coleção Trans)
MACHADO, A. Máquina e Imaginário: o desafio das
poéticas tecnológicas. 3ª. ed, São Paulo, Edusp, 2001.
MAFFESOLI, M. A Conquista do Presente. Rio de Janeiro,
Ed.Rocco, 1984.
RODRIGUES, B. Webwriting: Pensando o Texto Para a
Mídia Digital. São Paulo: Berkeley Brasil, 2000.
SOUSA, M. W. (org.). Sujeito, O Lado Oculto do Receptor.
São Paulo: Brasiliense, 1995.
5º semestre
Nº Disciplina / ementa Bibliografia
20 Observatório da Mídia
Comparação e acompanhamento da
produção jornalística brasileira
contemporânea nos diversos meios e
veículos de comunicação subsidiados pelas
principais Teorias do Jornalismo e pelos
conceitos de Direitos Humanos, Cidadania
e de Jornalismo Público. Estudos de caso
de jornalistas e veículos.
Básica
PAIVA, R, BARBALHO, A. (org.). Comunicação e Cultura
das Minorias. São Paulo: Paulus, 2005.
PENA, F. Teoria do Jornalismo. 2 ed. São Paulo: Contexto,
2007.
SILVA, L. M. da. Imprensa e Cidadania: Possibilidades e
Contradições. In: MOTTA, L. G. (org.). Imprensa e Poder:
Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo:
Imprensa Oficial do Estado, 2002.
112
Justificativa da bibliografia:
Sobre a extensão da bibliografia
apresentanda é importante observar o
conteúdo da disciplina é bastante extenso,
daí a necessidade de incluir diferentes
autores e não apenas cinco.
No total ficaram 8 títulos e mais
alguns artigos, que são retirados da
internet e, por isso, não precisam ser
adquiridos pela biblioteca.
SOUSA, J. P. Elementos de Teoria e Pesquisa da
Comunicação e dos Media. Porto: Edições Universidade
Fernando Pessoa, 2003.
Complementar
ARBEX JR., J. Showrnalismo: a notícia como espetáculo.
4ª. Ed. São Paulo: Casa Amarela, 2005.
BARCELLOS, C. Abusado: O Dono do Morro Santa Marta.
São Paulo: Record, 2003.
BOURDIEU, P. Sobre a Televisão. R.J.: Jorge Zahar, 1997.
CASTILHO, C. Jornalismo Público. Disponível em:
<http://www.igutenberg.org/casti15html>. Acesso em:
28/07/2003.
CHAPARRO, C. M. Investigar é ir Além das Aparências. In:
Instituto Gutenberg, Disponível em
<http://www.igutenberg.org/casti15.html>. Acesso em:
28/07/2003.
DUSSEL, Enrique. Ética da libertação: Na idade da
globalização e da exclusão. Petrópolis: Vozes 2000.
FORTES, L. Jornalismo Investigativo. SP: Contexto, 2005.
GUERRA, Flávia. O futuro do jornalismo público a serviço
da cidadania na AL. Disponível em:
<http://www.Estado.estadao.com.Br/editoriais/2001/06/
11/cad017.html>.
KUCINSKI, B. Jornalistas e Revolucionários: nos tempos
da imprensa alternativa. 2ª. Ed. São Paulo: Edusp, 2003.
MAFESSOLI, Michel. A Conquista do Presente. Rio de
Janeiro: Rocco, 1984.
NOGUEIRA, Marco Aurélio. Jornalismo Público. Disponível
em:
<http://www.lainsignia.org/2003/abril/cul_066.htm>.
Acesso em: 28/07/2003.
PECK, Chris. Mais Poder para o Público. Disponível em:
<http://www2.correioweb.com.br/cw/EDICAO_20020526
/print.htm>. Acesso em: 28/07/2003.
DA SILVA, Luiz Martins. Civic Journalism: um gênero que
no Brasil ainda não emplacou. Disponível em:
<http://www.unb.br/fac/sos/artigos/civic.htm>. Acesso
em: 28/07/2003.
SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton e OLIVEIRA, Miguel Augusto
Machado de. Direitos Humanos e Cidadania. 2ª. ed. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009.
21 Metodologia da Pesquisa em
Comunicação
O processo de pesquisa acadêmica. O
campo científico da Comunicação e a
Básica
GERBNER, G. Os meios de comunicação de massa e a
teoria da comunicação humana. in: DANCE, Frank E. X.
(org). Teoria da comunicação humana. São Paulo: Cultrix,
113
escolha de tema de pesquisa. O artigo
científico.
1967. pp.57-82.
KERLINGER. Fred. N. Metodologia da pesquisa em
ciências sociais: um tratamento conceitual. São Paulo:
EPU, 1980.
LAKATOS, Eva & MARCONI, Marina. Metodologia do
Trabalho científico. 6ª. SP: Atlas, 2001.
Complementar
CARRAHER, D. W. Senso crítico: do dia-a-dia às ciências
humanas. São Paulo: Pioneira, 1983. (Manuais de
estudo).
Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da
Universidade Católica de Brasília. Coordenação de Maria
Carmen Romcy de Carvalho [et. al.]. Universidade
Católica de Brasília, Sistema de Bibliotecas. Brasília, 2008.
Métodos de pesquisa nas relações sociais. SELLTIZ et. al.
São Paulo: EPU, 1975.
BARROS, A. e DUARTE, J.(org.). Métodos e técnicas de
pesquisa em comunicação. 2a. Ed. São Paulo: Atlas, 2006.
HOHLFELDT, MARTINO, FRANÇA (org.). Teorias da
comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis,
Rio de Janeiro: Vozes, 2001.
22 Jornalismo Especializado I
Jornalismo e sociedade: segmentações
sociais e produção jornalística à luz dos
direitos humanos, civis e difusos. A
investigação jornalística como método de
trabalho, o jornalismo para públicos
segmentados, a cobertura setorizada de
cotidiano, cidade, serviços,
entretenimento, comportamento,
educação, minorias, esportes e polícia.
Básica
BATISTA, R. C..Ministério Público e Movimentos Sociais:
uma perspectiva dos direitos difusos e coletivos. In
Revista do M. Público do D. F. e Territórios. Brasília:
Imprensa Nacional, 2000.
GUIMARAES, C. e FRANÇA, V. Na mídia, na rua: narrativas
do cotidiano. BH: Autêntica, 2006.
KOTCHO, R. A Técnica da Reportagem e Entrevista. São
Paulo: Edusp, 1998.
Complementar
BARBEIRO, Heródoto e RANGEL, Patrícia. Manual do
Jornalismo Esportivo. São Paulo: Contexto, 2006.
CLEVES, José. A justiça dos Lobos. Belo Horizonte:
Bigráfica 2009.
COSTA, Cr. A Questão da Pobreza: minorias, violência
humana. In: Sociologia Contemporânea. São Paulo:
Moderna 2002. Cap.19.
KUNCZIK, M. Jornalismo de entretenimento. In Conceitos
de Jornalismo. São Paulo: Edusp, 2001. Cap. 4.
RAMOS, Sílvia e PAIVA, Anabela. Mídia e Violência: novas
tendências na cobertura da criminalidade e segurança no
Brasil. Rio de Janeiro: IUPERG, 2007.
114
23 Radiojornalismo
Introdução à estética radiofônica. As
especificidades da linguagem do
radiojornalismo. O gênero informativo no
rádio. Técnica de redação e roteirização.
Transformação tecnológica da mídia
sonora.
Básica
FERRARETO, Luiz Artur. Rádio: Veículo, História e técnica.
Editora Saga – Luzzatto, 2001.
MEDITSCH, Eduardo. O Rádio na era da Informação.
Florianópolis: Editora Insular, 2001.
PARADA, Marcelo. Radio 24 horas de Jornalismo. Editora
Panda Book, 2000.
Complementar
BARBEIRO, Heródoto e LIMA, Paulo. Manual de
Radiojornalismo. Rio de Janeiro / São Paulo: Editora
Campus, 2003.
CÉSAR, Cyro. Rádio, Inspiração, Transpiração e
Emoção.Editora Ibrasa, 1996.
CÉSAR, Cyro. Como falar em Rádio. São Paulo: Editora
IBRASA, 2002.
MEDITSCH, Eduardo (org). Rádio e pânico: a guerra dos
mundos 60 anos depois. Florianópolis: Insular, 1998.
ORTRIWANO, G. S. A informação no rádio: os grupos de
poder e a determinação dos conteúdos. São Paulo:
Summus Editorial, 1985. 117p
24 Realidade Brasileira e Regional
A construção da noção de realidade: o
global, o regional, o nacional.
Sistematização e operacionalização de
informações estruturais e conjunturais. O
contexto social, político e econômico.
Interpretações da realidade. Leituras do
Brasil, do Distrito Federal e do Entorno.
Básica
BETINHO (Herbert José de Souza). Como se faz análise de
conjuntura. 26ª Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.
DUARTE JUNIOR, J.F. O que é realidade. 10ª Ed. São
Paulo: Brasiliense, 2004.
PERAZZO, Priscila Ferreira e CAPRINO, Mônica Pegurer.
Possibilidades da comunicação e inovação em uma
dimensão regional. In: CAPRINO, Mônica (org.).
Comunicação e inovação: reflexões contemporâneas. São
Paulo: Paulus, 2008.
Complementar
ABREU, Luís Alberto de. Narradores de Javé. Roteiro final
comentados por seus autores Eliane Caffé e Luís Alberto
de Abreu. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo: Cultura – Fundação Padre Anchieta, 2004.
AMADO, J. O Grande Mentiroso: o Cervantes de Goiás. In:
Nossa História. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional. Ano I,
nº. 2, dezembro 2003.
BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO. IBGE. Pesquisa Nacional de Amostra por
Domicílios / PNAD 2008. Disponível em
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tr
abalhoerendimento/pnad2008/default.shtm>. Acesso em
115
11.09.2009.
FAQUINI, R. Grande Oeste (Imagens do Centro Oeste do
Brasil). Brasília: LGE Editora, 1999.
TAVARES, Bráulio. O rasgão no real: metalinguagem e
simulacros na narrativa de ficção científica. João Pessoa:
Marca da Fantasia, 2005.
6º semestre
Nº Disciplina / ementa Bibliografia
25 Produção e Edição de Impressos
Técnicas de captação, apuração, redação,
edição de notícias, editoração e
distribuição de jornal laboratorial.
Básica
ERBOLATO, Mário. Técnicas de codificação em
jornalismo. 5ª ed. São Paulo: Ática, 2004.
MOUILLARD, Maurice & PORTO, Sérgio Dayrell (org.) O
jornal: da forma ao sentido. Brasília: Paralelo 15, 1997.
PEREIRA JUNIOR, Luiz Costa. Guia para a edição
jornalística. Petrópolis: Vozes, 2006.
Complementar
COTTA, Pery. Jornalismo: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Rubio, 2005.
LOPES, Dirceu F., PROENÇA. José L. e SOBRINHO, José C.
(org.). Edição em jornalismo impresso. São Paulo: Edicon,
1998.
MARTINS, Eduardo. Manual de redação e estilo – O
Estado de S.Paulo. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 1997.
NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário. São
Paulo: Contexto, 2002.
O GLOBO. Manual de redação e estilo. Rio de Janeiro:
Globo, 1996.
26 Produção e Edição em Rádio
A diversidade da linguagem radiofônica.
Gêneros e formatos de produção e edição
em rádio. Tecnologias de transmissão.
Básica
BARBOSA, André. Gêneros Radiofônicos: os formatos e os
programas em rádio. SP: Paulinas, 2003.
MCLEISH, Robert. Produção de Rádio: um guia
abrangente da produção. Editora Summus, 2001.
PRADO, Magaly. Produção de Rádio: um manual prático.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
Complementar
CÉSAR, Ciro. Upgrade: o help do locutor. Ciro César. SP:
Ed.Radioficina, 2000.
DEL BIANCO, Nélia R; MOREIRA, Sonia Virgínia. O rádio no
Brasil: Tendências e Perspectivas. Rio de Janeiro: Ed. da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1999.
116
FERRARETO, Luiz Artur. Rádio: Veículo, História e técnica.
Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto, 2001.
MEDISTCH, C. E. O Rádio na era da informação. Editora
da USFC, 2001
MEDITSCH, E. (Coord.). Teorias do rádio: textos e
contextos. Florianópolis, SC: Insular, 2005.
2000.
27 Jornalismo Especializado II
Estudo, análise e prática jornalística sobre
ciência, cultura, artes, tecnologia, meio
ambiente, sustentabilidade, saúde,
qualidade de vida e turismo.
Básica
ALCÂNTARA, N. S.; CHAPARRO, Manuel C.; GARCIA,
Wilson. Imprensa na berlinda: a fonte pergunta. São
Paulo: Celebris, 2005.
FUSER, Igor (org.). A arte da reportagem. São Paulo:
Scritta, 1996
TRIGUEIRO, André (coord.). Meio Ambiente no Século 21.
Rio de Janeiro: Sextante, 2003.
Complementar
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação e saúde: uma
experiência brasileira. São Paulo: Editora Plêiade, 1996.
LOPES, Boanerges; NASCIMENTO, Josias. Saúde e
imprensa: o público que se dane. Rio de Janeiro, Mauad,
1996.
MODERNELL, Renato. Narrativas de viagens e Jornalismo
Literário. Disponível em:
<http://www.renatomodernell.com.br/texto1_ensaios.ph
p?id=299>
OLIVEIRA, Fabíola de. Jornalismo científico. São Paulo:
Editora Contexto, 2001.
PINSKY, Jaime (org.). O Brasil no contexto. 1987—2007.
São Paulo: Contexto, 2007.
PIZA, Daniel. Jornalismo cultural. São Paulo: Editora
Contexto, 2004.
28 Telejornalismo
Técnicas de produção e formatos de
programas jornalísticos na TV. Elaboração
de pauta, plano de cobertura, captação de
som e imagem, edição e apresentação.
Texto e postura de corpo. Voz. Linguagem
audiovisual: enquadramentos, planos de
filmagens, roteiro, script e finalização. O
papel social da televisão e potencialidades
da TV Digital.
Básica
BOURDIEU, Pierre. Sobre a Televisão. Rio de Janeiro:Jorge
Zahar Editor, 1996.
PATERNOSTRO, Vera Íris. O Texto na TV: Manual de
Telejornalismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 2ª. Edição
revista e atualizada.
WATTS, Harris. Direção de Câmera: Um manual de
técnicas de vídeo e cinema. SP: Summus,1990.
Complementar
ARMES, Roy. On Vídeo: O significado do vídeo nos meios
de comunicação. São Paulo: Summus, 1999
117
CURADO, Olga. A Notícia na TV: o dia-a-dia de quem faz
telejornalismo. São Paulo: Alegro, 2002.
PEREIRA JUNIOR, Eurico Vizeu (org). Telejornalismo: a
nova praça pública. Florianópolis: Insular, 2006.
VILLELA, Regina. Profissão: Telejornalismo de TV –
Telejornalismo Aplicado na Era Digital. Rio de Janeiro:
Editora Ciência Moderna Ltda, 2008.
YORKE, Ivor. Jornalismo diante das Câmeras. São Paulo:
Summus. 1998.
29 Laboratório de Projetos em Comunicação
Concepção, estruturação e viabilização de
projetos de Comunicação.
Básica
BARROS, Antonio e DUARTE, Jorge (orgs.). Métodos e
técnicas de pesquisa em comunicação. 2ª. Ed. São Paulo:
Atlas, 2006.
Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da
Universidade Católica de Brasília. Coordenação de Maria
Carmen Romcy de Carvalho [et. al.]. Universidade Católica
de Brasília, Sistema de Bibliotecas. 2ed. rev. ampl. Brasília,
2008. Disponível em:
<http://www.biblioteca.ucb.br/Manual.pdf. Acesso em
25.07.2009>.
SANTAELLA, Lúcia. Comunicação e Pesquisa. São Paulo:
Hacker Editores, 2002. 2a ed.
Complementar
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE BRASÍLIA. Diretrizes das Disciplinas Projeto
Experimental I e II. Brasília: UCB, setembro de 2009.
GERALDES, Elen e SOUSA, Janara. Manual de projetos
experimentais em comunicação. Brasília: Casa das Musas,
2006.
LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Pesquisa em
Comunicação. São Paulo: Ed. Loyola, 1990.
RAMON Y CAJAL, Santiago. Regras e conselhos sobre a
investigação científica (os tônicos da vontade). Rio de
Janeiro. Livraria Editora Zelio Valverde. s/d.
Métodos de pesquisa nas relações sociais. SELLTIZ et. al.
São Paulo: EPU, 1975.
7º semestre
nº Disciplina / ementa Bibliografia
30 Agência Experimental de Comunicação
Comunitária
Conceitos de comunidade. Movimentos
sociais e terceiro setor. Comunicação e
mobilização social. Educomunicação.
Básica
FERNANDES, Ruben César. O Privado porém Público: O
terceiro Setor na América Latina. Rio de Janeiro: Relume-
Dumará, 1994.
MONTORO, Tânia Siqueira (coord.). Série Mobilização
118
Social, vol. 1 e 2. Brasília : UnB, 1996.
SCHERER-WARREN, Ilse et al. Meio ambiente,
Desenvolvimento e Cidadania: Desafios para as Ciências
Sociais. Florianopólis/São Paulo: Cortez/UFSC, 1995.
Complementar
AGOP, Kayayan & SILVA, Luiza Mônica Assis da (orgs.).
Estratégias de Comunicação e Mobilização Social.
Brasília: Universa, 2004.
COSTA, Rogério da. Por um novo conceito de
comunidade: redes sociais, comunidades pessoais,
inteligência coletiva. Interface - Comunicação, Saúde,
Educação, v.9, n.17, p.235-48, mar/ago 2005.
GOHN, Maria da Glória. Novas teorias dos movimentos
sociais. São Paulo, SP: Edições Loyola, 2009.
______. História dos movimentos e lutas sociais: a
construção da cidadania dos brasileiros. 3. ed. São Paulo,
SP: Loyola, 2003. 213 p. ISBN 8515011549
TORO, JOSE BERNARDO. Mobilização social: um modo de
construir a democracia e a participação. Brasília, DF:
Ministério do Meio Ambiente, 1996.
31 Produção e Edição em TV
Elaboração de projeto para programas de
TV. Pesquisa, roteirização, produção,
direção e montagem de vídeos,
documentários e programas
telejornalísticos. Técnica avançada da
linguagem audiovisual e dos recursos
digitais da edição não-linear.
Básica
DANCYGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e
Vídeo. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2003.
DÁ-RIN, Silvio. Espelho Partido. Rio de Janeiro: Azougue
Editorial, 2004.
MACHADO, Arlindo. Televisão levada a Sério. São Paulo.
Senac, 2001.
Complementar
FIELD, Syd. Manual do Roteiro. São Paulo: Ed. Objetiva,
2001.
GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para novas mídias: do game
à TV interativa. SP: Editora Senac São Paulo, 2003.
NICHOLS, Bill. Introdução ao Documentário. Campinas-
SP: Papirus Editora, 2005.
STASHEFF, Edoardo (e outros). O programa de televisão,
sua direção e produção. São Paulo: Ed. EPU/EDUSP, 1978.
ROBERTS-BRESLIN, Jan. Produção de Imagem e Som. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2009.
32 Comunicação nas Organizações
As organizações como sistemas de
comunicação. Estratégia e planejamento
da Comunicação Integrada. Assessorias e
consultorias de comunicação:
Básica
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação Empresarial:
Teoria e Pesquisa. São Paulo: Manole, 2002
KUNSCH, Margarida M.K (org.). Comunicação
119
organização, funções, modelos e
tendências. Relacionamento com públicos
estratégicos e preferenciais.
Responsabilidade Social.
Organizacional. Volumes I e II. São Paulo: Saraiva, 2009.
KUNSCH, Margarida M.K. Planejamento das Relações
Públicas na Comunicação Integrada. São Paulo: Summus,
2003.
Complementar
CURVELLO, João J. A. Comunicação Interna e Cultura
Organizacional. São Paulo: Scortecci, 2002.
DUARTE, Jorge (organizador). Assessoria de Imprensa e
Relacionamento com a Mídia: teoria e prática. São Paulo:
Atlas, 2002.
DUARTE, Jorge (organizador). Comunicação Pública. São
Paulo: Atlas, 2009 (Ed. revista e ampliada).
NEVES, Roberto de Castro. Crises empresariais com a
opinião pública. Rio de Janeiro: Mauad, 2002.
TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de Comunicação
Organizacional e Política. São Paulo: Thompsom, 2002.
33 Políticas e Sistemas em Comunicação
Políticas e sistemas de comunicação
públicos, privados, abertos e fechados.
Concessões, sistemas e redes
regulamentados. Novos paradigmas e
plataformas mídiaticas.
Básica
LIMA, Venício A. de. Mídia: teoria e política. São Paulo:
Editora Fundação Perseu Abramo, nov 2001.
CANCLINI, Nestor G. Consumidores e cidadãos: conflitos
multiculturais da globalização. RJ: Editora UFRJ, 1996.
DIZARD, Wilson. A Nova Mídia. RJ: Zahar, 1997.
Complementar
ALMEIDA, Cândido Mendes. Uma nova ordem
audiovisual: novas tecnologias de comunicação. SP:
Summus, 1998.
MUNIZ, Eloá. Comunicação publicitária em tempos de
globalização. Canoas: Ulbra, 2005.
VALVERDE, Belmiro e CASTOR, Jobim. O Brasil não é para
principiantes. Curitiba: Travessa Editores, 2004.
BITELLI, Marcos (org). Coletânea de legislação de
comunicação social. 4ª. edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2004.
Anuário Iberamericano: 2002. Agência EFE 20. 2002
34 Jornalismo Político e Econômico
A cobertura jornalística da política, da
economia, do judiciário e das relações
internacionais. Estado e instâncias
ideológicas. Estruturas institucionais e de
gestão política do Aparelho de Estado.
Espaços públicos e privados na política e
na economia. Judiciário e o Estado de
Direito. Inserção brasileira na política
Básica
CRESPIGNY, Anthony de. Ideologias Políticas. Brasília:
UnB, 1999.
KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo Econômico. SP, 1992.
RIBEIRO, João Ubaldo. Política: quem manda? Por que
manda? Como manda? RJ: Nova Fronteira, 1998.
Complementar
120
global e latino-americana. ARENDT, Hannah. O que é Política. Rio de Janeiro:
Bertrand do Brasil, 2006.
CONTI, Mário. Nos Bastidores do Planalto. São Paulo. Cia
de Letras, 2002.
NATALI, J. Batista. Jornalismo Internacional. São Paulo:
Contexto, 2004.
OLIVEIRA, Franklin. Jornalismo Político. Rio de Janeiro:
Contexto, 2005.
PASSOS, J.J. Calmon. Direito, poder, justiça e processo:
julgando os que nos julgam. Rio de Janeiro: Forense,
2003.
35 Projeto Experimental em Jornalismo I
Realização de pesquisas e articulação de
conceitos para elaboração de projeto de
conclusão de curso. Apresentação da
primeira etapa do projeto e exame
público de qualificação.
Básica
BARROS, Antonio e DUARTE, Jorge (orgs.). Métodos e
técnicas de pesquisa em comunicação. 2ª. Ed. São Paulo:
Atlas, 2006.
KERLINGER. Fred. N. Metodologia da pesquisa em
ciências sociais: um tratamento conceitual. São Paulo:
EPU, 1980.
Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da
Universidade Católica de Brasília. Coordenação de Maria
Carmen Romcy de Carvalho [et. al.]. Universidade Católica
de Brasília, Sistema de Bibliotecas. 2ed. rev. ampl. Brasília,
2008. Disponível em:
<http://www.biblioteca.ucb.br/Manual.pdf>. Acesso em
25.07.2009.
Complementar
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Coord.). Métodos e
técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São Paulo,
SP: Atlas, 2010.
MALDONADO, Alberto Efendy. Metodologias de pesquisa
em comunicação: olhares, trilhas e processos. Porto
Alegre, RS: Sulina, 2006.
MARTINO, Luiz C. Interdisciplinaridade e Objeto de Estudo
da Comunicação. In: Fausto, A. N. (org.). Campo da
Comunicação. João Pessoas: Editora Universitária, 2001.
MARTINO, Luiz C. Elementos para uma Epistemologia da
Comunicação. In: Fausto, A. N. (org.). Campo da
Comunicação. João Pessoas: Editora Universitária, 2001.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad. Gilson César
de Souza. São Paulo: Perspectiva, 1988.
8º semestre
nº Disciplina / ementa Bibliografia
36 Empreendedorismo em Comunicação Básica
121
Principias teorias administrativas.
Aspectos legais e organizacionais de uma
empresa. Perfil, características e atitudes
de empreendedores. Planos de carreira:
portfólio e currículo. Métodos para
elaboração de planos de negócio.
DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor: a
metodologia de ensino que ajuda a transformar
conhecimento em riqueza. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma idéia, uma
paixão e um plano de negócio: como nasce e
empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo: Cultura
Editores Associados, 1999.
DORNELAS, José Carlos. Empreendedorismo:
transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro.
Campus, 2001.
Complementar
MELO NETO, Francisco P. & FROES, César.
Empreendedorismo Social: a transição para a sociedade
sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.
SOUZA, Eda Castro Lucas & Guimarães, Tomás de Aquino
(organizadores). Empreendedorismo além do Plano de
Negócio. São Paulo: Atlas, 2006.
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas
ao espírito empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2006.
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce & LAMPEL,
Joseph. Safári de Estratégia. Porto Alegre. Bookman,
1998.
OLIVO, Silvio; HAYASHI, André; & SILVA, Hélio Eduardo da.
Série. O Empreendedor – volumes 1,2 e 3. Brasília:
Sebrae, 2003.
37 Ética e Legislação em Comunicação
Noções de ética, moral e deontologia.
Direitos, deveres e responsabilidade social
dos profissionais e organizações. Códigos
de ética em jornalismo e publicidade.
Legislação da produção e da divulgação de
informações na mídia.
Básica
BARROS FILHO, Clóvis de. Ética na Comunicação. 6ª
edição revista e atualizada. São Paulo: Summus, 2008.
BITELLI, Marcos Alberto Sant`anna (org.). Coletânea de
Legislação de Comunicação Social. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2004.
SCHNEIDER, Ari. Conar 25 anos: ética na prática. São
Paulo: Terceiro Nome, 2005.
Complementar
COSTA Caio Túlio. Ética, jornalismo e nova mídia: uma
moral provisória. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009.
DURANDIN, Guy. As mentiras na propaganda e na
publicidade. São Paulo: JSN, 1997.
KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo na era virtual: ensaio
sobre o colapso da razão ética. São Paulo, SP: Fundação
Perseu Abramo, 2005.
LIMA, Arnaldo Siqueira. O Direito à Imagem: Proteção
Jurídica e Limites de Violação. Brasília: Universa, 2003.
122
TOSCANI, Oliviero. A publicidade é um cadáver que nos
sorri. 2a. Ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996.
38 Optativa: Corpo e Voz para Rádio e TV
Identifica técnicas e estratégias de voz,
fala e dicção. Conhecimento de oratória e
retórica, sinceridade da fala, respiração
adequada, timbre de voz e inflexão
profissional na enunciação do texto no
rádio e na televisão. Domínio dos canais
de emissão como mãos, gestos, olhares e
outros signos de expressão. O corpo e sua
anatomia, aquisição de elasticidade,
movimentos e comunicação não-verbal.
Básica
CALAIS-GERMAIN, Blandine. Anatomia para o
Movimento. vol I e II. São Paulo: Manole, 1991.
KYRILLOS, Leny . Voz e Corpo na TV. Editora Globo. São
Paulo, 2003.
PICOLOTTO, Léslie. Técnicas de Impostação e
Comunicação Oral. São Paulo:Ed. Loyola, 1977.
Complementar
BARBEIRO, Heródoto. Você na Telinha. São Paulo:Futura,
2002.
BRECHT, B. Teatro Dialético. São Paulo: Civilização
Brasileira, 1967.
GOLDSTEIN, N. Versos, Sons, Ritmos. São Paulo:
Editora Ática, 1985.
SOUCHARD, E. Respiração. São Paulo. Summus
Editorial, 1987.
STANISLAVSKI, Constantin. A Construção da
Personagem. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2001.
Optativa: LIBRAS
A história da educação dos surdos.
Aspectos fonológicos, morfológicos e
sintáticos da Língua Brasileira de Sinais. A
relação entre LIBRAS e a Língua
Portuguesa. Processos de significação e
subjetivação. O ensino-aprendizagem em
LIBRAS. A linguagem viso-gestual e suas
implicações em produções escritas.
Básica
GUARINELLO, A. C. O papel do outro na escrita de
sujeitos surdos. São Paulo: Plexus, 2007.
LIMA-SALES, H. M. M. L. (Org.). Bilinguismo dos
Surdos: Questões Linguísticas e Educacionais.
Brasília: Cânone Editorial, 2007.
QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da
linguagem. Artes Médicas, Porto Alegre, 1997.
Complementar
GESSEI, A. Libras? Que língua é essa? São Paulo:
Parábola Editorial, 2009.
LODI, A. C. B. et al. Letramento e minorias. Porto
Alegre: Mediação, 2002.
QUADROS, R. M. e KARNOPP, L. B. Língua de Sinais
Brasileira. Porto Alegre: Artmed, 2004.
SACKS, O. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos
surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
SALLES, H. M. M. L. et al. Ensino de língua portuguesa
para surdos: caminhos para a prática pedagógica.
Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos.
Brasília, 2002.
39 Assessoria em Comunicação Básica
123
Briefings e desafios de comunicação com
os diversos públicos de relacionamento de
organizações públicas, privadas e/ou do
Terceiro Setor.
DUARTE, Jorge (org.). Assessoria de imprensa e
relacionamento com a mídia: teoria e técnica. São Paulo:
Atlas, 2003.
MAFEI, Maristela. Assessoria de imprensa: como se
relacionar com a mídia. São Paulo: Contexto, 2004.
VIANA, Francisco. De cara com a mídia: comunicação
corporativa, relacionamento e cidadania. São Paulo,
Negócio Editora, 2001.
Complementar
CHINEM, Rivaldo. Assessoria de imprensa: como fazer.
São Paulo: Summus, 2003.
FERRARETTO, Luiz Artur e FERRARETTO, Elisa Kopplin.
Assessoria de imprensa: teoria e prática. São Paulo:
Summus, 2009.
LORENZON, Gilberto e MAWAKDIYE, Alberto. Manual de
assessoria de imprensa. São Paulo: Mantiqueira, 2003.
NOGUEIRA, Nemércio. Media training: melhorando as
relações da empresa com jornalistas. São Paulo: Cultura
Editores, 2005.
REIS, Lea Maria Aarão e CARVALHO, Claudia. Manual
prático de assessoria de imprensa. São Paulo: Campus,
2008.
40 Projeto Experimental em Jornalismo II
Desenvolvimento, sistematização e
finalização do projeto de conclusão de
curso. Apresentação e defesa pública do
produto final.
Básica
BARROS, Antonio e DUARTE, Jorge (orgs.). Métodos e
técnicas de pesquisa em comunicação. 2ª. Ed. São Paulo:
Atlas, 2006.
KERLINGER. Fred. N. Metodologia da pesquisa em
ciências sociais: um tratamento conceitual. São Paulo:
EPU, 1980.
Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da
Universidade Católica de Brasília. Coordenação de Maria
Carmen Romcy de Carvalho [et. al.]. Universidade Católica
de Brasília, Sistema de Bibliotecas. 2ed. rev. ampl. Brasília,
2008. Disponível em:
<http://www.biblioteca.ucb.br/Manual.pdf>. Acesso em
25.07.2009.
Complementar
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Coord.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. MALDONADO, Alberto Efendy. Metodologias de pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e processos. Porto Alegre, RS: Sulina, 2006. MARTINO, Luiz C. Interdisciplinaridade e Objeto de Estudo da Comunicação. In: Fausto, A. N. (org.). Campo
124
da Comunicação. João Pessoas: Editora Universitária, 2001. MARTINO, Luiz C. Elementos para uma Epistemologia da Comunicação. In: Fausto, A. N. (org.). Campo da Comunicação. João Pessoas: Editora Universitária, 2001. ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad. Gilson César de Souza. São Paulo: Perspectiva, 1988.
HABILITAÇÃO EM JORNALISMO
Total geral de créditos – 160
6.2.2 Grade Curricular da Habilitação Publicidade e Propaganda – Currículo 1553 (matutino
e noturno)
Nº CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-
requisitos Créditos / carga horária
Total créd.
Ch teórica
ch práti ca
ch lab.
Total horas
1º semestre 01 Introdução a Educação Superior -- 08 120 -- -- 120 02 História da Comunicação -- 04 60 -- -- 60 03 Sociologia Geral -- 04 60 -- -- 60 04 Comunicação Integrada -- 04 30 30 -- 60
SUBTOTAL 20 270 30 -- 300
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos
Créditos / carga horária Total créd.
Ch teórica
ch práti ca
ch lab.
Total horas
2º semestre 05 Introdução à Fotografia 01 04 20 20 20 60 06 Marketing I 01 04 40 20 -- 60 07 Design Gráfico para Publicidade 01 04 30 -- 30 60 08 Administração em Publicidade 01 04 30 30 -- 60 09 Estética Aplicada 01 04 40 20 -- 60
SUBTOTAL 20 160 90 50 300
Nº CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-
requisitos Créditos / carga horária
Total créd
Ch teórica
ch práti ca
ch lab.
Total horas
3º semestre 10 Fundamentos da Linguagem Audiovisual 05 04 20 20 20 60 11 Teorias da Comunicação I 03 04 60 -- -- 60 12 Antropologia da Religião -- 04 60 -- -- 60 13 Comunicação e Cultura -- 04 60 -- -- 60 14 Técnicas de Redação e Produção para
Mídia Impressa
-- 04 20 20 20 60
SUBTOTAL 20 220 40 40 300
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré- Créditos / carga horária
125
Nº requisitos Total créd
Ch teórica
ch práti ca
ch lab.
Total horas
4º semestre 15 Pesquisa de Opinião e de Mercado -- 04 20 -- 40 60
16 Teorias da Comunicação II 11 04 60 -- -- 60
17 Atendimento em Publicidade 08 04 40 20 -- 60
18 Produção Gráfica 14 04 10 20 30 60
19 Foto Publicitária 05 04 20 10 30 60
SUBTOTAL 20 150 50 100 300
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos
Créditos / carga horária Total créd
Ch teórica
ch práti ca
ch lab.
Total horas
5º semestre 20 Mídia 08 04 30 30 -- 60 21 Metodologia da Pesquisa em Comunicação 16 04 60 -- -- 60 22 Realidade Brasileira e Regional -- 04 40 20 -- 60 23 Comportamento do Consumidor -- 04 40 20 -- 60 24 Direção de Arte 18 04 10 20 30 60
SUBTOTAL 20 180 90 30 300
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos
Créditos / carga horária Total créd
ch teórica
ch prática
ch lab.
Total horas
6º semestre 25 Ética -- 04 60 -- -- 60
26 Planejamento de Campanhas 17 04 30 30 -- 60
27 Marketing Especializado 06 04 30 30 -- 60
28 Técnicas de Redação e Produção para Rádio 14 04 20 20 20 60
29 Laboratório de Projetos em Comunicação 21 04 30 -- 30 60
SUBTOTAL 20 170 80 50 300
Nº CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-
requisitos Créditos / carga horária
Total créd
ch teórica
ch prática
ch lab.
Total horas
7º semestre
30 Agência Experimental em Comunicação Comunitária
-- 04 18 24 18 60
31 Publicidade e Convergência Digital 14 e 24 04 30 -- 30 60
32 Comunicação nas Organizações -- 04 50 10 -- 60
33 Técnicas de Redação e Produção para TV e Cinema
28 04 20 20 20 60
34 Linguagem Publicitária 28 04 40 20 -- 60
35 Projeto Experimental em Publicidade I 29 02 20 10 -- 30
SUBTOTAL 22 180 80 70 330
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos
Créditos / carga horária Total créd
ch teórica
ch prática
ch lab.
Total horas
8º semestre
36 Empreendedorismo em Comunicação 32 04 20 20 20 60
37 OPTATIVA -- 04 60 -- -- 60
38 Ética e Legislação em Comunicação 25 04 60 -- -- 60
39 Assessoria em Comunicação 32 04 20 20 20 60
126
40 Projeto Experimental em Publicidade II 35 02 10 20 -- 30
SUBTOTAL 18 170 60 40 270
Disciplinas Optativas
01 LIBRAS --- 04 04 --- --- 60
02 Políticas e Sistemas em Comunicação --- 04 04 --- --- 60
QUADRO – SÍNTESE
CARGA HORÁRIA HORAS CRÉDITOS Obrigatória (total) 2340 156
Optativa 60 4
Atividades Extra-curriculares (total) 300 --
CARGA HORÁRIA TOTAL 2700 160
6.2.2.1. Ementas e bibliografia básica da Habilitação Publicidade e Propaganda
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Habilitação em Publicidade e Propaganda – Currículo 1553 (matutino e noturno)
1º semestre
Nº Disciplina / ementa Bibliografia
01 Introdução à Educação Superior
O estudante e seu contexto sócio-
histórico. Linguagem e Ciência: uma
construção histórica. O texto
acadêmico-científico e suas condições
de produção e de recepção: a
construção de sentido e procedimentos
técnicos e metodológicos. A autoria e
seus efeitos: a construção de espaços de
autonomia e criatividade. Cultura digital:
novas práticas de leitura, de escrita e de
construção do conhecimento.
Básica
DUARTE JÚNIOR, J. F. O que é realidade. São Paulo, SP:
Brasiliense, 1994.
FOUREZ, G. A construção das ciências: introdução à filosofia
e à ética das ciências. São Paulo: UNESP, 1995.
GARCEZ, L. H. Técnica de redação: o que é preciso saber
para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de
fichamento, resumos, resenhas. 11ª. ed. São Paulo: Atlas,
2009.
Complementar
BARBOSA, S. A. M. & AMARAL, E. Redação: escrever é
desvendar o mundo. 19. ed. Campinas: Papirus, 2008. v. 1.
180 p.
CARVALHO, M.C.R [et al.]. Manual para apresentação de
trabalhos acadêmicos. 3a. ed. Brasília: [s.n.], 2010.
(disponível gratuitamente em PDF no sítio da UCB -
Biblioteca)
KOCH, I. V. Ler e compreender os sentidos do texto. São
Paulo: Contexto, 2006.
KOCHE, J. C. Fundamentos de Metodologia Científica.
Petrópolios: Vozes, 2006 – ISBN 85-326-180-49.
KUHN, T.S. A estrutura das revoluções científicas. São
Paulo: Perspectiva, 2007.
127
SANTOS, B. S.. Um discurso sobre as ciências. Porto:
Afrontamento: 2002.
02 História da Comunicação
Introdução ao conhecimento histórico.
História da comunicação,
desenvolvimento e impacto dos meios
de comunicação.
Básica
BRIGGS, A.; BURKE, P. Uma história social da mídia: De
Gutenberg à Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
CADENA, N. Brasil - 100 Anos de Propaganda. São Paulo:
Referência, 2001.
MARTINS, W. A palavra escrita: história do livro, da
imprensa e da biblioteca. São Paulo: Ática, 2002.
Complementar
BENJAMIN, W. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios
sobre literatura e história da cultura. 7a. São Paulo:
Brasiliense, 1994. v.I (Obras escolhidas).
BURKE, P. A arte da conversação. São Paulo: Unespo, 1995.
CASTRO E SILVA, G. de. Filosofia da Comunicação:
comunicosofia. Brasília: Casa Das Musas, 2005. (Textos em
Comunicação, no.7).
MATTELART, A. Comunicação-Mundo: história das idéias e
das estratégias. Petrópolis: Vozes, 1994. (Coleção
Horizontes da globalização).
REIS, J.C. História & Teoria: historicismo, modernidade,
temporalidade e verdade. Rio de Janeiro: FGV, 2005.
03 Sociologia Geral
Introdução ao conhecimento
sociológico: métodos compreensivo,
funcionalista e materialista. A
Comunicação na sociedade. Produção,
mediação e recepção da Comunicação.
Básica
GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. rev. e atual. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2004.
MARCELLINO, N. C. (org.). Introdução às ciências sociais.
3.ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 1989.
MARTINS, C. B. O que é sociologia. 38. ed. São Paulo:
Brasiliense, 1994.
Complementar
FREITAG, B. A teoria crítica: ontem e hoje. 4a.ed. São Paulo:
Brasiliense, 1993.
MARTIN-BARBERO, J. Dos Meios às Mediações:
comunicação, cultura e hegemonia. 2a. ed. Rio de Janeiro:
UFRJ, 2003.
MATTELART, A. A Globalização da Comunicação. Bauru:
EDUSC, 2000.
MOREIRA, A. (org.) Sociedade Global: cultura e religião. 2a.
ed. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Universidade São
Francisco, 1998.
RAMONET, I. A Tirania da Comunicação. Petrópolis: Vozes,
1999.
128
04 Comunicação Integrada
Conceitos introdutórios em
Comunicação. Visão plural e
interdisciplinar da Comunicação. As
diferentes competências e habilitações.
Configurações, possibilidades e
tendências do mercado de trabalho.
Básica
PERUZZOLO, A. C. A Comunicação como encontro. Bauru:
EDUSC, 2006. (Coleção Verbum)
POLISTCHUCK, I.; TRINTA, A. R. Teorias da Comunicação: o
pensamento e a prática da Comunicação Social. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2003.
WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J. H.; JACKSON, D. Pragmática da
Comunicação Humana: um estudo dos padrões, patologias
e paradoxos da interação. São Paulo: Cultrix, 1993.
Complementar
BERLO, D. K. O Processo da Comunicação: introdução a
teoria e a pratica. 4a. ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura,
1972.
GONTIJO, Silvana. O Mundo em Comunicação. Rio de
Janeiro: Aeroplano, 2001.
LEACH, E. R. Cultura e Comunicação: a lógica pela qual os
símbolos estão ligados; uma introdução ao uso da análise
estruturalista em antropologia social. Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1978.
SANTAELLA, L. e NOTH, W. Comunicação e Semiótica. São
Paulo: Hackers Editores, 2004. (Coleção Comunicação).
SERRES, Michel. A Comunicação. Rés-Editora, Porto, 1990.
2º semestre
nº Disciplina / ementa Bibliografia
05 Introdução à Fotografia
Linguagem fotográfica. Técnicas de
fotografia. O uso da câmara fotográfica.
Tratamento de imagem. Operações de
laboratório.
Básica
BARTHES, R. Câmara Clara: a nota sobre a fotografia. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
BENJAMIN, W. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios
sobre literatura e história da cultura. 7a. São Paulo:
Brasiliense, 1994. v.I (Obras escolhidas).
KOSSOY, B. Realidades e ficções na trama fotográfica. 3a.
ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.
Complementar
AUMONT, J. A Imagem. Campinas: Papirus, 1993.
BARTHES, R. O óbvio e o obtuso: Ensaios críticos III. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
DUBOIS, P. O Ato Fotográfico e outros ensaios. Campinas:
Papirus, 1998.
FLUSSER, V. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma
futura filosofia da fotografia. 3a. ed. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 2009. (Conexões).
129
HEDGECOE, J. Guia completo de fotografia. 2a. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2001.
06 Marketing I
Fundamentos de marketing.
Conceituação de Marketing e suas
diferentes vertentes. Composto de
Marketing. Sistema de informação de
marketing.
Básica
DIAS, Sergio Roberto (org). Gestão de Marketing. São
Paulo: Saraiva, 2003.
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do
novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
Marketing: As melhores práticas. CZINKOTA, Michael R.; et
al. Porto Alegre, RS: Bookman, 2001.
Complementar
ARMSTRONG, Gary; KOTLER, Philip. Princípios de
Marketing. São Paulo: LTC, 2000.
COBRA, Marcos. Marketing Básico. São Paulo: Atlas, 1997.
GARBER, Rogério. Inteligência competitiva de mercado.
São Paulo: Madras Editora, 2001.
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing:
conceitos, planejamento e aplicações à realidade brasileira.
São Paulo: Atlas, 2006.
RICHERS, Raimar. O que é Marketing? São Paulo: Editora
Brasiliense, 1994. (Coleção Primeiros Passos).
07 Design Gráfico para Publicidade
Conceitos de design aplicados à
publicidade. Fundamentação e
argumentação gráfica para a mídia
impressa. Tipografia, ilustração,
fotografia e uso da cor. Identidade
visual. Clientes, veículos e tecnologias.
Básica
HOLLIS, Richard. Design Gráfico: Uma história concisa. São
Paulo: Martins Fontes, 2001.
HURLBURT, Allen. Layout: O Design da Página Impressa.
São Paulo: Nobel, 1999.
MUNARI, Bruno. Design e Comunicação Visual. São Paulo:
Martins Fontes, 1997.
Complementar
BERGSTRÖN, Bo. Fundamentos da Comunicação Visual.
São Paulo: Edições Rosari, 2009.
BRINGHURST, Robert. Elementos do estilo tipográfico,
versão 3.0. São Paulo: Cosac & Naify, 2005.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem Visual. São Paulo :
Martins Fontes, 1991.
FRUTIGER, Adrian. Sinais & Símbolos: desenho, projeto e
significado. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
HEILBRUNN, Benoît. A logomarca. São Paulo: Editora
Unisinos, 2002.
08 Administração em Publicidade
Cenários da área de publicidade.
Organização e estrutura de empresas
publicitárias. Aspectos administrativos e
Básica
LUPETTI, Marcélia. Administração em Publicidade: A
verdadeira alma do negócio. SP, Pioneira Thomson, 2003.
PEDREBON, José. Curso de Propaganda: Do anúncio à
130
funções dos departamentos técnicos de
agências. Grupos de contas e supervisão.
A visão do anunciante. Concorrência
pública e privada. Relacionamento entre
empresa, agência, veículo e fornecedor.
comunicação integrada. SP, Atlas, 2004.
SCHARF, Edson Roberto. Administração na Propaganda: o
planejamento e a gestão do conhecimento na
administração aplicada a propaganda. RJ,Qualitymark,
2006.
Complementar
PREDEBON, José. Propaganda: profissionais ensinam como
se faz. SP: Atlas, 2000.
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z. RJ: Campus, 1997.
SANTANNA, Armando. Propaganda: Teoria e prática. SP,
Pioneira, 1989.
JONES, John Philip (org). A Publicidade como Negócio. SP:
Nobel, 2002.
GRACIOSO, Francisco. Marketing. 3. Ed. São Paulo: Global,
1993.
09 Estética Aplicada
Conceitos fundamentais de estética.
Trajetória das idéias estéticas. Teorias da
Percepção. Arte, Comunicação e
Contemporaneidade.
Básica
BARTHES, R. Inéditos: Imagem e Moda. São Paulo: Martins
Fontes, 2005. (Coleção Roland Barthes, v. 3).
GOMBRICH, E. H. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC
Editora, 2000.
SUASSUNA, A. Iniciação à Estética. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2004.
Complementar
ARHEIM, R. Arte e Percepção Visual: Uma psicologia da
visão criadora. São Paulo: Pioneira/Edusp, 1986.
HEGEL, Friedrich. Lições de Estética. Brasília: UnB, 1990.
NIETZSCHE, F. Assim Falou Zaratustra. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1986.
NIETZSCHE, F. O Nascimento da Tragédia. São Paulo:
Companhia das Letras, 1988.
OSTROWER, F. A Sensibilidade do Intelecto. Rio de Janeiro:
Campus, 1998.
3º semestre
nº Disciplina / ementa Bibliografia
10 Fundamentos da Linguagem
Audiovisual
A trajetória da linguagem audiovisual. O
processo de realização audiovisual:
noções de roteiro, cinematografia,
produção, montagem, sonorização e
finalização. Perspectivas do digital.
Básica
DANIEL FILHO. O circo eletrônico: fazendo TV no Brasil. RJ:
Jorge Zahar Ed., 2001.
MARTIN, M. A Linguagem Cinematográfica. São Paulo,
Editora Brasiliense, 1990.
SARAIVA, L. Manual de Roteiro, ou Manuel, o primo pobre
dos manuais de cinema e TV. São Paulo, Conrad Editora do
131
Brasil, 2004.
Complementar
COMPARATO, D. Da criação ao roteiro. Ed. rev. e ampliada.
RJ: Rocco, 2000.
DANCYGER, K. Técnicas de Edição para cinema e vídeo:
história, teoria e prática. 3a. Ed. Rio de Janeiro; Elsevier,
2003.
EISENSTEIN, S. A forma do filme. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1990.
MASCARELLO, F. História do Cinema Mundial. Campinas:
Papirus, 2008.
XAVIER, I. O discurso cinematográfico: a opacidade e a
transparência, 3a. Ed. São Paulo, Paz e Terra, 2005.
11 Teorias da Comunicação I
Conceitos de Comunicação e sua
construção como objeto de pesquisa.
Paradigmas clássicos das teorias da
Comunicação.
Básica
MARCONDES FILHO, Ciro (org). Dicionário da Comunicação.
Paulus, São Paulo, 2009.
NOTH, W. Panorama da Semiótica, de Platão a Peirce.
Annablume, São Paulo, 1995.
WOLF, M. Teorias da Comunicação. Editorial Presença,
Lisboa, 1995.
Complementar
DANCE, Frank E. X. (org). Teoria da Comunicação Humana.
Cultrix, São Paulo, 1973.
MATTELART, A. & M. História das Teorias da Comunicação.
Campo das Letras, Porto, 1997.
MATTELART, A. Comunicação Mundo – História das Idéias e
das Estratégias. Vozes, Petrópolis, 1994.
RODRIGUES, A. D. As Dimensões Pragmáticas na
Comunicação. Diadorim, Rio de Janeiro, 1995.
SFEZ, Lucien. Crítica da Comunicação. Loyola, São Paulo,
1994
12 Antropologia da Religião
Antropologia enquanto ciência.
Categorias básicas de análise do
fenômeno religioso. Cultura religiosa
brasileira. Cidadania e a construção do
outro: etnocentrismo, a diversidade e o
relativismo cultural.
Básica
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito
antropológico. Rio de Janeiro: Zahar.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido
do Brasil. São Paulo: Companhia de Letras, 1995.
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria
Neves. Antropologia. Uma introdução. São Paulo: Atlas.
2006, 6ª edição.
Complementar
BERGER, Peter. O dossel sagrado. São Paulo: Paulus, 1985,
132
2ª edição.
DA MATA, Roberto. Relativizando: uma introdução à
antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, 6ª edição.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das
religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1999
LAGO, Lorenzo; REIMER, Haroldo; SILVA, Valmor da
(Organizadores). O sagrado e as construções de mundo.
Roteiro para as aulas de introdução à teologia na
Universidade. Goiânia /Taguatinga: UCG – Universa, 2004.
LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo:
Brasiliense, 1988
13 Comunicação e Cultura
Conceitos de cultura. As matrizes de
produção de sentido na formação da
cultura brasileira. Crítica da produção
cultural. Cultura mediática.
Básica
SANTOS, Jair Ferreira dos. O Que é Pós-Moderno. São
Paulo. Brasiliense, 1986.
TEIXEIRA COELHO,... Dicionário Crítico de Política Cultural.
São Paulo. Fapesp e Editora Iluminuras Lt.,1999.
BOSI, Alfredo et.alli. Cultura Brasileira. São Paulo. Editora
Atica, 2003.
Complementar
RODRIGUES, Adriano Duarte. Comunicação e cultura: a
experiência cultural na era da informação. 2. ed. Lisboa:
PRESENÇA, 1999.
DeFLEUR, Melvin L. & BAL-ROKEACH, Sandra. Teorias da
Comunicação de Massa.Tr.: Octavio A.Velho. Rio de
Janeiro. Jorge Zahar Ed.,1993
HERSKOVITS, Melville J. Antropologia Cultural.Tr.: Maria
J.de Carvalho e Hélio Bichels. São Paulo. Editora Mestre Jou,
1969.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tr.: Carlos I.da Costa. São Paulo.
Ed.34, 1999.
SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: Da
cultura das mídias à cibercultura. São Paulo. Paulus, 2003.
14 Técnicas de Redação e Produção para
Mídia Impressa
Estratégias de argumentação e
persuasão. Gêneros de textos para
publicidade impressa. Produção de uma
campanha impressa.
Básica
FIGUEIREDO, Celso. Redação Publicitária: sedução pela
palavra. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
HOFF, Tânia & GABRIELLI, Lourdes. Redação Publicitária:
para cursos de Comunicação, Publicidade e Propaganda. RJ:
Elsevier, 2004.
MARTINS, Zeca. Redação Publicitária: a prática na prática.
São Paulo: Atlas, 2006.
Complementar
BERTOMEU, João Vicente Cegato. Criação na Propaganda
133
Impressa. São Paulo: Thomson, 2002.
CARRAHER, David W. Senso crítico. Do dia-a-dia às ciências
humanas. 6ª Ed. São Paulo: Thomson, 2003.
CARRASCOZA, João Anzanello. Redação Publicitária. São
Paulo: Futura, 2003.
KOCH, Ingedore. G.V. Argumentação e Linguagem. 6ª Ed.
São Paulo: Cortez, 1984.
REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. Rio de Janeiro:
Martins Fontes, 1996.
4º semestre
nº Disciplina / ementa Bibliografia básica
15 Pesquisa de Opinião e de Mercado
Princípios fundamentais de pesquisas de
opinião e de mercado e sua aplicação na
área de publicidade e propaganda.
Técnicas de pesquisa, sondagens, focus
group, análises quantitativas e
qualitativas, estatística aplicada,
estratificação. O domínio de softwares
de pesquisa e estatística.
Básica
BABBIE, Earl. Métodos de Pesquisa de Survey. Trad.
Guilherme Cezarino. Belo Horizonte: UFMG, 1999.
COTRIM, Sérgio P. Queiroz. Pesquisa de Propaganda. 2ª
ed. São Paulo: Global, 1996.
MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing:
metodologia, planejamento, execução, análise. 2 v. São
Paulo: Atlas, 1994.
Complementar
AAKER, David, KUMAR, V. & DAY, George S. Pesquisa de
Marketing. Trad. Reynaldo Cavalheiro Marcondes. São
Paulo: Atlas, 2001.
BOYD, Harper White & WESRFALL, Ralph. Pesquisa
Mercadológica: textos e casos. Trad. Afonso C. A. Arantes e
Maria Isabel R. Hopp. 6ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 1984.
CROSSEN, Cynthia. O fundo falso das pesquisas: a ciência
das verdades torcidas. Trad. Roberto Teixeira. Rio de
Janeiro: Revan, 1996.
MALHOTRA, Naresh K. (et al.). Introdução à Pesquisa de
Marketing. Trad. Robert Mariano Taylor. São Paulo: Pratice
Hall, 2005.
SAMARA, Beatriz Santos & BARROS, José Carlos. Pesquisa
de Marketing: conceitos e metodologia. 3ª ed. São Paulo:
Pearson Education no Brasil, 2002.
16 Teorias da Comunicação II
Paradigmas contemporâneos da
Comunicação. Emergência de novas
tecnologias, atores e processos
comunicacionais.
Básica
HOHLFELDT, A. e GOBBI, M. Teoria da Comunicação no
Brasil: antologia de pesquisadores brasileiros. Porto Alegre:
Sulina, 2004.
MIÈGE, B. O pensamento comunicacional. Petrópolis:
Vozes, 2000.
134
WOLF, M. Teorias da comunicação. Lisboa: Editora
Presença, 1995.
Complementar
ESCOSTEGUY, Ana Carolina (Coord.). Cultura midiática e
tecnologias do imaginário: Metodologia e pesquisas. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2005.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.
11. ed. Rio de Janeiro, RJ: DP&A, 2006.
HOHFELDT, A., MARTINO, L., FRANÇA, V (org.). Teorias da
Comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis:
Vozes, 2002.
KELLNER, D. A cultura da mídia: Estudos culturais:
identidade e política entre o moderno e o pós-moderno.
Bauru, SP: EDUSC, 2001.
LOPES, M. I. V. de. Pesquisa em comunicação. São Paulo:
Edições Loyola, 2005.
17 Atendimento em Publicidade
Técnicas de atendimento ao consumidor
e ao cliente. Gerenciamento de contas.
Estruturas de atendimento em agências
e assessorias de comunicação pública.
Análise de cenário mercadológico.
Introdução ao conceito de planejamento
de campanha.
Básica
CORRÊA, Roberto. O Atendimento na Agência de
Comunicação. SP, Global, 2006.
CORRÊA, Roberto. Planejamento de Propaganda. SP,
Global, 2008.
LUPETTI, Marcélia. Planejamento de Comunicação. SP,
Futura, 2000.
Complementar
CORREA, Roberto. Contato imediato com planejamento de
propaganda. São Paulo: Global, 1998.
GRACIOSO, Francisco. Propaganda. São Paulo: Atlas, 2002.
PREDEBON, José. Propaganda, profissionais ensinam como
se faz. São Paulo: Atlas, 2000.SAMPAIO, Rafael. Propaganda
de A a Z. RJ, Campus, 1997.
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z. RJ, Campus, 1997.
SIMÕES, Elói. Contato imediato com atendimento em
propaganda. SP, Global, 1999.
18 Produção Gráfica
O processo de produção gráfica:
materiais, técnicas, tecnologias e
sistemas de impressão. Planejamento e
orçamento gráficos.
Básica
BAER, Lorenzo. Produção Gráfica. São Paulo: SENAC/SP,
1999.
CRAIG, James. Produção gráfica: para planejador gráfico,
editor, diretor de arte, produtor, estudante. São Paulo:
EDUSP, 1980.
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. Linha
Gráfica, Brasília, 2003.
135
Complementar
BRINGHURST, Robert; STOLARSKI, André (Trad.). Elementos
do estilo tipográfico: versão 3.0. São Paulo, SP: Cosac &
Naif, 2006.
CARRAMILLO NETO, Mário. Produção gráfica II: papel, tinta,
impressão e acabamento. Ed. Global, SP, 1997.
______. Produção gráfica II: papel, tinta, impressão e
acabamento. Ed. Global, SP, 1997.
COLLARO, Antônio Celso. Produção gráfica: arte e técnica da mídia impressa. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2007.
WHITE, Jan V. Edição e design: para designers, diretores de
arte e editores: o guia clássico para ganhar leitores. São
Paulo, SP: JSN Editora, 2006. 247 p. ISBN 8585985178
Foto Publicitária
A imagem na publicidade.
Equipamentos. Natureza, gêneros e
processos de iluminação. Técnicas
fotométricas. A construção de cenários.
Caracterização e direção fotográficas de
modelos. Digitalização e tratamento de
imagens. Montagem fotográfica.
Comercialização de imagens e direitos
autorais. A relação entre imagem e texto
na publicidade.
Básica
EGUIZÁBAL, Raúl Maza. Fotografía Publicitaria.
Madrid/Espanha, Ediciones Cátedra, 2001.
FREEMAN, Michael. O Guia Completo da Fotografia Digital.
Portugal, Livros e Livros, 2002.
PIOVAN, Marco e Newton César. Making of: revelações
sobre o dia-a-dia da fotografia. São Paulo, Futura, 2003.
Complementar
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo, Companhia
das Letras, 1992.
GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura
visual da forma. São Paulo, Escrituras Editora, 2000.
FOTÓGRAFO: O olhar, a técnica e o trabalho. Rio de
Janeiro: Editora Senac, 2002.
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. São Paulo:
Papirus, 1996.
RÊGO, Jorge. Fotografia: a luz que desenha imagens.
Portugal: Asa Edições, 2001.
5º semestre
nº Disciplina / ementa Bibliografia básica
20 Mídia
Conceitos e tipos de mídia. Estrutura e
rotinas do departamento de mídia. Os
institutos de pesquisa. Planejamento de
mídia. Processos de acompanhamento e
auditagem de audiência. Programação,
compra e checking.
Básica
KATZ, Helen. Media Handbook: um guia completo para
eficiência em mídia. São Paulo/SP. Nobel, 2004.
TAMANAHA, Paulo. Planejamento de Mídia. A teoria e a
prática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
VERONEZZI, José Carlos. Mídia de A a Z: os termos de
mídia, os seus conceitos, critérios e fórmulas, explicados e
mostrados graficamente como são utilizados na mídia. São
Paulo: Flight Editora, 2002.
136
Complementar
BARBAN, Arnold M. A essência do planejamento de mídia.;
et al. Tradução de Saulo Krieger: São Paulo: Nobel, 2001.
AUSTIN, Mark; AITCHISON, Jim. Tem alguém aí? As
comunicações no século XXI. São Paulo: Nobel, 2006.
FRANZÃO, Ângelo. Midialização: o poder da mídia. São
Paulo: Nobel, 2006
SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e
prática – São Paulo: Pioneira, 2002
ZELTNER, Herbert. Gerenciamento de Mídia: ajudando o
anunciante a ampliar seus conhecimentos em mídia;
tradução Rogério Rodrigues. São Paulo: Nobel, 2001.
21 Metodologia da Pesquisa em
Comunicação
O processo de pesquisa acadêmica. O
campo científico da Comunicação e a
escolha de tema de pesquisa. O artigo
científico.
Básica
GERBNER, G. Os meios de comunicação de massa e a teoria
da comunicação humana. in: DANCE, Frank E. X. (org).
Teoria da comunicação humana. São Paulo: Cultrix, 1967.
pp.57-82.
KERLINGER. Fred. N. Metodologia da pesquisa em ciências
sociais: um tratamento conceitual. São Paulo: EPU, 1980.
LAKATOS, Eva & MARCONI, Marina. Metodologia do
Trabalho científico. 6ª. SP: Atlas, 2001.
Complementar
CARRAHER, D. W. Senso crítico: do dia-a-dia às ciências
humanas. São Paulo: Pioneira, 1983. (Manuais de estudo).
Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da
Universidade Católica de Brasília. Coordenação de Maria
Carmen Romcy de Carvalho [et. al.]. Universidade Católica
de Brasília, Sistema de Bibliotecas. Brasília, 2008.
Métodos de pesquisa nas relações sociais. SELLTIZ et. al.
São Paulo: EPU, 1975.
BARROS, A. e DUARTE, J.(org.). Métodos e técnicas de
pesquisa em comunicação. 2a. Ed. São Paulo: Atlas, 2006.
HOHLFELDT, MARTINO, FRANÇA (org.). Teorias da
comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis,
Rio de Janeiro: Vozes, 2001.
22 Realidade Brasileira e Regional
A construção da noção de realidade: o
global, o regional, o nacional.
Sistematização e operacionalização de
informações estruturais e conjunturais.
O contexto social, político e econômico.
Interpretações da realidade. Leituras do
Brasil, do Distrito Federal e do Entorno.
Básica
BETINHO (Herbert José de Souza). Como se faz análise de
conjuntura. 26ª Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.
DUARTE JUNIOR, J.F. O que é realidade. 10ª Ed. São Paulo:
Brasiliense, 2004.
PERAZZO, Priscila Ferreira e CAPRINO, Mônica Pegurer.
Possibilidades da comunicação e inovação em uma
dimensão regional. In: CAPRINO, Mônica (org.).
137
Comunicação e inovação: reflexões contemporâneas. São
Paulo: Paulus, 2008.
Complementar
ABREU, Luís Alberto de. Narradores de Javé. Roteiro final
comentados por seus autores Eliane Caffé e Luís Alberto de
Abreu. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo:
Cultura – Fundação Padre Anchieta, 2004.
AMADO, J. O Grande Mentiroso: o Cervantes de Goiás. In:
Nossa História. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional. Ano I,
nº. 2, dezembro 2003.
BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO. IBGE. Pesquisa Nacional de Amostra por
Domicílios / PNAD 2008. Disponível em
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trab
alhoerendimento/pnad2008/default.shtm>. Acesso em
11.09.2009.
FAQUINI, R. Grande Oeste (Imagens do Centro Oeste do
Brasil). Brasília: LGE Editora, 1999.
TAVARES, Bráulio. O rasgão no real: metalinguagem e
simulacros na narrativa de ficção científica. João Pessoa:
Marca da Fantasia, 2005.
23 Comportamento do Consumidor
Influência de fatores socioeconômicos,
culturais e psicológicos no processo
decisório de compra. Demanda por
segmentos de mercado e
estabelecimento de estratégias de
marketing.
Básica
KARSAKLIAM, Eliane. Comportamento do Consumidor. São
Paulo: Atlas, 2000.
SAMARA, Beatriz S. & MORSCH, Marco Aurélio.
Comportamento do Consumidor: conceitos e casos. São
Paulo: Prentice Hall, 2005.
SOLOMON, M. R. Comportamento do consumidor. Porto
Alegre: Bookman, 2002.
Complementar
GADE, Christiane. Psicologia do consumidor e da
propaganda. São Paulo: Editora Pedagógica Universitária,
2000.
GIGLIO, Ernesto Michelangelo. O comportamento do
consumidor. São Paulo: Pioneira, Thomson Learning, 2005.
Kotler, P. Administração de marketing. São Paulo: Atlas,
2000.
MOWEN, John C. Comportamento do consumidor. Makron
Books. Brasil, 2003.
SHETH, Jagadish N et al. Comportamento do Cliente: Indo
além do comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas,
1999.
138
24 Direção de Arte
Perfil profissional. Apreciação estética,
fundamentação e argumentação gráfica
para publicidade. Criação gráfica,
fotográfica, de ilustração e aplicação de
marcas para a mídia impressa e
eletrônica.
Básica
CAUQUELIN, Anne. Teorias da Arte. São Paulo: Martins,
2005.
CEZAR, Newton. Direção de arte em propaganda. São
Paulo: Futura, 2000.
DONDIS, Donis A.; CAMARGO, Jefferson Luiz (Trad.). Sintaxe
da Linguagem Visual. 2. ed São Paulo: Martins Fontes,
2003.
Complementar
ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual: Uma psicologia
da visão criadora. São Paulo: Pioneira/Edusp, 1986.
AUMONT, Jacques. O Olho Interminável (cinema e pintura).
São Paulo: Cosac&Naif, 2004.
MACHADO, Arlindo. Máquina e Imaginário. São Paulo:
Edusp, 1993.
PEDROSA, Israel. O universo da cor. Rio de Janeiro, RJ:
Senac Nacional, 2006.
RILKE, Rainer Maria. Cartas sobre Cézanne. Rio de Janeiro:
Sette Letras, 1995.
6º semestre
nº Disciplina / ementa Bibliografia
25 Ética
Fundamentação etimológica e
conceitual da Ética. Caracterização e
desenvolvimento histórico da Ética.
Problemas éticos contemporâneos.
Básica
BOFF, L. Ethos Mundial. Um consenso mínimo entre os
humanos. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.
BUARQUE, C. A revolução das prioridades: da modernidade
técnica à modernidade ética. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra,
2000.
VÁSQUEZ, A. S. Ética. 20ª ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2000.
Complementar
BOFF, L. Saber Cuidar. Petrópolis: Vozes, 1999.
KÜNG, H. Uma ética global para a política e a economia
mundiais. Petrópolis: Vozes, 1999.
NALINI, J. R. Ética Geral e Profissional. 5ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006.
VALLS, Á. L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2006.
26 Planejamento de Campanhas
Mercado de publicidade. Análise de
situação mercadológica. A importância
da marca. Branding. Posicionamento.
Básica
CORREA, Roberto. Contato imediato com planejamento de
propaganda. São Paulo, Global, 1998.
GRACIOSO, Francisco. Propaganda. São Paulo: Atlas, 2002.
139
Estratégias diferenciadas de
comunicação. Apresentação e defesa de
campanhas.
SCHULTZ, Don. Campanhas Estratégicas de Comunicação
de Marca. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.
Complementar
JONES, John Philip (org). A Publicidade como Negócio. SP,
Nobel, 2002
LEVITT, Theodore. A Imaginação de Marketing. SP: Atlas,
1990
NEWMAN, Michael. As 22 consagradas leis de Propaganda
e Marketing. SP: M. Books do Brasil Editora Ltda, 2007
PEDREBON, José. Curso de Propaganda: Do anúncio à
comunicação integrada. São Paulo: Atlas, 2004.
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z. Rio de Janeiro:
Campus, 1997.
27 Marketing Especializado
Marketing de varejo, promocional,
direto e de serviços: definições, tipos,
decisões, relações públicas, vendas,
merchandising. Marketing de
relacionamento. Marketing social.
Planejamento de Marketing.
Básica
BLESSA, Regina. Merchandising no ponto-de-venda. São
Paulo: Atlas, 2005.
COSTA, Antônio R; CRESCITELLI, Antonio R. Costa.
Marketing Promocional para Mercados Competitivos. São
Paulo: Atlas, 2003.
DIAS, Sérgio Roberto (coord.). Gestão de Marketing. São
Paulo: Saraiva, 2003.
Complementar
HOYLE JR., Leonard H. Marketing de eventos: como
promover com sucesso eventos, festivais, convenções e
exposições. São Paulo: Atlas, 2003.
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de Varejo. São
Paulo: Atlas, 2000.
LIMA, Agnaldo. Gestão de Marketing Direto: da conquista
ao relacionamento com o cliente. São Paulo: Atlas, 2006.
SHIMP, Terence A. Propaganda e Promoção. São Paulo:
Artmed, 2002
SIMONI, João. Promoção de Vendas. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2002.
28 Técnicas de Redação e Produção para
Rádio
Características, linguagem e recursos do
rádio. Tipos de locução e interpretação.
Elaboração de roteiros. Pesquisa de
trilha e efeitos. Gravação e edição em
estúdio. Produção de uma campanha
para rádio.
Básica
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a
técnica. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2000.
MCLEISH, Robert. Produção de Rádio: Um guia abrangente
de produção radiofônica. São Paulo: Summus, 2001.
SILVA, Júlia Lúcia de Oliveira. Rádio: oralidade mediatizada
– spot e os elementos da linguagem radiofônica. São Paulo:
Annablume, 1999.
140
Complementar
CESAR, Cyro. Como falar em rádio: prática de locução
AM/FM. 7ª ed. São Paulo: IBRASA, 1999.
MCLEISH, Robert. Produção de Rádio: Um guia abrangente
de produção radiofônica. São Paulo: Summus, 2001.
NUNES, Mônica Rebeca Ferrari. O mito no rádio: a voz e os
signos de renovação periódica. 3ª ed. São Paulo:
Annablume, 1999.
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a
propaganda para construir marcas e empresas de sucesso.
2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
XAVIER, ANTONIO CARLOS. A linguagem do rádio:
estratégias verbais do comunicador. São Paulo: Respel,
2006.
29 Laboratório de Projetos em
Comunicação
Concepção, estruturação e viabilização
de projetos de Comunicação.
Básica
BARROS, Antonio e DUARTE, Jorge (orgs.). Métodos e
técnicas de pesquisa em comunicação. 2ª. Ed. São Paulo:
Atlas, 2006.
Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da
Universidade Católica de Brasília. Coordenação de Maria
Carmen Romcy de Carvalho [et. al.]. Universidade Católica
de Brasília, Sistema de Bibliotecas. 2ed. rev. ampl. Brasília,
2008. Disponível em:
<http://www.biblioteca.ucb.br/Manual.pdf. Acesso em
25.07.2009>.
SANTAELLA, Lúcia. Comunicação e Pesquisa. 2a ed.São
Paulo: Hacker Editores, 2002.
Complementar
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE BRASÍLIA. Diretrizes das Disciplinas Projeto
Experimental I e II. Brasília: UCB, setembro de 2009.
GERALDES, Elen e SOUSA, Janara. Manual de projetos
experimentais em comunicação. Brasília: Casa das Musas,
2006.
LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Pesquisa em
Comunicação. São Paulo: Ed. Loyola, 1990.
RAMON Y CAJAL, Santiago. Regras e conselhos sobre a
investigação científica (os tônicos da vontade). Rio de
Janeiro. Livraria Editora Zelio Valverde. s/d.
Métodos de pesquisa nas relações sociais. SELLTIZ et. al.
São Paulo: EPU, 1975.
7º semestre
Nº Disciplina / ementa Bibliografia básica
141
30 Agência Experimental de Comunicação
Comunitária
Conceitos de comunidade. Movimentos
sociais e terceiro setor. Comunicação e
mobilização social. Educomunicação.
Básica
FERNANDES, Ruben César. O Privado porém Público: O
terceiro Setor na América Latina. Rio de Janeiro: Relume-
Dumará, 1994.
MONTORO, Tânia Siqueira (coord.). Série Mobilização
Social , vol. 1 e 2. Brasília : UnB, 1996.
SCHERER-WARREN, Ilse et al. Meio ambiente,
Desenvolvimento e Cidadania: Desafios para as Ciências
Sociais. Florianopólis/São Paulo: Cortez/UFSC, 1995.
Complementar
AGOP, Kayayan & SILVA, Luiza Mônica Assis da (orgs.).
Estratégias de Comunicação e Mobilização Social. Brasília:
Universa, 2004.
COSTA, Rogério da. Por um novo conceito de comunidade:
redes sociais, comunidades pessoais, inteligência coletiva.
Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v.9, n.17, p.235-
48, mar/ago 2005.
GOHN, Maria da Glória. Novas teorias dos movimentos
sociais. São Paulo, SP: Edições Loyola, 2009.
______. História dos movimentos e lutas sociais: a
construção da cidadania dos brasileiros. 3. ed. São Paulo,
SP: Loyola, 2003. 213 p. ISBN 8515011549
TORO, JOSE BERNARDO. Mobilização social: um modo de
construir a democracia e a participação. Brasília, DF:
Ministério do Meio Ambiente, 1996.
31 Publicidade e Convergência Digital
A emergência da comunicação digital.
Hipertexto, hipermídia, interfaces de
conteúdo. Plataformas interativas.
Cibercultura e influência das tecnologias
na comunicação publicitária.
Características e estética da publicidade
para web. A interatividade como
conceito de criação e produção
publicitária.
Básica
CASTRO, Álvaro de. Propaganda Digital: A Web como
grande mídia do presente. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed.,
2000.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. Ed. Aleph, 2008.
VAZ, Conrado Adolpho. Googlemarketing. O guia definivo
do marketing digital. Novatec, 2008.
Complementar
CORREA, Rodrigo Stefani. Propaganda Digital. São Paulo:
Juruá Editora, 2003.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. 2. Ed. São Paulo: Editora 34,
2000.
MARTINS, Francisco Menezes & DA SILVA, Juremir
Machado. (Orgs.) Para navegar no Século 21: Tecnologias
do Imaginário e Cibercultura. Porto Alegre: Sulina/Edipucrs,
1999.
MORAES, Denis de. Planeta Mídia: Tendências da
Comunicação na Era Global. Campo Grande: Letra Livre,
142
1998.
SODRÉ, Muniz. Reinventando @ Cultura: A comunicação e
seus produtos. Petrópolis: Vozes, 1996.
32 Comunicação nas Organizações
As organizações como sistemas de
comunicação. Estratégia e planejamento
da Comunicação Integrada. Assessorias
e consultorias de comunicação:
organização, funções, modelos e
tendências. Relacionamento com
públicos estratégicos e preferenciais.
Responsabilidade Social.
Básica
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação Empresarial: Teoria
e Pesquisa. São Paulo: Manole, 2002
KUNSCH, Margarida M.K (org.). Comunicação
Organizacional. Volumes I e II. São Paulo: Saraiva, 2009.
KUNSCH, Margarida M.K. Planejamento das Relações
Públicas na Comunicação Integrada. São Paulo: Summus,
2003.
Complementar
CURVELLO, João J. A. Comunicação Interna e Cultura
Organizacional. São Paulo: Scortecci, 2002.
DUARTE, Jorge (organizador). Assessoria de Imprensa e
Relacionamento com a Mídia: teoria e prática. São Paulo:
Atlas, 2002.
DUARTE, Jorge (org.). Comunicação Pública. São Paulo:
Atlas, 2009 (Ed. revista e ampliada).
NEVES, Roberto de Castro. Crises empresariais com a
opinião pública. Rio de Janeiro: Mauad, 2002.
TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de Comunicação
Organizacional e Política. São Paulo: Thompsom, 2002.
33 Técnicas de Redação e Produção para
TV e Cinema
Características, linguagem e recursos do
cinema e da televisão. Elaboração de
roteiros. Etapas da produção em vídeo e
cinema. Pesquisa e captação de sons e
imagens. Gravação em estúdio e
externa. Edição e finalização. Produção
de uma campanha para TV.
Básica
CASTRO, Álvaro de. Propaganda Digital – A Web como
grande mídia do presente. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed.,
2000.
MARTINS, Francisco Menezes & DA SILVA, Juremir
Machado. (Orgs.) Para navegar no Século 21 – Tecnologias
do Imaginário e Cibercultura. Porto Alegre: Sulina/ Edipucrs,
1999.
MORAES, Denis de. Planeta Mídia – Tendências da
Comunicação na Era Global. Campo Grande: Letra Livre,
1998.
Complementar
BARRETO, Tiago. Vende-se em 30 segundos – manual do
roteiro para filme publicitário. São Paulo: Senac, 2004.
CORREA, Rodrigo Stefani. Propaganda Digital. São Paulo:
Juruá Editora, 2003.
LEIGHTON, D. Gage e MEYER, Cláudio. O Filme Publicitário.
São Paulo: Atlas, 1991
NIEMEYER, Aloysio Filho. Ver e ouvir. Brasília: Editora
143
Universidade de Brasília, 1997.
SODRÉ, Muniz. Reinventando @ Cultura – A comunicação e
seus produtos. Petrópolis: Vozes, 1996.
34 Linguagem Publicitária
Perfil estético e persuasivo da
mensagem publicitária em diferentes
mídias. Análise e crítica da publicidade.
Básica
BRAIT, Beth. A personagem. 7ª Ed. São Paulo: Ática, 1999.
CHALHUB, Samira. Funções da linguagem. 11ª Ed. São
Paulo: Ática, 2001.
MACHADO, Irene. Escola de semiótica. São Paulo: Ateliê
Editorial / Fapesp, 2003.
Complementar
CARVALHO, Nelly de. Publicidade – a linguagem da
sedução. São Paulo: Ática, 2000.
CHALHUB, Samira. A metalinguagem. 4ª Ed. São Paulo:
Ática, 2001.
GONÇALVES, Elizabeth M. Propaganda & linguagem –
análise e evolução. São Paulo: Metodista, 2006.
GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a
construção biofísica, lingüística e cultural da simbologia das
cores. 2ª. ed. São Paulo: Annablume, 2001.
SANDMANN, Antônio. A linguagem da propaganda. 7ª ed.
São Paulo: Contexto, 2003.
35 Projeto Experimental em Publicidade I
Realização de pesquisas e articulação de
conceitos para elaboração de projeto de
conclusão de curso. Apresentação da
primeira etapa do projeto e exame
público de qualificação.
Básica
BARROS, Antonio e DUARTE, Jorge (orgs.). Métodos e
técnicas de pesquisa em comunicação. 2ª. Ed. São Paulo:
Atlas, 2006.
KERLINGER. Fred. N. Metodologia da pesquisa em ciências
sociais: um tratamento conceitual. São Paulo: EPU, 1980.
Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da
Universidade Católica de Brasília. Coordenação de Maria
Carmen Romcy de Carvalho [et. al.]. Universidade Católica
de Brasília, Sistema de Bibliotecas. 2ed. rev. ampl. Brasília,
2008. Disponível em:
<http://www.biblioteca.ucb.br/Manual.pdf. Acesso em
25.07.2009>.
Complementar
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Coord.). Métodos e
técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São Paulo, SP:
Atlas, 2010.
MALDONADO, Alberto Efendy. Metodologias de pesquisa
em comunicação: olhares, trilhas e processos. Porto Alegre,
RS: Sulina, 2006.
MARTINO, Luiz C. Interdisciplinaridade e Objeto de Estudo
da Comunicação. In: Fausto, A. N. (org.). Campo da
144
Comunicação. João Pessoas: Editora Universitária, 2001.
MARTINO, Luiz C. Elementos para uma Epistemologia da
Comunicação. In: Fausto, A. N. (org.). Campo da
Comunicação. João Pessoas: Editora Universitária, 2001.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad. Gilson César de
Souza. São Paulo: Perspectiva, 1988.
8º semestre
Nº Disciplina / ementa Bibliografia
36 Empreendedorismo em Comunicação
Principias teorias administrativas.
Aspectos legais e organizacionais de
uma empresa. Perfil, características e
atitudes de empreendedores. Planos de
carreira: portfólio e currículo. Métodos
para elaboração de planos de negócio.
Básica
DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor: a
metodologia de ensino que ajuda a transformar
conhecimento em riqueza. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma idéia, uma
paixão e um plano de negócio: como nasce e
empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo: Cultura
Editores Associados, 1999.
DORNELAS, José Carlos. Empreendedorismo:
transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro. Campus,
2001.
Complementar
MELO NETO, Francisco P. & FROES, César.
Empreendedorismo Social: a transição para a sociedade
sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.
SOUZA, Eda Castro Lucas & Guimarães, Tomás de Aquino
(organizadores). Empreendedorismo além do Plano de
Negócio. São Paulo: Atlas, 2006.
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas
ao espírito empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2006.
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce & LAMPEL, Joseph.
Safári de Estratégia. Porto Alegre. Bookman, 1998.
OLIVO, Silvio; HAYASHI, André; & SILVA, Hélio Eduardo da.
Série. O Empreendedor – volumes 1,2 e 3. Brasília: Sebrae,
2003.
37 Optativa: LIBRAS
A história da educação dos surdos.
Aspectos fonológicos, morfológicos e
sintáticos da Língua Brasileira de Sinais.
A relação entre LIBRAS e a Língua
Portuguesa. Processos de significação e
subjetivação. O ensino-aprendizagem
em LIBRAS. A linguagem viso-gestual e
suas implicações em produções escritas.
Básica
GUARINELLO, A. C. O papel do outro na escrita de sujeitos
surdos. São Paulo: Plexus, 2007.
LIMA-SALES, H. M. M. L. (Org.). Bilinguismo dos Surdos:
Questões Linguísticas e Educacionais. Brasília: Cânone
Editorial, 2007.
QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da
linguagem. Artes Médicas, Porto Alegre, 1997.
145
Complementar
GESSEI, A. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola
Editorial, 2009.
LODI, A. C. B. et al. Letramento e minorias. Porto Alegre:
Mediação, 2002.
QUADROS, R. M. e KARNOPP, L. B. Língua de Sinais
Brasileira. Porto Alegre: Artmed, 2004.
SACKS, O. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
SALLES, H. M. M. L. et al. Ensino de língua portuguesa para
surdos: caminhos para a prática pedagógica. Programa
Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. Brasília, 2002.
37 Optativa: Políticas e Sistemas em
Comunicação
Políticas e sistemas de comunicação
públicos, privados, abertos e fechados.
Concessões, sistemas e redes
regulamentados. Novos paradigmas e
plataformas mídiaticas.
Básica
LIMA, Venício A. de. Mídia: teoria e política. São Paulo:
Editora Fundação Perseu Abramo, nov 2001.
CANCLINI, Nestor G. Consumidores e cidadãos: conflitos
multiculturais da globalização. RJ: Editora UFRJ, 1996.
DIZARD, Wilson. A Nova Mídia. RJ: Zahar, 1997.
Complementar
ALMEIDA, Cândido Mendes. Uma nova ordem audiovisual:
novas tecnologias de comunicação.SP: Summus, 1998.
MUNIZ, Eloá. Comunicação publicitária em tempos de
globalização. Canoas: Ulbra, 2005.
VALVERDE, Belmiro e CASTOR, Jobim. O Brasil não é para
principiantes. Curitiba: Travessa Editores, 2004.
BITELLI, Marcos (org). Coletânea de legislação de
comunicação social .4ª. edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2004.
Anuário Iberamericano: 2002. Agência EFE 20. 2002
38 Ética e Legislação em Comunicação
Noções de ética, moral e deontologia.
Direitos, deveres e responsabilidade
social dos profissionais e organizações.
Códigos de ética em jornalismo e
publicidade. Legislação da produção e da
divulgação de informações na mídia.
Básica
BARROS FILHO, Clóvis de. Ética na Comunicação. 6ª edição
revista e atualizada. São Paulo: Summus, 2008.
BITELLI, Marcos Alberto Sant`anna (org.). Coletânea de
Legislação de Comunicação Social. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2004.
SCHNEIDER, Ari. Conar 25 anos: ética na prática. São Paulo:
Terceiro Nome, 2005.
Complementar
COSTA, Caio Túlio. Ética, jornalismo e nova mídia: uma
moral provisória. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009.
DURANDIN, Guy. As mentiras na propaganda e na
publicidade. São Paulo: JSN, 1997.
KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo na era virtual: ensaio
146
sobre o colapso da razão ética. São Paulo, SP: Fundação
Perseu Abramo, 2005.
LIMA, Arnaldo Siqueira. O Direito à Imagem: Proteção
Jurídica e Limites de Violação. Brasília: Universa, 2003.
TOSCANI, Oliviero. A publicidade é um cadáver que nos
sorri. 2a. Ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996.
39 Assessoria em Comunicação
Briefings e desafios de comunicação com
os diversos públicos de relacionamento
de organizações públicas, privadas e/ou
do Terceiro Setor.
Básica
DUARTE, Jorge (org.). Assessoria de imprensa e
relacionamento com a mídia: teoria e técnica. São Paulo:
Atlas, 2003.
MAFEI, Maristela. Assessoria de imprensa: como se
relacionar com a mídia. São Paulo: Contexto, 2004.
VIANA, Francisco. De cara com a mídia: comunicação
corporativa, relacionamento e cidadania. São Paulo,
Negócio Editora, 2001.
Complementar
CHINEM, Rivaldo. Assessoria de imprensa: como fazer. São
Paulo: Summus, 2003.
FERRARETTO, Luiz Artur e FERRARETTO, Elisa Kopplin.
Assessoria de imprensa: teoria e prática. São Paulo:
Summus, 2009.
LORENZON, Gilberto e MAWAKDIYE, Alberto. Manual de
assessoria de imprensa. São Paulo: Mantiqueira, 2003.
NOGUEIRA, Nemércio. Media training: melhorando as
relações da empresa com jornalistas. São Paulo: Cultura
Editores, 2005.
REIS, Lea Maria Aarão e CARVALHO, Claudia. Manual
prático de assessoria de imprensa. São Paulo: Campus,
2008.
40 Projeto Experimental em Publicidade II
Desenvolvimento, sistematização e
finalização do projeto de conclusão de
curso. Apresentação e defesa pública do
produto final.
Básica
BARROS, Antonio e DUARTE, Jorge (orgs.). Métodos e
técnicas de pesquisa em comunicação. 2ª. Ed. São Paulo:
Atlas, 2006.
KERLINGER. Fred. N. Metodologia da pesquisa em ciências
sociais: um tratamento conceitual. São Paulo: EPU, 1980.
Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da
Universidade Católica de Brasília. Coordenação de Maria
Carmen Romcy de Carvalho [et. al.]. Universidade Católica
de Brasília, Sistema de Bibliotecas. 2ed. rev. ampl. Brasília,
2008. Disponível em:
<http://www.biblioteca.ucb.br/Manual.pdf. Acesso em
25.07.2009>.
Complementar
147
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Coord.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. MALDONADO, Alberto Efendy. Metodologias de pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e processos. Porto Alegre, RS: Sulina, 2006. MARTINO, Luiz C. Interdisciplinaridade e Objeto de Estudo da Comunicação. In: Fausto, A. N. (org.). Campo da Comunicação. João Pessoas: Editora Universitária, 2001. MARTINO, Luiz C. Elementos para uma Epistemologia da Comunicação. In: Fausto, A. N. (org.). Campo da Comunicação. João Pessoas: Editora Universitária, 2001.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad. Gilson César de
Souza. São Paulo: Perspectiva, 1988.
HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E
PROPAGANDA
Total geral de créditos – 160
6.3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades complementares, ou atividades acadêmico-científico-culturais, têm
como objetivo enriquecer o processo formativo do estudante, por meio da diversificação de
experiências, dentro e fora do ambiente universitário.
No curso de Comunicação Social as atividades complementares se constituem por
cinco eixos:
1) Atividades de apoio ao ensino: exercícios de monitoria e projetos especiais;
2) Atividades de pesquisa: participação em projeto de Iniciação Científica e
participação em grupo de estudo de aprofundamento de temática
específica, orientado e acompanhado por docente;
3) Atividades de extensão: participação em atividades, cursos ou projetos de
extensão na UCB ou em outras instituições e realização de estágio não
obrigatório;
4) Eventos e cursos; participação em congressos, seminários, semanas
temáticas, semana universitária, palestras, conferências, oficinas, cursos de
atualização e eventos culturais; aprovação em disciplinas eletivas,
escolhidas dentre as disciplinas oferecidas nos diversos cursos; cursos de
línguas e de formação complementar ligados à área.
148
5) Publicação e apresentação de trabalho: apresentação oral de trabalhos,
exposição de Mostras e condução de oficinas além de publicação impressas
e virtuais.
Essas atividades devem ser realizadas no período regular da graduação.
A regulamentação, para a validação das horas de atividades complementares nos
cursos, segue as orientações e definições do documento de Normas e Procedimentos
Acadêmicos para os cursos de Graduação, da Universidade Católica de Brasília, aprovado
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE.
6.4. DINÂMICA DO TCC
O Curso de Comunicação Social apresenta as disciplina Projetos Experimentais I e II
nas habilitações Jornalismo e Publicidade, nos 2 semestres finais do curso, cada uma com 2
créditos, com o objetivo de permitir ao estudante produzir trabalhos relacionados com as
disciplinas do curso e com as áreas de atuação para as quais estas possam apontar, sob a
orientação de um educador com titulação e/ou formação acadêmica pertinente para
conduzir o processo. De acordo com a política institucional, o educador deve orientar dois
estudantes para compor uma hora de orientação.
Projeto Experimental I
Tendo como pré-requisitos obrigatórios a cadeia de disciplinas: Metodologia da
Pesquisa em Comunicação, Laboratório de Projetos em Comunicação, Teorias da
Comunicação II e II, e Sociologia Geral, cumpridas ao longo do curso, no 7º. Semestre o
aluno cursa o Projeto Experimental I onde inicia a articulação de conceitos para elaboração
do trabalho de Conclusão do Curso, TCC. A apresentação da primeira etapa do projeto e o
momento do aluno cumprir a revisão bibliográfica, fazer as primeiras amarrações teóricas e,
no caso do produto, definir as linhas gerais do material que será finalizado no Projeto II.
Projeto Experimental II
A realização do projeto final, em forma de artigo científico ou de diversas
modalidades de produção – filmes, vídeos institucionais, campanhas, reportagens etc. –,
permite ao estudante sistematizar diferentes habilidades e competências adquiridas ou
desenvolvidas durante o curso. Além do mais, possibilita desenvolver um produto que pode:
149
servir como cartão de visita para atuação no mercado; contribuir para o desenvolvimento de
uma Organização Não Governamental, beneficente ou com outros fins sociais; ou funcionar
como trabalho ou exercício para outras etapas de formação acadêmica. Nisso se verificar o
curso atendendo às Diretrizes Curriculares para a área de Comunicação Social, no que diz
respeito à formação profissional do estudante; e ao PPI, no sentido de valorizar a pesquisa e
a extensão, de acordo também com a missão da Católica. Além do mais, a relevância e a
implantação ou publicação de produtos dos TCCs dos estudantes são de grande importância
para a imagem da instituição e a integração entre ela e a sociedade.
6.5. ESTÁGIO
Estágio é ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho e que
visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional. Neste sentido, as
atividades a serem desenvolvidas no estágio (descritas no Plano de Estágio) devem estar de
acordo com o Projeto Pedagógico do Curso e com sua proposta formativa.
O estágio pode ser obrigatório – quando se caracteriza como componente curricular,
sendo sua carga horária requisito para integralização do currículo e obtenção do diploma –
ou não obrigatório – quando desenvolvido como atividade opcional. O curso de
Comunicação Social não prevê a realização de estágio obrigatório.
Os estágios não obrigatórios podem agregar carga horária ao currículo, sendo
aproveitado como Atividade Complementar ou Atividade Acadêmico-Científico-Cultural, de
acordo com o Projeto Pedagógico do Curso. Atividades de extensão, monitoria e iniciação
científica poderão ser equiparadas ao estágio.
O estágio em Comunicação Social para as habilitações Jornalismo e Publicidade e
Propaganda é não-obrigatório, mas pode funcionar como um complemento importante para
a formação do estudante, permitindo-lhe vivenciar o cotidiano de sua profissão e
aperfeiçoar competências e habilidades importantes para o exercício profissional.
Estágio Supervisionado
O estudante do curso de Comunicação Social poderá iniciar o estágio a partir do 1º
semestre. Os estágios são realizados por demanda do mercado de trabalho, nas esferas
pública, privada e não lucrativa, via agências de fomento, Programa de Empregabilidade da
universidade - PROJEM e o próprio curso, por meio de solicitação dessas instituições.
150
As atividades previstas para o estágio são descritas no Plano de Estágio do estudante,
apresentado pela instituição solicitante e devem estar diretamente relacionadas à proposta
formativa do curso. Estas são analisadas e ajustadas, se necessário, de acordo com o projeto
pedagógico do curso e com as habilidades exigidas para a formação do profissional em
comunicação social nas habilitações em jornalismo e publicidade e propaganda.
Essas atividades podem ser realizadas em assessorias de comunicação e de
imprensa; consultorias em comunicação; produtoras de audiovisual e de eventos; agências
de comunicação e publicidade; marketing; veículos de comunicação impressos, audiovisuais,
digitais; entre outras.
151
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Diretrizes Curriculares para a área de Comunicação Social e suas habilitações, encaminhadas ao MEC em julho de 1999, homologadas pela Resolução nº 16, de 13 de Março de 2002, e publicadas no DOU de 09.04.2002 IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. 2ª.Edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 2ª.Edição. São Paulo: Perspectiva, 1978. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, instituída pela Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 MARQUES DE MELO, José. Prefácio. In: SOARES, Ismar de Oliveira. Do Santo Ofício à Libertação: o discurso e a prática do Vaticano e da Igreja Católica no Brasil sobre a comunicação social. São Paulo: Paulinas, 1988. Parecer n.º 17/95, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UCB - CONSEPE (31 de outubro de 1995). Resolução n.º 17/95, do Conselho Universitário da UCB - CONSUN (28 de novembro de 1995). Plano de Ação e Orçamento do Curso de Comunicação Social. Plano de Expansão da UCB, para o período 1995-1999 Plano Estratégico da Universidade Católica de Brasília (PE/UCB); Projeto Pedagógico Institucional da Universidade Católica de Brasília Portaria Ministerial n. 2.108, de 01/10/2001, publicada no D.O.U., em 03/10/2001. Portaria Ministerial n. 526, de 27/02/2002, publicada no D.O.U., em 28/02/2002. Projeto de Credenciamento da Universidade. Resolução n.º 2/84, do Conselho Federal de Educação – CFE, do Ministério da Educação. SFEZ, Lucien - Crítica da Comunicação - São Paulo: Ed. Loyola, 1994. SOARES, Ismar de Oliveira. Comunicação Social. In: Temas Básicos em Comunicação. São Paulo: Intercom/Paulinas, 1983.
152
ANEXOS Modelo Matriz Curricular CS – jornalismo
Curso: Comunicação Social Grau: 3 Currículo: 1552
Carga Horária Total: 2700 Qtde Créditos Total: 160
Carga Horária Disc. Obrig. 2340 Qtde Créditos Disc. Obrig: 156
Carga Horária Optativa: 60 Qtde Créditos Optativos: 4
Carga Horária Extra-
Curricular
Qtde Créditos Extra-
Curriculares:
Atividades
Complementares: 300 Data Início:
Nº Semestre Mínimo: 8 Data término:
Nº Semestre Máximo:
Graduação: Comunicação Social
Habilitação: Jornalismo
Aprovação: 16
Turnos disponíveis: Matutino Noturno Local: Campus I
Sem Seq Cód Nome Disciplina Pré-
Req Min.C Crd Horas Sem
Teo Lab Prát Total Lim
1 1 G00016 Introdução à Educação Superior 8 120 120
1 2 G15001 História da Comunicação 4 60 60
1 3 G37001 Sociologia Geral 4 60 60
1 4 G15003 Comunicação Integrada 4 30 30 60
20 270 30 0 300
2 5 G15004 Introdução à Fotografia 01 4 20 20 20 60
2 6 G00002 Antropologia da Religião 01 4 60 60
2 7 G15005 Técnicas de Produção Jornalística I 01 4 20 20 20 60
2 8 G15006 Editoração Eletrônica 01 4 30 30 60
2 9 G15007 Estética Aplicada 01 4 40 20 60
20 170 60 70 300
3 10 G15008 Fundamentos da Linguagem
Audiovisual 05
4 20 20 20 60
3 11 G15009 Teorias da Comunicação I 03 4 60 60
3 12 G15010 Técnicas de Produção Jornalística
II 07
4 20 20 20 60
3 13 G15011 Comunicação e Cultura 4 60 60
3 14 G15012 Design Gráfico para Jornalismo 08 4 30 30 60
20 190 40 70 300
4 15 G00003 Ética 4 60 60
153
4 16 G15013 Teorias da Comunicação II 11 4 60 60
4 17 G15014 Técnicas de Produção Jornalística
III 12
4 20 20 20 60
4 18 G15015 Fotojornalismo 05 4 20 20 20 60
4 19 G15016 Jornalismo e Convergência Digital 07 4 30 10 20 60
20 190 50 60 300
5 20 G15017 Observatório da Mídia 16 e
17 4 40 20
60
5 21 G15018 Metodologia da Pesquisa em
Comunicação 16
4 60
60
5 22 G15019 Jornalismo Especializado I 17 4 30 20 10 60
5 23 G15020 Radiojornalismo 17 4 30 30 60
5 24 G37022 Realidade Brasileira e Regional 4 40 20 60
20 200 60 40 300
6 25 G15021 Produção e Edição de Impressos 17 4 30 30 60
6 26 G15029 Produção e Edição em Rádio 23 4 20 20 20 60
6 27 G15019 Jornalismo Especializado II 22 4 20 20 20 60
6 28 G15024 Telejornalismo 23 4 20 20 20 60
6 29 G15025 Laboratório de Projetos em
Comunicação 21
4 30
30 60
20 90 90 120 300
7 30 G15026 Agência Experimental de
Comunicação Comunitária 4 18 18 24 60
7 31 G15027 Produção e Edição em TV 28 4 20 20 20 60
7 32 G15028 Comunicação nas Organizações 4 50 10 60
7 33 G15057 Políticas e Sistemas em
Comunicação
4 40 20 60
7 34 G15031 Jornalismo Político e Econômico 27 4 30 20 10 60
7 35 G15030 Projeto Experimental em
Jornalismo I 29
2 20 10
30
22 180 80 70 330
8 36 G00404 Empreendedorismo em
Comunicação 32
4 20 20 20 60
8 37
Ética e Legislação em
Comunicação 15
4 60
60
8 38 OPTATIVA 4 60 60
8 39 Assessoria em Comunicação 32 4 20 20 20 60
8 40 G15033 Projeto Experimental em
Jornalismo II 35
2 10 20
30
18 170 60 40 270
Disciplinas Optativas do Currículo
154
8 41 G00304 Libras 4 60 60
8 42 Corpo e Voz 4 20 20 20 60
Modelo Matriz Curricular CS – Publicidade
Curso: Comunicação Social Grau: 3 Currículo: 1553
Carga Horária
Total: 2700
Qtde Créditos
Total: 160
Carga Horária
Disc. Obrig. 2340
Qtde Créditos Disc.
Obrig: 156
Carga Horária
Optativa: 60
Qtde Créditos
Optativos: 4
Carga Horária
Extra-Curricular
Qtde Créditos
Extra-Curriculares:
Atividades
Complementares: 300 Data Início:
Nº Semestre
Mínimo: 8 Data término:
Nº Semestre
Máximo:
Graduação: Comunicação Social
Habilitação: Publicidade
Aprovação:
Turnos
disponíveis: Matutino Noturno Local: Campus I
Sem Seq Cód Nome Disciplina Pré-
Req Min.C Crd Horas Sem
Teo Lab Prát Total Lim
1 1 G00016 Introdução à Educação Superior 8 120 120
1 2 G15001 História da Comunicação 4 60 60
1 3 G37001 Sociologia Geral 4 60 60
1 4 G15003 Comunicação Integrada 4 30 30 60
20 270 30 0 300
2 5 G15004 Introdução à Fotografia 01 4 20 20 20 60
2 6 G03029 Marketing I 01 4 40 20 60
2 7 G15037 Design Gráfico para Publicidade 01 4 30 30 60
155
2 8 G15034 Administração em Publicidade 01 4 30 30 60
2 9 G15007 Estética Aplicada 01 4 40 20 60
20 160 90 50 300
3 10 G15008 Fundamentos da Linguagem
Audiovisual 05
4 20 20 20 60
3 11 G15009 Teorias da Comunicação I 03 4 60 60
3 12 G00002 Antropologia da Religião 4 60 60
3 13 G15011 Comunicação e Cultura 4 60 60
3 14 G15049 Técnicas de Redação e Produção
para Mídia Impressa
4 20 20 20 60
20 220 40 40 300
4 15 G15043 Pesquisa de Opinião e de Mercado 4 20 40 60
4 16 G15013 Teorias da Comunicação II 11 4 60 60
4 17 G15035 Atendimento em Publicidade 08 4 40 20 60
4 18 G15045 Produção Gráfica 14 4 10 20 30 60
4 19 G15039 Foto Publicitária 05 4 20 10 30 60
20 150 50 100 300
5 20 G15042 Mídia 08 4 30 30 60
5 21 G15018 Metodologia da Pesquisa em
Comunicação 16
4 60
60
5 22 G37022 Realidade Regional Brasileira 4 40 20 60
5 23 G15036 Comportamento do Consumidor 4 40 20 60
5 24 G15038 Direção de arte 18 e
19 4 10 20 30 60
20 180 90 30 300
6 25 G00003 Ética 4 60 60
6 26 Planejamento de Campanhas 17 4 30 30 60
6 27 G15041 Marketing Especializado 06 4 30 30 60
6 28 G15051 Técnicas de Redação e Produção
para Rádio 14
4 20 20 20 60
6 29 G15025 Laboratório de Projetos em
Comunicação 21
4 30
30 60
20 170 80 50 300
7 30 G15026 Agência Experimental de
Comunicação Comunitária 4 20 20 20 60
7 31
Publicidade e Convergência Digital 14
24 4 30
30 60
156
7 32 G15028 Comunicação nas Organizações 4 50 10 60
7 33 G15052 Técnica de Redação e Produção
para TV e Cinema 28
4 20 20 20 60
7 34 G15040 Linguagem Publicitária 28 4 40 20 60
7 35 G15046 Projeto Experimental em
Publicidade I 29
2 20 10
30
22 180 80 70 330
8 36 G00404 Empreendedorismo em
Comunicação 32
4 20 20 20 60
8 37 OPTATIVA 4 60 60
8 38
Ética e Legislação em
Comunicação 25
4 60
60
8 39 Assessoria em Comunicação 32 4 20 20 20 60
8 40 G15047 Projeto Experimental em
Publicidade II 35
2 10 20
30
18 170 60 40 270
Disciplinas Optativas do Currículo
8 41 G00304 Libras 4 60 60
8 42
Políticas e Sistemas em
Comunicação 4 60
60
Grade Curricular da Habilitação Jornalismo - Antigo
Grade Curricular da Habilitação Jornalismo – Currículos 1550 (matutino e noturno)
Nº
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos Créditos / carga horária
Total créd ch teórica Ch
Lab.
Total horas
1º semestre
01 Leitura e Produção de Textos -- 04 60 60
02 História da Comunicação -- 04 60 -- 60
03 Comunicação Digital -- 04 -- 60 60
04 Comunicação Integrada -- 04 60 -- 60
05 Metodologia Científica -- 04 60 -- 60
SUBTOTAL 20 180 120 300
157
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos Créditos / carga horária
Total créd ch teórica ch lab. Total horas
2º semestre
06 Introdução à Fotografia -- 04 30 30 60
07 Sociologia 02 04 60 -- 60
08 Técnicas de Produção Jornalística I 01 04 30 30 60
09 Editoração Eletrônica 03 04 30 30 60
10 Estética em Comunicação -- 04 60 -- 60
SUBTOTAL -- 20 210 90 300
nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS Pré-requisitos Créditos / carga horária
Total créd ch teórica Ch
lab.
Total horas
3º semestre
11 Fundamentos da Linguagem Audiovisual 06 04 30 30 60
12 Teorias da Comunicação I 07 04 60 -- 60
13 Técnicas de Produção Jornalística II 08 04 30 30 60
14 Comunicação e Cultura -- 04 60 -- 60
15 Design Gráfico para Jornalismo 09 04 30 30 60
SUBTOTAL 20 210 90 300
nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS Pré-requisitos Créditos / carga horária
Total créd ch teórica ch
lab.
Total horas
4º semestre
16 Realidade Brasileira e Regional -- 04 60 -- 60
17 Teorias da Comunicação II 12 04 60 -- 60
18 Técnicas de Produção Jornalística III 13 04 30 30 60
19 Fotojornalismo 06 04 30 30 60
20 Jornalismo e Convergência Digital -- 04 30 30 60
SUBTOTAL 20 210 90 300
158
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos Créditos / carga horária
Total créd Ch teórica ch práti
ca
ch
lab.
Total horas
5º semestre
21 Observatório da Mídia -- 04 60 -- 60
22 Metodologia da Pesquisa em Comunicação 17 04 60 -- 60
23 Jornalismo Especializado I 18 04 30 30 -- 60
24 Radiojornalismo 18 04 -- 60 60
25 Antropologia da Religião -- 04 60 -- 60
SUBTOTAL 20 210 30 60 300
Nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos Créditos / carga horária
Total créd ch teórica ch prática ch
lab.
Total horas
6º semestre
26 Produção e Edição de Impressos 18 04 -- -- 60 60
27 Políticas e Legislação em Comunicação -- 04 60 -- -- 60
28 Jornalismo Especializado II 23 04 60 -- -- 60
29 Telejornalismo 24 04 -- -- 60 60
30 Laboratório de Projetos em Comunicação 22 04 30 -- 30 60
SUBTOTAL 20 150 0 150 300
nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos Créditos / carga horária
Total créd ch teórica ch
lab.
Total horas
7º semestre
31 Agência Experimental de Comunicação Comunitária -- 04 40 20 60
32 Produção e Edição em TV 29 04 -- 60 60
33 Comunicação nas Organizações -- 04 60 -- 60
34 Produção e Edição em Rádio 24 04 -- 60 60
35 LIBRAS 04 60 -- 60
36 Projeto Experimental em Jornalismo I 30 02 -- 30 30
SUBTOTAL 22 160 170 330
159
nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos Créditos / carga horária
Total créd ch teórica ch
lab.
Total horas
8º semestre
37 Empreendedorismo em Comunicação 33 04 60 -- 60
38 Jornalismo Político e Econômico 28 04 60 -- 60
39 Ética -- 04 60 -- 60
40 Oficina de Assessoria em Comunicação 33 04 20 40 60
41 Projeto Experimental em Jornalismo II 36 02 -- 30 30
SUBTOTAL 18 180 90 270
QUADRO – SÍNTESE
Carga horária horas Créditos
Obrigatória (total) 2400 160
Atividades Extra-curriculares (total) 300 --
CARGA HORÁRIA TOTAL 2700 160
Grade Curricular da Habilitação Publicidade e Propaganda - Antigo
Grade Curricular da Habilitação Publicidade e Propaganda – Currículos 1551 (matutino e noturno)
nº
CÓDIGO/ DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos créditos / carga horária
Total créd ch teórica ch
lab.
Total horas
1º semestre
01 Leitura e Produção de Textos -- 04 60 -- 60
02 História da Comunicação -- 04 60 -- 60
03 Marketing I -- 04 60 -- 60
04 Comunicação Integrada -- 04 60 -- 60
05 Metodologia Científica -- 04 60 -- 60
SUBTOTAL 20 240 60 300
nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos Créditos / carga horária
Total créd ch teórica ch
lab.
Total horas
160
2º semestre
06 Introdução à Fotografia -- 04 30 30 60
07 Sociologia 02 04 60 -- 60
08 Libras -- 04 60 60
09 Administração em Publicidade -- 04 60 -- 60
10 Estética em Comunicação -- 04 60 -- 60
SUBTOTAL -- 20 240 60 300
nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS Pré-
requisitos
créditos / carga horária
Total
créd
ch
teórica
ch
lab.
Total
horas
3º semestre
11 Fundamentos da Linguagem Audiovisual 06 04 30 30 60
12 Teorias da Comunicação I 07 04 60 -- 60
13 Técnicas de Redação e Produção para Mídia
Impressa
08 04 30 30 60
14 Comunicação e Cultura -- 04 60 -- 60
15 Design Gráfico para Publicidade -- 04 30 30 60
SUBTOTAL 20 210 90 300
nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS Pré-requisitos créditos / carga horária
Total créd ch teórica ch
lab.
Total horas
4º semestre
16 Realidade Brasileira e Regional -- 04 60 -- 60
17 Teorias da Comunicação II 12 04 60 -- 60
18 Atendimento em Publicidade 09 04 60 -- 60
19 Produção Gráfica 15 04 30 30 60
20 Foto Publicitária 06 04 30 30 60
SUBTOTAL 20 240 60 300
nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS Pré-requisitos créditos / carga horária
Total créd ch teórica ch
lab.
Total horas
161
5º semestre
21 Mídia 09 04 30 30 60
22 Metodologia da Pesquisa em Comunicação 17 04 60 -- 60
23 Pesquisa de Opinião e de Mercado -- 04 30 30 60
24 Comportamento do Consumidor -- 04 30 30 60
25 Direção de Arte 20 04 30 30 60
SUBTOTAL 20 180 120 300
nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos créditos / carga horária
Total créd ch teórica ch
lab.
Total horas
6º semestre
26 Antropologia da Religião -- 04 60 -- 60
27 Políticas e Legislação em Comunicação -- 04 60 -- 60
28 Marketing Especializado 03 04 60 -- 60
29 Técnicas de Redação e Produção para Rádio 13 04 30 30 60
30 Laboratório de Projetos em Comunicação 22 04 30 30 60
SUBTOTAL 20 240 60 300
nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-requisitos créditos / carga horária
Total créd ch teórica ch
lab.
Total horas
7º semestre
31 Comunicação Comunitária -- 04 40 20 60
32 Planejamento de Campanhas e Eventos 28 04 30 30 60
33 Comunicação nas Organizações -- 04 60 -- 60
34 Técnicas de Redação e Produção para TV e Cinema 29 04 30 30 60
35 Linguagem Publicitária 29 04 30 30 60
36 Projeto Experimental em Publicidade I 30 02 -- 30 30
SUBTOTAL 22 220 110 330
nº
CÓDIGO / DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS pré-
requisitos
créditos / carga horária
Total ch ch Total
162
créd teórica lab. horas
8º semestre
37 Empreendedorismo em Comunicação 33 04 40 20 60
38 Técnicas de Redação e Produção para mídias
emergentes
28 04 30 30 30
39 Ética -- 04 60 -- 120
40 Propaganda Institucional e Política 33 04 60 --
41 Projeto Experimental em Jornalismo II 36 02 -- 30 30
SUBTOTAL 18 190 80 270
QUADRO – SÍNTESE
Carga horária Horas Créditos
Obrigatória (total) 2400 160
Atividades Extra-curriculares (total) 300 --
CARGA HORÁRIA TOTAL 2700 160