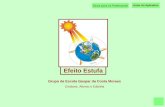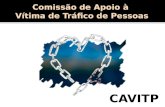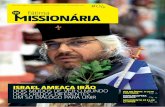PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO CLIMA: A … · energia. Comecemos por ... 1.1 EFEITO ESTUFA –...
Transcript of PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO CLIMA: A … · energia. Comecemos por ... 1.1 EFEITO ESTUFA –...
PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO CLIMA: A CONFIGURAÇÃO JURÍDICA
DO MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO E A OBTENÇÃO DOS
CERTIFICADOS DE EMISSÃO REDUZIDA1.
Marcelo Palma Umsza
“Talvez poderá dizer-se, se trate menos, neste caso, de apropriação do que de uso: o ar respirado e a água utilizada, não são, finalmente, devolvidos à natureza? Assim, importaria ver em que estado estes
são restituídos: quando este ou aquele poluidor derrama águas sujas no rio ou lança na atmosfera fumos tóxicos, não se tratará de uma subtração fraudulenta da coisa comum? Tornando o recurso impróprio,
ou, em todo o caso, menos próprio para uso comum, não o açambarcará o poluidor para seu uso exclusivo? G. Martin escreve, com razão, que ‘as vítimas de poluição surgem como expropriadas do
meio ambiente, outrora bem comum utilizável por todos sem conflitos de maior, se tornou num bem raro que alguns, os poluidores, ocupam em detrimento dos outros’. Talvez fosse necessário evocar aqui, para
empregar uma vez mais a metáfora teatral, o caso do espectador indelicado que, pelo seu comportamento (fuma, manifesta-se com comentários ruidosos...) acha por criar o vazio à sua volta.”
François Ost
RESUMO
O efeito estufa de causa antrópica é realidade manifesta, e o aquecimento
térmico global por ele causado é majoritariamente reconhecido pela comunidade
científica internacional. Em resposta a este problema, de elevado interesse público,
surgiu o Protocolo de Quioto, como desdobramento da Convenção-Quadro das Nações
Unidas para Mudança do Clima. Este marco regulatório, ou prospecto jurídico-
ambiental, instituiu percentuais de redução de GEE a serem obrigatoriamente
perseguidos pelos países integrantes do Anexo I à Convenção. Previu também, como
forma de flexibilização destes limites, alternativas de mitigação das emissões, que serão
implementadas nos países Não-Integrantes do Anexo I, os chamados Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo (MDL). Em função deles, são desenvolvidos projetos em
nações hospedeiras, como o Brasil, capazes de contribuir com uma redução de emissão
de gases poluentes na atmosfera, através da captação/contenção dos mesmos (seqüestro
1 Artigo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, aprovado, em grau máximo, pela banca examinadora composta pela Orientadora Profª. Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros, Prof.ª Fernanda Souza Rabello, e Prof°. Guilherme Pederneiras Jaeger, em 16 de Junho de 2008.
de carbono). Uma vez satisfeitas as condições jurídicas de elegibilidade dos projetos,
estarão os participantes aptos a comercializar os Certificados de Emissão Reduzida, ou
créditos de carbono, na expectativa de com eles lucrar, ao contribuir para com o
equilíbrio ambiental.
INTRODUÇÃO
O tema proposto para análise neste trabalho é decorrência da circunstância
crítica, e até certo ponto ainda não completamente conhecida e esclarecida, que se está a
viver: o Aquecimento Global. Quase diariamente, somos bombardeados por notícias
que colocam a problemática ambiental do efeito estufa como um dos principais desafios
da sociedade atual no século que nasce. As conseqüências desastrosas deste fenômeno
são anunciadas - ainda que recomendável devida atenção à eventual dose
sensacionalista, não incomum nas informações midiáticas – e repisadas a cada seca,
furacão ou outro episódio climático de proporção, o que eleva o debate acerca do
fenômeno “aquecimento global” a nível de interesse público prioritário. O Direito
conhece e prescreve a supremacia do interesse público, e com isto vê-se inevitavelmente
às voltas com a questão central deste estudo.
No estágio atual da ordem mundial, sabe-se que existem órgãos supranacionais,
notoriamente a Organização das Nações Unidas (ONU), responsáveis por elaborar,
recomendar e, até certo ponto, executar políticas de interesse comum das Nações e seus
respectivos cidadãos. Nesta esteira, não escapou a esta entidade internacional a
problemática objeto desta monografia, já que, como se disse, pressente-se a provável
trajetória da humanidade rumo a trágico impacto sócio-ambiental sobre os diversos
povos e suas formas de organização social. A ONU, assim, através do aclamado
Protocolo de Quioto, surgido em 1997 e finalmente em vigor desde 2005, previu a
institucionalização de metas e mecanismos para a obstrução do aumento da temperatura
na Terra, causado por interferência humana, através da contenção de gases de efeito
estufa (GEE). E o fez prevendo uma forma de produção econômica mais limpa, o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, pela qual países desenvolvidos e em
desenvolvimento haverão de cooperar para alcançar os objetivos almejados por aquele
diploma internacional.
Qual sistematização jurídico-legal serve aos propósitos deste novo desafio?
Como se configuram as novas situações jurídicas arquitetadas através de estruturas
contratuais internacionais? Quais os requisitos legais devem ser observados para que se
alcancem as almejadas posições jurídicas de comprador e vendedor de créditos de
carbono? São essas as perguntas cuja busca é o escopo principal deste trabalho. Com
intenção transdisciplinar, ainda que limitada ao propósito central, analisar-se-á também
o panorama do aquecimento global e a solução encontrada pelo protocolo de Quioto,
que já vem sendo praticada por diversos países e entidades privadas, para a mitigação
dos efeitos deletérios do fenômeno climático. Entender como o Direito se portará frente
a possíveis controvérsias e interpretações divergentes acerca dos preceitos e cláusulas
constantes no Tratado do Clima, do qual o Brasil é signatário, é tarefa que se mostra
complexa, mas não por isso menos interessante – pelo contrário, interessante justamente
em razão desta complexidade.
Como compatibilizar nosso sistema produtivo, nossa matriz energética e a
dinâmica das soluções oferecidas por sociedades de mercado com as exigências e
limitações inerentes à mãe de todas as matrizes, a Terra, é o questionamento
provocativo que deverá ficar como possível legado. Quiçá surgirão algumas respostas a
este tema considerado nevrálgico. Em função disto focaram-se energias e eventuais
habilidades jurídicas adquiridas durante o tempo vivido como acadêmico da PUCRS.
Em razão do interesse público de relevância. E em razão da sustentabilidade. Não há
desenvolvimento, sequer futuro, sem sustentabilidade. Renovável parece ter de ser a
energia. Comecemos por renovar as nossas.
I. A QUESTÃO CLIMÁTICA:
AS CAUSAS E OS RISCOS DE UMA POSSÍVEL TERRA FEBRIL.
Hodiernamente, não há, no mundo, pessoa medianamente informada, ou com
acesso aos meios de comunicação de massa, que não tenha ouvido soar o alarme do
clima na Terra. Esta afirmação categórica se sustenta no fato de que, desde tempo
recente, o discurso ambiental, no que se refere ao aquecimento planetário, tomou
proporções globais, difundindo-se via televisão, documentários, editoriais de jornais,
reportagens em revistas, internet, e até mesmo campanhas publicitárias. Serviu ele,
assim, de pauta para encontros de Chefes de Estado, fóruns internacionais e campanhas
políticas motivadas pela causa – dentre as quais se destaca uma das bandeiras do Partido
Democrático americano, encabeçada por Al Gore. A repercussão do documentário
apresentado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos rendeu-lhe o Nobel da Paz de
2007, título dividido com o presidente do Painel Intergovernamental para Mudanças
Climáticas (IPCC), o indiano Rajendra Pachauri. A Alta Corte da Inglaterra, por sua
vez, determinou que escolas daquele país, ao apresentarem o filme do vencedor do
prêmio sueco, advertissem os alunos de que o material seria tendencioso, incorrendo em
erros crassos, como a previsão de elevação de até seis metros do nível dos oceanos,
contra 44 centímetros das previsões mais céticas2. Protocolo de Quioto, efeito estufa,
energia renovável, desenvolvimento sustentável, créditos de carbono, são expressões
recorrentes, polêmicas e integrantes da opinião pública geral, sugerindo inclusive a
suspeita de que o atual momento de conscientização ambiental talvez caracterizasse
apenas modismo transitório e preocupação passageira, incapaz de gerar e efeitos
duradouros e eficazes.
A urgência do tema e a divergência de abordagens que recebe instigaram a
análise mais minuciosa que se fará a seguir. A convicção de que o assunto enseja
reflexões transdisciplinares nos aproximou do estudo do problema do aquecimento
global enquanto fenômeno geofísico, mas também sócio-econômico, geopolítico e
jurídico. Neste capítulo, se apresentará o cenário atual do problema, e os seus fatores
causais antrópicos. De forma sucinta, e com destaque ao que se considera mais
relevante, com arrimo em bibliografia especializada no assunto, lança-se então a origem
da discussão e o suporte fático da superveniente construção jurídico-política do MDL.
1.1 EFEITO ESTUFA – GARANTIA VERSUS AMEAÇA À VIDA:
O efeito estufa é um fenômeno atmosférico independente da atividade humana.
Ele é causado pela atuação de gases, que servem de barreira à dissipação de calor que
sua ausência acentuaria. A radiação solar que a Terra recebe do Sol, em função de lei
termodinâmica, acaba por ser parcialmente refletida de volta ao espaço, como
mecanismo para equilibrar a energia. Em forma de raios infravermelhos, ao serem
rebatidos e retornarem à atmosfera, parte desta energia resta aprisionada pelo cobertor
de gases de efeito-estufa que encobre o Planeta, garantindo a temperatura natural
2 SOUZA, Okky de; VIEIRA, Vanessa. Países e pessoas agem... Mas alguns Duvidam. Veja, São Paulo, n. 42, p. 90-96, 24 out. de 2007.
indispensável à manutenção da vida na Terra. Conforme leciona o pai da Teoria de
Gaia: “Assim como as penas de um pássaro ou o pêlo de um gato, a atmosfera mantém
quente a superfície. Sem os seus gases de estufa naturais, a superfície seria fria, com
uma temperatura média de 19ºC negativos” 3. Nestas condições, exemplificativamente,
a água estaria abaixo do seu ponto de congelamento, tornando-se um obstáculo ao
sucesso da trajetória biológica dos organismos terrestres.
A temperatura média atual da Terra gira em torno de 14ºC. Constatou-se que a
ausência do efeito estufa causaria um decréscimo bastante significativo, e impróprio
para a vida, alcançando os mencionados – 19ºC. Chama a atenção o fato de que este
delicado equilíbrio climático diz respeito unicamente a este Planeta, uma vez que Vênus
e Marte, dos quais a Terra é astro posterior e anterior, respectivamente, em relação ao
Sol, apresentam temperaturas radicalmente distintas, de 400 e – 53 graus Celsius4, nesta
ordem. Por acaso ou destino, realmente o Nosso Planeta restou bem posicionado no
tabuleiro solar.
Responsáveis por este aquecimento natural e favorável à biodiversidade terrestre
estão os Gases de Efeito Estufa (GEE), visto que detêm o poder de impedir a dissipação
de calor em quantidade inoportuna. Dentre eles, destacam-se o vapor d´água, o gás
carbônico (CO2), o metano (CH4) , o cloro-flúor-carbono (CFxCLx) , o óxido nitroso
(N2O) e o ozônio (O3). Em sua maior parte, a atmosfera é preenchida por oxigênio
(21%) e nitrogênio (78%). Os GEE, que se concentram naturalmente na superfície da
Terra, representam menos de um milésimo do total de partículas presentes neste espaço.
O gás carbônico ocupa cerca de 0,03 % do total, ou trezentas partes por milhão de
volume (ppmv).5 Considera-se que este gás contribua atualmente com cerca de 55 % na
mudança de intensidade do clima terrestre, sendo seguido pelo cloro-flúor-carbono
(25%), metano (15%) e óxido nitroso (5%)6.
Ocorre que a concentração de gases de efeito-estufa deixou de ser desenhada por
causas e processos unicamente naturais, como a decomposição de matéria orgânica e o
processo de fotossíntese, e passou a sofrer radical influência humana, o que se
3 LOVELOCK, James. Gaia, cura para um planeta doente. São Paulo: Cultrix, 2006, p.70. 4 CANUTO, Vittorio. Efeito Estufa e Aquecimento Global, uma Visão Interdisciplinar. In: MENEGAT, Rualdo; ALMEIDA, Gerson (org.). Desenvolvimento sustentável e Gestão Ambiental, Estratégias a partir de Porto Alegre, Porto Alegre: UFRGS, 2004, p. 329. 5 YU, Chang Man. Seqüestro Florestal de Carbono no Brasil: Dimensões políticas, socioeconômicas e ecológicas. São Paulo: Annablume, 2004, p. 40. 6 CANUTO, Vittorio. Efeito Estufa e Aquecimento Global, uma Visão Interdisciplinar. In: MENEGAT, Rualdo; ALMEIDA, Gerson. Desenvolvimento sustentável e Gestão Ambiental, Estratégias a partir de Porto Alegre, Porto Alegre: UFRGS, 2004, p. 329.
convencionou chamar de causa antrópica do aquecimento global. A queima de
combustíveis fósseis, nas suas três principais formas – carvão, petróleo e gás natural -
acelerou exponencialmente o acúmulo destes gases na atmosfera, mais especificamente
o carbônico, gerando assim preocupação quanto a sua presença no ar e extrapolando o
papel protetor e vital que até então desempenhavam para todas as formas de vida no
Planeta.
A partir e em função da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, o
homem desenvolveu uma convivência quase que atávica com o uso destes recursos
energéticos não renováveis, e com isto construiu a fisionomia da civilização que hoje
nos caracteriza. O resgate do carbono, em suas diversas formas, das profundezas
geológicas, passou a significar progresso, desenvolvimento, esperança – e dependência.
Mas a produção industrial e econômica desenfreada, alicerçada nesta lógica,
desconheceu os resíduos indesejáveis com os quais hoje estamos tendo que apreender a
lidar.
A Curva de Keeling foi um dos primeiros instrumentos metodológicos a medir o
aumento de CO2 na atmosfera. Dr. Charles Keeling, desde 1958, coletou e registrou
dados quanto à concentração ascendente deste gás e demonstrou um aumento de
aproximadamente 15,2 % na concentração média anual. Em 1959, foi constatado, em
Mauna Leoa, no Havaí, a presença de 315,83 partes por milhão de volume (ppmv) deste
gás, alcançando, em 1997, a cifra de 363,82 ppmv7.
Como já mencionado, os gases de efeito estufa englobam outros além do gás
carbônico, e, assim como este, vem se calculando um incremento em suas emissões
desde o ano de 1750 até os dias atuais. Conforme apontamento de CANUTO, em
quadro explicativo, o metano (CH4) teria sido acrescido à atmosfera na razão de 143%,
passando de 0,70 ppmv a 1,70 ppmv. A fonte natural deste gás são banhados e terras
úmidas, decomposição orgânica e térmitas. Já a fonte humana dá-se pela extração de gás
natural e petróleo, queima de biomassa, plantações de arroz, criação de bovinos e
manutenção de aterros sanitários. O óxido nitroso (N2O), encontrado naturalmente em
florestas, campos e oceanos, sofreu incremento através da atividade humana de cultivo
de solo, fertilizantes e queima de biomassa e combustíveis fósseis. O acréscimo, de
acordo com dados da tabela deste autor, teria sido de 11% desde o século XVIII. Já o
cloro-flúor-carbono (CFxCLx), presente em aerossóis em spray, refrigeradores e
7 CANUTO, Vittorio, op. cit, p. 331.
solventes de limpeza é um gás o qual, no início da Revolução Industrial, não se
encontrava presente em qualquer escala, visto ter sido sintetizado posteriormente pelo
homem. Assim, a sua presença de 900 partes por trilhão de volume não pode ser
comparada com a presença natural do gás, pois inexistente outrora. Representa, mesmo
assim, um dos causadores do incremento térmico. Ressalva-se que, desde a vigência do
protocolo de Montreal8, que visou banir este gás de equipamentos e utensílios utilizados
pelo homem, a sua taxa de participação atmosférica caiu drasticamente. Quanto ao
ozônio (O3), desconhece-se sua presença em meados de 1750, sendo que atualmente é
encontrado em quantidades diferentes em função de sua latitude ou longitude. Sabe-se
que o seu volume decresceu na estratosfera e aumentou próximo à superfície da Terra9.
Para auferir a mudança climática em si, diversos dados formam um mosaico de
informações nem sempre convergentes e capazes de gerar concordância sobre o tema.
A estimativa mais levada em conta em nível de futuras políticas públicas e solução do
problema é aquela feita pelo IPCC, ou Intergovernamental Pannel on Climate Change
(Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas). Este órgão, vinculado a ONU e
à Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudança Climática, lança relatórios
periódicos com seus cálculos e previsões de aumento da temperatura na Terra..
Em uma síntese lançada no Quarto Relatório de Avaliação (IPCC Fourth
Assessment Report), em 2007, o IPCC concluiu como inequívoca a mudança no sistema
climático por causa antrópica. Prevê uma variação no clima da terra na ordem de 1,5 °C
neste século, estimando um aquecimento de 0,2 °C por década, nos próximos vinte
anos, para determinados cenários de medição10.
No embasamento deste trabalho, estes dados terão primazia, uma vez serem eles
dotados de respaldo da maior parte da comunidade científica internacional, bem como
serem eles os mais recorrentes como referência em artigos e livros dedicados ao tema.
8 Conforme SOARES, Guido Fernando Silva. Proteção Internacional do Meio Ambiente. São Paulo: Manole, 2003. p. 149: “O Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, adotado em Montreal, em 1987, promulgado no Brasil pelo Decreto n. 99.280, de 6 de junho de 1990; traça um cronograma para as reduções de emissões, com obrigações diferenciadas para os países industrializados (Denominados países do Anexo I) e outros, e um programa gradual de substituições daquelas substâncias por outras, dentro de um programa de cooperação internacional mínimo. Foi no Protocolo de Montreal que pela primeira vez os Estados consagraram a regra da “responsabilidade comum porém diferenciada” entre os Estados, no que respeita às obrigações de preservação do meio ambiente.” 9 CANUTO, Vittorio. Efeito Estufa e Aquecimento Global, uma Visão Interdisciplinar. In: MENEGAT, Rualdo; ALMEIDA, Gerson. Desenvolvimento sustentável e Gestão Ambiental, Estratégias a partir de Porto Alegre, Porto Alegre: UFRGS, 2004. p. 336. 10 IPCC. Climate Change 2007: Synthesis Report, 2007. Disponibilizado no site oficial do IPCC, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf, acessado em 02.05.2008
1.2 POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DO EFEITO ESTUFA ANTRÓPICO
Ocorre que, se confirmados os dados quanto ao aquecimento, e correta a
projeção de intensificação climática apontada pela opinião científica majoritária,
conseqüências diversas e indesejáveis poderiam ser esperadas a nível global. O impacto
ambiental que tal evento acarretaria atingiria a ordem de milhões de pessoas, nos mais
diferentes níveis. ACOT faz levantamento resumido a este respeito, apontando como
principais efeitos da elevação térmica:
• Maior freqüência de episódios climáticos violentos (inundações, secas,
canículas).
• Problemas concernentes à segurança alimentar, notadamente eventuais
problemas agrícolas em diferentes latitudes na Europa, decorrentes de geada.
• Perturbações nas correntes oceânicas termohalinas, as quais se encarregam do
fenômeno de elevação do nível das águas ricas em sais minerais, que fertilizam as águas
superficiais, influindo na produção de plâncton vegetal e consequentemente na
exploração da pesca.
• Ameaça ao clima da Europa Continental, caso modificações em correntes
marítimas, como a Corrente do Golfo, que poderia desaparecer, ocasionassem alterações
climáticas inéditas neste continente.
• Modificação do regime de precipitações e da população de insetos e vetores de
doenças parasitárias, como a febre amarela, a dengue e o paludismo.
• Refugiados ambientais e migrações em massa, como forma de escapar de
prováveis elevações do nível dos oceanos (30 % de Bangladesh poderíamos restar
submersos até o final do século XXI, bem como demais ilhas do Oceano Índico).
• Risco à biodiversidade e vulnerabilidade maior das populações humanas mais
pobres e carentes de recursos11.
Tais alterações, de ordem planetária, justificariam a hipótese de ser o
aquecimento climático o maior desafio ambiental na atualidade. A elevação de alguns
metros nos oceanos e a conseqüente massa de refugiados de aproximadamente 40
milhões de pessoas12 que vivem em áreas costeiras conferem devida escala à questão.
11 ACOT, Pascal. Breve História do Clima, In: Ciência e Ambiente, Mudanças Climáticas, Santa Maria: UFSM, n.34, p.14-19, jan./jun. 2007. 12 CANUTO, Vittorio. Efeito Estufa e Aquecimento Global, uma Visão Interdisciplinar. In: MENEGAT, Rualdo; ALMEIDA, Gerson. Desenvolvimento sustentável e Gestão Ambiental, Estratégias a partir de Porto Alegre, Porto Alegre: UFRGS, 2004, p. 338.
II. TRATADOS INTERNACIONAIS E RECEPÇÃO NO DIREITO INTERNO
A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, ocorrida no ano de 1969 e
em vigor desde 1980, lançou as bases jurídicas internacionais para este tipo de
instrumento legal - os textos convencionais. Em seu artigo primeiro, dispôs que “tratado
significa um acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo
direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais
instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação particular”13. Em suma, um
tratado representará oficialmente a conformidade de vontades políticas não viciadas
(assemelhado à figura de um contrato), e, a partir de sua entrada em vigor, servirá de
parâmetro de conduta para as pessoas jurídicas de direito público que lhe ratificaram,
gerando obrigações, prerrogativas, deveres e direitos.
Tratados, convenções, acordos internacionais, ainda que termos diversos,
denotam o mesmo fenômeno, supra-referido. São eles parte do conjunto de fontes
formais do Direito Internacional – ao lado do costume internacional, dos princípios
gerais de direito e da melhor doutrina . Conferem o respaldo jurídico-normativo para a
conduta dos Entes nacionais e para eventuais decisões tomadas em âmbito de Cortes
Internacionais ou Nacionais. Comentando o tema, SOARES aponta o artigo 38 do
Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que explicita esta compreensão.14
Para que produzam efeitos legais no ordenamento jurídico interno brasileiro,
estes textos normativos internacionais seguirão um devido processo de aprovação pela
instância do Poder Legislativo nacional (que referenda-os, ou não). Nesta etapa, é
editado Decreto Legislativo com o teor do acordo bi ou multilateral. Após ser
sabatinado por esta instância de poder, o texto ainda pende de promulgação do
Presidente da República, que, na qualidade de Chefe de Estado, editará Decreto
13 Apud SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas,
2004. p. 59. 14 “1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: a) as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estados litigantes; b) o costume internacional, como prova de uma prática aceita como sendo o direito; c) os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; d) sob reserva da disposição do artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. 2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as partes com isso concordarem. Apud SOARES, Guido Fernando Silva. A proteção Internacional do Meio Ambiente, Barueri ,SP: Manole, 2003. p. 83.
Executivo. Estará assim encerrado o processo de ratificação da norma legal, a qual
adquirirá, em seguida, caráter de lei ordinária.15
A hierarquia de lei ordinária que lhe é conferida pelo ordenamento jurídico
brasileiro empresta ao texto internacional certa fragilidade jurídica. Isto porque, ao não
tratar a norma, objeto do tratado, expressamente de direitos humanos (o que lhe erigiria
à posição hierárquica de dispositivo constitucional, por força do parágrafo 3°, artigo 5°
da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional de 2004), é ela
vulnerável a ser derrogada por lei posterior, nacional, que disponha de forma diversa.
Conforme lição de BARROSO:
Os tratados internacionais são incorporados ao direito interno em nível de igualdade com a legislação ordinária. Inexistindo entre o tratado e a lei relação de hierarquia, sujeitam-se eles à regra geral de que a norma posterior prevalece sobre a anterior. A derrogação do tratado pela lei não exclui eventual responsabilidade internacional do Estado, se este não se valer do meio institucional próprio de extinção de um tratado, que é a denúncia16.
No Direito Internacional Ambiental, os princípios, ainda que não positivados em
textos escritos, em regra são mesmo assim capazes de gerar efeitos jurídicos
satisfatórios, e isto porque é operante neste ramo o que se denomina por soft law, ou
seja, há efetividade destas normas, ainda que não sejam dotadas de cogência.
Manifestam-se por meio de documentos denominados também por “non binding
agreements”, “gentlemen´s agreements”, códigos de conduta, memorandos, declaração
conjunta, declaração de princípio, ou ata final.17 A natureza da geração de efeitos destas
“normas leves” (em uma tradução livre), se moral ou jurídica, não é consenso entre os
doutrinadores.
Os tratados, por sua vez, são sim cogentes e apresentam conteúdo mais
rigoroso, podendo até mesmo prescrever a infração com determinada sanção, v.g multas
aplicadas via arbitragem internacional. Nesse caso, são hard law18, dotados de força
impositiva – uma vez válidos juridicamente, pois pactuados entre Entes Soberanos. O
objeto de interesse deste estudo é o Tratado-Quadro, que se subdivide em Protocolo e
15 SOARES, Guido Fernando Silva. A proteção Internacional do Meio Ambiente. Barueri ,SP: Manole, 2003, p. 85. 16 BARROSO, Luis Roberto Barroso. Interpretação e Aplicação da Constituição. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2003. p. 33. 17 SOARES, Guido Fernando Silva. A proteção Internacional do Meio Ambiente. Barueri ,SP: Manole, 2003, p. 92. 18 FRANGETTO, Flavia Witkowski. GAZANI, Flavio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil, o Protocolo de Kyoto e a Cooperação Internacional. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2002. p. 35.
Convenção. Um, regulamentador, acessório ao outro, e por isto da expressão “Protocolo
à Convenção”. São ambos, assim, conjunto do mesmo marco regulatório, formando
figura orgânica, comunicável e sistêmica, e servindo ao mesmo fim (o de estabilização
de GEE). 19
2.1 A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA E O
PROTOCOLO DE QUIOTO
O Protocolo de Quioto é sabidamente o documento internacional por excelência
que trata da questão do clima e das medidas de contenção do aquecimento global.
Integra, entretanto, um Quadro mais extenso de negociações internacionais anteriores.
Em 1989, foi instituído o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na
sigla em inglês), através do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e da
Organização Mundial de Meteorologia, tornando-se referência mundial para o debate
científico sobre o aquecimento global20. Em 1992, foi proposta a Convenção-Quadro
das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (United Nations Framework Convention
on Climate Change, UNFCCC), redigida pelo Comitê Intergovernamental de
Negociação para a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (INC-FCCC), e
adotada em 9 de Maio de 199221.
A Convenção-Quadro é tipologia diferenciada de acordo internacional, uma vez
que prevê sucessivos novos arranjos e decisões multilaterais futuras que busquem
efetivar e colocar em prática soluções convergentes aos seus objetivos finais22. No caso
em tela, o objetivo da Convenção-Quadro foi delimitado pelos países signatários, que
com isto avalizaram, na fração do que incumbe a cada qual, o comprometimento de seus
ordenamentos jurídicos em perseguir o que restou normativamente programado. Está
expressamente consignado no texto que lhe deu nascimento, em seu artigo segundo:
O objetivo final desta convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos com ela relacionados que adote a Conferência das Partes é o de alcançar, em conformidade com as disposições pertinentes desta Convenção, a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num
19 FRANGETTO, Flavia Witkowski. GAZANI, Flavio Rufino, op. cit. p. 43. 20 YU, Chang Man. Seqüestro Florestal de Carbono no Brasil, Dimensões Políticas, Socioeconômicas e Ecológicas, São Paulo: Annablume, 2004. p. 30. 21 FRANGETTO, Flavia Witkowski. GAZANI, Flavio Rufino. op. cit. p. 299. 22 São também exemplos de Convenção-Quadro a Convenção de Estocolmo e a Convenção da Diversidade Biológica, conforme VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental. Belo Horizonte: DelRey, 2004. p. 25.
nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Este nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima, que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável23.
Também poderia se indagar qual a garantia de sistematicidade entre o Protocolo
e a Convenção-Quadro, e como se garantiria a efetividade desta através das
especificidades do outro:
A garantia que o Protocolo de Kyoto dá é estrutural e organizacional, ele institui mecanismos com os quais os Estados-Partes que o ratifiquem estejam habilitados a realizar concretamente o objetivo final da UNFCC, mediante cumprimento de compromissos, de limitação e redução de emissões, quantificados e assumidos no Protocolo . Tais compromissos são assumidos no artigo terceiro do Protocolo24
O artigo terceiro do documento de Quioto é o que define a regra básica de
conduta a ser adotada para a efetivação prática dos objetivos atinentes à contenção do
aquecimento global. Antes de referi-lo, tem-se de elucidar o que se deva entender por
partes integrantes do Anexo I e partes Não-Anexo I. Os primeiros são os países aos
quais foi imposta uma quota precisa de redução de GEE a ser observada e adimplida –
são os países considerados desenvolvidos e de economia próspera. Já os demais, Não-
Anexo I, formam o grupo de países em relação aos quais não há previsão expressa e
quantificável de redução a ser perseguida – não há propriamente um limite de emissão.
Nesta segunda categoria encontram-se os países em desenvolvimento, dentre os quais o
Brasil. Prescreve o artigo terceiro:
As Partes, incluídas no Anexo I devem, individual ou conjuntamente, assegurar que suas emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A, não excedam suas quantidades atribuídas, calculadas com seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões descritos no Anexo B e de acordo com as disposições deste artigo, com vistas a reduzir suas emissões totais desses gases em pelo menos 5 % abaixo dos níveis de 1990, no período de compromisso de 2008 a 201225.
23 Editado e traduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, disponível em <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4069.html#>. Em 15.05.2008 24 FRANGETTO, Flavia Witkowski. GAZANI, Flavio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo no Brasil, o Protocolo de Kyoto e a Cooperação Internacional. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2002.p. 45. 25 Protocolo de Quioto, editado e traduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, disponível em <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4006.html> acessado em 15.05.2008.
Nota-se que o Protocolo de Quioto, desta forma, enquadra-se na segunda
hipótese prevista pelo artigo 1° da Convenção de Viena (vide página 22), uma vez que
representa ele uma conexão sucessiva de negociações, acordadas acerca do tema
“clima”, iniciadas já na Convenção-Quadro, que por sua vez tratou-se de ser o
instrumento constitutivo originário.
Em Junho de 1992, na Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, ou Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Convenção-Quadro foi
assinada por Chefes de Estado e outras autoridades de 154 países, bem como a União
Européia. Em 21 de março de 1994, já contava com 182 Países-Partes, estando, então,
nesta data, apta a entrar em vigor26. No Brasil, o decreto n. 2.652 incorporou a causa ao
ordenamento jurídico nacional, em 1° de Julho de 199827. Note-se, assim, que todo o
trabalho de negociação superveniente ao texto constitutivo do Tratado teve como
requisito guardar conformidade com o objetivo principal supra-referido, que lhe serviu e
serve como norte. Isto, justamente, para que não restasse descaracterizado juridicamente
o escopo de ser uma “Convenção-Quadro”, propondo e aportando medidas concretas e
mais específicas que corroborem o objetivo primeiro28.
2.2 PRINCÍPIOS JURÍDICOS NO PROTOCOLO DE QUIOTO
A compreensão de quais princípios de Direito Internacional vinculam a tomada
de decisões e a legalidade do processo de implementação do MDL como um todo é de
fundamental importância. Destacam-se os Princípios da Responsabilidade Comum
porém Diferenciada, da Precaução e do Direito ao Desenvolvimento Sustentável. São
eles percebidos como mandados de otimização que “consubstanciam as premissas
26 CALSING, Renata de Assis. O Protocolo de Quioto e o Direito ao Desenvolvimento Sustentável. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2005. p. 42. 27 BRASIL, Decreto 2.652, de 1° de julho de 1998: “ Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York em 09 de maio de 1992.” Disponível no site da Presidência da República, < http://www.presidencia.gov.br/legislacao/> , acessado em 18.05.2008. 28 Conforme declaração que se encontra no site oficial da Convenção-Quadro, http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php, acessado em 02.05.2008: “The major distinction between the two, however, is that while the Convention encouraged developed countries to stabilize GHG emissions, the Protocol commits them to do so. The detailed rules for its implementation were adopted at COP 7 in Marrakesh in 2001, and are called the “Marrakesh Accords.”
básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema. Eles indicam os
pontos de partida e os caminhos a serem percorridos”29.
2.2.1 PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE COMUM PORÉM DIFERENCIADA
Este princípio prescreve que a restrição de emissões de GEE, através da previsão
de um índice de redução, é obrigatória apenas em relação aos países integrantes do
Anexo I do Protocolo. Prega que todas as nações signatárias devem se comprometer em
encontrar alternativas à poluição desenfreada, tanto as desenvolvidas como as em
desenvolvimento, mas defende que a cogência desta redução deve recair somente nos
países industrializados e com economias de mercado já prósperas e estáveis. De acordo
com este princípio, exigir que as economias de países em desenvolvimento se
enquadrassem no modelo de redução de emissões preconizado, seria fazer-lhes pagar
um custo em relação ao qual tiverem ínfima contribuição. Considera iníquo impor a
países em ritmo de industrialização (em desenvolvimento), e que contam com plantas
industriais incipientes quando comparadas com a dos países desenvolvidos, limites de
emissão de poluentes que, à época do progresso destes últimos, não existiam e não
serviam de empecilho ou custo adicional. Está relacionado diretamente com o princípio
do poluidor-pagador, que faz recair diretamente a responsabilidade sobre o agente
causador do dano, haja vista a necessária relação de causalidade que ensejará a
obrigação de reparar.
SAMPAIO, WOLD e NARDY explicam:
Este princípio tem sua formulação associada aos esforços dos países em desenvolvimento para estabelecer critérios de compartilhamento da responsabilidade internacional pela solução de problemas ambientais globais que levem em consideração a realidade sócio-econômica dos diferentes Estados. Historicamente, sua origem remonta às negociações travadas durante a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, as quais resultaram em sua inscrição nos quatro documentos fundamentais originados do encontro: a Declaração do Rio, a Agenda XXI, a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre Diversidade Biológica30.
29 BARROSO, Luis Roberto. A Interpretação e a Aplicação da Constituição. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 153. 30 SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. Princípios de Direito Ambiental na Dimensão Internacional e Comparada. Belo Horizonte: DelRey, 2003, p. 14-15.
De acordo com estes mesmos autores, desta norma jurídica decorreriam quatro
conseqüências fundamentais, quais sejam: o reconhecimento de que os países
desenvolvidos, através de suas atividades econômicas, causam um impacto negativo
sobre o meio ambiente de forma muito mais grave e acentuada do que aquele
ocasionado pelos países em desenvolvimento; a necessidade de os países desenvolvidos
proverem recursos financeiros que permitam aos países em desenvolvimento
implementarem e se adequarem às obrigações internacionais pactuadas ( v.g o fundo
criado pelo Protocolo de Montreal com a finalidade de financiamento das medidas
protetivas à camada de ozônio); a criação de “regras de modelagem”, que permitem a
diferenciação das obrigações de acordo com as peculiaridades e características
específicas de cada ecossistema (v.g. a função específica de determinados ecossistemas,
como a Amazônia, de evitarem os efeitos negativos do aquecimento global, e a
decorrente responsabilidade dos países que lhe circunscrevem); e por fim a idéia de uma
“ferramenta de negociação”, capaz de dar voz aos diferentes atores políticos
internacionais, no sentido de estabelecerem e debaterem os respectivos pesos que suas
ações, enquanto nações, têm para a formação do quadro geral dos problemas
ambientais31.
FRANGETTO e GAZANI consideram este princípio, ao lado do que prescreve
o Desenvolvimento Sustentável, como sendo de importância basilar para o cenário de
cooperação internacional que está a se desenvolver. De conteúdo contrário ao princípio
da Reciprocidade das Obrigações, a sua essência normativa seria aquela que permite
justamente o desdobrar dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. A compensação
financeira via compra dos Certificados de Emissões Reduzida, vulgo créditos de
carbono, pelos países comprometidos juridicamente com a redução, seria decorrência
direta desta diferenciação de encargos e responsabilidades. Apontam o princípio como o
viabilizador da injeção de capital nos países em desenvolvimento, para que pesquisem e
desenvolvam alternativas à produção econômica poluente32.
Em função deste princípio, também, as reduções a serem perseguidas pelos
países Anexo I não foram uniformemente prescritas. O parâmetro para o cálculo da
redução seria o dos níveis básicos de emissão de cada nação verificados no ano de 1990,
com relação às emissões de CO2, CH4 e N20; ou 1995, com relação às emissões de gases
31 SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. op. cit. p. 15-16. 32 FRANGETTO, Flavia Witkowski. GAZANI, Flavio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil, o Protocolo de Kyoto e a Cooperação Internacional. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2002. p. 39.
substitutos do CFC (este, banido pelo Protocolo de Montreal)33. Porém, países que à
época eram considerados economias em transição, tais como Polônia, Hungria,
Romênia e Eslováquia, poderiam adotar como parâmetro de referência outro período
temporal, que não o dos anos de 1990 e 1995, desde que estes outros anos fossem
convencionados como sendo os de envio dos relatórios nacionais de emissões. Com
base na responsabilidade comum porém diferenciada, a União Européia comprometeu-
se a reduzir suas emissões em 8%, os Estados Unidos (à época ainda não haviam
declarado a não-ratificação) em 7% e o Japão em 6%34.
Este princípio, por sua vez, é um dos mais relevantes motivos de rejeição do
Protocolo por parte dos Estados Unidos, que entendem ser equivocado permitir que
países como a China, que possui um índice de emissão extremamente alto devido ao
crescimento econômico robusto e acelerado, possam lançar indiscriminadamente gases
de efeito estufa na atmosfera. Para VARELLA:
(...) Esse sistema de aplicação do princípio da não-reciprocidade não repercute na promoção do desenvolvimento sustentável dos países do Sul, considerando que ele não introduz obrigações positivas, como aplicar tecnologias menos poluentes, ao contrário, limita-se a isentar os países do Sul de todas as obrigações do acordo. Além do mais, é por causa dessa isenção que o regime está sendo comprometido pela não participação dos Estados Unidos35.
Por trás desta indignação, está sem dúvida um temor geopolítico do país norte-
americano de perder peso econômico e vantagens competitivas frente a países
emergentes e promissores. O conjunto dos “BRICS” – Brasil, Índia, China e Rússia- é,
sob certa perspectiva, de fato um “inconveniente” comercial aos países soberanos na
ordem econômica mundial, o que facilita a compreensão da resistência estratégica do
líder econômico, ao ver surgirem restrições ao seu modelo produtivo que não abarcam
estas economias em emergência. Essa postura ficou acentuada na última Conferência
das Partes, em Bali, no ano de 2007, quando os Estados Unidos, através de seus
delegados, recusaram-se a oferecer qualquer tipo de proposta indicativa do seu
comprometimento com a redução de poluentes na atmosfera. A única declaração foi no
33 BRAZ, Mário Sérgio Araújo. Os mecanismos de cooperação internacional para a redução de emissões sob o Protocolo de Quioto, B. Cient. ESMPU, Brasília, a. II – n.9, p. 139-159 – out./dez. 2003, pg. 143. 34 BRAZ, Mário Sérgio Araújo. op. cit. p. 144. 35 VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental, Belo Horizonte: DelRey, 2004, p 85.
sentido de que participarão de futuras negociações, após expirada a vigência de Quioto,
em 2012.36
2.2.2 PRINCÍPIO DO DIREITO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O princípio do Direito ao Desenvolvimento Sustentável concerne ao Protocolo
de Quioto e ao problema do aquecimento global, da mesma forma que incide na maioria
das questões ambientais da atualidade. É ele paradigmático na cultura jurídico-política
de fins de século XX e meados do século XXI, aparecendo na grande maioria dos
documentos e tratados relativos ao meio-ambiente sadio37. O estudo do tema mereceria
por si só dedicação e aprofundamento tais que poderiam ser objeto de outra monografia.
Entretanto, a bem de transmitir uma conceituação básica, mas segura, acerca da
expressão, utiliza-se aqui a definição da Comissão Brundtland, ou Comissão Mundial
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada no seio das Nações Unidas em 1984.
A fórmula para a expressão é a seguinte: “Desenvolvimento sustentável é o
desenvolvimento que assegura (responde) as necessidades do presente sem
36 De acordo com o editorial do jornal The New York Times, de 17 de Dezembro de 2007, referente à última COP, realizada em Balhi, Indonésia: “ From the United States the delegates got nothing, except a promise to participate in the forthcoming negotiations. Even prying that out of the Bush administration required enormous effort. Despite pleas from their European allies, the Americans flatly rejected the idea of setting even provisional targets for reductions in greenhouses gases. And they refused to give what the rest of the world wanted most: an unambiguous commitment to reducing America´s own emissions. Without that, there is little hope that other large emmitter, including China, will change their ways”. Em uma tradução própria: “Dos Estados Unidos, os delegados não obtiveram nada, exceto uma promessa de que participarão de negociações futuras. Até mesmo conseguir isto da Administração Bush requereu enorme esforço. Apesar de solicitações dos aliados europeus, os americanos rejeitaram de plano a idéia de estabelecer, ainda que provisoriamente, metas de redução de gases de efeito estufa. E eles se recusaram a dar o que o resto do mundo mais queria: um comprometimento inequívoco de redução das emissões estadunidenses. Sem isso, há pouca esperança de que outros grandes poluidores, tais como China, irão mudar de posição”. In www.nytimes.com, acessado em 17 de dezembro de 2007. 37 Quanto a sua natureza constitucional, tem-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Celso de Mello: “A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. - O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações” (ADI-MC 3540, 01-09-2005). (Grifo nosso).
comprometer a capacidade das gerações futuras de assegurar (responder) suas próprias
necessidades”.38
Percebe-se, assim, a preocupação primeira deste princípio com o aspecto de uma
relação inter-geracional, ou seja, da relação que se está a construir com a humanidade
vindoura, com as sociedades e pessoas que ainda não vivem, que não fazem parte do
“tempo presente”, mas que um dia ocuparão este espaço físico comum, que é a Terra.
Considera um imperativo de conduta que decisões jurídicas, políticas e econômicas
levem em conta os possíveis impactos ambientais negativos nestas futuras gerações,
causados por hábitos ou estilos de vida atuais. Antecipar os tipos de problemas e
conflitos que podem ocorrer, v.g a escassez de água potável ou a poluição incorrigível
do ar, são preocupações diretamente relacionadas com o direito ao desenvolvimento
sustentável. O valor jurídico intrínseco a este princípio é o de que seria iníquo transmitir
uma herança negativa às futuras gerações, obrigando-as a criarem alternativas
demasiadamente dispendiosas e pagarem o preço para corrigirem deficiências
ecológicas que não foram por elas gerados, mas sim por seus antepassados39.
Outro aspecto deste princípio, mais imediato, diz respeito aos impactos
ambientais que podem ser causados dentro de uma mesma geração, aptos a acarretar
disfunções sociais diretas na vida das pessoas, contemporâneas aos acontecimentos
deletérios. PALSULE refere duas capacidades evolutivas como identificadoras da
sustentabilidade, enquanto requisito vital tanto aos sistemas naturais quanto aos
sistemas sociais: a simbiose e a autopoiese. A primeira diz respeito à habilidade do ser
humano, individualmente, de manter relações exitosas com o todo, com o conjunto,
enquanto a segunda identifica-se pela polaridade: estabilidade versus mudança.
O eixo simbiótico é caracterizado por uma tensão criativa entre duas polaridades, a do todo e a das partes. No caso das sociedades e cidades, isso implicará uma interação dinâmica entre os governos e os cidadãos. Neste caso torna-se crucial o entendimento de que a mudança nunca é o produto exclusivo de cada uma das polaridades. Sustentabilidade requer que entendamos a importância de perceber as iniciativas individuais e a ação legislativa ou governamental como aspectos complementares do mesmo processo. Através de iniciativas locais e construção comunitária, o cidadão como indivíduo tem seu poder aumentado, enquanto o governo aprova legislações que permitem ao indivíduo sentir-se parte do processo como um todo (...) Da mesma forma, o eixo autopoiético é caracterizado por uma tensão criativa entre duas polaridades: estabilidade e mudança. No caso das
38 VICTORIN, Cegép Marie, Portifólio Jeunesse Canada Monde para Aquisição de Certificado em Desenvolvimento Comunitário e Relações Interculturais, Montreal, Canada, 2006, pg. 223. 39 Neste sentido, DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 112.
sociedades e cidades, isso irá implicar uma dinâmica entre manter a estabilidade social e iniciar a mudança cultural. Então, por um lado, há uma necessidade total, na matriz da sustentabilidade, de preservar a estabilidade. Por outro lado, é imperativo que a mudança cultural seja criada por indivíduos que ousem perceber, pensar, agir e valorar de forma diferente. Enquanto a estabilidade social é o produto de uma estrutura que se auto-mantém, a mudança cultural é a criação de perturbações no sistema40.
DERANI, analisando a hipótese de ser ou não factível a teoria do
desenvolvimento sustentável para a proteção dos recursos naturais, afirma ser
imprescindível a abordagem de quatro aspectos relacionados ao tema: (1) o conceito
econômico do ótimo de Pareto para a sustentabilidade do desenvolvimento; (2) as
possíveis definições do vocábulo “necessidade” e sua relação com o bem-estar coletivo;
(3) a imbricação necessária entre este princípio e uma política ambiental que a leve em
consideração; (4) por fim, a necessária distinção entre limites ecológicos e limites
sociais.
Em uma tentativa de síntese, pode-se dizer que, em relação ao primeiro aspecto,
deve-se entender o ótimo de Pareto como a relação satisfatória que poderá se
estabelecer entre o uso de um recurso natural (exploração econômica) e sua
conservação, através da determinação de um preço que permita a utilização de um bem
ao mesmo tempo que o conserva. Nas palavras da autora: “ a relação de uso e não-uso
deve atingir um grau ótimo que permita a continuação desta prática econômica, ou seja,
a sustentabilidade do desenvolvimento”.41 Quanto ao segundo aspecto, a autora adverte
que a noção de “necessidade” (constante no enunciado da Comissão Brundtland) nas
sociedades de mercado atuais não poderá servir de critério único a pautar a medida da
produção econômica. Isto porque as “necessidades” são produzidas artificialmente
(através da publicidade de bens supérfluos, por exemplo) e a sua satisfação nem sempre
representará fielmente o requisito para o alcance de um bem-estar real. Em relação à
política ambiental que considere o princípio do desenvolvimento sustentável, alude a
autora ser esta política espécie de “estratégia de risco destinada a minimizar a tensão
potencial entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade ecológica”.42 Esta
estratégia se desenvolverá principalmente em dois planos, quais sejam: as diversas
formas de valoração social dos recursos naturais (v.g. econômica, moral, etc.) e a opção
política do tipo de consumo e emprego de energia na produção (v.g a o consumo de
40 PALSULE, Sudhanshu S, O Desenvolvimento Sustentável e a Cidade, in Desenvolvimento Sustentável e a Gestão Ambiental das Cidades: Estratégias a Partir de Porto Alegre. Porto Alegre: UFRGS, 2004, p. 43-44. 41 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 115. 42 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 121.
combustíveis fósseis versus biocombustíveis). Por fim, o último aspecto diz respeito ao
entendimento da autora de que os limites ecológicos devem antes ser concebidos sob
uma ótica de limites sociais. Neste sentido, sua própria conclusão:
Os limites do desenvolvimento não são propriamente imposições naturais, são limites apresentados dentro de um modo de produção social. Portanto, aquele conjunto de práticas e valores, que a partir de uma constatação de escassez (social) de recursos naturais, é trazido como opção para a realização de um desenvolvimento sustentável, reflete, na verdade, uma opção por um determinado modo de vida social, e não uma subordinação, na contracorrente da herança iluminista, às dádivas da natureza43.
Em suma, por este conceito, de fundamental importância no pensamento
preservacionista de fins de século XX e início do XXI, deve-se entender a habilidade do
ser humano em manter uma relação simbiótica com o seu meio-ambiente natural ou
artificial (cidades), em termos que não esgotem a capacidade deste meio-ambiente de se
manter equilibrado e em condições de se renovar continuamente. Apenas desta forma e
tendo este imperativo em mente o homem pode assegurar a sua sobrevivência e a das
gerações futuras, promovendo mudanças quando necessário e desfrutando da
estabilidade quando possível – capacidade de autopoiese. Em relação ao tema abordado
neste estudo, o ser humano, para responder eficazmente às exigências de
sustentabilidade enquanto pilar fundamental do desenvolvimento, precisa hoje projetar
no tempo as conseqüências da emissão atual de GEE para o equilíbrio ecológico futuro.
Constatada a relação inexitosa que podemos estar entretendo com o ar enquanto
elemento natural (deficiência na capacidade simbiótica), devemos repensar enquanto
espécie o nosso comportamento, para bem de aportar mudanças que se façam
necessárias nesta relação, e com isto retomar a desejada estabilidade autopoiética.
2.2.3 PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
Já o Princípio da Precaução, declarado no décimo quinto dispositivo da Carta da
Terra44, ou “Declaração do Rio de Janeiro”, como também no inciso 3° do artigo 3° da
43 DERANI, Cristiane, op, cit. p. 115. 44 Princípio 15: “De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”, apud MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p, 63.
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima45, é fruto jurídico da
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Prescreve
ele que a proteção ao meio-ambiente não pode exigir certeza científica em relação a
alguma decisão preservacionista que tenha que ser tomada. Há a iminência do problema,
a probabilidade dele, mas a sua certeza científica é ausente. Age-se por cautela, não por
se estar diante do problema em si.
Analisando o princípio, SAMPAIO, WOLD e NARDY referem:
Com efeito, a aplicação da idéia de precaução pelos tribunais domésticos encontra-se fundamentalmente associada à existência de qualquer evidência objetiva que indique a possibilidade de ocorrência de um dano ao meio ambiente. Assim, por exemplo, os tribunais australianos, ao estabelecerem restrições à construção de determinadas estradas de rodagem por sua interferência com o habitat de uma espécie de sapo ameaçada de extinção, invocaram o princípio da precaução como fundamento de sua decisão, com amparo apenas no testemunho de uma única pessoa, que mencionou ter avistado a mencionada espécie protegida na área de influência do empreendimento.46
Na esteira de ensinamento destes mesmos autores, infere-se que o princípio da
precaução envolve três dimensões: a existência ou não de certeza científica suficiente
sobre o curso da ação a ser adotado, a consideração de quão negativos serão os impactos
eventualmente advindos e, por fim, a análise da viabilidade econômica das medidas
acautelatórias propostas. Especificamente quanto a esta terceira dimensão, aplicada ao
problema do aquecimento global, cumpre definir o sentido da expressão
“economicamente viáveis”. Assim, para responder às alterações climáticas de forma
adequada a este princípio, seria necessário um certo consenso acerca de qual contexto
fático serviria para a efetiva adoção de medidas. Na hipótese de a ação dar-se no
sentido de prevenir a ocorrência mesma da alteração climática (medidas de prevenção
do problema, ou verdadeiramente acautelatórias), os custos envolvidos seriam uns. Já na
45 Inc. 3, art. 3: “As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as causas da mudança do clima, e mitigar seus efeitos negativos. Quando surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar essas medidas, levando em conta que as políticas e medidas adotadas para enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes em função dos custos, de modo a assegurar benefícios mundiais ao menor custo possível. Para esse fim, essas políticas e medidas devem levar em conta os diferentes contextos socioeconômicos, ser abrangentes, cobrir todas as fontes, sumidouros e reservatórios significativos de gases de efeito estufa e adaptações, e abranger todos os setores econômicos. As partes interessadas podem realizar esforços, em cooperação, para enfrentar a mudança do clima.” Apud FRANGETTO, Flavia Witkowski. GAZANI, Flavio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil, o Protocolo de Kyoto e a Cooperação Internacional. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2002. p. 307. 46 SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. Princípios de Direito Ambiental na Dimensão Internacional e Comparada. Belo Horizonte: DelRey, 2003, p. 18.
hipótese de a ação reativa depender da existência concreta e verificada dos efeitos
negativos do aquecimento (medidas meramente mitigadoras, que, em última análise,
descaracterizam o princípio da precaução), o custo econômico seria outro. Segundo
juízo destes autores, os Estados Unidos, em função de uma análise de viabilidade
econômica que considera os custos das medidas meramente mitigadoras (supostamente
inferiores aos custos das medidas preventivas), não se inclinam à aplicação do princípio
da precaução ao problema do efeito estufa antrópico47.
No caso do aquecimento global, o Princípio da Precaução, reconhecido
juridicamente nos documentos internacionais mencionados, uma vez que subscrito pelas
diversas nações signatárias, servirá de critério de ação política e jurídica a pautar as
exigências de estabilização de GEE. Assim, deve-se agir, ainda que ausente certeza
científica absoluta a avalizar que o aquecimento tem como causa principal a ação
humana. Até porque a própria noção de certeza científica pode ser fortemente
questionada, sendo que quase sempre o que se terá serão indícios e evidências a
informarem esta ou aquela conduta, e não a crença em uma verdade irrefutável e
incontestável. É princípio pragmático, estando consubstanciado na “ação antecipada
diante do risco ou do perigo”48.
3. REQUISTOS PARA A VALIDAÇÃO DOS PROJETOS MDL
O artigo 12.5 do Protocolo de Quioto prevê o atendimento dos seguintes
requisitos para a implementação dos projetos de MDL49.
• Adicionalidade;
• Voluntariedade;
• Demonstração de benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo
relacionados com a mitigação da mudança do clima.
Diferentemente do que ocorre com as outras duas modalidades (Implementação
Conjunta e Comércio de Emissões), o MDL não previu como indispensável que as
partes negociantes observassem o requisito da complementaridade das atividades,
presente nas outras duas. Desta forma, é indiferente, para a negociação a ser travada, 47 SAMPAIO, José Adécio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. op. cit. p. 20-21. 48 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 65. 49 Protocolo de Quioto, editado e traduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, disponível em <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4006.html> acessado em 05.03.2008
que a parte que adquirirá os Certificados de Emissão Reduzida, a serem geradas no fim
do ciclo do projeto, desenvolva, em âmbito doméstico, uma atividade semelhante àquela
de MDL que está a gerar os créditos a serem comercializados pelo país hospedeiro. Em
outras palavras, a Parte que adquirirá os créditos de carbono via MDL está isenta da
obrigação de implementar, em seu próprio território, uma atividade adicional ou
complementar àquela específica que está sendo travada no país sede do projeto50.
Após críticas severas que compreendiam esta liberalidade como forma de
reduzir a eficácia dos objetivos da Convenção e do Protocolo, institui-se um limite para
que os países que se beneficiam com as reduções de emissão alhures não pudessem
enquadrar totalmente o seu nível de contenção de emissão naquelas taxas adquiridas via
MDL. Com isto, ficaram obrigados, em percentual relevante e considerável, a implantar
formas domésticas e em seu próprio território para verem atendidos os imperativos
jurídicos de redução. Assim, a Decisão 17-CP.7 “restringiu a capacidade de os
respectivos CER produzirem efeito jurídico de quitação de obrigação de Parte do anexo
I na proporção máxima de 1% das emissões do ano-base por cada Parte, multiplicado
por cinco”51.
3.1 ADICIONALIDADE
Quanto ao critério jurídico da adicionalidade, deve-se compreendê-lo
conjuntamente com o conceito de linha de base ou cenário de referência
(internacionalmente conhecido como “business as usual scenario”)52. Tem como ponto
de partida a concepção de que as reduções de emissões de gases de efeito estufa devem
ocorrer em razão direta da implementação da atividade de projeto. Quer isso dizer que,
comparando com um cenário inicial de emissões (ou linha de base), as limitações
ocasionadas pelo projeto serão comprovadamente adicionais àquelas que supostamente
poderiam ocorrer na sua ausência. Ainda, nas palavras de LIMA53:
50 BRAZ, Mário Sérgio Araújo. op. cit. p. 150. 51 FRANGETTO, Flavia Witkowski. GAZANI, Flavio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil, o Protocolo de Kyoto e a Cooperação Internacional. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2002. p. 85. 52 LIMA, Lucila Fernandes. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e os Certificados de Emissões Reduzidas – Aspectos legais e Questões Contratuais. Revista de Direitos Difusos, São Paulo, n. 38, p.105-106, jul./ago. 2006. 53 LIMA, Lucila Fernandes. op. cit. p. 107.
Cenário de referência ou Linha de Base (Baseline). É o cenário que qualifica e atribui, de forma razoável, dentro do limite de um projeto, a quantidade das emissões antrópicas de gases de efeito estufa por fontes, incluindo as emissões de todos os gases, setores, e categorias de fontes, listadas no Anexo A do Protocolo de Quioto, existentes na ausência de uma atividade de projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Serve de base tanto para a verificação da adicionalidade quanto para a quantificação dos Certificados de Emissão Reduzidas (CRE) da atividade de projeto de MDL, que serão calculados justamente pela diferença entre as emissões da linha de base e as emissões-remoções verificadas em decorrência da atividade de projeto, incluindo as fugas. O cenário de referência também é conhecido internacionalmente como “business as usual scenario”.
Este conceito de linha de base foi determinado pela Decisão 17-CP.7, 44, do
Anexo dos Acordos de Marraquesh. As duas noções são complementares, uma vez que
“a mensuração da adicionalidade é dada com base na definição da linha de base, o
cenário de referência”54. Exemplificando a questão, poderia se imaginar um dado aterro
sanitário em que há emissão, em função da decomposição de matéria orgânica, de gás
metano (CH4). Se dado projeto de MDL obtivesse sucesso na utilização deste gás para a
produção de energia (com sua queima), a sua implementação produziria uma redução
adicional de GEE ao cenário de referência, ou linha de base, sem a qual a emissão seria
maior do que passou a ser em função da nova tecnologia55.
Uma questão controvertida que poderia surgir, suscitada por FRANGETTO E
GAZANI, seria a referente ao reconhecimento ou não de adicionalidade a projetos que,
teoricamente, já deveriam ser implementados de qualquer forma, por força de legislação
ambiental interna de cada país. Ora, se lei protetiva já determinava a necessidade de
redução de emissões de poluentes, o projeto de MDL que apenas corroborasse a
prescrição não estaria adicionando uma redução por seus “méritos próprios”, haja vista
que a redução de GEE já era reclamada por imperativo da ordem jurídica, presumindo-
se que deveria ser obedecida independentemente, e com isto aconteceria de forma
autônoma ao Protocolo. Referem os autores que o “fato de a lei existir não traz como
conseqüência absoluta a sua efetiva aplicação”56. Assim, a comprovação, por exemplo,
de recorrente desobediência à lei ambiental serviria para configurar como presente o
requisito da adicionalidade.
54 FRANGETTO, Flavia Witkowski; GAZANI, Flavio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil, o Protocolo de Kyoto e a Cooperação Internacional. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2002. p. 64. 55 FRANGETTO, Flavia Witkowski; GAZANI, Flavio Rufino. op. cit. p. 61 56 FRANGETTO, Flavia Witkowski; GAZANI, Flavio Rufino. op. cit. p. 65.
Neste ponto, está-se diante de sério problema conceitual. Apregoar que o país
hospedeiro do projeto (não Anexo I) não possa ter limites jurídicos internos de emissão
de GEE seria, inevitavelmente, ir de encontro com os objetivos da própria Convenção-
Quadro e do Protocolo que lhe operacionaliza (uma vez que a responsabilidade, ainda
que diferenciada, é comum aos seus signatários). Pois se interditada aos países
potenciais hospedeiros de atividades de projeto de MDL a possibilidade de regularem
internamente padrões de emissão aceitáveis à luz de futuras legislações nacionais que
protejam juridicamente o clima, estaria inviabilizado um grau maior de eficácia
desejável de controle de emissão nestes mesmos países não integrantes do Anexo I. O
Brasil, se confirmado fosse este entendimento, não poderia almejar ter, em seu
ordenamento jurídico próprio, limites de emissão de GEE a serem legalmente impostos
e observados por seus cidadãos. A forma de percepção do requisito da adicionalidade
deve mostrar-se, portanto, em consonância com o espírito dos documentos
internacionais firmados, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor protege
o meio-ambiente.
Em suma, para que se resolvam aparentes entraves conceituais, parece que se
deva entender da seguinte forma: eventual legislação, genérica, abstrata, que preveja
hipotéticos limites de emissão de GEE no país hospedeiro do projeto de MDL não
descaracteriza por si só o requisito da adicionalidade. Isto porque entre a sua existência
e a sua real eficácia existe um grande lapso a ser preenchido. Justamente para o
adimplemento (eficácia) de uma previsão legal instituída genericamente poderão operar
os projetos de MDL. Isto não poderá ocorrer, porém, se a implementação específica,
tópica, de certas medidas corretivas, for requisito mesmo para o desenvolvimento de
determinado empreendimento ou satisfação de alguma obrigação legal, pois aí sim
estaria descaracterizada a adicionalidade (e também a voluntariedade, como adiante se
demonstrará), conforme se demonstrará adiante.
Como exemplo para reflexão desta segunda hipótese, sugere-se o seguinte caso
ilustrativo: para a instalação de uma usina termelétrica em determinada região, sabe-se
que uma das etapas exigidas pelo Poder Público é a de realização de Estudo de Impacto
Ambiental, previsto pela legislação nacional competente (Lei de Política Ambiental, n.
6.938/1981). Se neste estudo for constatado como um dos pontos críticos do
empreendimento a emissão de GEE na atmosfera, e como requisito para a concessão da
autorização de instalação a compensação destas emissões por alguma medida
reparatória, teríamos espaço para que futuramente tais medidas mitigadoras fossem
consideradas aptas a gerar créditos de carbono?
Neste caso, as atividades desenvolvidas como forma de conter as emissões dos
poluentes, e requisitadas na etapa de licença ambiental, não estariam “adicionando”57
uma redução de GEE a um cenário de referência, pois a própria existência deste cenário
de referência (existência da usina termelétrica a ser construída) dependeria do
atendimento de requisitos imprescindíveis para a concessão da licença (alternativa que
compense a liberação de gases na atmosfera). Em outras palavras, não havendo a
proposta de medidas mitigadoras à emissão dos gases, não adviria a concessão da
licença ambiental respectiva, e com isto não estaria autorizado o empreendimento. Em
suma, neste caso, a adicionalidade de uma atividade de projeto de MDL não teria
restado caracterizada.
É outro o posicionamento de OLIVEIRA e BOCAIUVA, quando defendem,
opostamente ao aqui sustentado, que:
(...) desde logo devem ser tomadas medidas, no âmbito do processo administrativo de licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente poluidores, para conferir efetividade aos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Por exigência constitucional, a instalação de projetos com potencial poluidor deve ser antecedida de Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), que analisam, do ponto de vista técnico, a existência de alternativas viáveis para minimizar os efeitos negativos do empreendimento no meio ambiente. Sob a vigência do Protocolo de Quioto, cabe ao órgão público fiscalizar se o empreendedor pelo menos analisou a alternativa de adotar tecnologias limpas, que credenciem seu projeto como MDL58.
Além de descaracterizar o requisito da adicionalidade, tal fato também
desconfiguraria o critério da voluntariedade, que se explica a seguir.
3.2 VOLUNTARIEDADE
57 Usaram-se aqui as aspas no intuito de evidenciar uma certa inadequação da expressão “adicionalidade” como um dos requisitos do Protocolo. Isto porque ela quase sempre virá associada ao termo “redução” (das emissões de GEE), e com isto gerará dificuldade de sua compreensão (“adição de redução”). Melhor seria a adoção de um termo como “redução real” ou “sobressalente”, que denotaria de forma mais eficaz o seu conteúdo. 58 OLIVEIRA, Carlos Frederico Saturnino de; BOCAIUVA, Adriana. Protocolo de Quioto, mecanismos de desenvolvimento limpo, créditos de carbono. Aspectos jurídicos. In: Revista Forense, Rio de Janeiro, V. 380, 467-475, jul./ago. 2005, p. 472.
Voluntariedade, ou participação voluntária, refere-se ao fato de o país dever
espontaneamente manifestar sua vontade em implementar seus projetos de MDL.
OLIVEIRA e BOCAIUVA, salientando a existência de projeto de lei tramitando no
Congresso Nacional (n. 3552-2004), atinente à Política Nacional do Meio Ambiente,
afirma que a possível regulação legal de limites de emissão a serem instituídos em
esfera nacional poderia prejudicar a posição privilegiada do Brasil como potencial
hospedeiro de projetos de MDL. Isto porque, de acordo com estes autores (e
diferentemente do aqui sustentado), uma vez instituídos limites coercitivos ao nível de
emissão, estar-se-ia diante de realidade incompatível com a noção de voluntariedade,
pois cumprimento de dever legal59.
Neste trabalho, perfilha-se entendimento diverso, de que a voluntariedade,
enquanto requisito de elegibilidade, deve antes ser vista pelo prisma do juízo de
conveniência e oportunidade do país hospedeiro (no caso, o Brasil) em instalar ou não
os projetos de MDL que beneficiarão os compromissos de redução dos países
integrantes do Anexo I. O fato de dever ser voluntária, espontânea a participação do país
hospedeiro, apenas reforça e enfatiza a idéia de que deverá estar o país imune a pressões
externas das nações desenvolvidas para que avalize – em exercício de livre-arbítrio
político e de desempenho de soberania - este ou aquele projeto de energia limpa. Este
requisito, portanto, atine à relação externa do país para com aqueles outros sujeitos de
direito internacional que demonstrem seu interesse na persecução de projetos de MDL
em território brasileiro.
Neste sentido, conforme elucidativa observação de FRANGETTO e GAZANI,
se perguntarmos “voluntária em relação a quem ?” a participação qualificada como
espontânea dirá respeito ao País-Parte em relação aos demais, que decidirá sobre a
conveniência ou não em aprovar e participar deste ou daquele projeto de produção
econômica sustentável. Esta discricionariedade do país, assim, será fundamental para
que se observem as necessidades e preocupações específicas nacionais, conforme
previsão do artigo 4º, 8, da Convenção-Quadro.60
59 OLIVEIRA, Carlos Frederico Saturnino de; BOCAIUVA, Adriana. op. cit. p. 471
60 FRANGETTO, Flavia Witkowski. GAZANI, Flavio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil, o Protocolo de Kyoto e a Cooperação Internacional. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2002, pg. 67.
Outro aspecto deste requisito, trazido por CALSING61, diz com a
impossibilidade de atividades de projeto de MDL serem previstas como obrigatórios
meios de compensação de eventuais emissões de GEE. Assim, a legislação nacional não
poderia coagir internamente que fossem desenvolvidos estes projetos para atender à
necessidade de redução de poluentes atmosféricos. Este entendimento mostra-se
acertado, pois de outra forma estaria sim descaracterizado o dever de voluntariedade,
uma vez que por ela os participantes não teriam opção senão a de implementar as
atividades de projeto, o que se mostra inaceitável à luz do Protocolo de Quioto. Deve-se
frisar que a impossibilidade de imposição legal para que se desenvolvam
especificamente projetos neste sentido – o que feriria a voluntariedade (e também a
adicionalidade, como antes referido)– é distinta da possibilidade de legislação interna
dispondo genericamente sobre limites de emissão. Neste segundo caso, como já
mencionado, não se estaria impondo como via única a implementação do MDL para
suprir as hipotéticas obrigações jurídicas nacionais, não descaracterizando assim o
ânimo voluntário. Comentando o prejuízo à voluntariedade em casos de imposição,
como no exemplo de licenciamento ambiental, referem FRANGETTO e GAZANI:
(...) Além disso, obrigar a execução de reduções via projeto de MDL poderia implicar descredibilização do crédito de carbono brasileiro. (...) Em outras palavras, Países-Partes Não Anexo I, não devem, sob prejuízo de um MDL autoritário e ineficaz, obrigar as empresas a reduzirem emissões de GEE via créditos de MDL. Eles podem, sim, obrigar que emissões sejam reduzidas em seu território, ou seja, simplesmente a possibilidade de instituição de políticas públicas que visem primeiramente à qualidade ambiental pelo controle da poluição atmosférica62.
3.3 BENEFÍCIOS REAIS, MENSURÁVEIS E DE LONGO PRAZO.
Este requisito é decorrência lógica do próprio espírito da Convenção-Quadro e
do Protocolo de Quioto. Através dele, tem-se o mandamento de que as atividades de
projeto de MDL serão necessariamente eficazes e corresponderão ao objetivo principal
de toda a regulação, que é o da estabilização de emissão de GEE na atmosfera.
61 CALSING, Renata de Assis. O Protocolo de Quioto e o Direito ao Desenvolvimento Sustentável. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2005. p. 105. 62 FRANGETTO, Flavia Witkowski. GAZANI, Flavio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil, o Protocolo de Kyoto e a Cooperação Internacional. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2002. p 72.
Através deste requisito, aufere-se credibilidade à engenharia jurídica do MDL e
as futuras negociações de certificados de emissão reduzidas (CER), pois se pode contar
com uma real redução-captação de gases de carbono na atmosfera. Esta redução será
objeto de certificação por Entidades Operacionais Designadas, devidamente registradas
e cadastradas junto ao Conselho Executivo de MDL, que farão o papel de auditoras do
processo como um todo e verificarão o real impacto ambiental das atividades
desenvolvidas, através do ciclo procedimental, objeto de atenção do quarto capítulo.
Segundo FRANGETTO e GAZANI, o conceito temporal
de “longo prazo” equivale a conceito jurídico indeterminado, requerendo um esforço
interpretativo no sentido de adequar às condições peculiares de cada caso.63
O Conselho Executivo, a Autoridade Nacional e as Entidades Operacionais
Designadas formam a estrutura institucional básica construída pelo Protocolo de Quioto
e por decisões supervenientes (COP. 7), para a implementação prática dos projetos de
MDL, conforme se depreende do próximo ponto.
3.4 ESTRUTURA INSTITUCIONAL NOS PROJETOS DE MDL:
3.4.1. CONSELHO EXECUTIVO:
Este órgão, com sede em Bonn, Alemanha, é responsável, no âmbito do
Protocolo, por supervisionar todas as atividades de Projeto de MDL e por tomar as
decisões que melhor atendam aos objetivos do sistema jurídico internacional de
proteção climática. Suas principais incumbências são credenciar as Entidades
Operacionais Designadas, fazer o registro das atividades de MDL, emitir os CER,
definir e aprimorar as metodologias para o estabelecimento das linhas de base,
monitoramento e fugas64. Seu papel é o de gerenciar todo o sistema de MDL, servindo
como árbitro e regulador de todo o processo. É ele composto por dez membros, da
seguinte forma: um representante de cada uma das cinco regiões das Nações Unidas
(África, Europa, América Latina e Caribe – incluindo EUA e Canadá, Ásia Pacífico e
Oriente Médio), dois representantes dos países industrializados do Anexo I, dois
63 FRANGETTO, Flavia Witkowski. GAZANI, Flavio Rufino, op. cit. p. 62. 64 LOPES, Ignes Vidigal (Coord.). O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: Guia de Orientação. Rio de Janeiro: FGV, RJ, 2002. p. 20.
representantes dos países não integrantes do Anexo I, e por derradeiro, um representante
dos países insulares em desenvolvimento65.
3.4.2 AUTORIDADE NACIONAL DESIGNADA NO BRASIL
O Decreto Presidencial de 07 de julho de 1999 designou, no Brasil, como
Autoridade Nacional, a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima,
formada por diversos ministérios. Este diploma legal sofreu algumas alterações em
função do Decreto de 10 de janeiro de 2006, que inclui alguns ministérios em sua
composição66. O Ministério de Ciência e Tecnologia está incumbido de presidi-la,
enquanto o do Meio Ambiente ocupa a vice-presidência. Integram ainda a Comissão o
Ministério de Relações Exteriores; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; dos
Transportes; de Minas e Energia; do Planejamento, Orçamento e Gestão; do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; das Cidades; da Fazenda, bem como a
Casa Civil da Presidência da República. Com este amplo espectro representado, buscou
englobar os diversos setores da atividade econômica nacional, e assim conectar-se com
as diversas fontes de emissão de GEE.
Sua atribuição é avaliar, em etapa específica do projeto, se a atividade a ser
empreendida contribui com o interesse público nacional, em termos de desenvolvimento
sócio-econômico sustentável. Serve de instância intermediária entre os participantes
privados do projeto e o Conselho Executivo, responsável pela oficialização da atividade
como sendo de MDL. A Comissão Interministerial tem competência para editar
Resoluções que regulamentem e enunciem a forma e os requisitos de submissão das
atividades de projeto. Até o momento, foram editadas seis Resoluções atinentes ao
tema, que podem ser acessadas na página virtual do Ministério de Ciência e
Tecnologia67.
65 BRAZ, Mario Sérgio Araújo, Os Mecanismos de Cooperação Internacional para a Redução de Emissões Sob o Protocolo de Quioto, in, B. Cient. ESMPU, Brasília, a. II – n.9, p.139-159 –out./dez. 2003. p. 152. 66 Site do Ministério da Ciência e Tecnologia, <www.mct.gov.br>, acessado em 10.02.2008 <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/10059.html>, acessado em 10.02.2008. 67 Por exemplo, a Resolução n. 2, de 10 de agosto de 2005, que “ estabelece os procedimentos para aprovação das atividades de projeto no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto, aprova os procedimentos para as atividades de projetos de florestamento e reflorestamento no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto e dá outras providências.” In: < http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/14797.html>. Em 05.03.2008.
3.4.3 ENTIDADES OPERACIONAIS DESIGNADAS
As Entidades Operacionais Designadas (EOD) são aquelas cadastradas junto ao
Conselho Executivo, por delegação das COP-MOP (Conference of the Parties –
Meeting of the Parties) e que possuem papel bastante relevante no transcorrer de todo o
ciclo do projeto, que será mais adiante analisado. Explicando suas atribuições, LOPES68
destaca: validar atividades de projeto de MDL de acordo com as decisões de
Marraquesh, verificar e certificar reduções de emissões de GEE e remoção de CO2,
manter uma lista pública de atividades de projeto de MDL, enviar relatório anual ao
Conselho Executivo, manter disponíveis para o público as informações sobre as
atividades de projeto de MDL que não sejam consideradas confidenciais pelos
participantes do Projeto.
Percebe-se que a atribuição fundamental destas entidades é a de propriamente
auditar as atividades em implementação, sendo elas o órgão que estará mais próximo da
realidade do projeto, e assim estando apto a certificar e avalizar, junto ao Conselho
Executivo, os requisitos de benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo,
adicionalidade e voluntariedade previstos pelo Protocolo. A ausência destas entidades
significaria um vazio institucional no sentido de conferir confiabilidade, aferibilidade e
veracidade dos benefícios climáticos almejados e alcançados pelas atividades
verificadas.
3.5 STATUS QUO DOS PROJETOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE MDL
De acordo com dados disponibilizados no site do Ministério Brasileiro de
Ciência e Tecnologia, que compilam as atividades de MDL no mundo, percebe-se que
China69, Índia, Brasil, México e Malásia ocupam, decrescentemente, a ordem dos cinco
68 LOPES, Ignes Vidigal (Coord.). O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: Guia de Orientação. Rio de Janeiro: FGV, RJ, 2002. p. 22. 69 Quanto à China, especula-se a possibilidade de uma Bolsa de Créditos de Carbono ser fundada e sediada na capital deste país, Pequim, o que o capacitaria a uma porção de 41% do total de créditos de carbono a serem comercializados após emitidos pelo Conselho Executivo, de acordo com DICKIE, Mure; HARVEY, Fiona, Financial Times, Londres, 6 fev. de 2007. pg. 1.
maiores elaboradores de projetos de MDL em andamento, na data de 18 de maio de
200870.
Por meio destes mesmos dados, verifica-se que, nesta data, no mundo, um total
de 3.297 projetos encontravam-se em alguma fase do ciclo, dos quais 1.039 já haviam
recebido o registro do Conselho Executivo, e 2.258 encontravam-se em outra fase. O
Brasil, nesta data, contava com 285 projetos (9% do total), estando em terceiro lugar em
número de atividades, ficando atrás da China, com 1.134 projetos, e da Índia, com 934
projetos. A projeção de redução brasileira de emissões de GEE, calculadas em toneladas
de CO2, para o primeiro período de obtenção de créditos – dez anos fixos ou sete anos
renováveis por duas vezes – é de 284.031.727 toneladas (t.) de CO2, o que corresponde
a 7% do total de emissões mundiais. Mundialmente, estima-se um total de 4.358
milhões de t. de CO2 a não serem emitidas na atmosfera, o que equivale a uma redução
anual, em âmbito internacional, de 540 milhões de t de CO2.
No Brasil, o percentual de projetos em relação ao tipo de gás de efeito estufa é o
seguinte: 67% para a redução de gás carbônico e 32% para projetos de contenção de
metano. Setorialmente, as atividades mais relevantes dão-se no campo da energia
renovável - 41% das reduções; de aterros sanitários – 24%; e de redução de N20 – 17%,
conforme demonstra a tabela a seguir71:
70 Dados disponíveis em <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0023/23010.pdf> acessado em 18.05.2008. 71 Site do Ministério de Ciência e Tecnologia, <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0023/23010.pdf>, em 18.05.2006.
Já no âmbito da CIMGC, têm-se os seguintes números:
Projetos aprovados com ressalvas são aqueles que possuem algum erro de edição
ou incongruência considerados de menor importância pelos membros da Comissão. Já
os projetos em revisão são aqueles que necessitam de algum esclarecimento quanto à
contribuição ao desenvolvimento sustentável, ou equívocos de edição considerados
relevantes pela CIMGC. Por sua vez, no âmbito do Conselho Executivo do MDL, há
132 projetos brasileiros registrados e 14 aguardando registro, em um total de 146
projetos72.
72 Site do Ministério de Ciência e Tecnologia, <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0023/23010.pdf>, em 18.05.2008.
CONCLUSÃO
Este trabalho teve por escopo atingir uma compreensão abrangente do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo enquanto prospecto jurídico-ambiental,
alternativo à problemática do aquecimento térmico global. Partiu-se da premissa de que
conhecer a estrutura normativa e o marco regulatório deste tipo de projeto, de caráter
ambiental-econômico, instituído pelo Documento Internacional assinado em Quioto,
supera o interesse apenas teórico, alcançando o campo prático, dada a larga escala de
sua aplicação nos setor negocial-empresarial atual.
Quanto ao diagnóstico da questão climática, conceituou-se o que se deva
entender por efeito estufa, fenômeno que não denota algo intrinsecamente ruim ou
indesejável; ao contrário, um dado vital, uma vez que sem ele a vida na Terra estaria
inviabilizada. Concluiu-se, por intermédio das informações consultadas, que a
temperatura média da Terra, de 14 °C., passa por processo de incremento, uma vez que
a interferência antrópica no ciclo de carbono e outros gases (gases de efeito estufa,
dentre os quais se encontram o CO2, o CH4, o CFxCLx e O3) acaba por desequilibrar o
sistema climático global. Esta interferência dá-se por meio da atividade econômica
humana, altamente dependente de matriz energética poluidora (precipuamente carvão e
petróleo) e de um sistema de produção industrial com alto grau residual, na forma de co-
produtos, os poluentes. Corroborando estes fatores, instrumentos metodológicos de
medição (como a precursora Curva de Keeling ou os utilizados por cientistas que
alimentam com dados o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática - IPCC,
em inglês) constataram um aumento significativo da presença de substâncias poluidoras
na atmosfera, desde o século XVIII até hoje.
Considerando a previsão de alteração climática na ordem de 1,5 graus Celsius,
desde o século XX e adentrando o século XXI (4° Relatório de Alteração Climática,
IPCC, 2007) observaram-se as prováveis conseqüências do aquecimento climático sobre
as diversas sociedades, dentre as quais se destacam: problemas de refugiados ambientais
(provenientes de zonas inundadas), complexa questão de segurança alimentar
(interferência na agricultura), maior freqüência de episódios climáticos devastadores
(como furacões e enchentes), intensificação de doenças causadas por vetores de
proliferação sensível ao clima mais quente (febre amarela e paludismo), e ameaça à
biodiversidade terrestre (extinção de espécies).
Contextualizados estes problemas iminentes, ainda que negados por uma
corrente científica minoritária (à qual também se tentou dar voz), e despertada a
consciência da comunidade científica majoritária, verificou-se uma etapa de pressão
política via opinião pública, que reclamava um prognóstico para o problema (ou
“doença”, nas palavras do ilustre cientista LOVELOCK). Na esteira da Conferência de
Estocolmo de 1972, surgiu a Convenção-Quadro sobre Mudança Climática (UNFCCC),
posta à assinatura na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (Cúpula da Terra, ou ECO-92), em 1992.
Desta Convenção-Quadro culminou o documento jurídico por excelência
representativo do problema do aquecimento global de causa antrópica, que veio
instituir, em adição à Convenção, um verdadeiro marco regulatório para contenção do
aquecimento climático. Neste documento, negociado em Quioto, Japão, no ano de 1997,
surgiram metas e compromissos concretos a serem observados pelos países signatários,
bem como alternativas flexibilizadoras dos compromissos impostos (dentre as quais, o
objeto de interesse do trabalho, o MDL). Atentou-se também para o período de
compromisso previsto pelo Protocolo, que se dá entre o ano de 2008 e 2012. É em
relação a esta faixa de tempo que os países do Anexo I precisam adimplir suas
obrigações de redução de emissão em pelo menos 5%, quando em comparação com os
níveis de emissão de 1990. Assim, após 2012, a adoção de novos arranjos e previsões
será imprescindível para que se dê continuidade ao processo de proteção climática.
Em função dos mais fundamentais princípios informadores dos documentos
internacionais do clima - princípio do desenvolvimento sustentável, da precaução e da
responsabilidade comum porém diferenciada - ficou assentada a necessidade de revisão
de alguns processos de produção econômica, altamente contaminadores da atmosfera
(aqui, utilizando-se de terminologia de língua espanhola, de conteúdo marcadamente
simbólico). Percebeu-se que esta responsabilidade comum porém diferenciada de
adequação dos processos produtivos é uma decorrência lógica do fato de que países em
desenvolvimento (não Anexo I) contribuíram menos para o estado atual do problema do
que países desenvolvidos (Anexo I), em razão do que devem estes últimos arcar
coercitivamente e de forma mais pesada com as medidas mitigadoras do desequilíbrio
climático. Especificamente quanto aos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo, deteve-se primeiramente nos requisitos indispensáveis à sua implementação,
contidos no Tratado do Clima: adicionalidade, voluntariedade e benefícios reais,
mensuráveis e de longo prazo. Em relação ao primeiro, verificou-se tratar de exigência
de que os projetos “adicionem” uma redução de emissão em relação a um cenário de
referência . Este cenário, ou linha de base, na ausência do projeto, estaria lançando mais
GEE do que o faz na presença do projeto (seqüestro e supressão de emissões).
Discordou-se, neste ponto, com a doutrina que propõe a imposição do desenvolvimento
de projetos de MDL, pelo Poder Público, v.g., via processo de licenciamento ambiental,
como requisito para a concessão da licença de certo empreendimento poluidor.
Entendeu-se que tal fato, além de ferir a adicionalidade, feriria também a
voluntariedade. A voluntariedade foi considerada como sendo o exercício do juízo
discricionário e soberano do país frente à comunidade internacional em hospedar ou não
projetos de MDL, bem como a faculdade de os particulares desenvolverem ou não os
projetos (impossibilidade de condicionamento de uma licença ambiental à sua
implementação, como referido acima).
Por último, travou-se conhecimento do panorama geral internacional de
desenvolvimento dos projetos, ocasião em que se constatou ser a China o principal país
hospedeiro destas atividades, seguida por Índia, Brasil, México e Malásia. Quanto às
áreas das atividades de projeto no Brasil, por setor econômico, responsáveis pela maior
redução de emissão, verificou-se ser a energia renovável a principal área (41% de
redução), seguida por aterros sanitários (24%) e atividades que contêm a emissão de
N2O (17%). No âmbito do CIMGC, até a data da última atualização, em 18.05.2008,
soube-se o seguinte: 179 projetos foram já aprovados no âmbito da Autoridade Nacional
Designada, 9 foram aprovados com ressalva (erros de menor importância), 12 estão em
revisão (equívocos considerados relevantes ou que pendem de algum esclarecimento),
sendo que 2 projetos aguardam deliberação da próxima reunião. Quanto ao âmbito do
Conselho Executivo, viu-se existirem 132 projetos brasileiros registrados, e outros 14
aguardando registro.
REFERÊNCIAS ACOT, Pascal. Breve História do Clima. In: Ciência e Ambiente, Mudanças Climáticas, Santa Maria: UFSM, n.34, p.14-19, jan./jun. 2007. ARAÚJO, Antônio Carlos Porto. Como comercializar créditos de carbono. São Paulo: Trevisan, 2006. BARROSO, Luis Roberto Barroso. Interpretação e Aplicação da Constituição. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
BRASIL, Decreto 2.652, de 1° de julho de 1998: “Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York em 09 de maio de 1992.” Disponível no site da Presidência da República, <http://www.presidencia.gov.br/legislacao/> , acessado em 18.05.2008. BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI-MC 3540, relator Ministro Celso de Mello, julgada em 01-09-2005. BRAZ, Mario Sérgio Araújo. Os Mecanismos de Cooperação Internacional para a Redução de Emissões Sob o Protocolo de Quioto, in, B. Cient. ESMPU, Brasília, a. II – n.9, p.139-159 –out./dez. 2003. CALSING, Renata de Assis. O Protocolo de Quioto e o Direito ao Desenvolvimento Sustentável, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed. 2005. CARMONA, Isabel Caro-Patón. El mercado de la contaminacion del Protocolo de Kyoto en la protección médio ambiental comunitária: su aplicacion em España In: Revista Brasilieira de Direito Ambiental, v. 4, p.191-223, out./dez . 2005. CANUTO, Vittorio. Efeito Estufa e Aquecimento Global, uma Visão Interdisciplinar. In: MENEGAT, Rualdo; ALMEIDA, Gerson (org). Desenvolvimento sustentável e Gestão Ambiental, Estratégias a partir de Porto Alegre, Porto Alegre: UFRGS, 2004, p. 325-347. DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. DICKIE, Mure; HARVEY, Fiona. Financial Times, Londres , 6 fev. de 2007. pg. 1. EDITORIAL, The New York Times, New York, 17.12.2007, disponível em <www.nytimes.com>, acessado em 17.12.2007 FRANGETTO, Flávia Witkowski; GAZANI, Flavio Rufino, Viabilização Jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil. Protocolo de Kyoto e a Cooperação Internacional. Fundação Peirópolis, 2002. FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. GONÇALVES, Cyllene Zollner Batistella. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e considerações sobre o mercado de carbono. Revista de Direito Ambiental: Revista dos tribunais, São Paulo, v.11, n.43, p.83-114. IPCC. Climate Change 2007: Synthesis Report. 2007, disponibilizado no site oficial do IPCC, <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf>, acessado em 02.05.2008. LEVITT, Steven D.; DUBNER, Stephen. Freakonomics. O lado oculto e inesperado de tudo o que nos afeta, Rio de Janeiro: Campus, 2005.
LIMA, Lucila Fernandes. O mecanismo de desenvolvimento limpo e os certificados de emissões reduzidas – Aspectos legais e contratuais. In revista de Direitos Difusos, São Paulo, n.38, p.105-111, jul./ago. 2006. LOPES, Ignes Vidigal (Coord.). O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: Guia de Orientação. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2002. LOVELOCK, James. Gaia: Cura para um Planeta Doente. São Paulo: Cultrix, 2006. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, São Paulo: Malheiros Editores LTDA. 13ª Ed. 2005. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Status Atual das atividades de MDL no Brasil e no mundo. Disponível em http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/3881.html>, acessado em 18.05.2008. MORIN, Edgard, Ciência com consciência, Mira-Sintra: Europa-América, 1982. OLIVEIRA, Carlos Frederico Saturnino de; BOCAIUVA, Adriana. Protocolo de Quioto, mecanismos de desenvolvimento limpo, créditos de carbono. Aspectos jurídicos. In: Revista Forense. Rio de Janeiro, v.380, pg. 467-475, jul./ago. 2005. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. United Nations Treaty Collection: Treaty Reference Guide. In: <http://untreaty.un.org/English/guide.pdf> OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito, Lisboa: Instituto Piaget, 1995. PALSULE, Sudhanshu S. O Desenvolvimento Sustentável e a Cidade. In: Desenvolvimento Sustentável e a Gestão Ambiental das Cidades: Estratégias a Partir de Porto Alegre. Porto Alegre: UFRGS, 2004. p. 31-57. PANTOJA, Teresa Cristina Gonçalves. Anotações sobre arbitragem em matéria ambiental. Revista de Arbitragem e Mediação, São Paulo, v. 3, n.11, p.81-92, out./dez. 2006. PROTOCOLO DE QUIOTO, editado e traduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, disponível em <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4006.html>, acessado em 15.05.2008. SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. Princípios de Direito Ambiental na Dimensão Internacional e Comparada. Belo Horizonte: DelRey, 2003. SILVA, Bibiana Carvalho Azambuja da Silva. Ciclos dos Projetos de MDL. In: PILLON, Cleiton Nailto (coord.). Atuando no Âmbito do Tratado de Kyoto, Diretrizes para a elaboração de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, obtenção e comercialização de Certificados de Emissão Reduzidas. PELOTAS: Embrapa Clima Temperado, 2005. SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente: Emergências, Obrigações e Responsabilidades, São Paulo: Atlas S.A, 2001.
_______ A Proteção Internacional do Meio Ambiente. Séries Entender o Mundo, Ricardo Seitenfus (coord.), Barueri, SP: Manole, 2003, v.2. _______ Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas, 2004. SOUZA, Okky de; VIEIRA, Vanessa. Países e pessoas agem... Mas alguns Duvidam. Veja, São Paulo, n. 42, p. 90-96, 24 out. de 2007. TABEAUD, Martine. O aquecimento Contemporâneo: entre certeza, controvérsia e dúvida, In: Ciência e Ambiente, Mudanças Climáticas, Santa Maria: UFSM, 2007, n. 34. p.35- 47, jan./jun. 2007. TRIGUEIRO, André. Mundo Sustentável, São Paulo: Globo S.A, 2005. UNFCCC, através do site oficial: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php>, acessado em 02.05.2008. VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental, Belo Horizonte: DelRey, 2004. VENCAT, Emily Flinn. Newsweek (International Ed.), New York, 12 mar. 2007. VICTORIN, Cegép Marie. Portifólio Jeunesse Canada Monde para Aquisição de Certificado em Desenvolvimento Comunitário e Relações Interculturais. Montreal, Canada, 2006. YU, Chang Man. Seqüestro florestal de carbono no Brasil: Dimensões políticas, socioeconômicas e ecológicas. Anablume, 2004.