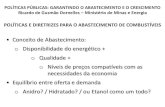quadr
-
Upload
carlos-elson-cunha -
Category
Education
-
view
2.638 -
download
2
description
Transcript of quadr

QUADRO DA ARQUITETUR
A NO BRASIL
essencial
Nestor Goulart Reis FilhoColeção Debates, Editora
Perspectiva, 2ª edição, 1973

Um museu é lugar onde se estimula a atividade criadora, e não apenas acumula criação passada.

Nossos financistas descobrirão que a cultura é uma necessidade humana, e pode ser também um bom negócio.

LOTE URBANO E ARQUITETURA NO BRASIL

Modelo medieval renascentista
A Arquitetura urbana se prende ao lote. Sempre há uma coerência na implantação Seja na construção colonial, nos bairros
cidade-jardim ou nas superquadras de Brasília.
Na construção colonial não há calçadas. O Passeio Público só surge no Rio de Janeiro
no final do século 18. Telhados de 2 águas, sem calhas – a água da
chuva era jogada para a rua e para o quintal.


Mão-de-obra Escrava Baixo custo do trabalhador induz a
pobreza na técnica construtiva. À medida que se aproxima a abolição
aumenta o apuro na técnica.

Casa de terra batida Casa pobre – um pavimento só Casa nobre – dois pavimentos. O térreo
servia como cocheira e área dos escravos. O superior atendia à família, ficando assim livre da sujeira da terra batida.
O comerciante usava o térreo como loja e residia na parte superior.

Chácaras Nobres usavam lotes que uniam a
proximidade da cidade com as vantagens da vida rural.
Lotes maiores permitiam construções também maiores.
As cidades eram desoladas, sendo usadas apenas nos eventos e em festas.
A vida urbana era intermitente Na chácara o mundo rural estava ao alcance
da vista e da voz do homem urbano.

Implantação – 1800-1850 A missão francesa e a fundação da
Academia de Belas Artes contribuiu para melhora
Surgem casas com porão alto. Surgem escadarias, colunas, frontões de
pedra. Implantação continua igual: a casa ocupa
100 por cento do lote. Entrada rente à rua. Não há jardim

Porão mais alto Permite uma separação do nível da rua. Piso da casa mais alto e forrado. Área dos escravos e de serviço fica no
porão. À medida que aumenta o comercio
internacional com o Brasil chegam inovações
Telhado de 4 águas, platibanda, calhas, vidros simples e coloridos. Abandona-se a gelosia e urupemas.


Levantamento e exemplos Nigra Silva – Construtores e artistas do
mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro Cita as ilustrações de João Rocha Fragoso,
que fez levantamento do centro do Rio de Janeiro em 1874.
Resquícios – em São Paulo, rua Santo Antônio e Santo Amaro. Museu Republicano de Itu, Ginásio de Jacareí, sobrado da família Marcondes em Pindamonhangaba

Entrada principal recua Surgem as primeiras calçadas e jardins
fechados com grade para a elite (passeios públicos).
O porão mais alto criou um espaço entre a rua e a porta da sala, pois havia uma escada.
Surge um patamar, antes da sala. Às vezes esse patamar distribuia para dois salões, uma á esquerda e um à direita, além da sala da casa.


1850-1900 Ferrovias e hidrovias levavam máquinas a
muitas cidades, mesmo do interior. Surgem serrarias. Melhora o corte das
pranchas do assoalho, com bom encaixe, que podem ser enceradas.
Surgem lambrequins. Trabalho assalariado envolve técnica mais
apurada. Sylvio Vasconcelos, A Família e a
Arquitetura contemporânea

O espaço externo entra na Arquitetura
A implatação nova causa um recuo de uma das laterais do lote, assim dando espaço a um jardim. Fachada continua rente à rua.
Casa com porão elevado, entrada pela lateral, entre a casa e o jardim.
Surge uma varanda longa: um corredor externo, donde se vê o jardim.
Planta: sala de visitas (rua) > sala de jantar > cozinha > quartos.
Casas menores: poço de luz e fim da alcova.


Após proclamação da República
Surge um estreito corredor, quando a casa se desloca do outro limite lateral do terreno.
Tal corredor leva a cozinha e aos serviços no fundo.
Na fachada este corredor estreito é dissimulado o máximo possível, dando a impressão que a sala, a quem vê da rua, é mais larga.


A fachada recua Plantas em “U” ou “T”. Wc’s com água corrente. Venezianas. Pisos de madeira mais bem acabados,
tapetes. Surge conceito de obsolescência das casas,
pela influência da indústria construtiva. Adobo e taipa de pilão ainda persistem.
Paredes largas. Mudança maior do século 19 se deu na implatanção no lote.

Século 20 Abolição e república não foram suficientes para
romper com o padrão construtivo colonial. Período entre as 2 Grandes Guerras foi
impulsionador. Surge Belo Horizonte. Sistema viário mais largo,
implantação dos lotes antiga. Vila Penteado, em 1930 – São Paulo Fau-Usp, rua Maranhão – exemplo da chácara
urbana. Pé direito mairo, porão alto, fachada reuada, laterais soltas do lote. Arquiteto Carlos Ekmann.

Mansões e cortiços Áreas de serviço ao fundo. Horta,
jardim, animais. Rio de Janeiro – vários ortiços de um
quarto só, voltado para a rua. Bixiga em São Paulo: muitos cortiços,
formando corredores de quartinhos. Às vezes com entrada por duas ruas.
Saint-Hilaire relata ver cortiço com escada.

Anos 40 Prédios: Implantação rente à rua mostra forma colonial.
Inovações apenas nos detalhes e ornamentos. Custo do salário leva a investimento na mecanização. Surgem bairros de periferia, bairros cidade-jardim,
arranha-céus. Prédios começam a se asfastar da calçada.
Casas simples repetem desenho das nobres. Jardim na frente, edícula no fundo e lateral para o carro. Carlos Borges Schmidt: 1940 – persiste a taipa de
pilão

Modernos, mas nem tanto Fachadas modernas escondem elementos
antigos: implantação e grande largura nas paredes, pois as paredes eram estruturais.
Casa de Flávio de Carvalho, entre a rua Agusta e Lorena, tinha uma escada externa levando para o mirante (não para o wc, como diziam os desinformados).
Inovações com Victor Dugubras, consegue propor soluções que prencunciam a vinda do concreto.
Bairros pobres ao longo das ferrovias.

Cia City Constrói os Jardins, em São Paulo. Imita tendência inglesa, mas cria um bairro sem áreas
de convivência. Deslocamento total dos limites do lote, mas com
paralelismo rígido. Garagens ocupam lugar das cocheiras. Sala de
almoço e sala de jantar disfarçavam a segregação colonial.
Ao fundo criação de animais, pomar e cachorros. Tudo excluído da vista do visitante e da rua. Vergonha do mundo rural.
Árvores frutíferas visíveis, só por exigência do dono.

Anões de jardim Fachada tenta ser o mais imponente na calçada. Visita jamais poderia ver o tanque de lavar ou
dependências da empregada. Bancos no jardim, quiosques e anões de louça. Terminam os jardins laterais, quando há é pequeno e
interrompido pela edícula do fundo. Lateral coberta para o carro, levando ao “hall”, que
distribuía circulação horizontal e vertical. Lateral oposta: corredor de serviço. Tacos de madeira, impermeabilização, fim do porão. Nivelamento aproxima a casa de seu jardim

Edifícios residenciais 1930-1940 grande inovação: prédios residenciais Aceito com relutância no começo, pois rompia com
costumes coloniais. Fachadas inovadoras, mais interior buscava repetir
a casa. Alpendres tentavam reproduzir ambientes de origem.
Sala de almoço junto à cozinha. Sala de jantar e estar próxima à sala. Segregação continua.
Venezianas, estuque no forro, janelas guilhotinas, tudo para diminuir a claustrofobia e dar sensação de casa.

Poços, ao invés de áreas. Legislação obrigava prédios no limite do terreno. Limite numa avenida nova em São Paulo: 40 m de altura para edifícios residenciais.
Buscavam-se soluções do século 19, de Hausmann: quarteirões compactados, superpovoados. Revestimentos de pedra e telhados de ardósia repetem as casas.
Valorização da fachada, despretígio dos fundos.
Entrada como bela sala de visitas. Garagens ao fundo.

Ousadia Prédio entre Av. Angélica, S. João e rua Brig.
Galvão. Planta racional, wc para a frente, fachada
simples. O passante pode imaginar que se trata do
fundo de um prédio que dá vista para outra rua.
Era uma exceção. Maioria repetia as casas. Elevador e concreto armado não foram
suficientes para que se avançasse na planta.

Edifícios de escritório Após I Guerra Mundial forte
verticalização: estrutura metálica, concreto armado e elevador.
Exterior e implantação copiam França do século 19.
Desmonte do Morro do Castelo (RJ) trouxe novidades. Pórtico dos prédios nas quadras faz galeria pública. Fundos: serviço e estacionamento.

Indústria Galpões com forma residencial, em tijolos,
rente à rua. A arquitetura ocupava-se dos detalhes. Platibanda alta, escondendo o telhado. Tinham “frente” e “fundo”, como casas. Victor Dubugras inovou nas propostas para
industrias. Soluções mecanicistas: janelas melhores com mais iluminação.
Rino Levi faz uma Fábrica Jardim com tendência arquitetônica inovadora.

1940-1960 Vertiginoso aumento técnico e econômico, com
profundas transformações sociais. Movimento contemporâneo de arquitetura. Ministério da Educação no Rio inicia este movimento. Arquitetos reveêm a implantação. Procuram tirar
melhor proveito do terreno. Estruturas de concreto permitem essa liberdade, paredes seriam apenas para vedação.
Princípios da planta livre permitem buscar a funcionalidade.
Edículas integradas às construções principais. Áreas de serviço usam pequeno espaço ou um corredor lateral. Some o quintal e seu aspecto rural. Maior valorização do espaço social.

Modernismo residencial Some conceito de frente e fundo. Os 3 lados
seriam valorizados com jardins, podendo ser usado com valor. Áreas de serviço podem até aparecer na frente, com pátio murados.
Áreas íntimas são deslocadas para melhor insolação. Paisagismo valorizado, apreço pelas árvores nacionais e pelo capim barba-de-bode.
Reconciliação da habitação com a paisagem. Toda a decoração e detalhes interiores sofrem
influência do modernismo e são redesenhados.

Modernismo afeta a planta Enfraquece o fachadismo e se valoriza a vida
familiar como unidade. Todos os cômodos internos são valorizados,
compondo um grande ambiente, não apenas as salas.
Eletrodomésticos influenciam no projeto dos setores de serviço na casa.
Ao invés de repartir a planta em “salas” e muitos cômodos, buscou-se integrar. Até a cozinha, outrora despretigiada, aparecia ligada à sala.
Diminuem-se as portas, trancas, chaves e trincos.

Valorização do jardim interno Segregação não desapareceu totalmente, mas não
é diretriz. Ao invés de se exibir o jardim para a rua, surge o
jardim interno, comunicando-se com a área íntima. Rino Levi valorizou tanto o jadim interior que o
jardim externo é aberto. Casas como caixa de concreto, voltadas para o pátio interno.
Vilanova Artigas: dois blocos com jardim no meio, ligado por rampas. Lefrève e S. Ferro: jardim interno rodeado pela casa, coberto com elemento plástico para controle ambiental.

Prédios residenciais inovadores
Conjunto de edifícios revolucionários: Parque Guinle – Lucio Costa.
Louveira, de Vilanova Artigas: aproveita a implantação na praça.
Pela primeira vez um edifício não tem quintal. Affonso Eduardo: conjunto residencial
Pedregulho. Enfrentou várias questões ignoradas antes: escola, ambulatório, mercado e praça de esportes comuns para funcionários do antigo Distrito Federal.

Brasília Sério enfrentamento da questão do lote
urbano e a arquitetura. Todas as propostas do concurso aplicavam a
carta de Atenas. Pioneiros no trato da questão urbana junto
com a arquitetônica. Edifícos exploravam a garantia de lus, ar e
sol. Sistemas viários racionalizados, proteção ao pedestre e maior velocidade no transporte.

Lúcio Costa Uma implantação para cada tipo de atividade. Superquadras: todas tocam algum ponto do sistema
viário, ligam-se ao sistema de pedestres que levam ao parque, aos demais blocos de comércio, sem cruzamento com outros sistemas.
Garantido arejamento, insolação, com térreo livre. Não há quintal nem hierarquia nos prédios.
4 quadras compõem uma unidade de vizinhança com serviços maiores: supermercado, creche e cinema.
Fim da separação entre lote urbano e construção. Não há “cota ideal” mas venda do espaço, projeções do
edifício e do direito de construção.

Casas populares em Brasília
Em linhas contínuas, mas com acesso a pedestres, faixas ajardinadas e ruas de serviço.
Setor comercial: acesso pela via dos pedestres. Fundos ficaram abandonados ao contrário do que se previa.
Conseguiu-se uma forma realmente nova e objetiva de implantação. Fim do “quintal”.
Conceito de dois acessos: pedestres e serviço foi usado em vários setores: bancário, hoteleiro etc.
Av. W3 – comércio no térreo, dois pavimentos superiores para escritório.
Faltou a valorização do paisagismo na cidade, o que não apenas uma questão estética, mas elementar.

Uma nova perspectiva O urbanismo racionalista pode liberar as
estruturas urbanas dos velhos modelos, que impedem a adaptação às exigências da sociedade industrial.
Brasília aplicou soluções mais integradoras do que analíticas.
Novas soluções: praça Roosevelt e Anhangabaú, a ser implementado.

A ARQUITETURA BRASILEIRA NO SÉCULO 19

O neo-clássico da Academia Imperial
Construções do começo do século 19 repetiam padrões antigos.
Bairros novos no Rio e Rua da Praia, em Porto Alegre, feita por portugueses, tinham divisões internas setecentistas e sua construção dependia do trabalho escravo.
Casas ainda não tinham água e esgoto. L. L. Vautier, sobre o Recife, em 1840: “no térreo a
loja ou depósito, dando para a rua; ao lado corredor e escada, levando a residência no sobrado com salões na frente, alcovas na parte central e sala de viver aos fundos.”
Apenas algumas construções oficiais ou residências mais ricas saíam deste padrão.

Missão Francesa D. João VI recebeu em 1816 Lebreton, o chefe da
missão cultural francesa, o arquiteto Grandjean de Montigny com mais dois assistentes e diversos artífices para estabelecer no Brasil a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios.
Visava o progresso na agricultura, mineralogia, indústria e comércio. Em 1826 inaugura-se a Imperial Academia de Belas-Artes.
Neoclássicos na arquitetura em dois níveis: nas grandes cidades costeiras, maior contato com o exterior tinham mais refinamento, complexidade e arte na arquitetura.

Grandjean e discípulos Alfândega, o primeiro prédio da Academia de Belas-
Artes, Palácio do Itamarati, Ministério das Relações Exteriores (era uma residência), o Palácio Imperial de Petrópolis e residências para a corte.
Clareza construtiva. Simplicidade da forma. Exploravam poucos elementos, como cornijas e
platibandas, como recursos formais. Pilastras com platibandas representando as estações do ano, as virtudes, os continentes etc. janelas em arcos com vidros coloridos nas bandeiras.
Entradas salientes: escadarias, colunatas e frontões de pedra, segundo normas vitruvianas.

Mansões Novo modelo de organização dos espaços interiores.
Grande valorização decorativa, maior vida social entre as famílias.
Paredes revestidas de papel importado para disfarças imperfeições.
Salas de recepção com pinturas originais no forro, paredes e folhas de portas. Tapeçarias e complexo mobiliário trazendo conforto desconhecido até então.
Surgiram, em algumas regiões, escolas de mobiliário com soluções regionais. Abre-se aos estranhos saletas de música, capelas, corredores e salas de jantar.
Nas melhores casas o serviço era feito por serviçais europeus, ocultando-se os escravos.

Adornos e detalhes Tentavam reproduzir ambiente europeu numa economia
fortemente agrícola e escravocrata e onde todo o mobiliário era importado.
Com a missão houve um apuro na técnica de construir. Arquitetos da Academia no Rio ou Vauthier, no Recife,
usavam grupos de oficiais estrangeiros para levantar paredes de pedras.
Começa a ser usada pela família o pavimento térreo, antes destinado aos escravos e depósito.
Novos pisos de madeira, altos em 1 ou 2 metros do terreno.

Jardim europeu O asilo de São Cornélio: residência em piso
único. Porão alto. Grande cuidado no acabamento das fachadas.
O fundo era simples. Surgem os jardins residenciais, tentando
reproduzir a vegetação dos climas temperados. Cuidados normalmente por jardineiros franceses, tinham apenas árvores e flores européias, exceto as palmeiras, sempre postas em filas repetindo o Jardim Botânico.

Casas simples Província fazia cópias simples das casas das grandes cidades do
litoral. Do poder central emanava uma arquitetura oficial. Aproveitando a força escrava, produziam casas rudimentares.
Taipa de pilão, adobe ou pau-a-pique não permitia uso de colunatas, escadarias e frontões. Restava imitar a platibanda com louças ou vasos, e portas e janelas arredondados e arco de centro abatido, barrôco.
Vêrgas retilíneas arrematada por uma cimalha saliente ou um pequeno frontão. Arco pleno, amiúde na porta principal de entrada.
Portas com bandeiras de ferro, trabalhado e com o ano escrito, para ventilar. Muito usado em armazéns.
Ginásio de Jacareí; casa do Comendador Aguiar Valim em Bananal.

Casas nobres na província Nos sobrados o térreo nunca era usado pela família. Planta do
nível superior repetia o das casas térreas. Sala > alcovas > sala de refeições > varanda > cozinha >
cômodos de serviço: tudo ligado por um corredor lateral; nas mais ricas, um corredor central com desenho simétrico das dependências.
Casas com porão diferenciavam-se do comércio. Escada com 5 ou 6 degraus. Patamar > porta alta acessando
salões laterais. Outro patamar, este protegido por uma porta mais leve, que ficava sempre trancada. A primeira porta costuma ficar aberta, como sinal de hospitalidade.
Na sala 12 ou 24 cadeiras. As da ponta sem braços, as do centro mais altas para pessoas mais importantes. Paredes com 5 metros de altura. Tais casas eram pouco usadas: só em eventos e dias especiais.

Luxo nas fazendas Fazendas de café até final do século 19 eram quase
aldeia. Algumas chegaram a ter linhas particulares de bondes.
Festas, jantares e música fazia a casa da fazenda ter mais movimento que a da cidade.
Professores de piano, europeus contratados, moravam em algumas fazendas para fazer o fundo musical dos eventos e instruir.
Arquitetura avançava pouco. Pintava-se para imitar colunas, arquitraves, frisos e colunatas na fachada. Pintavam-se nas paredes janelas com vista par o Rio ou Europa.

Havia um horror à paisagem tropical, visto na ausência de alpendres e janelas com cenas pintadas.
Jardins eram protegidos por muros e continham plantas européias.

Interpretação do neoclássico Independência não afetou a Arquitetura. A Academia influenciou com o neoclássico, e depois com o
ecletismo. Nos grandes centros até os operários eram importados, para fazer as melhores obras.
Proprietários se consideravam representantes da civilização européia no interior. Aceitavam a corte do Rio como irradiadora dessa cultura.
O classicismo napoleônico era repetido, nem que fosse apenas na aparência. Rejeitava-se as condiçõe locais da sociedade brasileira.
Aburguesamento da arquitetura, especialmente rural. A ferrovia acelerou o processo. Proprietários mudaram-se
para capitais e depois para o Rio, alguns para a Europa.

Modo capitalista fez o proprietário gerir à distância sua fazenda por meio de prepostos, como se fosse um investimento.
Passavam a viver de rendas. A arquitetura era artificial e negava a
paisagem local. O corredor era altamente discriminatório e influência da cidade.
Neoclássico não causou avanço na arquitetura, afetou apenas o plano formal.

As condições da Arquitetura na segunda metade do século
Chegada da família real inicia mudança que ganha muita força na abolição. Café traz o centro produtivo para o sul, deslocando o nordeste. Surge um grau de concentração de riquezas inédito.
Tal concentração move as ferrovias e inicia um mercado interno. Cidades do interior, como Jundiaí, São Paulo e Campinas receberam máquinas e a cultura européia como nunca antes. Equipamentos pesados chegavam por um vigésimo do preço anterior, quando lombos de burro tinham de transportar – se o fizessem.
Surgem o Barão de Mauá e Teófilo Ottoni. Primeiras indústrias: tecido e alimento. Surge a classe
trabalhadora urbana.

Tráfico suspenso em 1850. Chegam imigrantes europeus que ajudam a aprimorar a construção.
Cresce ideal libertário de instrução. A Escola de Educandos e Artífices, mais tarde, Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, 1873, é uma “Sociedade Propagadora da Instrução Popular”. Teve nomes como Ramos de Azevedo, Domiciniano Rossi, Pujol, Dias de Castro, Ricardo Severo e Arnaldo Villares, que sucederam Ramos de Azevedo em sua empresa de engenharia e arquitetura.
Iniciou com mestres europeus e gradualmente formou novos mestres locais. Foi a grande oficina onde se produzia peças de maior responsabilidade.
João da Cruz Costa – História da Ideias no Brasil.

Proprietários vem para as capitais
Nova classe de técnicos, advogados, médicos era positivista e de ideais republicanos.
O século 19 viu grande crescimento no número de prédios, que prosseguiu no século 20. Aumenta abastecimento de água, iluminação, esgoto e surgem primeiras linhas de transporte coletivo.
Aparecem ruas com arborização, iluminação e passeio para pedestres. Proprietários rurais usam ferrovia e navegação para transferirem sua residência para os grandes centros.
Construíam chácaras, como a casa do Conselheiro Antonio Prado, nos Campos Elíseos, sua casa em Higienópolis (iate club) e a chácara do Paraíso, atual hospital Osvaldo Cruz.
Bairros novos substituindo as chácaras: Vila Buarque, Campos Elíseos e Santa Cecília, em São Paulo. No rio: Flamengo, Botafogo e Laranjeiras; em Porto Alegre: Independência; em Salvador: Victória e Campo Grande e no Recife os bairros do continente. Tais bairros tinham grandes lotes e aparência heterogênea.

No final do Império a classe pobre buscando trabalho já era um terço da população das capitais. Surgem bairros proletários.
Decadência das lavouras tradicionais e abolição provoca êxodo rural, criando problemas de habitação. Não havendo trabalho para todos, surgem as favelas nos morros e alagados, cortiços afetando o panorama urbano.
Chegavam muitos imigrantes e eles atuavam na construção e no aspecto da arquitetura urbana.
Aumenta o contraste entre a miséria e as mansões refinadas, que Eça de Queiroz ilustra em As Cidades e as Serras.

Edifícios importados chegavam desmontados aqui. Estação ferroviária de Bananal e a loja Torre Eiffel, no Rio. Maioria dos importados era de madeira – pinho de Riga.
Pequenas residências, tipo chalé suiço. A estação de Paranapiacaba. Peças numeradas, plantas em pés e polegadas, escritas em inglês.
Estações de trem traziam avanço construtivo para o interior.
Chalés modificaram o sentido do telhado de duas águas, e com isso pressupõe um afastamento do vizinho. Inclinação forte, desenho rígido, retilíneo.
Maquinário disponível permitia rebuscamento no acabamento das residências, até como exibição. Alpendres tinham guirlandas ou lambrequins recortados. Surge um frontão na fachada ocultando as calhas.
Evita-se a madeira por preconceito local. Paredes estruturais com tijolos aparentes. Tal uso no chalé era uma criação nacional.

Revestimentos O chalé traz uma referência romântica às casas
montanhesas européias e foi adaptado com materiais locais.
Os técnicos se orgulhavam de imitar com precisão qualquer estilo passado. Os arquitetos podiam apresentar desenhos mais diversos e seriam atendidos.
Paredes mais precisas permitiam a fabricação de portas e janelas padronizadas. Azulejos podiam revestir externamente a parede, ou massa. Começam azulejos no banheiro, tábuas do piso com encaixe macho e fêmea mais preciso, piso hidráulico nos wc e mosaico nas áreas externas: saguão e jardim de inverno.

Telhados Lâminas de ardósia, vindas de Marselha. Forte inclinação, originada nos países nevados, o telhado indica
alto grau de “civilização”. No topo, cobertura metálica, assim como nas cúpulas e torrôes.
Folhas de flandres ou cobre vinham da Europa a custo acessível para fazer calhas e rufos. Beirais de gesso ou madeira, com falsas mãos francesas, ornamentais.Nas fachadas desaparecem os balcões. Parapeito de metal podia ser posto entre as ombreiras da sala.
Bandeira são trocadas por espaletas. Ornamentação superior vai desaparecendo o inferior trocado por jardineiras. Porta de vidros ainda eram externas. Surgem venezianas nos dormitórios. As vezes na parte alta, uma peça de vidro aberta, mas a maioria das venezianas cobria toda a porta.
Janelas de ferro, tipo vitrais nos apendres e jardins de inverno.

Portas de 2 folhas com 3 almofadas. Nas externas as almofadas do centro são trocadas por vidro protegidos por grade de ferro.
Redes de água diminui dependência da mão de obra escrava. Surgem peças para o wc: banheiras, bacias, pias e descarga.
Iluminação a gás valoriza as luminárias. Tubulações de diversos tipos aumentaram a importância do arquiteto planejar a obra.
Muitas peças de ferro, vindas da europa, presentes na obra e no adorno.
O ferro era considerado sem nobreza, não devendo ser exposto. Quando acontecia, nas colunas de varandas, unia-se aos gradis compondo visualmente.

Ferro importado
Conjunto metálico mais importante nas casas. Haviam de todos os tipos: abertos, fechados, com vidro, com telhado separado, abrigado no telhado da casa, salientes, justapostos, com plantas, descobertos etc.
Eram prolongamento das salas de viver e de jantar. Ponto de convivência e permanência de todos. Quase sempre com escadas.
De igual importância eram os portões e grades de rua. Ali se mostrava a importância do morador. Alguns eram monumentais. Os mais simples podiam ser comprado pelo catálogo, assim como balaustres e guarda corpo.
O ferro também aparecia no jardim. Compunha estufas, onde brasileiras cultivavam plantas européias. As mesmas estufas que serviam às européias, que cultivavam plantas tropicais em seus jardins.
Invasão dos ferros importados parece ter atingido o Rio mais fortemente que outras capitais.


As residências no século 19
Modelo mais comum: entrada lateral com jardim. Entrada por uma escada de 2m altura, protegida por uma armação de ferro, coberta de vidro, que levava ao terraço.
Exemplo há ainda na rua Maria Antonia, Jaceguai, Glória ou Liberdade (SP). Visitas usavam esta sala com vista para o jardim, mas a entrada mais usada era a da sala de jantar, que se deslocou para a frente. O corredor levava aos quartos, cozinha e wc. Ventilação e luz vinha de um estreito corredor (1m) na lateral da casa, suficiente para abrir as folhas das janelas e permitir o beiral do telhado.
Terrenos estreitos e longos. Mal cabiam duas salas na frente. Nos mais largos, surgia o jardim. Onde predominava o classicismo, plantas e figuras de mármore. Nas casas feitas sob o ecletismo, fontes, grutas de cimento com estalactites, lagos com pontes de cimento imitando madeira. Nas chácaras, junto ao muro, um mirante.
Alpendre fazia, amiúde, papel de corredor, dando acesso ao cômodos. Assim a casa se voltava para o jardim, não para a rua.

Ecletismo Telhado de 4 águas permite melhor acabamento nos beirais
que olham o jardim. Final do século 19 surgem primeiras casas com jardim
frontal, usando recuo de 3 metros. Isolar a casa dos limites do lote, salvo raras exceções, só acontece no começo do século 20.
Chácaras de luxo: as plantas se organizavam em torno do saguão. Este saguão dava acesso horizontal e vertical, possuía pé direito duplo e era monumental. No alto da escada surgiam balcões em balanços, que forneciam luz diurna. Haviam também janelas tipo vitrais com altura dupla iluminando o saguão.
Térreo havia a sala de música, bibliloteca, sala de visita e “escritórios”, mais usados para encontro de homens e para fumar.

Ecletismo Jardins de inverno com “bow-windows”. Salas e
quartos às vezes se projetavam um pouco da parede, criando um conjunto de janelas estreitas e altas que imitavam pequena varanda. Influencia art nouveau.
Mirantes nos jardins: simples, ou ricamente elaborados. Especialmente nas casas mais altas.
Quando se afastam da rua, as casas eliminam o porão. Móveis europeus, fabricados em série, substituem os locais. Farta decoração com peças mais variadas compunham o interior.
Exemplo de ecletismo: palácio do Catete.

Crítica do ecletismo A evolução da arquitetura do período passa de um trabalho
artesanal, feita na obra, para uma construção feita por técnicos formados por uma escola industrial.
Surgem grandes empresas centralizando o instrumental e as escolas de engenharia.
Liberalidade nos estilos. O ecletismo é um princípio filosófico e político de coexistência entre correntes diversas. Universidade de Paris, em 1830, assume oficialmente o ecletismo.
O movimento neo-gótico é condenado pela academia francesa, em 1846. ele derivou do movimento romântico saxônico chamado “Pitoresco”, que unia elementos chineses, persas, hindus e japoneses. Para o Brasil, importador de produtos e conceitos, o ecletismo era a forma mais fácil de lidar com as discussões estilísticas.

Crítica do ecletismo Neo-gótico repercutiu pouco aqui, mas pode-se
encontrar elemento pitorescos nos jardins, mas enquanto o pitoresco saxão aceitava a natureza e a paisagem, no Brasil tentava-se reproduzir a paisagem européia, de modo que ficamos apenas no ecletismo e não no pitoresco autêntico.
O ecletismo conciliou na arquitetura o tradicionalismo e progresso técnico. Buscava a perfeição da cópia.
É preciso entender o neo-classicismo e o ecletismo para compreender o avanço da arquitetura brasileira no século 20.

SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL

Necessário preservar algumas obras para se compreender a evolução do pensamento arquitetônico nacional.
O custo público do tombamento restringe sua ação. Obras do ciclo do café e da industrialização são pouco valorizadas, em comparação com as do período colonial.
O patrimônio cultural é de valor para as atividades criadoras, ao permitir compreender as origens rurais do brasileiro.
Um museu é lugar onde se estimula a atividade criadora, e não apenas acumula criação passada.

São Paulo sofre a falta de festas populares como meio de estímulo à atividades culturais. Até 1940 a cidade tinha animado carnaval de rua, alegres festas juninas e as itermináveis e tradicionais serenatas, infelizmente proibidas. O turismo é uma consequência e não causa das atividades culturais recreativas.
Paris e Buenos Aires não tem beleza natural. Seus atrativos são resultado da ação de sua população.
São Paulo somente poderá ser um centro turístico se puder dispor de serviços culturais de metrópole, para uso de sua população.
São Vicente tem vestígios mais antigos de formas de agricultura do Brasil, como o engenho do Governador, montado por Martim Afonso de Souza em 1532.

Há um anel de programa cultural na Grande São Paulo: as residências de Sant’ana, Casa Verde, Jaraguá, Caxingui, Butantã, Cotia, S. Roque, Brigadeiro Tobias, Itu, Sorocaba, aldeia de Voturama, São Miguel Paulista, residência jesuítica no Embu e a da Escada, em Guararema.
Engenhos e arquitetura rural bela se acham em: Itu, Campinas, Bragança Paulista, Sorocaba, Engenho d’Água, em Ilhabela, Engenho Santana e Casa da Esperança em S. Sebastião, sobrado do porto em Ubatuba.
Riqueza do café acabou trouxe suntuosa arquitetura e decoração no Vale do Paraíba, Resgate, Rio Alto, Bananal, Fortaleza em S. Luiz, Campinas, Itu, Amparo, Limeira e Ribeirão Preto e São Luis do Paraitinga.
Centros culturais e ações também devem existir nas cidades pequenas.

QUADRO DA ARQUITETURA
NO BRASILessencial
Resumo livre do texto do professor
Nestor Goulart Reis Filho

QUADRO DA ARQUITETURA
NO BRASILessencial
Resumo e ilustrações de Carlos Elson L. da Cunha,
à partir de edição da Coleção Debates
Editora Perspectiva2ª edição, 1973