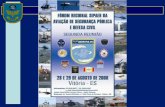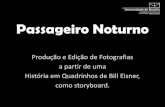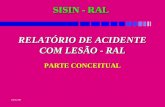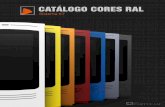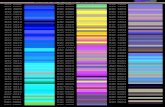RAL 3, FEB1 -NOTURNO-, Rafael Cesar Cirico Garcia
-
Upload
rafael-cirico -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
description
Transcript of RAL 3, FEB1 -NOTURNO-, Rafael Cesar Cirico Garcia
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO SOCIO-ECONOMICO CSE DEPARTAMENTO DE CINCIAS ECONOMIA E RELAES INTERNACIONAIS - CNM
FORMAO ECONMICA DO BRASIL I
Disciplina: CNM 7119 - T05318 Noite - 2015.1
SOBRE A DEPENDNCIA DA ECONOMIA BRASILEIRA DAS SUAS RELAES COM ECONOMIAS EXTRANGEIRAS
RAFAEL CESAR CIRICO GARCIA
10101981
Florianpolis, 29 de Junho de 2015
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO SOCIO-ECONOMICO CSE DEPARTAMENTO DE CINCIAS ECONOMIA E RELAES INTERNACIONAIS - CNM
O objetivo desta pesquisa descrever brevemente a dependncia do Brasil das suas
relaes comerciais com pases estrangeiros desde o incio da sua existncia, e como isso repercute
no cenrio econmico do Brasil at a metade do Sculo XX. Os dois elementos analticos da
pesquisa so: (1) o que determinou a formao e a constituio da econmica brasileira foi as
relaes comerciais que o Brasil manteve com potncias europeias; e, (2) o que resultou disso que
a economia brasileira foi desenvolvida decorrente interesses de vrias naes estrangeiras, e desta
forma, para criar um cenrio que possibilite pleno desenvolvimento econmico do Brasil, ao
considerar os interesses polticos e sociais do povo brasileiro, necessrio que o Brasil liquide com
a dependncia que tem tido do mercado externo.
Para iniciar, recuperarei rapidamente os objetivos e concluses dos dois Relatrios de
Atividades de Leitura feitos at ento, para ento partir para a terceira pesquisa, que decorre dos
outros dois relatrios j realizados. No primeiro relatrio foi descrito como as formas de crdito
que foram desenvolvidas nos Estados europeus foram cruciais para o desenvolvimento da economia
europeia desde o renascimento cultural, e que estas formas de crdito so exatamente o que
garantiram a superioridade da economia de mercado europeia frente s outras economias mundiais.
O que resulta do crdito financeiro o desenvolvimento econmico europeu tendo como
fundamento o mercantilismo e a monopolizao do comrcio por grandes negociantes; uma vez que
se torna possvel a acumulao de capital por estes negociantes, h a criao de grandes
empreendimentos privados de carter multinacional. Desta forma, a partir do momento em que estes
grandes negociantes europeus buscam lucro em suas atividades, podemos utilizar a concluso que
Fernand Braudel deu ao segundo captulo do seu livro A dinmica do capitalismo para apresentar o
carter que esta nova economia multinacional tem:
(...) se o grande comerciante muda com tanta frequncia de atividade porque o grande lucro muda incessantemente de setor. O capitalismo , por
essncia, conjetural. Ainda hoje, uma de suas grandes foras a sua
facilidade de adaptao e de reconverso (...) [No entanto] Privilgio da minoria, o capitalismo impensvel sem a cumplicidade ativa da sociedade
(BRAUDEL, 1987:42-43).
Ao continuar com a descrio, no segundo relatrio de leitura foi dada continuao a esta
argumentao proposta por Braudel para analisar os interesses dos Estados europeus na colonizao
do Brasil e os resultados decorrentes dos empreendimentos europeus na conjuntura do que viria a se
tornar o pas Brasil. bom deixar claro que o nico interesse do capital europeu nesta primeira grande
empresa agrcola, o Brasil, era a gerao de lucro para as metrpoles europeias, e no caso do Brasil, os
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO SOCIO-ECONOMICO CSE DEPARTAMENTO DE CINCIAS ECONOMIA E RELAES INTERNACIONAIS - CNM
grandes investidores eram portugueses, holandeses e ingleses. Desta forma, ao analisar as relaes que
Portugal os principais colonizadores do Brasil mantinha com outros Estados europeus, possvel
notar quais economias que norteavam as atividades da colnia. Em um primeiro momento, holandeses
financiaram a construo da empresa agrcola portuguesa no Brasil. Logo, desde o incio da colonizao
portuguesa, o Brasil j possua uma dvida com outra nao, dvida que foi necessria para possibilitar o
empreendimento portugus. Em um segundo momento, em decorrncia do controle espanhol sobre
Portugal no Sculo XVII, os portugueses firmam uma aliana com a Inglaterra para garantir a mutua
defesa em caso de serem atacados por naes invasoras. Desta aliana houve concesso de privilgios
para os comerciantes ingleses, e ao se tornar um vassalo comercial ingls, Portugal passa novamente a
ser sobrepujado por outro Estado devido a sua grande dependncia do capital estrangeiro. Este acordo
tambm obrigou que Portugal renunciasse a todo desenvolvimento manufatureiro no Brasil, uma vez
que a Inglaterra tinha o interesse em preservar o comrcio de produtos industrializados com a colnia.
Desta forma, no apenas Portugal foi subjugado pelos interesses do capital ingls, mas tambm o que
estava se tornando a colnia que viria a ser a nao brasileira. O processo de industrializao brasileiro
ficou em atraso perante outras naes desenvolvidas, e forou que o Brasil mantivesse uma relao de
dependncia de naes amigas Estados imperialistas como o caso da Inglaterra. Neste
sentido, o Brasil se fundamentou enquanto um pas exportador de matrias primas commodities
aos pases desenvolvidos, que viriam a vender seus produtos agora transformados,
industrializados a naes como o Brasil, sendo que estes foram produzidos com a matria prima
proveniente da colnia. Furtado ainda diz que:
Sendo uma grande plantao de produtos tropicais, a colnia estava intimamente integrada nas economias europeias, das quais dependia. No
constitua, portanto, um sistema autnomo, sendo simples prolongamento de
outros maiores (FURTADO, 2009:96).
No fim da poca colonial houve um momento de ingnua euforia. Celso Furtado prope
que uma srie de acontecimentos polticos tiveram repercusses nos mercados mundiais de
produtos tropicais desde o final do Sculo XVIII e influenciaram drasticamente a economia
brasileira, como a guerra de independncia dos EUA, a Revoluo Francesa e as guerras
napolenicas (FURTADO, 2009:92). Em meios a estes acontecimentos e crises na jovem economia
brasileira, o mercado do acar se mostrava esfriado, e em meio a dificuldades financeiras o caf
surge como uma nova fonte de riqueza para o pas. J nos anos 30 do Sculo XIX o caf se firma
como principal elemento da exportao brasileira. No entanto, em decorrncia de uma baixa nos
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO SOCIO-ECONOMICO CSE DEPARTAMENTO DE CINCIAS ECONOMIA E RELAES INTERNACIONAIS - CNM
preos das exportaes brasileiras, entre 1821-30 e 1841-50, de cerca de 40 por cento, o nvel da
renda da populao brasileira acaba caindo (FURTADO, 2009:108-110). No obstante, uma vez que
a economia brasileira estava em decadncia e a arrecadao de impostos era baixa uma medida
econmica para no minar o consumo da populao e reduzir o capital de investidores , o Brasil
no tinha bom crdito para contar com a cooperao do capital estrangeiro desta vez; logo, a
economia deveria retomar o crescimento com seus prprios meios (FURTADO, 2009:113). Desta
forma, ao levar em conta os meios que os investidores brasileiros poderiam buscar realizar
empreendimentos bem sucedidos seria ao utilizar o bem mais precioso que o Brasil possua em
(infindvel) quantidade: a terra. Desta forma, a economia cafeeira se desenvolveu, e pela primeira
vez o Brasil encontrava seus prprios meios para desenvolver sua economia.
Na segunda metade do Sculo XIX a economia brasileira podia ser dividida em trs setores
principais como prope Furtado:
O primeiro, constitudo pela economia do acar e do algodo e pela vasta zona de economia de subsistncia a ela ligada, se bem que por vnculos cada
vez mais dbeis. O segundo, formado pela economia principalmente de
subsistncia do sul do pas. O terceiro, tendo como centro a economia
cafeeira (FURTADO, 2009:144).
Entretanto, mesmo com o advento do caf, o ritmo de crescimento brasileiro tem relativo
atraso, que devido ao Brasil no ter conseguido se integrar nas correntes em expanso do
comrcio mundial durante essa etapa de rpida transformao das estruturas econmicas dos pases
mais avanados, e desta forma, criaram-se profundas dessemelhanas entre seu sistema
econmico e os daqueles pases (FURTADO, 2009:151). Uma vez que o Brasil havia sempre
dependido at ento do seu comrcio com o exterior, ao no acompanhar o compasso do
desenvolvimento econmico e social destas outras naes, o Brasil se encontrou perdido em meio
s mudanas ocorridas no Sculo XIX. Entretanto, os efeitos econmicos da economia cafeeira
foram a elevao do salrio mdio no pas, que refletia um aumento de produtividade que ia se
alcanando atravs da transferncia de mo de obra da economia estacionrio de subsistncia para a
economia exportadora. A mo de obra havia se reforado no pas devido ao forte fluxo imigratrio.
Tambm, os empresrios cafeicultores puderam reter grande parte dos lucros de suas atividades,
pois no havia presso que o obrigasse a transferi-los para os assalariados (FURTADO, 2009:162).
Essa situao representava uma defesa do nvel de emprego dos assalariados e a concentrao de
renda por parte dos empresrios, ao levar em conta a transferncia da economia brasileira que tinha
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO SOCIO-ECONOMICO CSE DEPARTAMENTO DE CINCIAS ECONOMIA E RELAES INTERNACIONAIS - CNM
como base a mo de obra escrava para uma economia de mo de obra assalariada.
No entanto, uma dcada aps o fim da Primeira Guerra Mundial, tem incio nos Estados
Unidos a Crise de 1929. Os impactos da crise na economia cafeeira foram grandes, e uma vez que a
demanda por caf caiu intensamente, os preos do caf tambm caram. Os estoques das grandes
fazendas cresceram, e Furtado aponta que fazia-se indispensvel evitar que os estoques
invendveis pressionassem sobre os mercados acarretando maiores baixas de preos (FURTADO,
2009:185). Para evitar que ocorressem maiores perdas ao setor cafeeiro, decidiu-se pela destruio
dos excedentes das colheitas, como forma de sustentar os preos do caf, sem abandonar a
produo. Aps alcanar seu ponto mais baixo em 1933 uma vez que a produo deste ano havia
sido a maior at ento , a cotao internacional do caf se mantm quase sem alterao at 1937,
para em seguida cair ainda mais nos dois ltimos anos do decnio (FURTADO, 2009:186).
Ao analisar as descries at ento realizadas da formao da economia brasileira at
pouco antes da Segunda Guerra Mundial, possvel concluir que a dependncia brasileira das suas
relaes comerciais que o Brasil mantinha com pases estrangeiros tendeu a colocar o Brasil em
situaes econmicas demasiadamente complicadas quando estas outras economias se encontravam
em declnio. Assim, houve vrias transformaes na economia brasileira desde a segunda metade do
Sculo XIX, de uma economia escravista para uma baseada no trabalho assalariado, e na primeira
metade do Sculo XX a emergncia de um sistema cujo centro dinmico o mercado interno. Ao
considerar a importncia do mercado interno para a economia brasileira, os anos em que o Brasil
tem uma maior capacidade de importar so nos anos entre guerras no caso, nos anos em que as
economias europeias esto se recuperando dos efeitos negativos das guerras , compreendendo de
1920-29, e de 1946-54, momento em que o Brasil alcana um ritmo de crescimento intenso. Furtado
complementa ao apresentar dados estatsticos do crescimento econmico brasileiro decorrente da
conjuntura acima apresentada:
A base estatstica mais slida de que se dispe a partir do censo econmico de 1920 permite formar-se uma ideia mais precisa do ritmo de crescimento
da economia brasileira. Entre aquele ano e 1929, a taxa mdia anual de
crescimento do produto foi da ordem de 4,5 por cento. No perodo
compreendido entre 1929 e 1937, essa taxa se reduz a 2,3 por cento. No
decnio seguinte (1937-47) h uma ligeira elevao para 2,9, e finalmente
no ltimo decnio (1947-57), assinala-se uma elevao substancial para 5,3
por cento. Considerado em conjunto o perodo 1920-57, constata-se uma
taxa de 3,9, que corresponde aproximadamente a 1,6 por cento por
habitante. A taxa de 1,6 por cento de crescimento anual per capita, a longo
prazo, aproxima-se bastante da que obtivemos de forma muito imprecisa
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO SOCIO-ECONOMICO CSE DEPARTAMENTO DE CINCIAS ECONOMIA E RELAES INTERNACIONAIS - CNM
para a segunda metade do sculo XDC (FURTADO, 2009:230-231).
Logo, possvel concluir neste relatrio de leituras que, em um primeiro momento, o
veculo que permitiu a construo do empreendimento chamado de Brasil foi a aquisio de dbitos
e favores de portugueses com outras potncias europeias. O Brasil estava devendo para outras
naes desde o incio. No decorrer dos sculos, o Brasil se manteve em uma relao passiva com
estas potncias em decorrncia dos acordos poltico-econmicos que os portugueses haviam
firmado com outros Estados europeus. Isto fez com que a produo de commodities no Brasil
houvesse se desenvolvido para abastecer os interesses do mercado externo, do qual o Brasil
mantinha completa dependncia, at que foi capaz de ampliar o seu mercado interno. evidente
que a economia brasileira na atualidade ainda reflete o posicionamento que o Brasil possua perante
as outras potncias mundiais. Ficou claro tambm que uma vez que os pases desenvolvidos se
encontram em situaes de crises financeiras, o Brasil no consegue vender seus produtos no
mercado externo, e a sua economia entra, por conseguinte, em recesso. Desta forma, possvel
concluir finalmente que quanto mais o Brasil quebra as amarras que mantm com o mercado
externo e fortalece o seu mercado interno, mais o Brasil se solidifica economicamente perante as
outras potncias globais. H de chegar o momento em que o Brasil ir redescobrir o seu
posicionamento perante as outras economias mundiais, para finalmente assumir um local
imperativo perante estas.
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO SOCIO-ECONOMICO CSE DEPARTAMENTO DE CINCIAS ECONOMIA E RELAES INTERNACIONAIS - CNM
Referncias Bibliogrficas:
BRAUDEL. Fernand. A dinmica do capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. (traduo lvaro
Cabral)
FURTADO, Celso. Formao Econmica do Brasil. 21 ed. So Paulo: Nacional, l986.
Outras Referncias Fundamentais:
ALVIM. Valdir. Introduo ao mtodo terico: investigao sobre as coisas do mundo.
Florianpolis, mimeo, 2012.
BALEEIRO, Aliomar. Introduo a Cincia das Finanas. So Paulo, Forense, 2010, 548p.
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala: formao da famlia brasileira sob o regime da
economia patriarcal. 51 ed. So Paulo: Global, 2006.
MARX, Karl. O mtodo da economia poltica. In.: Contribuio Crtica da Economia Poltica.
So Paulo: Martins Fontes, 1977, p. 218-226.
PRADO JNIOR, Caio. Histria Econmica do Brasil. 30. ed. So Paulo: Brasiliense, 1984.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: as matrizes tupy, Lusa e Afro. So Paulo: TV Cultura
(Fundao Padre Anchieta), srie - Vdeo. [90min]