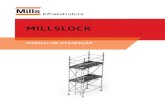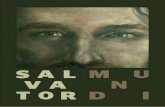Recensão crítica - Pluralidade na teoria das Elites - O contributo de C. Wright Mills em análise
Click here to load reader
-
Upload
goncalo-marques -
Category
Documents
-
view
341 -
download
0
description
Transcript of Recensão crítica - Pluralidade na teoria das Elites - O contributo de C. Wright Mills em análise

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO
LICENCIATURA EM SOCIOLOGIA
ANO LECTIVO DE 2010/11
PLURALIDADE NA TEORIA DAS ELITES:
O CONTRIBUTO DE C. WRIGHT MILLS EM ANÁLISE
Autor:
Gonçalo Marques Pereira Soares Barbosa
Realizado para a unidade curricular de Sociologia do Poder Político,
leccionada pelo docente Virgílio Borges Pereira
Porto, 27 de Junho de 2011

1
Notas introdutórias
Esta recensão crítica foi produzida no âmbito da unidade curricular de Sociologia do
Poder Político, do 1º ciclo de estudos em Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade
do Porto. Pretende-se aqui um duplo objectivo: uma breve análise e síntese à obra A Elite do
Poder, de C. Wright Mills, a par do seu enquadramento histórico no pensamento sociológico
e de um cruzamento de perspectivas que possibilite uma análise crítica a esta obra central para
a sociologia do poder e das elites.
I – Da teoria do elitismo aos contributos de C. Wright Mills
A teoria da elite surge como uma alternativa à teoria das classes. «Enquanto a teoria
das classes, criada por Karl Marx, emerge durante o século XIX, a teoria das elites emergiu
apenas na viragem e no início do século XX.» (Smelser, 2001, p. 4421). As suas influências
são múltiplas: como o marxismo, dividem as sociedades em dois grupos opostos; como
Weber, indicam uma maior importância da dimensão política do que da económica; como o
funcionalismo, «[…] admitem, frequentemente a indispensabilidade da desigualdade social:
as elites são necessárias e funcionais para a sociedade.» (Ferreira, 1995, p. 372) e como os
individualistas destacam o papel do indivíduo na construção da história.
O conceito de elite foi introduzido na sociologia por Vilfredo Pareto, que considerou
que «[...] a elite é formada por todos aqueles que manifestam qualidades excepcionais ou que
dão provas de aptidões eminentes no seu campo ou em qualquer actividade.» (Rocher, 1977,
p. 9); associando assim os membros superiores da sociedade àqueles com mais poder e
prestígio. Por outro lado, põe em causa o carácter hereditário do poder na nobreza, no âmbito
da teoria da circulação das elites. Considera antes que realiza-se «[…] incessantemente uma
substituição das elites antigas por novas elites, provenientes de camadas inferiores da
sociedade» (Rocher, 1977, p. 10), assegurando que os espíritos superiores conseguem realizar
uma mobilidade ascendente. De acordo com o sociólogo, «I use the word elite… in its
etymological sense, meaning the strongest, the most energetic, and most capable – for good as
well as evil» (cit. por Clegg, 2006, p. 344).
A par de Pareto, podemos destacar outros dois autores clássicos do elitismo: Gaetano
Mosca e Robert Michels. O primeiro aponta para uma rigidez da organização social, com

2
«[…] uma forte tendência para os governantes se manterem no poder» (Ferreira, 1995, p.
372), seja por direito ou por hereditariedade; argumenta ainda que a elite não é homogénea e
encontra-se estratificada, com um núcleo dirigente a corresponder a uma super-elite dentro da
elite, sendo esses dirigentes que explicam a história na totalidade (Rocher, 1977). Já o
segundo, em linha com os outros dois autores clássicos, reforça a inevitabilidade histórica da
existência das elites, considerando que «[…] todas as organizações possuem em comum uma
elite dirigente, que tende a manter-se no poder e a salvaguardar as suas prerrogativas»
(Ferreira, 1995, p. 373).
Já nos anos 50, Mills lança a sua obra A Elite do Poder: mais estrutural, ao centrar a
análise nas instituições; mais empírica, por se apoiar na investigação histórica; e mais
localizada, ao analisar a América contemporânea (IDEM, Ibidem). Um dos principais
contributos do autor foi dissociar a noção de elite da de classe social; por outro lado, apontou
para uma unidade da elite: «[…] as elites associam-se para formar uma unidade de poder que
domina a sociedade.» (Rocher, 1977, p. 14), existindo ainda uma semelhança ao nível
psicológico: «[…] semelhança de ideias e de mentalidades, devido a terem a mesma origem
social, a mesma educação; laços de amizades, laços de parentesco, de casamento, troca de
favores […]» (IDEM, Ibidem, p. 15), reforçando as interligações entre os vários membros
dessa comunidade de elite. «Probably they are not formally organized; their unity is achieved
by go-betweens, through informal associations, through the interchange of positions.»
(Alexander, 1997, p. 281). Este sociólogo do elitismo rotulou-se como pleno marxista, mas
encarando-o num sentido particular: «[…] an approach to social phenomena, a method for
studying them, and a system of values by which to judge societies and to formulate programs
of action.» (IDEM, p. 279). Contudo, Mills observou que as várias variantes do Marxismo
utilizavam sempre o modelo que Marx usou para uma sociedade capitalista, aplicando-o a
uma pluralidade de sociedades, conduzindo assim a previsões falaciosas. Por outro lado, nega
o domínio da infraestrutura: «He denies that the “superstructure” of society – the prevaling
ideas and institutions – is always the reflection of the economic base.» (IDEM, Ibidem, id).
II – Uma análise à elite americana
«A elite do poder é composta de homens cuja posição lhes permite transcender o
ambiente comum dos homens comuns, e tomar decisões de grandes consequências.» (Mills,

3
1981, p. 12). O sociólogo considera que este conjunto de homens poderá ser visto como um
estrato social elevado, ou um «[…] círculo íntimo das classes sociais superiores.» (Mills,
1981, p. 20), que apresentam um elevado grau de fechamento: «Aceitam-se, compreendem-se,
casam entre si, e procuram trabalhar e pensar, se não juntos, pelo menos de forma
semelhante.» (Mills, 1981, p. 20).
O autor elitista distancia-se de Mosca ao referir que o facto destes membros serem os
decisores de importância na sociedade, não implica que sejam sempre eles a escreverem a
história, já que «[…] o poder de seus membros está sujeito a variações históricas.» (Mills,
1981, p. 30); a elite não domina de forma contínua e absoluta.
Olhando para o plano americano, Mills considera que «[…] a base do poderio nacional
está hoje nos domínios económico, político e militar. As demais instituições são marginais
para a história moderna e, ocasionalmente, subordinadas àquelas três.» (Mills, 1981, p. 14).
Instituições como a família, a igreja ou a escola representam meras fontes de legitimação dos
anteriores, a tal ponto que «[…] os símbolos de todas essas instituições menores são usados
para legitimar o poder e as decisões dos três grandes.» (Mills, 1981, p. 14). Enquanto o
primeiro grupo faz a vida moderna, o segundo adapta-se a ela. Aquelas três instituições
centrais apresentam ainda uma extrema interligação, já que há «[…] uma economia política
ligada, de mil modos, às instituições e decisões militares.» (Mills, 1981, p. 16).
«Na cúpula de cada um desses três domínios ampliados e centralizados surgiram as
altas rodas que constituem as elites económica, política e militar.» (Mills, 1981, p. 17). Quem
detém o poder? «Entendemos como poderosos naturalmente os que podem realizar sua
vontade, mesmo com resistência de outros.» (Mills, 1981, p. 18). Para termos poder e para
que este seja continuado no tempo, é condição pertencer e estar ligado a esses meios.
Novamente em ruptura com os clássicos, desta vez com Pareto, Mills refere que
algumas perspectivas teóricas argumentam que os membros da elite representam «[…]
pessoas de carácter e energias superiores.» (Mills, 1981, p. 22), convirá ter em conta que
actualmente «[…] os homens escolhidos para e modelados pelas posições mais importantes
têm muitos porta-vozes e conselheiros, escritores fantasmas e contactos que lhes modificam
os conceitos e criam deles imagens públicas, bem como influem em muitas de suas decisões.»
(Mills, 1981, p. 24); mas ao mesmo tempo seria possível interligar esta última afirmação à
circulação das elites de Pareto, quando este argumenta que “Enquanto a elite que governa
seja composta por pessoas com qualidades de excelência e está aberta a absorver os mais

4
talentosos da não elite […] assegura a circulação das elites, que mantém o equilíbrio na
sociedade […]» (Smelser, 2001, p. 4421).
A par dos políticos profissionais e das suas equipas, Mills também inclui nesta elite do
poder as celebridades profissionais, «[…] vivendo de serem exibidas constantemente, mas
que nunca, enquanto permanecem celebridades, são exibidas o suficiente.» (Mills, 1981, p.
12). Mesmo elas não surgem de forma isolada na elite, já que «Até mesmo a celebridade
aparentemente mais livre é, quase sempre, uma espécie de produção sintética feita
semanalmente por um quadro de pessoal disciplinado que sistematicamente pondera o efeito
de piadas que a celebridade “espontaneamente” reproduz.» (Mills, 1981, p. 24).
As celebridades representam «[…] Os Nomes que não precisam de melhor
identificação. O número de pessoas que as conhecem excede o número de pessoas que as
conhecem excede o número de pessoas que elas conhecem. Onde quer que estejam, as
celebridades são reconhecidas e, o que é mais importante, reconhecidas com emoção e
surpresa. Tudo o que fazem tem valor publicitário.» (Mills, 1981, p. 87). São um grupo que
não vive da hierarquia da riqueza ou da origem social, mas sim da hierarquia da publicidade:
«Neles, a ânsia de prestígio tornou-se uma ambição profissional: a própria imagem que de si
fazem depende da publicidade, da qual necessitam em doses cada vez maiores.» (Mills, 1981,
p 90).
O sociólogo elitista aponta que na sociedade actual há uma tendência para surgirem
híbridos dos dois tipos de elementos da elite do poder referidos acima: um indivíduo do meio
político mas que, ao mesmo tempo, procura o prestígio e socorre-se dos meios de
comunicação como forma de se auto-promover; as «Figuras públicas mais sérias também têm
hoje de competir pela atenção e aclamar os profissionais dos meios de comunicação em
massa.» (Mills, 1981, p. 91). Os gestos, a espontaneidade ou a naturalidade são elementos
treinados para a câmara. Desta forma, será possível distinguir três grupos que, de forma mais
ou menos efémera, surgem no mundo da celebridade: as celebridades profissionais, de que
são disso exemplo indivíduos do entretenimento, desporto ou arte; os 400 metropolitanos, que
correspondem às pessoas de linhagem e de recursos familiares; e ainda os “Novos 400”, que
representam a maioria e correspondem fundamentalmente aos homens do governo e das
empresas.
Tendo em consideração a acepção de elite do poder que o autor apresenta na sua obra,
é possível distinguir dois tipos de sociedade: por um lado, a sociedade de público,

5
caracterizada por não ter uma elite do poder e, por outro lado, a sociedade de massas, com
uma elite do poder. Segundo Mills, no século XIX viveu-se um período de transição do
primeiro para o segundo tipo: «[…] o individualismo começara a ser substituído pelas formas
colectivas da vida económica e política; a harmonia de interesses dava lugar à desarmoniosa
luta de classes e pressões organizadas; as discussões racionais eram minadas pelas decisões de
peritos nos assuntos complicados, […]» (Mills, 1981, p. 354). O que provoca esta transição de
uma sociedade para outra? «[…] há um movimento de substituição dos pequenos poderes
dispersos pelos poderes concentrados, e a tentativa de monopolizar o controle dos centros
poderosos que, estando parcialmente ocultos, são centros de manipulação bem como de
autoridade.» (Mills, 1981, p. 357).
A sociedade de público pode ser entendida como tendo o poder disperso, já que a
proporção daqueles que formam a opinião está equilibrada com aqueles que a recebem, sendo
que qualquer um pode responder a essas opiniões, sem sofrer represálias. Deve ser encarada
como uma sociedade onde a opinião é formada pela intensa discussão entre múltiplas opiniões
e onde «[…] as instituições de autoridade não penetram no público, que é mais ou menos
autónomo em suas operações.» (Mills, 1981, p. 356).
Por outro lado, a sociedade de massas é onde «[…] o número de pessoas que
expressam opiniões é muito menor que o número de pessoas para recebê-las […]» (Mills,
1981, p. 356). Em contraponto com a de público, há uma maior «[…] facilidade com que a
opinião modela efectivamente as decisões de grandes consequências.» (Mills, 1981, p. 355).
As instituições conseguem penetrar nas massas e retirar-lhes a independência. Enquanto na
primeira sociedade existe um conjunto de pequenas comunidades que estão em extrema
interacção, nesta existe um conjunto reduzido de mega associações, que se mostram
incomunicáveis a um grande conjunto de pequenas comunidades ou famílias: «As unidades
efectivas do poder são actualmente a grande empresa, o governo inacessível, o sombrio
estabelecimento militar.» (Mills, 1981, p. 361). O autor considera mesmo que «[…] não
encontramos associações intermediárias nas quais os homens possam sentir-se seguros e com
as quais se sintam poderosos.» (Mills, 1981, p. 361-362). «Tão logo um homem chega a líder
de uma associação bastante grande para ter importância, deixa de ser um instrumento dessa
associação.» (Mills, 1981, p. 360).
O autor refere que o ponto extremo de uma sociedade de massas, da qual os EUA se
encontram mais próximos, corresponde a regimes extremistas: «No fim da estrada está o

6
totalitarismo, como na Alemanha nazista, ou na Rússia comunista.» (Mills, 1981, p. 357).
Como solução à sociedade massas, Mills refere que «Pela reflexão, pelo debate e pela acção
organizada, uma comunidade de públicos adquire personalidade e passa a ser realmente activa
em pontos de relevância estrutural» (Mills, p. 375).
Robert Dahl afasta-se do conceito de sociedade de massas quando nos apresenta um
outro conceito criado por si, o de poliarquia, que corresponde a uma estrutura política que
oferece possibilidades a uma grande diversidade actores; «Poliarchy is an ambivalent power
structure enabling both official recognition of a plurality of members and political actors, the
right to disagree with the leaders, and the simultaneous concentration of political power.»
(Clegg, 2006, p. 338); corresponde a uma estrutura altamente inclusiva e aberta à contestação
pública, desde que não cause rivalidades dentro da política; corresponde, no pensamento de
Dalh, a uma aproximação imperfeita à democracia (Clegg, 2006).
III – Revisão crítica da obra de Mills
Uma crítica que poderá ser feita a Mills é o facto de este ter negligenciado as
chamadas elites ideológicas, em particular as que «Podem ser elites influentes, mas sem
autoridade oficial: é, por exemplo, o caso das contra-elites […]» (Rocher, 1977, p. 25). O
autor é acusado de não ter em conta «[…] o papel das contra-elites, nomeadamente das
contra-elites ideológicas, na acção histórica.», que são frequentemente uma forma de oposição
e contestação à elite do poder, que procura sempre a estabilidade e foge da mudança social.
Estas elites são tendencialmente postas em causa quando se deixam levar pelo sonho, pela
utopia e por viagens ao extremismo (Rocher, 1977).
Putman propõe um modelo de estratificação política que denuncia o recrutamento
desigual entre a composição da elite e da estrutura social, conseguindo incluir a dimensão
ideológica que faltou a Mills. No topo dessa estratificação surgem os decisores e aqueles que
lhes são próximos, logo seguidos dos que influenciam. Mais abaixo, surgem os activistas,
para depois darem lugar aos participantes atentos, aos votantes e por fim aos não participantes
(Clegg, 2006).
Outro aspecto referido pelos críticos, e que poderá estender-se aos restantes teóricos
do elitismo, é a excessiva semelhança que é conferida à elite em todo o tipo de regime, já que

7
«Houve pouco a dizer naquilo que faz com que a democracia (com todas as suas iniquidades)
seja um regime diferente.» (Smelser, 2001, p. 4421).
A sociologia relacional de Pierre Bourdieu também apontou alguma falhas a este
corpo teórico. Por um lado, o sociólogo francês afirma que «[…] a teoria das elites tenderia a
naturalizar as propriedades sociais distintivas dos grupos dominantes, como se fossem
recursos inerentes à superioridade inata de seus membros.» (Perissinotto, 2008, p. 10). A par
disso, assiste-se a uma «[…] incapacidade de esses pesquisadores adoptarem uma perspectiva
relacional dos grupos estudados.» (Perissinotto, 2008, p. 10), devendo considerar que as
características que os elementos dessa elite possuem são simplesmente o resultado da posição
que estes ocupam no espaço social. No fundo, Bourdieu argumenta que os estudos
sociográficos das elites não trazem nada além disso mesmo, uma mera descrição sem análise à
estrutura e funcionamento da sociedade.
Contudo, seria possível ponderar uma união entre a sociologia relacional de Bourdieu
e a sociologia das elites sociais e políticas: se pensarmos na elite como o grupo que detém o
poder, corresponde àquele que se encontra numa posição dominante: «Ter (mais) poder
significa ter (mais) recursos que a posição objectiva (dominante) coloca à disposição dos
agentes (dominantes) […]» (Perissinotto, 2008, p. 12).
A defesa da homogeneidade desta elite é outro ponto de discórdia na sociologia, já que
reduz o espectro analítico de uma sociedade aberta, em particular a democrática. Surge, assim,
em contraponto, o contributo de Mosca, que identifica três camadas pertencentes à elite: a
camada superior, pertencente ao nível macro ou nacional, que inclui os líderes políticos; o
nível intermédio, que reporta para os que possuem poder ao nível de sectores ou localidades,
como os presidentes da câmara; e ainda a camada inferior, associada a um nível micro, com
elites de pequena dimensão, como sejam os reitores de universidades ou as organizações
locais (Smelser, 2001).
Verifica-se, por fim, uma fraca distinção entre as noções de autoridade e poder. Mills e
Mosca consideram que «[…] as elites são compostas exclusivamente de pessoas ou grupos
que ocupam posições de autoridade ou de poder.» (Rocher, 1977, p. 18). Contudo, esquecem-
se que há pessoas que «[…] fazem igualmente parte das elites graças à influência que
exercem, sem ocuparem cargos de autoridade e sem terem poder reconhecido.» (livro, p. 18).

8
Referências bibliográficas consultadas:
ALEXANDER, Jeffrey; BOUDON, Raymond; CHERKAOUI, Mohamed (1997) – The
Classical Tradition In Sociology: The American Tradition (Volume III). London: SAGE
Publications. ISBN 0-7619-5325-6
CLEGG, Stewart; COURPASSON, David; PHILLIPS, Nelson (2006) – Power and
Organizations. London: SAGE Publications. ISBN 978-0-7619-4391-4
FERREIRA, J. M. Carvalho [et. al] (1995) – Sociologia. Alfragide: Mc Graw Hill. ISBN 972-
9241-79-1
MILLS, C. Wright (1981) – A elite do poder. 4.ª ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
PERISSINOTTO, Renato M.; CODATO, Adriano (2008) – Apresentação: por um retorno à
Sociologia das Elites. Revista Sociologia Política. Vol. 16 (2008), n.º 30, p. 7-15. ISSN:
0104-4478
ROCHER, Guy – Sociologia Geral: Volume 5. 2.ª ed. Lisboa: Editorial Presença.
SMELSER, Neil J.; BALTES, Paul B. (2001) – International Encyclopedia of the Social and
Behavioral Sciences: Volume 7. Oxford: Elsevier. ISBN 0-08-043076-7




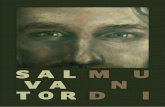

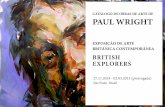


![WEBER. Intro [Gerth e Mills]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/56d6bded1a28ab30168fdb77/weber-intro-gerth-e-mills.jpg)