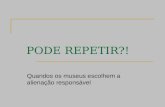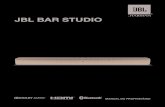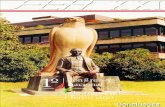REGRAS DE ESCRITA DE TRABALHOS ESCOLARES, · PDF fileinformação relevante para...
Transcript of REGRAS DE ESCRITA DE TRABALHOS ESCOLARES, · PDF fileinformação relevante para...
REGRAS DE ESCRITA DE TRABALHOS ESCOLARES,
TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICO E DISSER-
TAÇÕES DE MESTRADO
SEGUNDO AS NORMAS DA APA
HELENA ESPÍRITO SANTO (E OUTROS QUE VENHAM A COLABORAR)
Coimbra
2009
I N S T I T U T O S U P E R I O R M I G U E L T O R G A
Departamento de Psicologia
Resumo
O objectivo deste documento é uniformizar a apresentação dos trabalhos escolares
de licenciatura, trabalhos de investigação científicos e dissertações de mestrado.
Este documento estabelece as regras para a realização de todos os trabalhos no Insti-
tuto Superior Miguel Torga.
Apresentamos as regras, quer para o formato dos trabalhos, quer para a redacção
dos textos.
As regras de realização de trabalhos do Instituto Superior Miguel Torga seguem de
perto as normas da American Psychological Association (APA, 2005).
Índice
Introdução 2
Considerações gerais 2
Formato 1
Apresentação gráfica 1
Linguagem e estilo 4
Estrutura 7Estrutura 1 — Trabalhos Escolares 7
Estrutura 2 — Trabalhos de investigação científica 8
Estrutura 3 — Dissertações de Mestrado 9
Escrita 10
Título 10
Dedicatória 10
Agradecimentos 10
Resumo 10
Palavras-chave ou descritores 11Índice 11
Epígrafe 11
Introdução 11
Revisão da literatura 12
Materiais e Métodos 13Resultados 14
Discussão 15
Conclusões 15
Bibliografia 16
Anexos e Apêndices 20
Bibliografia 21
Anexo A - Modelo de Capa de Trabalhos Escolares e Trabalhos de Investigação 23
Anexo B - Modelo de Capa de Dissertação de Mestrado 25
Anexo C - Lombada de Capa de Dissertação de Mestrado 27
Anexo D - Modelo de Folha de Rosto de Dissertação de Mestrado 29
Anexo E - Guia para a hifenização de palavras 31
Anexo F - Acordo ortográfico de 1945 33
Anexo G - Acordo ortográfico de 1990 37
Introdução
Considerações gerais
Um trabalho académico de licenciatura consiste no aprofundamento de um determinado
tema e no contacto com bibliografia múltipla. Cabe ao professor o devido acompanhamento
da idealização do estudo e da evolução do trabalho e a verificação dos passos seguidos. Nos
trabalhos escolares não são esperáveis novidades científicas, nem o desenvolvimento exaus-
tivo de uma temática e nem a proposta de teorias próprias. O objectivo principal deste tipo
de trabalhos é permitir aos alunos o domínio gradual da linguagem científica e do rigor dos
métodos científicos. Outros objectivos são o desenvolvimento de capacidade de reflexão,
análise de textos escritos e estruturação da informação recolhida.
Um trabalho de investigação científica consiste na narração de elementos inéditos obtidos
em trabalho de campo ou na revisão de literatura. Os trabalhos desta natureza têm como
objectivo último a publicação em revista indexada e podem assumir a forma de Comunicação
Breve, Artigo de Revisão, Apresentação de Caso, Revisão de Livro ou Artigo de Investigação Origi-
nal. As comunicações breves são artigos originais curtos que abordam temas da psicologia e
que apresentam resultados preliminares ou de relevância imediata. Os artigos de revisão en-
globam e avaliam criticamente os conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, co-
mentando trabalhos de outros autores. As apresentações de caso consistem na descrição de
casos clínicos fundamentalmente relevantes para o debate de ideias ou para o questionar de
teorias. Os envolvidos ou os seus representantes devem consentir na publicação e devem ler
o artigo antes da sua submissão. O trabalho de revisão de livro trata-se de uma análise críti-
ca de livros recentes, da descrição das suas características e potenciais aplicações; deve ser
breve, constituindo um resumo comentado, com opiniões que possam dar perspectiva visão
global da obra. O artigo de investigação original consiste na apresentação de resultados iné-
ditos de pesquisa. Este tipo de formato constitui um trabalho completo que contém toda a
informação relevante para que o leitor possa repetir o trabalho do autor ou avaliar os seus
resultados e conclusões.
As dissertações de mestrado são trabalhos científicos que visam a obtenção de um grau académico e devem representar sempre o culminar de um trabalho de investigação. Neste sentido, devem constituir simultaneamente um exercício académico e um documento rico em informações científicas originais. De acordo com o Decreto-Lei nº 216/92, de 13 de Outu-
bro, a atribuição do “grau de mestre comprova nível aprofundado de conhecimentos numa área científica específica e capacidade para a prática da investigação”. Para a sua divulgação a ESAE compromete-se a catalogá-las e a disponibilizá-las na bibliote-ca do ISMT. Pretende-se de futuro a sua divulgação via Internet.
Formato
Apresentação gráfica
Todos os trabalhos devem ser apresentados em folhas de tamanho A4.
Nos trabalhos escolares e nos trabalhos científicos, a capa deve ter uma estrutura seme-
lhante à que se apresenta neste documento (Anexo A). São aceite variações no tipo e cor de
letra e fundo.
Nas dissertações de mestrado, a capa é uma cobertura (frontal e final) que tem como objec-
tivo proteger o conteúdo do trabalho, pelo que deve ser de papel resistente. A capa frontal
pode ser ilustrada, desde que tal não prejudique a leitura dos elementos indicados, e admi-
tem-se variações no tipo, cor de letra e fundo. Deverá seguir o modelo apresentado no Ane-
xo B. Na lombada deverá aparecer o logotipo do Instituto Superior Miguel Torga, o acróni-
mo, o título da dissertação, o nome do autor, a indicação de mestrado (M) e o ano da realiza-
ção (ver Anexo C). A folha de rosto é a primeira folha do corpo da dissertação. Deverá ser
impressa em papel branco e sem quaisquer ilustrações. Tem obrigatoriamente que conter
impressos os elementos constantes no Anexo D.
No corpo do texto, a letra a utilizar deverá ser serifada com tamanho 12 e espaçamento nor-
mal entre letras. Os formatos de letra aceites são a Times New Roman, Palatino (11), Hoefler
Text ou Book Antiqua. Nos títulos e nas legendas de figuras e quadros são aceites formatos de
letra não serifada (e.g., Arial, Helvetica, Lucida, Tahoma ou Verdana).
Os parágrafos deverão ter um espaçamento duplo (1,5) em todo o texto.
As margens superior, inferior e laterais deverão medir 2,54 cm.
As páginas são todas numeradas com algarismos árabes a partir da primeira página da In-
trodução, exceptuam-se a Capa e o Resumo e as restantes páginas que antecedem o índice das
dissertações (Dedicatória e Agradecimentos). Os índices são numerados em algarismos roma-
nos. As notas de rodapé são numeradas continuamente desde o início do trabalho.
Cada página, após o índice, deve ter um cabeçalho na margem superior externa com uma
versão resumida do título.
A primeira linha de cada parágrafo pode ser indentada com cinco a sete espaços; excluem-se
o Resumo, os títulos, os blocos de citações, as legendas dos quadros e das figuras.
Podem usar-se três ou quatro níveis de títulos.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
1
As figuras e os quadros são numerados em separado, sequencialmente e com números em
árabe. Nos quadros, as legendas são colocadas por cima como se pode ver no Quadro 1 de
exemplificação. As figuras são legendadas por baixo (Figura 1). Nos gráficos, cada eixo é le-
gendado e são colocadas as unidades.
Os quadros e figuras são sempre indicados no texto, aparecendo depois do texto.
Quando possível, os quadros devem ter a dimensão da largura do texto e a única linha divi-
sória a usar é uma horizontal que divide o título do quadro dos títulos das colunas e do cor-
po do quadro. Não se usam quadros verticais. As figuras devem também ter a mesma di-
mensão do texto ou da coluna de texto.
Atente-se aos pormenores gráficos nos exemplos seguintes (Quadro 1 e Figura 1).
Recomenda-se que não se usem linhas em branco, nem páginas em branco. Excepcionalmen-
te podem usar-se linhas em branco para evitar que um subtítulo fique isolado no fundo de
uma página. As páginas em branco podem empregues nas dissertações de mestrado antes
de iniciar um capítulo que deve começar em página ímpar.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
2
Quadro 1Características Demográficas dos Subgrupos para o Estudo dos Factores Sociodemográficos e Saúde Mental.
Quadro 1Características Demográficas dos Subgrupos para o Estudo dos Factores Sociodemográficos e Saúde Mental.
Quadro 1Características Demográficas dos Subgrupos para o Estudo dos Factores Sociodemográficos e Saúde Mental.
Quadro 1Características Demográficas dos Subgrupos para o Estudo dos Factores Sociodemográficos e Saúde Mental.
Quadro 1Características Demográficas dos Subgrupos para o Estudo dos Factores Sociodemográficos e Saúde Mental.
Quadro 1Características Demográficas dos Subgrupos para o Estudo dos Factores Sociodemográficos e Saúde Mental.
Quadro 1Características Demográficas dos Subgrupos para o Estudo dos Factores Sociodemográficos e Saúde Mental.
Quadro 1Características Demográficas dos Subgrupos para o Estudo dos Factores Sociodemográficos e Saúde Mental.
Quadro 1Características Demográficas dos Subgrupos para o Estudo dos Factores Sociodemográficos e Saúde Mental.
Subgrupos TotalN
Idade (anos)M (DP)
GéneroN (%)
GéneroN (%)
Estado civiln (%)
Estado civiln (%) Escolaridade
M (DP)Subgrupos Total
NIdade (anos)
M (DP) Homens Mulheres Casados Não-casadosEscolaridade
M (DP)
Perturbações dissociativas
PTSD
Perturbações conversivas
Perturbação de somatização
Perturbações de ansiedade e depressão
Não-clínico
Total
37
50
26
59
174
159
505
34.1 (12.0)
30.4 (13.6)
27.4 (8.8)
35.8 (13.4)
31.6 (12.5)
37.3 (12.0)
33.7 (12.7)
11 (29.7)
16 (32.0)
6 (23.1)
19 (32.2)
60 (34.5)
91 (57.2)
203 (40.2)
26 (70.3)
34 (68.0)
20 (76.9)
40 (67.8)
114 (65.5)
68 (42.7)
302 (59.8)
18 (48.6)
13 (26.0)
8 (30.8)
28 (47.5)
57 (32.7)
91 (57.2)
209 (41.4)
19 (51.4)
37 (74.0)
18 (69.2)
31 (52.5)
117 (67.3)
68 (42.8)
296 (58.6)
9.3 (4.3)
11.9 (2.5)
10.9 (4.1)
10.8 (4.0)
11.7 (3.9)
12.7 (4.1)
11.7 (4.0)
Notas: M = média; DP = desvio-padrão.Notas: M = média; DP = desvio-padrão.Notas: M = média; DP = desvio-padrão.Notas: M = média; DP = desvio-padrão.Notas: M = média; DP = desvio-padrão.Notas: M = média; DP = desvio-padrão.Notas: M = média; DP = desvio-padrão.Notas: M = média; DP = desvio-padrão.Notas: M = média; DP = desvio-padrão.
De “Demographic and mental health factors associated with pathological dissociation in a Portuguese sample” por H. Espírito Santo, e J. L. Pio-Abreu, 2008, Journal of Trauma & Dissociation, 9, p. 374. Copyright 2008 por The Haworth Press. Adaptado com autorização dos editores.
De “Demographic and mental health factors associated with pathological dissociation in a Portuguese sample” por H. Espírito Santo, e J. L. Pio-Abreu, 2008, Journal of Trauma & Dissociation, 9, p. 374. Copyright 2008 por The Haworth Press. Adaptado com autorização dos editores.
De “Demographic and mental health factors associated with pathological dissociation in a Portuguese sample” por H. Espírito Santo, e J. L. Pio-Abreu, 2008, Journal of Trauma & Dissociation, 9, p. 374. Copyright 2008 por The Haworth Press. Adaptado com autorização dos editores.
De “Demographic and mental health factors associated with pathological dissociation in a Portuguese sample” por H. Espírito Santo, e J. L. Pio-Abreu, 2008, Journal of Trauma & Dissociation, 9, p. 374. Copyright 2008 por The Haworth Press. Adaptado com autorização dos editores.
De “Demographic and mental health factors associated with pathological dissociation in a Portuguese sample” por H. Espírito Santo, e J. L. Pio-Abreu, 2008, Journal of Trauma & Dissociation, 9, p. 374. Copyright 2008 por The Haworth Press. Adaptado com autorização dos editores.
De “Demographic and mental health factors associated with pathological dissociation in a Portuguese sample” por H. Espírito Santo, e J. L. Pio-Abreu, 2008, Journal of Trauma & Dissociation, 9, p. 374. Copyright 2008 por The Haworth Press. Adaptado com autorização dos editores.
De “Demographic and mental health factors associated with pathological dissociation in a Portuguese sample” por H. Espírito Santo, e J. L. Pio-Abreu, 2008, Journal of Trauma & Dissociation, 9, p. 374. Copyright 2008 por The Haworth Press. Adaptado com autorização dos editores.
De “Demographic and mental health factors associated with pathological dissociation in a Portuguese sample” por H. Espírito Santo, e J. L. Pio-Abreu, 2008, Journal of Trauma & Dissociation, 9, p. 374. Copyright 2008 por The Haworth Press. Adaptado com autorização dos editores.
De “Demographic and mental health factors associated with pathological dissociation in a Portuguese sample” por H. Espírito Santo, e J. L. Pio-Abreu, 2008, Journal of Trauma & Dissociation, 9, p. 374. Copyright 2008 por The Haworth Press. Adaptado com autorização dos editores.
Figura 1. Números de nascimentos de pintos com diferentes sistemas de acasalamento.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
3
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
Nascidos Saídos do ninho
Nº m
édio
de
jove
ns
Macho presenteMacho ausente
De “Comportamento social dos primatas” por H. Espírito Santo, 2009, Sebenta das Aulas de Etologia, p. 26
Linguagem e estilo
Qualquer trabalho deverá ser escrito como um artigo de uma revista científica. Assim, a lin-
guagem deve ser clara, objectiva, escrita em discurso directo e com frases curtas (APA, 2005;
Booth, 1975; Gustavii, 2008).
Palavras
1. Use palavras precisas e específicas. Dentre elas, prefira as mais simples, habituais e curtas.
2. Trabalhe com um dicionário e uma gramática e consulte-os sempre que tiver dúvidas. Tem disponíveis
on-line o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa e o Ferramentas para a Língua Portuguesa (Priberam, 2008).
3. Tenha particular atenção à hifenização. Recorra com frequência a uma gramática. Consulte o Anexo
B para as situações mais frequentes e os Anexos C e D com os Acordos Ortográficos de 1945 e de 1990.
4. Use apenas os adjectivos e advérbios extremamente necessários.
5. Evite repetições. Procure não usar verbos, substantivos aumentativos e diminutivos mais
de uma vez num mesmo parágrafo ...
6. … mas não exagere no uso de sinónimos para obter uma escrita elegante. O uso de sinó-
nimos deve restringir-se a verbos e substantivos comuns. Não o use para termos técnicos.
7. Corte todas as palavras inúteis ou que acrescentam pouco ao conteúdo (circunlóquios).
Evite assuntos laterais.
8. Evite os ecos (ex.: "Medição da orientação") e cacofonias (ex.: "... aproxima mais")
9. Evite o jargão, modismos, lugares comuns e abreviaturas sem a devida explicação. Evite abreviaturas
habituais que caíram em desuso, como, por exemplo, op. cit. (opere citato ou “no trabalho citado”).
10.Explique palavras científicas específicas no texto ou em glossário separado quando as es-
crever pela primeira vez.
11.Use o itálico com parcimónia e nas situações seguintes:
a. Nomes das espécies. O nome do género vem em maiúscula e o do epíteto específico
em minúscula: Pan troglodytes. Coloque o nome completo da espécie e do seu inves-
tigador quando o escrever no título do trabalho, quando o escrever pela primeira
vez no resumo e na primeira vez do texto. Ex.: Pan paniscus (Schwarz).
b. Conceitos inovadores, designações específicas, termos científicos e noções-chave
quando aparecem pela primeira vez no texto.
c. Palavras ambíguas que podem ter mais do que um significado.
d. Títulos de livros e nomes de revistas científicas.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
4
e. Símbolos estatísticos ou variáveis algébricas (Ex.: teste t)
12. Não use o itálico em expressões e abreviaturas estrangeiras frequentes em português
(Ex.: a priori, et al.), símbolos químicos (Ex.: LSD) ou letras gregas.
13. As abreviaturas latinas devem ser usadas entre parêntesis: e.g., por exemplo; i.e., isto é;
etc., e os restantes; vs., versus. Fora do parêntesis, use a tradução das siglas latinas.
14. Use as aspas duplas para palavras ou frases irónicas, jargão, neologismos ou citações.
Frases
1. Escreva sempre no discurso directo: sujeito + verbo + complemento.
2. Prefira frases afirmativas (“A criança fez birra” em vez de “A criança não se portou bem”).
3. Prefira frases na voz activa (“Nós estudámos a depressão em doentes internados” em vez
de “A depressão em doentes internados foi estudada pelos investigadores”).
4. Use sempre frases curtas e simples. Abuse dos pontos finais.
5. Prefira o ponto final e iniciar uma nova frase em vez de vírgulas. Uma frase cheia de vír-
gulas está a pedir pontos. Se a informação não merece nova frase é porque não é impor-
tante e pode ser eliminada.
6. Evite as partículas de subordinação, tais como que, embora, onde, quando. Estas palavras alon-
gam as frases tornando-as confusas e cansativas. Use uma partícula por frase, no máximo.
7. Evite orações intercaladas, parêntesis e travessões. Algumas revistas internacionais acei-
tam o parêntesis para reduzir a dimensão da frase.
8. Quando parafrasear ou citar o trabalho de um autor, deve indicar a sua fonte. Caso con-
trário está a cometer plágio. O plágio é punido pela Lei 45/85 de 17 de Setembro na alí-
nea a) do artigo 76 do Código do Direito do Autor.
9. A citação de fontes secundárias (citar quem cita) com as referenciações adequadas não são
encorajadas nos trabalhos escolares. Nos trabalhos de investigação e nas dissertações de
mestrado, as citações de fontes secundárias não são permitidas.1
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
5
1 A internet tornou-se uma ferramenta que permite a consulta de praticamente todo o tipo de documentos. Para obter um artigo pesquise na PubMed (National Library of Medicine, s.d.); se o artigo não estiver disponível de forma gratuita, então peça-o ao autor principal através do mail. Por norma, os autores ficam agradados pelo interesse que o seu estudo suscita. Não se esqueça de indicar no Assunto do mail a referência do artigo, de se identificar como aluno do ISMT e de agradecer quando lhe responderem. Para ler livros, a Books Google iniciou uma parceria com bibliotecas de renome e com editoras de todo o mun-do e permite a leitura de muitos livros ou de páginas de outros tantos. Duas ferramentas adicionais de pesquisa de livros são o Scribd que é um servidor de compartilhamento de livros online e o Archive Internet que consiste numa livraria digital de livros, especialmente antigos, imagens, música e documentos audio.
10. Nas citações de texto de outros autores:
a. Use aspas para excertos com menos de 40 palavras inseridos no seu texto (citações
com 40 ou mais palavras devem ser citadas em bloco sem aspas).
b. Use as reticências para indicar a omissão de material. Só o deve fazer no meio das
citações. Não o deve fazer no início e no final da citação.
c. Use colchetes para acrescentos ou explicações.
d. Use o itálico para destacar uma ideia na citação mas, imediatamente a seguir, deve
inserir entre colchetes a sua ênfase: [itálico adicionado].
e. Use as aspas simples para citações incluídas noutras citações.
Parágrafos
1. Um parágrafo é uma unidade de pensamento. A primeira frase deve ser curta, enfática e
conter a informação principal. As demais devem corroborar o conteúdo apresentado na
primeira. A última frase deve seguir de ligação ao parágrafo seguinte.
2. Os parágrafos devem interligar-se de forma lógica.
3. Um parágrafo só ficará bom após cinco leituras e correcções:
a. Na primeira leitura, verifique se está tudo no discurso directo;
b. Na segunda, procure repetições, ecos, cacofonias, frases intercaladas e partículas de
subordinação;
c. Na terceira, corte todas as palavras desnecessárias; elimine todos os adjectivos e
advérbios que puder;
d. Na quarta, procure erros de grafia, digitação e erros gramaticais, tais como de re-
gência e concordância;
e. Na quinta, verifique se as informações estão correctas e se realmente está escrito o
que pretendia escrever. Veja se não está a adivinhar, pelo contexto, o sentido de uma
frase mal escrita.
4. Após a correcção de cada parágrafo em separado, leia todo o texto três vezes e faça as
correcções necessárias.
a. Na primeira leitura, observe se o texto está organizado segundo um plano lógico de
apresentação do conteúdo (leia o subtópico Estrutura). Veja se a divisão em itens e
subitens está bem estruturada; se os subtítulos (título de cada tópico) reflectem o
conteúdo das informações que se seguem. Se for necessário, faça nova divisão do
texto ou troque parágrafos entre os itens. Analise se a mensagem principal está re-
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
6
digida de forma clara a ser entendida pelo leitor.
b. Na segunda, observe se os parágrafos se interligam entre si. Veja se não há repetições
da mesma informação em pontos diferentes do texto, escrita de forma diferente mas
com significado semelhante. Elimine todos os parágrafos que contenham informa-
ções irrelevantes ou fora do assunto do texto.
c. Na terceira leitura, verifique todas as informações, sobretudo valores numéricos, da-
tas, equações, símbolos, citações de tabelas e figuras e as referências bibliográficas.
Nota
Para mais considerações, consultem-se as Normas de Ceia (2008) ou o Guia de Estrela, Soares
e Leitão (2006).
Estrutura
Estrutura 1 — Trabalhos Escolares
O limite de páginas para cada trabalho escolar será estipulado pelo docente da unidade curricular.
O trabalho escolar deve ser constituído pelas nove partes que a seguir se descrevem (Azevedo,
2004; Ceia, 2008; Dellinger, 2005; Frada, 1993; Sarmento, 2008):
1. Título: Escreva um título curto, mas não genérico.
2. Capa: Faça a capa semelhante à que se apresenta neste documento (Anexo A).
3. Sumário: Faça um resumo dos conteúdos do trabalho e apresente as conclusões básicas — 3%
4. Índice: Indique as páginas dos títulos e subtítulos. Caso o trabalho contenha figuras ou quadros, acrescente um índice de figuras, seguido do índice de quadros.
5. Introdução: Contextue o tema e indique o objectivo do estudo — 27%
6. Desenvolvimento: descreva as definições, modelos ou teorias suportados por referências bibliográficas — 50%;
7. Conclusão: Sintetize os aspectos principais — 20%;
8. Bibliografia: Escreva todas as referências indicadas no texto e não escreva referências que não apresente no texto.
9. Anexos ou apêndices: Use os anexos para incluir documentos de outros autores e os apêndices para documentos do(s) autor(es) do trabalho.
O número de palavras por divisão deverá corresponder, grosso modo, às percentagens indicadas.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
7
Estrutura 2 — Trabalhos de investigação científica
Os trabalhos de investigação devem ser semelhantes a um artigo de revista. O número de
páginas de um artigo de uma revista indexada com índice de impacto oscila entre as 2 e as
20 páginas. Se pretender publicar numa revista, o número de páginas varia também conso-
ante o tipo de artigo: Comunicação Breve, Artigo de Revisão, Artigo de Investigação Original,
Apresentação de Caso, Carta ao Editor ou Revisão de Livro. Muitas revistas seguem os requisitos
do International Committee of Medical Journal Editores (2008) ou do National Library of Medicine
(s.d.) que poderá ter de consultar.
O trabalho de investigação prática deve ser composto pelos elementos que a seguir se enu-
meram (APA, 2005; Azevedo, 2004; Booth, 1975; Dellinger, 2005; Frada, 1993; Gustavii, 2008;
Sarmento, 2008). Se a sua intenção for a publicação numa revista, então siga as suas Instru-
ções aos Autores de cada revista.
1. Capa: Faça a capa semelhante à que se apresenta neste documento (Anexo A).
2. Título: Escreva um título curto, mas não genérico. O limite de palavras varia de revista para revista.
3. Resumo: Faça um sumário e apresente as conclusões básicas. Algumas revistas exigem que obedeça à estrutura seguinte: Objectivo, Método, Resultados e Conclusão. O limite de pala-vras varia também de revista para revista, oscilando entre as 120 a 200 palavras — 5%;
4. Palavras-chave ou descritores: Indique 3 a 5 palavras de acordo com o Medical Subject Headings (NLM, s.d.);
5. Introdução: Enquadre o problema e indique o objectivo do estudo — 15%
6. Materiais e Métodos: descreva os participantes, instrumentos e procedimentos — 25%;
7. Resultados: apresente os valores obtidos — 25%;
8. Discussão e/ou Conclusão: Questione dos resultados e sumarie os aspectos principais — 30%;
9. Bibliografia: Escreva todas as referências indicadas no texto e não escreva referências que não apresente no texto. Consoante as revistas, a bibliografia pode seguir as normas da APA, o sistema de Vancouver ou normas específicas de cada revista.
10. Apêndices: Use os apêndices para documentos do(s) autor(es) do trabalho.
O número de palavras por divisão deverá corresponder, grosso modo, às percentagens indicadas.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
8
Estrutura 3 — Dissertações de Mestrado
As dissertações de mestrado devem ser compostas pelos elementos que a seguir se apresen-
tam (APA, 2005; Azevedo, 2004; Ceia, 2008; Frada, 1993; Sarmento, 2008). Discuta com o seu
orientador sobre se é necessário designar ou considerar todas as secções descritas.
1. Título: Escreva um título curto, mas não genérico.
2. Capa: Faça a capa e a lombada semelhantes às que se apresentam neste documento (Anexos B e C).
3. Folha de Rosto: Construa a folha de rosto segundo o Anexo D.
4. Agradecimentos: Página facultativa.
5. Resumos: Faça uma síntese dos conteúdos da dissertação e apresente as conclusões bási-cas em língua portuguesa e em língua inglesa— 1% + 1%;
6. Índices e listas: Indique as páginas dos títulos e subtítulos. Caso o trabalho contenha fi-guras ou quadros, acrescente um índice de figuras, seguido do índice de quadros.
7. INTRODUÇÃO (geral): Apresentação do tema, das variáveis, do plano de estudo e da estrutura da dissertação (seus capítulos) — 3%;
8. PARTE 1 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO
8.1.Enquadramento teórico: Faça a revisão da literatura sobre o tema de investigação. Descreva as bases teóricas. Pode criar capítulos temáticos e terminar com uma síntese pessoal. — 35% - 45%;
9. PARTE 2 - CONTRIBUIÇÃO PESSOAL
9.1.(Introdução): Enquadre o problema, indique o objectivo do estudo e/ou enuncie questões ou hipóteses— 3%;
9.2.Materiais e Métodos: Descreva os participantes, instrumentos e procedimentos — 5% - 10%;
9.3.Resultados: Apresente os valores obtidos — 5% - 10%;
9.4.Discussão e/ou Conclusão: Questione dos resultados e sumarie os aspectos principais — 5%;
10. BIBLIOGRAFIA: Escreva todas as referências indicadas no texto e não escreva referências que não apresente no texto.
11. ANEXOS OU APÊNDICES: Use os anexos para incluir documentos de outros autores e os apêndices para documentos do autor do trabalho.
O número de palavras ou páginas por divisão deverá corresponder, grosso modo, às percenta-gens indicadas. As regras do ISMT estipulam um máximo de 75 páginas para as dissertações de mestrado.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
9
Escrita
Título
O título consiste na primeira impressão, por isso é muito importante. Escreva-o no início e
reexamine-o mais tarde. Faça uma lista com as palavras-chave e tente incluí-las no título. A
primeira palavra deve ser o conceito central que vai trabalhar. O título deve ser curto (não
exceda as 20 palavras), específico e, sempre que possível, declarativo em vez de neutro. Pre-
fira os verbos aos nomes abstractos (APA, 2005; Booth, 1975; Gustavii, 2008).
Dedicatória
É um elemento optativo das dissertações de mestrado onde o autor presta uma homenagem
ou dedica o seu trabalho a alguém.
Agradecimentos
É também uma página facultativa das dissertações de mestrado onde o autor regista os
agradecimentos a pessoas ou instituições que contribuíram de forma relevante para a elabo-
ração do trabalho.
Resumo
O resumo é uma síntese analítica em que se descreve o problema e as questões ou informa-
ções mais importantes referidas no trabalho. O resumo é o último trecho a ser escrito ainda
que apareça no princípio do trabalho (APA, 2005; Booth, 1975; Gustavii, 2008). Escreva o re-
sumo no pretérito perfeito, com excepção da descrição dos resultados e das conclusões. Deve
começar com uma frase clara sobre o objectivo do trabalho, depois diga quais os métodos
usados, em seguida indique os resultados obtidos e termine com uma ou duas frases que
salientem conclusões importantes. As referências não são citadas aqui. O resumo deve cir-
cunscrever-se às 120-200 palavras para os trabalhos escolares e os trabalhos científicos. Nas
dissertações de mestrado, o limite é 350 palavras. Todas as dissertações devem ser acompa-
nhadas de dois resumos – um em língua portuguesa e outro em idioma inglês.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
10
Palavras-chave ou descritores
As palavras-chave ou os descritores devem ser escolhidos pelo estudante, no caso dos
trabalhos escolares e das dissertações, e por acordo com o seu orientador, em função da sua
pertinência ou da terminologia em vigor na disciplina. Não deve ultrapassar os cinco ter-
mos-chave.
No caso dos trabalhos científicos use 3 a 5 palavras de acordo com o Medical Subject Hea-
dings (NLM, s.d.).
Índice
Nos trabalhos científicos não se coloca índice. Nos trabalhos escolares e nas dissertações de
mestrado há três (quatro) tipos de índices: o Índice Geral, o Índice de Quadros, o Índice de Figu-
ras e o Índice Remissivo (optativo para as dissertações de mestrado).
O Índice Geral aparece no início, mas depois dos Agradecimentos e do Resumo. Neste índice só
se colocam as páginas que o seguem e não se inserem as páginas antecedentes. O índice ge-
ral deve incluir os capítulos, subcapítulos e secções, tendo em conta os seus níveis. Nas dis-
sertações de mestrado, o índice geral pode incluir categorias de nível superior designadas
por Partes. Os índices de quadros e de figuras aparecem depois do índice geral. Nas disser-
tações de mestrado, confirme com o seu orientador sobre a necessidade de incluir uma Lista
de Abreviaturas ou de siglas depois dos índices. O Índice Remissivo aparece no final, a seguir
aos anexos. Este índice consiste na ordenação alfabética de assuntos e autores.
Epígrafe
Citação optativa do pensamento de um autor que resuma a ideia principal do trabalho ou
que transmita um significado que foi relevante para a génese do seu trabalho. A epígrafe
pode ser colocada na página que antecede o primeiro capítulo ou no início de cada capítulo.
Introdução (geral)
Na introdução descreve-se o problema e o objectivo do estudo de forma breve e sucinta.
Nesta parte há que responder à pergunta porque é que fez o trabalho. A introdução deve in-
cluir quatro (seis) aspectos:
1. Apresentação do problema, sua importância, sua história, implicações teóricas e des-
crição da estratégia de estudo;
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
11
2. Discussão sobre o que tem sido feito em trabalhos prévios, salientando descobertas
relevantes, questões metodológicas importantes e conclusões principais;
3. Resumo das descobertas conflituosas na literatura;
4. Indicação dos objectivos gerais e específicos. Nas dissertações deve ainda definir as
variáveis e enunciar as hipóteses ou questões empíricas.
5. Nas dissertações de mestrado, descreva de forma sucinta a metodologia da parte teó-
rica e da parte prática. Apresente um modelo metodológico da investigação que pode
complementar com uma figura que sintetize a investigação global da dissertação.
6. Nas dissertações de mestrado, termina-se a introdução com a indicação da estrutura
geral da dissertação e temas gerais de cada capítulo.
Refira-se à literatura publicada, mas não se alongue no debate de literatura relevante, isso
deve ficar para a discussão. Para restringir o tamanho e evitar redundâncias bastam três re-
ferências para apoiar um conceito específico. Inclua somente a informação que prepare o lei-
tor para a questão em investigação. Assuma que o leitor tem alguns conhecimentos na área.
Escreva a introdução no pretérito perfeito quando se referir à sua investigação e escolha en-
tre o presente ou o pretérito quando se referir aos trabalhos de outros autores (APA, 2005;
Booth, 1975; Gustavii, 2008; Sarmento, 2008).
Revisão da literatura
No caso da dissertações de mestrado, pode começar o seu trabalho por aqui e depois avan-
çar para a Introdução geral e finalizar com o Resumo. Nos trabalhos académicos e nos
trabalhos de investigação, a introdução e a revisão da literatura podem ser reunidas na sec-
ção Introdução.
A revisão da literatura pode ocupar mais do que um capítulo e estar enquadrada numa pri-
meira Parte que se pode designar Enquadramento Teórico. Nesta secção, faça uma introdução
onde sintetiza o que vai tratar e os critérios que usou para delimitar o assunto em investiga-
ção que vai rever. Depois, descreva a problemática em pormenor. Baseando-se na literatura,
defina os conceitos, apresente explicações ou explane teorias, resuma metodologia e sintetize
resultados. Nesta secção deve mostrar familiaridade com a literatura, restringindo-se às áre-
as que se aproximam do assunto que investigou. No final faça uma síntese pessoal.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
12
Materiais e Métodos
Nas dissertações de mestrado, antes de avançar para esta secção, deve iniciar uma segunda
Parte que pode designar por Contribuição Pessoal ou Estudo de … Depois deve reunir nesta
parte uma Introdução, os Materiais e Métodos e os Resultados.
Na Introdução deve delimitar o problema, definir e articular as variáveis apresentar as hipó-
teses de investigação ou questões empíricas.
Nos Materiais e Métodos dos trabalhos de investigação e nas dissertações de mestrado relate
tudo o que é preciso para que outra pessoa possa repetir o mesmo estudo. Escreva o local do
estudo, a data (e, nalguns casos, a hora), métodos de amostragem, número de sujeitos, equi-
pamentos, número de investigadores e seu papel, técnicas de observação, registo e armaze-
namento de dados, hardware e software e métodos estatísticos. Pode citar outras publicações
para relatar variações das técnicas usadas. Esta secção pode subdividir-se em várias subsec-
ções conforme a natureza do trabalho (APA, 2005; Booth, 1975; Gustavii, 2008).
1. Participantes: Identifique os sujeitos e descreva a amostra adequadamente: apresente
o número de sujeitos, descreva as características demográficas principais (sexo, idade,
estatuto socioeconómico, grau de escolaridade), refira os grupos específicos, exponha
os critérios de inclusão e exclusão, diga se foi obtido consentimento informado e se foi
aprovado por comité de ética e se segue as normas éticas da Declaração de Helsínquia
(WHO, 2004). A amostra deve ser representativa. Justifique o tamanho da amostra e
explique como foi determinado.
2. Local: Diga onde o estudo decorreu ou onde recolheu os dados.
3. Instrumentos: Descreva os instrumentos, indique os seus autores e apresente os valo-
res da validade e de fidedignidade. Apresente integralmente os instrumentos nos Ane-
xos.
4. Procedimentos: Descreva cada etapa da realização da pesquisa. Inclua as instruções
dadas aos sujeitos, a formação de grupos e intervenções específicas. Descreva os méto-
dos de randomização, técnicas de realização de ensaios cegos e outras técnicas de con-
trolo. Justifique as variáveis, diga quais as medidas e a sua validade. Indique como
analisou os dados, se executou alguma transformação dos dados e qual a justificação
para tal.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
13
Resultados
Nos trabalhos de investigação e nas dissertações de mestrado descreva os resultados e to-
das as conclusões que retirou da análise dos resultados. Não refira outros trabalhos ou auto-
res. Os resultados são descritos textualmente e, quando complexos, acompanham-se de
quadros e figuras. Não interprete os dados, nem especule nesta subsecção. Não se esqueça
de apresentar resultados negativos — eles são importantes!
1. Os quadros e figuras acompanham o texto escrito mostrando os detalhes dos resulta-
dos. No texto deve indicar cada figura ou quadro que resuma os resultados (e.g., “ver
Figura xx” ou “segundo Quadro xx”). Coloque os quadros, figuras e gráficos próximo
e após o texto correspondente. A legenda dos quadros e figuras deve ser completa e
resumir informação do texto de forma a que o leitor retire a informação principal sem
ler o texto. Gráficos, quadros e figuras devem ser simples com a informação suficiente
para que sejam compreendidos por si mesmos.
2. Apresente os valores numéricos com as suas unidades [e.g., cortisol (mg/dl), peso
(Kg); abelhas por minuto]. Os números cardinais são escritos em numérico excepto
quando iniciam uma frase, quando aparecem no título ou quando seguem outros nú-
meros. Se um número for escrito por extenso a sua unidade também o deve ser (e.g.,
“Dez milímetros de água”).
3. Nos trabalhos académicos e nas dissertações de mestrado indique a casa decimal
através de vírgula (e.g., 5,80) e as probabilidades também com vírgula (e.g., p < 0,01).
Nos trabalhos de investigação escritos para publicação, indique a casa decimal e a
probabilidade com ponto (e.g., 5.80 e p < .01).
4. Coloque espaço antes e após dos operadores numéricos e lógicos (e.g., média ± DP =
30,06 ± 15,40; U = 1425,37; p > 0,05). Não use espaço depois das estatísticas F ou t
quando são seguidas pelos graus de liberdade [e.g., F(2, 9) = 8,56; p < 0,01).
5. Use sempre o mesmo número de casas decimais. A forma usual é apresentar os núme-
ros decimais com duas casas. Excepcionalmente, podem usar-se níveis de precisão
maiores.
6. Apresente os resultados estatísticos de forma completa, permitindo que o leitor possa
tirar as suas próprias conclusões (e.g., quando se apresenta a média, deve escrever-se
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
14
também o desvio padrão e o nº de observações). Diga que testes estatísticos usou, o
valor dos parâmetros, o tamanho da amostra e o nível de significância.
Discussão
Nos trabalhos de investigação e nas dissertações de mestrado questione os resultados à luz
dos trabalhos de outros investigadores. Recorra às fontes que já citou na Introdução e intro-
duza novas fontes. Não se limite a reformular e repetir aspectos já estabelecidos. Cada frase
deve contribuir para marcar a sua posição (APA, 2005; Booth, 1975; Gustavii, 2008). A Dis-
cussão pode ter a estrutura seguinte:
1. Comece por resumir o contexto teórico, objectivos (ou hipóteses) e achados.
2. Compare os resultados com investigações anteriores e explique porque é que os resulta-
dos diferem ou se assemelham.
3. Debata o valor e implicações práticas ou teóricas dos resultados.
4. Comente a possível generalização dos resultados a outros contextos ou populações.
5. Indique as limitações e os pontos fortes do seu trabalho.
6. Forneça direcções para continuar novas investigações.
Conclusões
Nos trabalhos académicos passe da revisão da literatura para a Conclusão. Nos trabalhos de
investigação a conclusão pode inserir-se na discussão. Nas dissertações de mestrado as
Conclusões podem ser escritas numa secção separada ou inseridas na Discussão.
A conclusão é o último parágrafo do seu trabalho em que deve destacar a mensagem do seu
trabalho. Evite expressões titubeantes do género “Isto parece sugerir que …”. Escreva de
forma que deixe uma marca e que o leitor se lembre do seu trabalho. Termine, fornecendo as
pistas para prosseguir novas investigações.
Nota
Para mais reflexões, consulte os manuais da APA (2005), Azevedo (2004), Frada (2008) e Sar-
mento (2008).
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
15
Bibliografia
A maior parte das afirmações deve ser suportada por citações, pois não resulta directamente
de trabalho de investigação. A citação pode ser na forma de transcrição, paráfrase ou resu-
mo.
Citação no texto
As citações no texto devem acompanhar-se do apelido dos autores [e.g., “Segundo Silva e
Lopes (2005, 2006) …].
Se a estrutura de a frase exigir que o nome do autor fique entre parêntesis, então faça do se-
guinte modo: (Silva & Lopes, 2005; Amaral, Lopes, & Garcia, 2008).
Outras situações particulares:
1. Quando tem três, quatro ou cinco autores, indique os nomes de todos os autores na pri-
meira vez em que os cita; nas citações subsequentes, escreva somente o nome do primeiro
autor seguido pela abreviatura et al. (e.g., Silva, et al., 2006).
2. Quando tem mais de cinco autores, escreva sempre o nome do primeiro autor seguido
pela abreviatura et al.
3. Se tiver mais de que um trabalho citado no mesmo parêntesis, ordene primeiro alfabeti-
camente e depois por ordem cronológica se tiver mais publicações do mesmo autor (e.g.,
Dorahy et al., 2003; Irwin, 1999; Maaranen et al., 2005b; Näring & Nijenhuis, 2005, 2007b).
4. Se um autor tiver mais de dois trabalhos no mesmo ano, use as letras do alfabeto como
sufixos depois do ano (e.g., Silva, 2002a, 2002b).
5. As suas citações devem ser específicas e devem indicar a página de onde as retirou. O
leitor deve ser capaz de encontrar a referência sem que para isso tenha de ler o livro intei-
ro (e.g., Axenfeld, 1866, p. 422).
6. Se o autor for uma organização, escreva o nome completo na primeira citação [e.g., World
Health Organization (2009)]; nas citações seguintes use a abreviatura do nome se ela for
conhecida ou imediatamente entendível [e.g., (WHO, 2009)].
7. Se o trabalho citado não tiver data (usual em páginas de internet), coloque o nome do au-
tor seguido da indicação “sem data” [e.g., Associação Protectora dos Diabéticos de
Portugal (s.d.)]
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
16
8. Se a citação for relativa a uma comunicação pessoal com uma individualidade de
reconhecido mérito científico (entrevista, mensagem e-mail, carta pessoal, etc.), então
faça-o do modo seguinte: M. Mahoney (comunicação pessoal, 5, Julho, 1993).
Nota
Quando citar artigos, faça-o somente com trabalhos indexados que consistem em artigos que
foram submetidos a revisão independente. No instituto Thomson Reuters (2008) são forne-
cidas listas de toda a bibliografia que obedece a esse grau de exigência.
Não use livros de divulgação geral (para leigos) nos seus trabalhos.
Bibliografia final
Nesta secção, as referências são listadas pela ordem alfabética do apelido dos autores e de-
pois por ordem cronológica quando o nome do primeiro autor se repetir. Tal como nas cita-
ções no corpo de texto, quando se tem duas ou mais publicações do mesmo autor no mesmo
ano, devem colocar-se letras minúsculas depois da data. Todos os nomes que apareçam no
corpo de texto devem aparecer na secção Bibliografia. Não coloque, nesta secção, autores que
não tenham sido citados no texto.
As normas da APA indicam que se dê o título original de um livro escrito em língua estran-
geira, seguido do título traduzido, no nosso caso, em português. Os manuais portugueses
que adaptaram as regras da APA (Azevedo, 2004; Sarmento, 2008) não fazem a tradução dos
títulos e consideramos, igualmente, que tal não é necessário.
O formato geral da Bibliografia é o que se segue:
Autor, A. A., & Autor, B. B., (Ano). Título do Livro. Cidade: Editora.
Autor, A. A., & Autor, B. B., (Ano). Título do capítulo. Em A. Editor, B. Editor, & C. Editor
(Eds.), Título do Livro (pp. xxx-xxx). Cidade: Editora.
Autor, A. A., & Autor, B. B. (Ano). Título do artigo. Nome da Revista, volume (caderno), pri-
meira-última páginas.
Autor, A. A. (2000). Título do documento. Acedido em dia, mês, ano, em: URL.
Seguem-se alguns exemplos com as situações específicas mais comuns. Para outras situações
consulte-se o manual da APA (2005).
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
17
Livros
Livro completo, um autor
Goldberg, E. (2001) The Executive Brain, frontal lobes and the civilized mind. Oxford: Oxford
University Press.
Livro completo, dois ou mais autores, edições posteriores
Lezak, M. D., Howieson, D. B., & Loring, D. W. (2004). Neuropsychological assessment (4ª ed.).
Nova Iorque: Oxford University Press.
Livro completo, edição revista
Lemos, M. (1922). A. N. Ribeiro Sanches (Ed. rev.). Coimbra: Imprensa da Universidade de
Coimbra.
Livro completo, seis autores ou mais
Wiener , C., Harrison, T. R., Fauci, A. S., Braunwald, E., Bloomfield, G., Kasper, D. L., et al.
(2008). Harrison's principles of internal medicine, self-assessment and board review (17ª ed.). Nova
Iorque: McGraw-Hill
Livro completo, autor organizacional
World Health Organization. (1994). The ICD-10, Classification of mental and behavioural
disorders. Genebra: WHO.
Livro completo, editor
Halligan, P. W., & David, A. S. (Eds.). (1999). Conversion hysteria: Towards a cognitive
neuropsychological account (Cognitive neuropsychiatry). Londres: Psychology Press.
Livro completo, sem autor ou editor
Dicionário de Latim-Português. (2001). (2.ª Ed.). Porto: Porto Editora.
Livro completo, vários volumes
Janet, P. (1919). Les médications psychologiques. Études historiques, psychologiques et cliniques sur
les méthodes de la psychothérapie (Vols. 1-3). Paris: Alcan.
Livro completo, tradução
Newman, P. (2004). História do terror, o medo e a angústia através dos tempos (N. Batalha, Trad.).
Lisboa: Ed. Século XXI, Lda. (Trabalho original em inglês publicado em 2003)
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
18
Enciclopédia ou dicionário
Machado, J. P. (1990). Dicionário etimológico da língua portuguesa (6.ª ed., Vols. 1-3). Lisboa:
Livros Horizonte.
Capítulo de livro
Evans, J. J. (2003). Disorders of Memory. Em L. H. Goldstein (Eds). Clinical Neuropsychology:
A Practical Guide to Assessment and Management for Clinicians (pp. 66-74). Berlim: John Wiley
& Sons.
Capítulo de livro traduzido, volume de uma obra, trabalho republicado
Freud, S. (2001). Report on my studies in Paris and Berlin. Em The Standard edition of the
complete psychological works of Sigmund Freud (J. Strachey, Trad. e Ed., Vol. 1, pp. 1-15).
Londres: Vintage (Trabalho original em alemão publicado em 1886)
Teses e Dissertações não publicadas
Braga, A. C. S. (2000). Curvas ROC: aspectos funcionais e aplicações. Dissertação de
doutoramento não publicada, Universidade do Minho, Braga.
Manuscrito não publicado e não submetido para publicação
Espírito Santo, H. (1998). Sebenta de teorias da personalidade. Manuscrito não publicado,
Instituto Superior Miguel Torga de Coimbra.
Artigos de Revista e Resumos
Toth, L. J., & Assad, J. A. (2002). Dynamic coding of behaviourally relevant stimuli in parietal
cortex. Nature, 415, 165–168.
Wachtler, T., Sejnowski, T. J., & Albright, T. D. (2003) Representation of color stimuli in
awake macaque primary visual cortex [Resumo]. Neuron, 37, 681–691.
Trabalho apresentado numa conferência, não publicado
Runyon, M., Sellers, A. H., & Van Hasselt, V. B. (1998, Agosto). Eating disturbances, child abuse
history, and battering effects on women. Annual Meeting of the American Psychological
Association, S. Francisco, CA.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
19
Publicações electrónicas, autor
Bremner, J. D. (1999). The lasting effects of psychological trauma on memory and the hippocampus.
A c e d i d o e m 5 , A g o s t o , 2 0 0 5 , e m
http://www.lawandpsychiatry.com/html/hippocampus.htm
Publicações electrónicas, autor organizacional
World Health Organization. (2009). Diabetes programme. Acedido em 1, maio, 2009, em
http://www.who.int/diabetes/facts/en/index.html
Publicações electrónicas, autor organizacional, sem data
Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal. (s.d.). Diabetes. Acedido em 1, maio, 2009,
em http://www.apdp.pt/diabetes.asp
Nota
As citações de artigos electrónicos ou de páginas da internet devem ser evitados pois a
maioria deles não foi sujeita a revisão. Exceptuam-se os artigos de revistas listadas no ISI
(Thomson Reuters, 2008), Pubmed ou medline (NLM, s.d.) ou que o autor colocou na sua
página na internet.
Anexos e Apêndices
Estas secções são facultativas (quando não forem essenciais para confirmar ou infirmar ques-
tões trabalhadas no corpo do trabalho) e incluem os materiais necessários à elucidação do
trabalho. Devem ser numerados e organizados segundo a sequência da sua apresentação no
texto, e devem constar no índice.
Os anexos podem conter diversas ilustrações, formulários, questionários, autorizações, entre
outros elementos de outros autores.
Os apêndices contêm elementos do próprio autor: questionários, pedidos de consentimen-
tos, e outros documentos. As tabelas podem figurar em apêndice, desde que o seu tamanho
seja superior à metade da mancha gráfica e não exceda a página A4.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
20
Bibliografia
American Psychological Association (2005). Publication manual of the American Psychological
Association (5ª ed.). Washington DC: APA
Archive Internet (2001). Acedido em 16, Maio, 2009 em http://www.archive.org/index.php
Azevedo, M. (2004). Teses, relatórios e trabalhos escolares, sugestões para estruturação da escrita (4ª
ed.). Lisboa: Universidade Católica.
Bergström, M., & Reis, N. (1997). Prontuário ortográfico e guia da língua portuguesa (42ª ed.).
Lisboa: Editorial Notícias.
Books Google (2009). Acedido em 16, Maio, 2009 em http://books.google.com/
Booth (1975). Writing a scientific paper. Biochemical Society Transactions, 3 (1), 1-26.
Ceia, C. (2008). Normas para apresentação de trabalhos científicos (7ª ed.). Lisboa: Editorial Presença. *
Decreto-Lei nº 216/92 de 13 de Outubro. Diário da República nº236/92 - Série I. Ministério da Educação. Lisboa
Dellinger, T. (2005). Breve guia de como escrever artigos e relatórios científicos. Acedido em 30 de
Março de 2006 em http://www.uma.pt/thd/Etologia/Documentos/Dellinger%202005%20comoescrever.pdf
Estrela, E., Soares, M. A., & Leitão, M. J. (2006). Saber escrever uma tese e outros textos. Um guia
completo para apresentar correctamente os seus trabalhos e outros documentos. Lisboa: Dom
Quixote.*
Frada, J. J. C. (1993). Guia prático para elaboração e apresentação de trabalhos científicos (3ª ed.
rev.). Lisboa: Cosmos. *
Gustavii, B. (2008). How to write a scientific paper (2ª ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
International Committee of Medical Journal Editores (2008). Uniform requirements for manuscripts sub-
mitted to biomedical journals: Writing and editing for biomedical publication. Acedido em 16, Maio, 2009
em http://www.icmje.org/
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
21
Lei 45/85 de 17 de Setembro. Alteração do Decreto-Lei nº 63/85, de 14 de Março e do Códi-
go do Direito do Autor e dos Direitos Conexos. Diário da República nº214/85 - Série I. Assem-
bleia da República. Lisboa
Priberam (2008). Ferramentas para a língua portuguesa (FLIP). Acedido em 4, Maio, 2009 em
http://www.flip.pt/tabid/592/Default.aspx
Priberam (2008). Dicionário Priberam da língua portuguesa. Acedido em 4, Maio, 2009 em
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx
Sarmento, M. (2008). Guia prático sobre metodologia científica para a elaboração, escrita e apresen-
tação de teses de doutoramento, dissertações de mestrado e trabalhos de investigação aplicada (2ª ed.).
Lisboa: Universidade Lusíada Editora. *
Scribd (2007). Acedido em 16, Maio, 2009 em http://www.scribd.com/
National Library of Medicine (s.d.). PubMed. Acedido em 16, Maio, 2009 em
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
National Library of Medicine (s.d.). Medical Subject Headings. Acedido em 16, Maio, 2009 em
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
Thomson Reuters (2008a). ISI Web of knowledge. Acedido em 16, Maio, 2009 em
http://www.isiwebofknowledge.com/
World Medical Association (2004). World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical
Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Acedido em 5, Fevereiro, 2008 em
http://www.wma.net/e/policy/b3.htm
Nota
Os livros assinalados com asterisco não seguem as normas da APA.
ISMT Regras de Escrita de Trabalhos
22
Anexo A - Modelo de Capa de Trabalhos Escolares e Trabalhos de Investigação
¶
¶
¶
Título do trabalho [16]
¶
¶
¶
NOME DO ALUNO [14]
¶
¶
¶
Nome da Unidade Curricular [14]
Nome do Professor [14]
¶
¶
¶
Coimbra, mês de ano [14]
Anexo B - Modelo de Capa de Dissertação de Mestrado
¶
INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA [18]Escola Superior de Altos Estudos [14]
¶
¶
¶
TÍTULO DO TRABALHO [16]
Subtítulo (opcional) [14]
¶
¶
¶
NOME DO ALUNO [14]
¶
¶
¶
Dissertação de Mestrado em … [14]
¶
¶
¶
Coimbra, ano [14]
Anexo C - Lombada de Capa de Dissertação de Mestrado IS
MT
TÍTULO
Nome e Apelido
M
DAT
A
INSTITUTO SUPERIOR MIGUEL TORGA
Escola Superior de altos estudos
TÍTULO DO TRABALHO
Subtítu
lo
NOME DO ALUNO
Dissertação de Mestrado em …
Coimbra, mês de ano
4,7 cm1,5 cm
10 cm
1,5 cm7 cm
2 cm1,5 cm
1,5 cm
Anexo D - Modelo de Folha de Rosto de Dissertação de Mestrado
¶
¶
¶
Título do trabalho [16]
Subtítulo (opcional) [14]
¶
¶
¶
NOME DO ALUNO [14]
¶
¶
¶
Dissertação Apresentada ao ISMT para Obtenção do Grau de
Mestre em … [12]
Orientador(a) : Professor(a) Doutor(a) , categoria, af i l iação [12]
Co-orientador(a) : Professor(a) Doutor(a) , categoria, af i l iação [12]
¶
¶
Coimbra, mês de ano [12]
Anexo E - Guia para a hifenização de palavras
O uso do hífen é regulado pelo Acordo Luso-Brasileiro de 1945 (Dec.-Lei n.º 35:228 de 8 de Dezembro de 1945, em
particular o disposto nas bases XXVIII a XXXII; ver Anexo C) e Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990
(Anexo D). A utilização do hífen é difícil de resumir em poucas linhas, pelo que se recomenda o uso de uma boa
gramática (um bom exemplo é a de Bergström e Reis [1997]) e a consulta dos Acordos. Fica o resumo das situa-
ções mais frequentes (Azevedo, 2004, p. 83) e alguns exemplos.
A) Hifenizar condicionalmente
PRIMEIRO ELEMENTO SEGUNDO ELEMENTO EXEMPLO
Ab, ob, sob, sub b, h, r Subescala, subgrupo, sub-reptício, sub-hepático
Ad d, h, r Administrar, adnotação, ad-rogar, ad-renal
Ante, entre, sobre h Antebraço, entreabrir, sobre-hu-mano
Anti, arqui, semi h, i, r, s Antialcoólico, arquimilionário, semideus, anti-histérico, semi-in-consciente
Auto, contra, extra, infra, intra, neo, proto, pseudo, supra, ultra
vogal, h, r, s Autoconfiança, autoconsciência, autocontrolo, contramanifestação, infravermelho, pseudodelírio, auto-estima, contra-indicação, infra-som, supra-renal, neo-esco-lástico, pseudo-sábio
Circum vogal, h, m, n Circumpolar, circum-adjacente
Co, com, sem Segundo elemento com vida pró-pria
Coacção, compaginar, co-herdeiro, com-aluno, sem-razão
Hiper, inter, super h, r Hiperacidez, intersubjectividade, superego, hiper-rancoroso, inter-relação, super-regeneração
Mal, pan vogal, h Malformação, pangermânico, mal-acabado, pan-americano
B) Hifenizar sempre
PRIMEIRO ELEMENTO SEGUNDO ELEMENTO EXEMPLO
Ex, vice, vizo, soto, sota Ex-líbris, vice-director, vizo-rei, soto-mestre, sota-patrão
Além, aquém, pós, pré, pró, recém Além-túmulo, aquém-fronteiras, pós-escolar, pré-natal, pró-activi-dade, recém-casado
De origem adjectiva terminado em “o” De origem adjectiva Ântero-dorsal, póstero-inferior, agro-pecuária
Derivados de toponónimos Espírito-santense, cabo-verdiano,
Advérbio Não é substantivo Abaixo-assinado, sem-fios, não-agressão
C) Não hifenizar
PRIMEIRO ELEMENTO SEGUNDO ELEMENTO EXEMPLO
Ab, bi, hipo, meta, multi, ob, peri, poli, re, retro, sob, sub
Ablactação, bissexual, hipomania, metanálise, metalinguagem, mul-tirracial, perirrenal, poliúria, rei-dratar, retroacção, sobdominante, subalimentar
De origem substantiva ou adjectiva terminado em “o”
De origem substantiva Cardiorrespiratório, electrocardio-grama, hidrossanitário, monopa-rental, monoácido, dorsolateral, microcéfalo, neurobiologia, psico-fisiologia, socioeconómico vi-suoespacial, visuomotor
Anexo F - Acordo ortográfico de 1945
Aprovado pelo Decreto n.º 35 228, de 8 de Dezembro de 1945. Alterado pelo Decreto-Lei n.º 32/73, de 6 de Fevereiro.
Conferência Interacadémica de Lisboa para a unificação ortográfica da língua portuguesa.
Documento n.º 1 Conclusões complementares do Acordo de 1931
XXVIII
Limitação do emprego do hífen, de acordo com o uso tradicional e corrente, em compostos do vocabulário onomástico
formados por justaposição de palavras (Vila Real, Belo Horizonte, Santo Tirso, Rio de Janeiro, porém Montemor-o-
Novo, Grã-Bretanha, Áustria-Hungria, Sargento-Mor); e emprego do mesmo sinal nos derivados de compostos ono-
másticos desse tipo (vila-realense, belo-horizontino, austro-húngaro).
XXIX
Regularização do emprego do hífen em palavras formadas com prefixos de origem grega ou latina, ou com outros
análogos elementos de origem grega, de conformidade, em suas linhas gerais, com as «Instruções» de 1943.
XXX
Emprego do hífen em palavras formadas com sufixos de origem tupi-guarani, que representam formas adjectivas,
como açu, guaçu e mirim, quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada graficamente ou quando a pronún-
cia exige a distinção gráfica dos dois elementos.
XXXI
Emprego do hífen nas ligações da preposição de com as formas monossilábicas do presente do indicativo do verbo
haver (hei-de, hás-de, há-de, heis-de, hão-de).
XXXII
Emprego do hífen em combinações ocasionais de formas diversas que não constituem propriamente palavras, mas
encadeamentos vocabulares. (Exemplos: A estrada Rio de Janeiro-Petrópolis; o desafio de xadrez Portugal-França, etc.)
(…)
Documento n.º 2 Bases Analíticas do Acordo Ortográfico de 1945
Base III
O h inicial emprega-se: 1.°) por força da etimologia; haver, hélice, hera, hoje, hora, humano; 2.°) em virtude de tradição
gráfica muito longa, com origem no próprio latim e com paralelo em línguas românicas: húmido, humor; 3.°) em vir-
tude de adopção convencional: há?, hem?, hum! Admite-se, contudo, a sua supressão, apesar da etimologia, quando
ela está inteiramente consagrada pelo uso: erva, em vez de herva; e, portanto, ervaçal, ervanário, ervoso (em contraste
com herbáceo, herbanário, herboso, formas de origem erudita).
Se um h inicial passa a interior, por via de composição, e o elemento em que figura se aglutina ao precedente, suprime-
se: anarmónico, biebdomadário, desarmonia, desumano, exaurir, inábil, lobisomem, reabilitar, reaver, transumar.
Igualmente se suprime nas formas do verbo haver que entram, com pronomes intercalados, em conjugações de futuro
e de condicional: amá-lo-ei, amá-lo-ia, dir-se-á, dir-se-ia, falar-nos-emos, falar-nos-íamos, juntar-se-lhe-ão, juntar-se-
lhe-iam. Mantém-se, no entanto, quando, numa palavra composta, pertence a um elemento que está ligado ao anterior
por meio de hífen: anti-higiénico, contra-haste, pré-história, sobre-humano.
(…)
Base XXVIII
Emprega-se o hífen nos compostos em que entram, foneticamente distintos (e, portanto, com acentos gráficos, se os
têm à parte), dois ou mais substantivos, ligados ou não por preposição ou outro elemento, um substantivo e um adjec-
tivo, um adjectivo e um substantivo, dois adjectivos ou um adjectivo e um substantivo com valor adjectivo, uma forma
verbal e um substantivo, duas formas verbais, ou ainda outras combinações de palavras, e em que o conjunto dos
elementos, mantida a noção da composição, forma um sentido único ou uma aderência de sentidos. Exemplos: água-
de-colónia, arco-da-velha, bispo-conde, brincos-de-princesa, cor-de-rosa (adjectivo e substantivo invariável), decreto-
lei, erva-de-santa-maria, médico-cirurgião, rainha-cláudia, rosa-do-japão, tio-avô; alcaide-mor, amor-perfeito, cabra-
cega, criado-mudo, cristão-novo, fogo-fátuo, guarda-nocturno, homem-bom, lugar-comum, obra-prima, sangue-frio;
alto-relevo, baixo-relevo, belas-letras, boa-nova (insecto), grande-oficial, grão-duque, má-criação, primeiro-ministro,
primeiro-sargento, quota-parte, rico-homem, segunda-feira, segundo-sargento; amarelo-claro, azul-escuro, azul-ferre-
te, azul-topázio, castanho-escuro, verde-claro, verde-esmeralda, verde-gaio, verde-negro, verde-rubro; conta-gotas,
deita-gatos, finca-pé, guarda-chuva, pára-quedas, porta-bandeira, quebra-luz, torna-viagem, troca-tintas; puxa-puxa,
ruge-ruge; assim-assim (advérbio de modo), bem-me-quer, bem-te-vi, chove-não-molha, diz-que-diz-que, mais-que-
perfeito, maria-já-é-dia, menos-mal (=«sofrivelmente»), menos-mau (=«sofrível»). Se, porém, no conjunto dos elemen-
tos de um composto, está perdida a noção da composição, faz-se a aglutinação completa: girassol, madrepérola, ma-
dressilva, pontapé.
De acordo com as espécies de compostos que ficam indicadas, deveriam, em princípio, exigir o uso do hífen todas as
espécies de compostos do vocabulário onomástico que estivessem em idênticas condições morfológicas e semânticas.
Contudo, por simplificação ortográfica, esse uso limita-se apenas a alguns casos, tendo-se em consideração as práticas
correntes. Exemplos:
a) nomes em que dois elementos se ligam por uma forma de artigo: Albergaria-a-Velha, Montemor-o-Novo, Trás-os-
Montes;
b) nomes em que entram os elementos grão e grã: Grã-Bretanha, Grão-Pará;
c) nomes em que se combinam simetricamente formas onomásticas (tal como em bispo-conde, médico-cirurgião, etc.):
Áustria-Hungria, Croácia-Eslavónia;
d) nomes que principiam por um elemento verbal: Passa-Quatro, Quebra-Dentes, Traga-Mouros, Trinca-Fortes;
e) nomes que assentam ou correspondem directamente a compostos do vocabulário comum em que há hífen: Capitão-
Mor, como capitão-mor; Norte-Americanos, como norte-americano; Peles-Vermelhas, como pele-vermelha; Sul-Afri-
canos, como sul-africano; Todo-Poderoso, como todo-poderoso.
Limitado assim o uso do hífen em compostos onomásticos formados por justaposição de vocábulos, são variadíssimos
os compostos do mesmo tipo que prescindem desse sinal; e apenas se admite que um ou outro o tenha em parte, se o
exigir a analogia com algum dos casos supracitados ou se entrar na sua formação um vocábulo escrito em hífen: A dos
Francos (povoação de Portugal), Belo Horizonte, Castelo Branco (topónimo e antropónimo; com a variação Castel
Branco), Entre Ambos-os-Rios, Figueira da Foz, Foz Tua, Freixo de Espada à Cinta, Juiz de Fora, Lourenço Marques,
Minas Gerais, Nova Zelândia, Ouro Preto, Ponte de Lima, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santa Rita do Passa-Quatro,
São [ou S.] Mamede de Ribatua, Torre de Dona [ou D.] Chama, Vila Nova de Foz Côa. Entretanto, os derivados direc-
tos dos compostos onomásticos em referência, tanto dos que requerem como dos que dispensam o uso do hífen, exi-
gem este sinal, à maneira do que sucede com os derivados directos de compostos similares do vocabulário comum.
Quer dizer: do mesmo modo que se escreve, por exemplo, bem-me-querzinho, grande-oficialato, grão-mestrado,
guarda-moria, pára-quedista, santa-fèzal, em harmonia com bem-me-quer, grande-oficial, grão-mestre, guarda-mor,
pára-quedas, santa-fé, deve escrever-se: belo-horizontino, de Belo Horizonte; castelo-vidense, de Castelo de Vide; espí-
rito-santense, de Espírito Santo; juiz-forano, de Juiz de Fora; ponte-limense, de Ponte de Lima; porto-alegrense, de
Porto Alegre; são-tomense, de São [ou S.] Tomé; vila-realense, de Vila Real.
Convém observar, a propósito, que as locuções onomásticas (as quais diferem dos compostos onomásticos como
quaisquer locuções diferem de quaisquer compostos, isto é, por não constituírem unidades semânticas ou aderências
de sentidos, mas conjuntos vocabulares em que os respectivos componentes, apesar da associação que formam, têm os
seus sentidos individualizados) dispensam, sejam de que espécie forem, o uso do hífen, sem prejuízo de este se manter
em algum componente que já de si o possua: América do Sul, Beira Litoral, Gália Cisalpina, Irlanda do Norte; Coração
de Leão, Demónio do Meio-Dia, Príncipe Perfeito, Rainha Santa; etc. Estão assim em condições iguais às de todas as
locuções do vocabulário comum, as quais, a não ser que algum dos seus componentes tenha hífen (ao deus-dará, à
queima-roupa, etc.), inteiramente dispensam este sinal, como se pode ver em exemplos de várias espécies:
a) locuções substantivas: alma de cântaro, cabeça de motim, cão de guarda, criado de quarto, moço de recados, sala de
visitas;
b) locuções adjectivas: cor de açafrão, cor de café com leite, cor de vinho (casos diferentes de cor-de-rosa, que não é
locução, mas verdadeiro composto, por se ter tornado unidade semântica);
c) locuções pronominais: cada um, ele próprio, nós mesmos, nós outros, quem quer que seja, uns aos outros;
d) locuções adverbiais: à parte (note-se o substantivo aparte), de mais (locução a que se contrapõe de menos; note-se
demais, advérbio, conjunção, etc.), depois de amanhã, em cima, por certo, por isso;
e) locuções prepositivas: abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, a par de, à parte de, apesar de, aquando de, debaixo
de, enquanto a, por baixo de, por cima de, quanto a;
f) locuções conjuncionais: a fim de que, ao passo que, contanto que, logo que, por conseguinte, visto como.
Base XXIX
Emprega-se o hífen em palavras formadas com prefixos de origem grega ou latina, ou com outros elementos análogos
de origem grega (primitivamente adjectivos), quando convém não os aglutinar aos elementos imediatos, por motivo
de clareza ou expressividade gráfica, por ser preciso evitar má leitura, ou por tal ou tal prefixo ser acentuado grafica-
mente. Assim o documentam os seguintes casos:
1.°) compostos formados com os prefixos contra, extra (exceptuando-se extraordinário), infra, intra, supra e ultra,
quando o segundo elemento tem vida à parte e começa por vogal, h, r ou s: contra-almirante,
6 No texto oficial, por lapso, “com os prefixos”.
contra-harmónico, contra-regra, contra-senha; extra-axilar, extra-humano, extra-regulamentar, extra-secular; infra-axi-
lar, infra-hepático, infra-renal, infra-som; intra-hepático, intra-ocular, intra-raquidiano; supra-axilar, supra-hepático,
supra-renal, supra-sensível; ultra-humano, ultra-oceânico, ultra-romântico, ultra-som;
2.°) compostos formados com os elementos de origem grega auto, neo, proto e pseudo, quando o segundo elemento
tem vida à parte e começa por vogal, h, r ou s: auto-educação, auto-retrato, auto-sugestão; neo-escolástico, neo-heléni-
co, neo-republicano, neo-socialista; proto-árico, proto-histórico, proto-romântico, proto-sulfureto; pseudo-apóstolo,
pseudo-revelação, pseudo-sábio;
3.°) compostos formados com os prefixos anti, arqui e semi, quando o segundo elemento tem vida à parte e começa
por h, i, r ou s: anti-higiénico, anti-ibérico, anti-religioso, anti-semita; arqui-hipérbole, arqui-irmandade, arqui-rabino,
arqui-secular; semi-homem, semi-interno, semi-recta, semi-selvagem;
4.°) compostos formados com os prefixos ante, entre e sobre, quando o segundo elemento tem vida à parte e começa
por h: ante-histórico; entre-hostil; sobre-humano;
5.°) compostos formados com os prefixos hiper, inter e super, quando o segundo elemento tem vida à parte e começa
por h ou por um r que não se liga foneticamente ao r anterior: hiper-humano; inter-helénico, inter-resistente; super-
homem, super-requintado;
6.°) compostos formados com os prefixos ab, ad e ob, quando o segundo elemento começa por um r que não se liga
foneticamente ao b ou d anterior: ab-rogar; ad-renal; ob-reptício;
7.°) compostos formados com o prefixo sub, ou com o seu paralelo sob, quando o segundo elemento começa por b, por
h (salvo se não tem vida autónoma: subastar, em vez de sub-hastar), ou por um r que não se liga foneticamente ao b
anterior: sub-bibliotecário, sub-hepático, sub-rogar; sob-roda, sob-rojar;
8.°) compostos formados com o prefixo6 circum, quando o segundo elemento começa por vogal, h, m ou n: circum-
ambiente, circum-hospitalar, circum-murado, circum-navegação;
9.°) compostos formados com o prefixo co, quando este tem o sentido de «a par» e o segundo elemento tem vida autó-
noma: co-autor, co-dialecto, co-herdeiro, co-proprietário;
10.°) compostos formados com os prefixos com e mal, quando o segundo elemento começa por vogal ou h: com-aluno;
mal-aventurado, mal-humorado;
11.°) compostos formados com o elemento de origem grega pan, quando o segundo elemento tem vida à parte e co-
meça por vogal ou h: pan-americano, pan-americanismo; pan-helénico, pan-helenismo;
12.°) compostos formados com o prefixo bem, quando o segundo elemento começa por vogal ou h, ou então quando
começa por consoante, mas está em perfeita evidência de sentido: bem-aventurado, bem-aventurança, bem-humora-
do; bem-criado, bem-fadado, bem-fazente, bem-fazer, bem-querente, bem-querer, bem-vindo;
13.°) compostos formados com o prefixo sem, quando este mantém a pronúncia própria e o segundo elemento tem
vida à parte: sem-cerimónia, sem-número, sem-razão;
14.°) compostos formados com o prefixo ex, quando este tem o sentido de cessamento ou estado anterior: ex-director,
ex-primeiro-ministro, ex-rei;
15.°) compostos formados com os prefixos vice e vizo (salvo se o segundo elemento não tem vida à parte: vicedómino),
ou com os prefixos soto e sota, quando sinónimos desses: vice-almirante, vice-cônsul, vice-primeiro-ministro; vizo-rei,
vizo-reinado, vizo-reinar; soto-capitão, soto-mestre, soto-piloto; sota-capitão, sota-patrão, sota-piloto;
16.°) compostos formados com prefixos que têm acentos gráficos, como além, aquém, pós (paralelo de pos), pré (para-
lelo de pre), pró (com o sentido de «a favor de»), recém: além-Atlântico, além-mar; aquém-Atlântico, aquém-fronteiras;
pós-glaciário, pós-socrático; pré-histórico, pré-socrático; pró-britânico, pró-germânico; recém-casado, recém-nascido.
Base XXX
Emprega-se o hífen nos vocábulos terminados por sufixos de origem tupi-guarani que representam formas adjectivas,
como açu, guaçu e mirim, quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada graficamente ou quando a pronún-
cia exige a distinção gráfica dos dois elementos: amoré-guaçu, anajá-mirim, andá-açu, capim-açu, Ceará-Mirim.
Base XXXI
Emprega-se o hífen nas ligações da preposição de às formas monossilábicas do presente do indicativo do verbo haver:
hei-de, hás-de, há-de, heis-de, hão-de.
Base XXXII
É o hífen que se emprega, e não o travessão, para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, for-
mando, não propriamente vocábulos compostos, mas encadeamentos vocabulares: a divisa
Liberdade-Igualdade-Fraternidade; a estrada Rio de Janeiro-Petrópolis; o desafio de xadrez Inglaterra-França; o per-
curso Lisboa-Coimbra-Porto.
Anexo G - Acordo ortográfico de 1990
Assinado em Lisboa a 16 de Dezembro de 1990.
Aprovado para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 26/91, de 23 de Agosto
Diário da República nº 193, Série I-A, Págs. 4370 a 4388
6 - Emprego do hífen (bases XV a XVII).
6.1 - Estado da questão
No que respeita ao emprego do hífen, não há propriamente divergências assumidas entre a norma ortográfica
lusitana e a brasileira. Ao compulsarmos, porém, os dicionários portugueses e brasileiros e ao lermos, por exem-
plo, jornais e revistas, deparam-se-nos muitas oscilações e um largo número de formações vocabulares com grafia
dupla, ou seja, com hífen e sem hífen, o que aumenta desmesurada e desnecessariamente as entradas lexicais dos
dicionários. Estas oscilações verificam-se sobretudo nas formações por prefixação e na chamada recomposição,
ou seja, em formações com pseudoprefixos de origem grega ou latina.
Eis alguns exemplos de tais oscilações: ante-rosto e anterrosto, co-educação e coeducação, pré-frontal e prefron-
tal, sobre-saia e sobressaia, sobre-saltar e sobressaltar; aero-espacial e aeroespacial, auto-aprendizagem e autoa-
prendizagem, agro-industrial e agroindustrial, agro-pecuária e agropecuária, alvéolo-dental e alvealodental, bol-
bo-raquidiano e bolborraquidiano, geo-história e geoistória, micro-onda e microonda; etc.
Estas oscilações são, sem dúvida, devidas a uma certa ambiguidade e falta de sistematização das regras que sobre
esta matéria foram consagradas no texto de 1945. Tornava-se, pois, necessário reformular tais regras de modo
mais claro, sistemático e simples. Foi o que se tentou fazer em 1986.
A simplificação e redução operadas nessa altura, nem sempre bem compreendidas, provocaram igualmente po-
lémica na opinião pública portuguesa, não tanto por uma ou outra incongruência resultante da aplicação das
novas regras, mas sobretudo por alterarem bastante a prática ortográfica neste domínio.
A posição que agora se adopta, muito embora tenha tido em conta as críticas fundamentadas ao texto de 1986,
resulta, sobretudo, do estudo do uso do hífen nos dicionários portugueses e brasileiros, assim como em jornais e
revistas.
6.2 - O hífen nos compostos (base XV)
Sintetizando, pode dizer-se que, quanto ao emprego do hífen nos compostos, locuções e encadeamentos vocabu-
lares, se mantém o que foi estatuído em 1945, apenas se reformulando as regras de modo mais claro, sucinto e
simples.
De facto, neste domínio não se verificam praticamente divergências nem nos dicionários nem na imprensa escri-
ta.
6.3 - O hífen nas formas derivadas (base XVI)
Quanto ao emprego do hífen nas formações por prefixação e também por recomposição, isto é, nas formações
com pseudoprefixos de origem grega ou latina, apresenta-se alguma inovação. Assim, algumas regras são formu-
ladas em termos contextuais, como sucede nos seguintes casos:
a) Emprega-se o hífen quando o segundo elemento da formação começa por h ou pela mesma vogal ou consoante
com que termina o prefixo ou pseudoprefixo (por exemplo: anti-higiénico, contra-almirante, hiper-resistente);
b) Emprega-se o hífen quando o prefixo ou falso prefixo termina em m e o segundo elemento começa por vogal,
m ou n (por exemplo: circum-murado, pan-africano).
As restantes regras são formuladas em termos de unidades lexicais, como acontece com oito delas (ex-, sota- e
soto-, vice- e vizo-; pós-, pré- e pró-).
Noutros casos, porém, uniformiza-se o não emprego do hífen, do modo seguinte:
a) Nos casos em que o prefixo ou o pseudoprefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por r ou s,
estas consoantes dobram-se, como já acontece com os termos técnicos e científicos (por exemplo: antirreligioso,
microssistema);
b) Nos casos em que o prefixo ou o pseudoprefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal
diferente daquela, as duas formas aglutinam-se, sem hífen, como já sucede igualmente no vocabulário científico e
técnico (por exemplo: antiaéreo, aeroespacial).
6.4 - O hífen na ênclise e tmese (base XVII)
Quanto ao emprego do hífen na ênclise e na tmese mantêm-se as regras de 1945, excepto no caso das formas hei
de, hás de, há de, etc., em que passa a suprimir-se o hífen. Nestas formas verbais o uso do hífen não tem justifica-
ção, já que a preposição de funciona ali como mero elemento de ligação ao infinitivo com que se forma a perífrase
verbal (cf. hei de ler, etc.), na qual de é mais proclítica do que apoclítica.