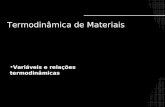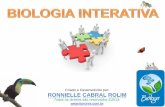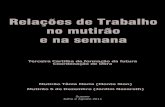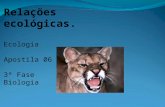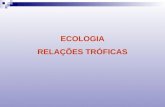Relacoes etnicorraciais na_escola.livro_2011doc
-
Upload
ricardo-costa -
Category
Education
-
view
391 -
download
2
Transcript of Relacoes etnicorraciais na_escola.livro_2011doc

Relações étnicorraciais na escola: desafios teóricos e práticas pedagógicas após a Lei 10.639
Organizadores:
Claudia Miranda Mônica Regina Ferreira Lins
Ricardo Cesar Rocha da Costa
Autores
Aderaldo Pereira dos Santos - FAETEC Ana Cláudia Diogo da Silva - FAETEC
Cláudia Cristina dos Santos Andrade - UERJ Claudia Miranda – UNIRIO
Leda Maria de Souza Machado - FAETEC Luiz Fernandes de Oliveira - UFRRJ
Marcelo Pacheco Soares - IFRJ Marcia Gomes de Oliveira Suchanek - FAETEC
Maria Elena Viana Souza - UNIRIO Mônica Regina Ferreira Lins - UERJ
Otavio Henrique Meloni - IFRJ Ricardo Cesar Rocha da Costa - IFRJ
Renato de Alcântara - FAETEC Rogério José de Souza - UFRJ
Walter Angelo Fernandes Aló - FAETEC
Rio de Janeiro Maio 2011

2
SUMÁRIO Introdução......................................................................................................................3 Parte 1 Desafios teóricos Continuísmos e rupturas na seleção de saberes escolares de História (s): entre um Brasil Colonial e um Brasil Decolonial ..................................................................................... 14 O pensamento social brasileiro e a questão racial: da ideologia do “branqueamento” às “divisões perigosas”...................................................................................................... 28 Reflexões educativas sobre o ensino da História da África .............................................. 49 Da África visões da Europa ou Exemplos de re-apoderação do discurso literário em Angola e Moçambique ............................................................................................................. 65 Educação étnico-racial brasileira: uma forma de educar para a cidadania......................... 76 Nos deram um espelho e vimos um mundo doente....................................................... 102 “A sala de aula é o último lugar onde ocorrerão mudanças”. A lei 11.465: suas implicações teóricas e práticas na recente produção acadêmica. ..................................................... 119 A união pelo traço: caminhos de leitura para a poesia de João Maimona........................ 146 A poética do Jongo: tradição e reinvenção ............................................................... 165 Parte 2 Práticas pedagógicas Além do Jonny Quest: a utilização de dois clássicos cinematográficos como recursos didáticos no ensino de história da África. ...................................................................... 182 Zumbi: herói ou vilão?................................................................................................. 198 Ações pedagógicas e maiuêutica: trabalhando religião ludicamente............................... 211 Eu e o outro: o professor como artesão da interculturalidade ......................................... 223 África e as relações étnicorraciais na educação de jovens e adultos............................... 238

3
Introdução
O longo caminho de reafirmação de reivindicações dos movimentos negros
deu origem à Lei 10.639/03, um projeto de lei apresentado em 11 de março de 1999
pelos deputados federais Ester Grossi (educadora) e por Ben-Hur Ferreira (oriundo
do Movimento Negro), ambos do PT. A lei modificou a LDBEN e foi sancionada pelo
Presidente Lula e pelo Ministro Cristovam Buarque, em 09 de janeiro de 2003. Ela
torna obrigatória a inclusão no currículo oficial de ensino da temática “História e
Cultura Afro-brasileira”1.
A lei, de início, trouxe consigo uma intensa polêmica: para alguns, significava
uma imposição de conteúdos; para outros, uma concessão. Porém, com a
realização de diversos fóruns estaduais e nacionais promovidos pelo MEC e o
empenho de diversos educadores e dos movimentos negros, os debates sobre o
ensino da História da África e dos negros no Brasil nos currículos escolares vêm
conquistando espaços significativos como parte da luta antirracista na sociedade
brasileira.
Ao lado das discussões sobre as ações afirmativas, em especial a polêmica
sobre as cotas no Rio de Janeiro, as reflexões acadêmicas vêm se ampliando e
adentrando outras discussões temáticas já presentes no campo educacional, tais
como currículo, práticas de ensino, multiculturalismo, educação inclusiva etc.
Publicações começaram a tomar corpo no cenário acadêmico, em revistas de
divulgação científica e também na mídia. Antes mesmo da promulgação da nova lei,
em 2003, todo esse movimento foi reforçado pela recorrência de publicações de
artigos sobre a educação das relações étnicorraciais nas principais revistas
acadêmicas de educação, a partir dos anos 90, assim como pela fundação da
Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), em 2000. Pode-se
também considerar como determinante nesse processo a formação de um Grupo
de Estudos Afro-brasileiros e Educação nos Encontros Anuais da ANPED, a partir
de 2002. Destaca-se, por fim, a ampliação, principalmente após a publicação da Lei
10.639/03, de cursos de pós-graduação lato-sensu sobre História da África,
relações raciais e educação em diversas instituições de ensino.
1 A lei foi modificada em março de 2008, passando a incluir a obrigatoriedade do ensino de história e culturas indígenas (Lei 11.645/08).

4
Esta nova legislação, somada às ações do Estado, assume novas
abordagens interpretativas sobre a identidade nacional, com alguns pressupostos
não-eurocêntricos, pois claramente propõe ampliar o foco dos currículos. Deve-se
deixar claro de que não se trata da substituição de um “foco eurocêntrico” por um
“afrocêntrico”. Na verdade, essa nova abordagem associa a ideia de nação
democrática com o reconhecimento da diferença racial e tenta estabelecer uma
perspectiva de relações interculturais nos processos educacionais, na medida em
que declara que a educação das relações étnicorraciais impõe aprendizagens entre
brancos e negros como trocas de conhecimentos para a construção de uma
sociedade justa, igual e equânime. Os sujeitos para esta tarefa, segundo a
legislação e os agentes do Estado, são os docentes. Estes devem incorporar uma
perspectiva de reconhecimento das diferenças e das desigualdades raciais
presentes na história brasileira, adotando práticas de valorização da luta antirracista
e desconstruindo o mito da “democracia racial”. Um dos aspectos mais relevantes
dessa nova postura diz respeito à necessidade de se incorporar uma nova
perspectiva historiográfica que considere os africanos e seus descendentes no
Brasil como sujeitos históricos, em oposição ao estabelecido por longos anos de
formação histórica e historiográfica.
Este livro tem a intenção de descrever e analisar essas questões, a partir de
reflexões teóricas e relatos de experiências que estão sendo implementadas em
algumas instituições de ensino no Rio de Janeiro. Professores e especialistas
discutem aqui, a partir de diversas áreas de conhecimento, as tensões e os desafios
da perspectiva de reeducação das relações étnicorraciais na educação básica.
Desde a promulgação da Lei 10.639, em 2003, mas principalmente a partir
da sua mudança de perfil institucional, no processo de expansão da rede federal de
ensino técnico, com a reforma ocorrida em 2008,2 o IFRJ – antigo CEFET Química
– tem se destacado como uma das instituições que tem promovido experiências
exitosas em termos de práticas pedagógicas sobre as relações étnicorraciais. Em
meio a inúmeras iniciativas – que podem ser conferidas no relatório que o Instituto
enviou à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
2 A rede federal de ensino, após a promulgação da LEI nº 11.892/2008, passou a ser composta pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; os Centros Federais de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro – CEFET-RJ e de Minas Gerais – CEFET-MG e Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais.

5
(SEPPIR), em abril de 20113 –, gostaríamos de destacar aquelas promovidas pelos
docentes da área de Ciências Humanas e pela Direção do campus São Gonçalo do
IFRJ, desde o início de 2009. Em primeiro lugar, a iniciativa de organização do
Curso de Extensão “Brasil e África em Sala de Aula”, voltado principalmente para a
qualificação e a atualização de professores da educação básica, mas aberto
também à participação de estudantes de licenciatura e de militantes de movimentos
sociais e da comunidade em geral. O curso, estruturado em um formato
transdisciplinar, tem como objetivo principal oferecer a oportunidade para que seus
participantes desenvolvam a sua prática docente ou a sua militância social com a
devida base teórica e fundamentação legal. Como desdobramento desse primeiro
curso, com o incremento das demandas por parte do magistério local, teve início em
fevereiro de 2011 a primeira turma da Pós-Graduação Lato Sensu “Especialização
em Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-Brasileira”. Esta Pós-Graduação
tem como finalidade contribuir para a formação, em termos de ensino e de
pesquisa, de docentes e profissionais ligados à educação, comprometidos com uma
política educacional que reconhece a nossa diversidade étnico-racial.
Estas iniciativas no campo de debate e de ação da prática pedagógica foram
ainda complementadas no Campus São Gonçalo do IFRJ com a organização do
Grupo de Pesquisa em Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-brasileira,
registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa da Plataforma Lattes do CNPq e,
finalmente, com a criação, também no início de 2011, do NEAB – Núcleo de
Estudos Afro-Brasileiros.
Nesta coletânea participam três professores envolvidos nesse processo de
discussão das relações étnicorraciais por parte do IFRJ, sendo dois deles lotados
no campus São Gonçalo e um pertencente ao campus Volta Redonda – mas
lecionando na Especialização citada acima. Tratam-se, como veremos adiante, de
contribuições no campo da reflexão teórica sobre a temática da questão racial no
pensamento social brasileiro e de questões envolvendo obras importantes da
Literatura Africana.
Outra experiência importante está presente na FAETEC.
A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e a Fundação de Apoio às
Escolas Técnicas do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC, em resolução conjunta 3 Cf. o documento assinado pela Reitoria do IFRJ na data citada, intitulado “Relatório de resposta ao Ofício 505/2011/Ouvidoria/Gabinete/SEPPIR/PR”. Disponível em: http://ifrj.edu.br/site/midias/arquivos/2011413141956117_seppirfinal.pdf. Acesso: maio/2011.

6
publicada no Diário Oficial do estado, em agosto de 2007, instituiu na rede de
ensino FAETEC o Núcleo de Estudos Étnico-Raciais e Ações Afirmativas - NEERA,
órgão responsável pela implementação e cumprimento dos Artigos 26–A e 79–B da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, das Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e das Convenções Internacionais de Combate ao Racismo,
preconceito e outras formas de discriminação e violações de Direitos Humanos.
A fim de implementar o disposto na resolução, coube ao NEERA às
atribuições de promoção de pesquisa, extensão e formação continuada, em
conexão com as políticas de ação afirmativa de promoção da diversidade e
igualdade racial.
A instituição e regulamentação do NEERA expressaram as demandas
oriundas de análises e reflexões críticas do cotidiano escolar de docentes e
estudantes, desde a fundação da FAETEC, em 1997, tendo em vista a presença de
preconceitos, discriminações e racismo no cotidiano escolar e nas relações
pedagógicas.
Preocupada com o cumprimento da legislação e reconhecendo as
reivindicações de educadores e do movimento social negro, a FAETEC oficializou a
proposta de constituição de um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros formulada por
um movimento interno de professores, a partir de 2005. Tal reconhecimento e
oficialização aconteceram em 2007 com a criação do Núcleo de Estudos Étnico-
Raciais e Ações Afirmativas (NEERA), no âmbito da Divisão de Inclusão da
instituição.
Após quatro anos de sua instituição, o NEERA já acumulou experiências e
reflexões relevantes na perspectiva de promoção da reeducação das relações
étnicorraciais nas escolas, formulando propostas de currículos, cursos de formação
docentes, elaboração de materiais didáticos e intercâmbio com outros espaços de
reflexão teórica e prática.
Fruto desse processo coletivo, esta coletânea apresenta contribuições de
cinco docentes e especialistas da questão racial, onde, a partir de suas elaborações
teóricas e práticas docentes, tentam construir caminhos e perspectivas para a
implementação da Lei 10.639/03 na rede FAETEC.

7
Também damos destaque às experiências e reflexões vivenciadas no
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira da UERJ (CAp – UERJ),
especialmente as atuações de docentes nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
No ano da Copa do Mundo realizado na África, em 2010, os docentes dos
anos iniciais do CAp-UERJ compraram um desafio: estabelecer novos enfoques
históricos, literários, científicos e sociais na compreensão da constituição da nação
brasileira e uma nova fundamentação das relações étnicorraciais entre crianças dos
anos iniciais de escolaridade.
Com base em experiências didáticas, a partir de reflexões sobre a
manifestação do racismo entre crianças, somadas a questões teóricas
desenvolvidas pelas próprias docentes ao longo dos últimos 10 anos – sobre
diversos aspectos, tais como os saberes que as crianças trazem ao espaço escolar
e a construção curricular, dentre outras –, um conjunto de professoras do
Departamento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (DEF) do CAp - UERJ
promoveu uma série de reflexões didáticas e curriculares sobre essas temáticas.
Neste livro, alguns docentes dessa instituição socializam suas reflexões sobre este
período de escolaridade, em que algumas questões que envolvem as relações
étnicorraciais são pouco divulgadas ou aparecem como aspectos secundários no
grande tema sobre racismo e educação.
Por outro lado, a questão das diferenças culturais é outra marca do conjunto
dos trabalhos apresentados pelos docentes do IFRJ, da FAETEC e do CAp - UERJ.
Assim, conceitos como diferença cultural, culturas, exclusão social e cultura escolar
perpassam os diversos textos, interligando-se à temática étnicorracial.
Por fim, destacamos as reflexões de especialistas que há vários anos refletem
sobre a temática, em colaboração com os docentes das instituições acima citadas.
Estes, atualmente, se encontram na Secretaria Estadual de Educação do Rio de
Janeiro e em universidades públicas, como a UNIRIO, a UFRRJ e a UFRJ.
Os autores aqui reunidos desenvolvem com seus estudantes reflexões sobre
as relações étnicorraciais no Brasil, as políticas de promoção da igualdade racial e o
reconhecimento da diferença no âmbito das escolas e dos sistemas de ensino.
Quando afirmamos a necessidade de um pensamento transdisciplinar na ação
pedagógica, queremos destacar as iniciativas desses docentes, pois pertencem a
diversas áreas de conhecimento como História, Sociologia, Pedagogia, Literatura e
Ciências Sociais.

8
Feitas essas considerações iniciais, apresentamos a seguir a organização e
os artigos que compõem esta obra, divididas em duas partes: desafios teóricos e
práticas pedagógicas.
A primeira parte é composta de nove capítulos.
No primeiro capítulo temos o texto intitulado “Continuísmos e rupturas na
seleção de saberes escolares de História(s): entre um Brasil Colonial e um Brasil
Decolonial”, dos professores, Claudia Miranda da UNIRIO e Rogério José de
Souza da UFRJ. O texto se localiza no campo do currículo, privilegiando autores
comprometidos com a crítica pós-colonial e suas contribuições no debate sobre
outras práticas pedagógicas. Os autores examinam aspectos do desenho
curricular que nos fixam como sujeitos coloniais (o eu e o outro), assim como
buscam interfaces sobre as formas de movimentação do currículo de História do
Brasil dentro e fora dos muros da escola. No mais, entre outras questões,
sugerem re-significações das práticas discursivas e dos espaços de construção de
saberes que possam contribuir para a ampliação das representações identitárias
em confronto com a ideia de brasilidade.
No segundo capítulo, temos o texto “O pensamento social brasileiro e a
questão racial: da ideologia do ‘branqueamento’ às ‘divisões perigosas’” de
Ricardo Cesar Rocha da Costa, professor de Sociologia do IFRJ e ex-professor da
FAETEC. Esse artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão parcial e dirigida
sobre o pensamento social e político brasileiro e a questão racial, situando-o a
partir do debate de três ideias ou temas, cada um deles caracterizando um
determinado período histórico. A primeira seção foca o século XIX e a ideologia do
“branqueamento”, defendida pelas classes dominantes do Império, com base nas
teorias racistas de suposto cunho “científico” em voga daquela época. A segunda
seção está centrada no século XX e na discussão a respeito do mito da
“democracia racial”. Por fim, a terceira seção procura atualizar o debate sobre a
“democracia racial” neste século XXI, por conta da instituição das iniciativas
governamentais envolvendo as políticas de promoção da igualdade racial, que têm
provocado reações extremadas no meio acadêmico e na imprensa.
No terceiro capítulo temos o texto intitulado “Reflexões educativas sobre
o ensino da História da África” de Aderaldo Pereira dos Santos, professor de
História da FAETEC. O artigo reflete questões relacionadas ao ensino da História
do continente africano, sobretudo no que diz respeito aos temas da “escravidão na

9
África” e “a crise africana”, tomando por base obras de referência como A
escravidão na África: uma história de suas transformações, de Paul E. Lovejoy
(2002) e Compasso de Espera: o fundamental e o acessório na crise africana, de
Carlos Lopes (1997). O autor argumenta sobre a importância das respectivas
obras no sentido de realizarmos um ensino da História da África que seja pautado
numa perspectiva crítica e complexa.
No quarto capítulo temos o texto “Da África visões da Europa ou
Exemplos de re-apoderação do discurso literário em Angola e Moçambique”, do
professor de Língua Portuguesa e Literatura do IFRJ, Marcelo Pacheco Soares. O
autor apresenta a reflexão sobre como Angola e Moçambique, independentes
politicamente de Portugal a partir de meados da década de 1970, são nações que
desde o fim do período colonial buscam se impor às tradições literárias
estrangeiras a fim de traçar suas próprias identidades. O presente ensaio
investiga como a consolidação dessas identidades se processa mais
contemporaneamente a partir da transformação de ícones de culturas
notadamente europeias em figuras locais, trazendo à leitura o personagem Jaime
Bunda (criado pelo angolano Pepetela) e o conto “Sidney Poitier na barbearia de
Firipe Beruberu” (de autoria do moçambicano Mia Couto).
No quinto capítulo temos o texto da professora da UNIRIO Maria Elena
Viana Souza, intitulado “Educação étnicorracial brasileira: uma forma de educar
para a cidadania”. Aqui, a autora tem como objetivo principal trazer para o
debate as relações que podem ser feitas entre uma educação étnicorracial e
alguns elementos constitutivos para a construção da cidadania, no contexto
escolar de educação básica. Para tanto, utiliza o pensamento de autores como
Hasenbalg (1979, 1988, 1992), Corrêa (2000), Gomes (2001), Cuche (2002),
Ferreira (2004), entre outros, recorrendo à discussão sobre a Lei 10.639.
No sexto capítulo temos o texto “Nos deram um espelho e vimos um
mundo doente” da professora de Sociologia da FAETEC Marcia Gomes de
Oliveira Suchanek. O propósito do artigo é realizar um breve histórico sobre o
processo de apropriação português das terras dos povos que habitavam o Brasil
antes da colonização. Para atender a Lei 11.465/08 e realizar um bom trabalho em
sala de aula, independente da disciplina que se esteja ministrando, a primeira
atitude a fazer, segundo a autora, é conhecer como foi construída a concepção de
“índio” e qual lugar ela ocupa na sociedade brasileira. De acordo com a

10
concepção da autora, a informação histórica é o primeiro instrumento de trabalho
capaz de eliminar os preconceitos enraizados em nossa sociedade.
O sétimo capítulo, “‘A sala de aula é o último lugar onde ocorrerão
mudanças’ – Lei 11.465: suas implicações teóricas e práticas na recente produção
acadêmica”, é do professor de Sociologia da UFRRJ Luiz Fernandes de Oliveira,
também ex-professor da FAETEC e do CAp–UERJ. O objetivo do texto é sintetizar
algumas discussões que vêm se desenvolvendo em pesquisas e reflexões
acadêmicas sobre a questão da implementação da Lei 11.465 nos sistemas de
ensino, no currículo e nas escolas brasileiras, e identificar alguns limites dessas
discussões à luz da complexidade e das tensões que se apresentam entre um
dispositivo legal - que estabelece a obrigatoriedade de certos conteúdos históricos
e culturais - e as práticas e visões pedagógicas e curriculares tradicionais que têm
fortes inserções nas escolas e nas salas de aula.
O oitavo capítulo, intitulado “A união pelo traço: caminhos de leitura para a
poesia de João Maimona”, do professor de Literatura do IFRJ, Otavio Henrique
Meloni, apresenta uma reflexão literária sobre o poeta angolano João Maimona. O
autor nos mostra que a obra de João Maimona reflete o contexto social angolano
e suas mazelas, tanto como heranças da guerra de libertação nacional quanto da
guerra civil, então em pleno desenvolvimento. É um texto que amplia nossa visão
sobre a literatura de língua portuguesa e brasileira.
Fechando a primeira parte do livro, apresentamos o nono capítulo, “A
poética do Jongo: tradição e reinvenção” de Renato de Alcântara, professor de
literatura da FAETEC e Cláudia Cristina dos Santos Andrade, professora dos
anos iniciais do CAp - UERJ. O objetivo deste texto é compreender a construção
da poética dos pontos de Jongo, contribuindo com o conhecimento desta
prática pelos educadores. Os autores afirmam que a força da palavra cantada
faz emergir o orgulho de pertencer e recupera a história, retomando, na
atividade jongueira, a (re)inauguração de identidades, produzindo experiências
que se contrapõem à massificação cultural homogeneizante e
descaracterizante.
A segunda parte do livro apresenta algumas experiências pedagógicas,
acompanhadas também de reflexões teóricas, desenvolvidas em algumas
instituições de ensino do estado do Rio de Janeiro.

11
Assim, no décimo capítulo, temos o texto “Além do Jonny Quest: a
utilização de dois clássicos cinematográficos como recursos didáticos no ensino
de História da África”, de Walter Angelo Fernandes Aló, também professor de
História da FAETEC. A intenção do autor é compartilhar com os professores de
História, de Literatura e das demais áreas das Ciências Sociais a experiência de
utilização de dois clássicos cinematográficos como recursos didáticos, abordando,
de maneira crítica e contextualizada, os conteúdos da cultura africana e afro-
brasileira, e contribuindo assim para a renovação das abordagens sobre o tema.
O décimo primeiro capítulo é intitulado “Zumbi: herói ou vilão?” da
professora e pedagoga da FAETEC Leda Maria de Souza Machado. Nesse artigo
apresenta-se um pouco do caminho do negro escravizado, mas reconhecido
como um homem contumaz, orgulhoso, forte, revolucionário e insatisfeito com sua
condição social, que resolveu libertar a si e a seu povo da escravidão. Após a
leitura de vários relatos sobre sua vida, atesta-se que ela é cercada de inúmeras
interrogações, a começar pelo seu nome: Zumbi ou Zambi? Teria nascido no
Brasil ou seria um chefe africano trazido para ser escravizado? Seus pais eram
conhecidos? Teria sido capturado quando criança? Ganga Zumba seria seu
parente? Teria tido mulher e filhos? A autora se questiona: de que adianta tantos
aparatos para a igualdade de direitos, se não temos acesso ao conhecimento de
nossos heróis negros nos livros didáticos, como acontece com os outros heróis
brancos?
O décimo segundo capítulo, intitulado “Ações pedagógicas e maiuêutica:
trabalhando religião ludicamente”, da professora e pedagoga Ana Cláudia Diogo
da Silva da FAETEC, discute e propõe uma reflexão sobre o tema da religião,
contextualizado no currículo da escola laica. Tendo como base a discussão da Lei
10.639/03, a partir da postura e pensamento sugeridos pela maiêutica, o artigo
enfatiza o fazer pedagógico criativo.
O décimo terceiro capítulo apresenta o texto “Eu e o outro: o professor
como artesão da interculturalidade”, de Luiz Fernandes de Oliveira, da UFRRJ, e
Mônica Regina Ferreira Lins, professora dos anos iniciais do CAp–UERJ. A partir
de falas infantis e relatos de experiências com crianças dos anos iniciais, os
autores buscam uma reflexão sobre o papel que os professores têm na promoção
de relações interculturais no currículo escolar. Para os autores, a Lei 10.639, ao
instituir a obrigatoriedade do Ensino de História da África e da Cultura Afro-

12
Brasileira, implica em investimento na formação de docentes que, por longos
anos, apreenderam visões de mundo eurocêntricas – não somente por meio da
escrita, mas também por meio de imagens, fotografias, desenhos e áudios-visuais.
O artigo, além de abordar as polêmicas em torno da Lei, apresenta um
levantamento de aspectos históricos da produção da desigualdade no sistema
escolar, fazendo uso do relato de experiências de sala de aula. Assim, afirma o
pressuposto de que os docentes são importantes artesãos de práticas
interculturais.
Fechando a segunda parte, apresentamos décimo quarto capítulo,
intitulado “África e as relações étnicorraciais na educação de jovens e adultos”,
também dos professores de Luiz Fernandes de Oliveira e Mônica Regina Ferreira
Lins, tem como intenção descrever uma experiência de reflexão realizada no
curso de Extensão “Educação de Jovens e Adultos nos Anos Iniciais – contexto
histórico, cotidiano e currículo”, durante os anos de 2008 a 2010, no Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp–UERJ). Neste artigo, os
autores descrevem como a reflexão teórica apresentada no curso de extensão
- e para o conjunto de professores dos anos iniciais do CAp–UERJ -, gerou
certos dilemas e desafios quando se apresentaram temáticas novas e
conhecimentos históricos questionadores da visão oficial curricular no ensino
de História.
No conjunto da obra, esperamos alcançar os objetivos que estão explícitos
– e, às vezes, implícitos – nos trabalhos apresentados por todos os autores, ou
seja, o fortalecimento de intercâmbios teóricos e pedagógicos na perspectiva de
aprofundamento multidisciplinar das questões referentes à implementação das
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na educação básica
do Rio de Janeiro. Esperamos que o leitor, além de desfrutar e compartilhar as
experiências e reflexões teóricas aqui apresentadas, se sinta motivado a caminhar
com seus autores nesta longa luta por uma educação antirracista e democrática.
Claudia Miranda Mônica Regina Ferreira Lins
Ricardo Cesar Rocha da Costa
Rio de Janeiro, maio 2011.

13
Parte 1
Desafios teóricos

14
Continuísmos e rupturas na seleção de saberes escolares de História (s): entre um Brasil Colonial e um
Brasil Decolonial
Claudia Miranda4 Rogério José de Souza5
Introdução
Nesta primeira década do século XXI, viradas conceituais se tornam
indispensáveis aos temas do currículo e das propostas de pedagogias alternativas
para a transmissão cultural. Em tempos de implementação de políticas
diferencialistas, de debates intensos sobre pedagogias “outras” e de proposições
voltadas para a valorização da diversidade cultural, é urgente o retorno ao
questionamento sobre a missão da escola como instância formadora apoiada na
perspectiva político-pedagógica. Observamos que a produção de pesquisas sobre
interculturalidade, pluralismo, identidade e diferença, em periódicos e coletâneas
organizadas por estudiosos, instituições dos movimentos sociais, programas de
pesquisa, Núcleos de Estudos Afrobrasileiros instituídos em universidades, tornou-
se um marco para o debate sobre a diminuição das desigualdades em sentido
amplo.
Para acompanharmos essas mudanças e as crises sucessivas no campo da
teoria social e também do pensamento pedagógico, o “giro decolonial”, como
sugere Santiago Castro-Gomez (2007), passa a ser um imperativo. Os achados
teóricos contemplados neste artigo fazem parte do desdobramento do diálogo
estabelecido com os pesquisadores do Grupo Latinoamericano de investigação
Modernidad-Colonialidad dedicados aos estudos sobre colonialidad e
decolonialidad del poder.
Importa compreendermos os projetos de intervenção desenvolvidos por
grupos populares e movimentos sociais que se comprometem com políticas e
abordagens emancipatórias sobre os sujeitos fixados como subalternos. No caso do
Brasil, ganha relevo projetos voltados à inserção de um maior número de afro- 4 Doutora em Educação pela UERJ, Mestre em Educação pela UFRJ e Professora Adjunta da UNIRIO. 5 Mestre em História pela UFRJ, professor do ensino básico e pesquisador das relações étnicorraciais.

15
brasileiros nos espaços de prestígio como é o caso das universidades e de setores
do mundo do trabalho pouco sensíveis aos processos galopantes de exclusão. Os
“prejuízos coloniais” (grifos nossos) são reconhecidos, sobretudo, nas opções
políticas que reforçam os mecanismos de racialização dos diferentes outros
inventados pela colonização. Segundo Reinaldo Fleuri (2003),
Nos processos de colonização nos Estados Unidos, no Canadá, em países da América Latina, assim como em países de outros continentes, tal concepção etnocêntrica justificava a escravização e o genocídio dos povos nativos. Os imigrantes invasores trataram o continente americano como terra de conquista e não reconheceram a cultura dos indígenas, que foram obrigados a aceitar a cultura dos conquistadores. Considerando-se civilizadores e colocando em questão até mesmo a humanidade dos interlocutores, os primeiros colonizadores empreenderam uma ação de extermínio e de escravização, geralmente justificada por uma teorização pseudocientífica baseada em uma concepção evolucionista-biológica da diferença racial. Em nome de uma visão iluminista do progresso, proclamaram a inferioridade daqueles povos e destruíram suas diferentes culturas, impondo a própria civilização com o poder das armas. O Brasil de hoje, sob forte resistência, inicia sua tentativa de problematizar
suas múltiplas identidades. Neste processo, novas temáticas são introduzidas nos
currículos e nas mídias diversas. A transmissão cultural em linhas gerais ganhou
centralidade nos fóruns sobre currículo e práticas emancipatórias para o currículo
de História, não podemos ignorar o debate sobre as representações identitárias dos
sujeitos coloniais (o eu e o outro). Defendemos uma ampliação não apenas das
referências aos acontecimentos históricos e a presença dos grupos que compõem a
Diáspora Africana no Brasil. Para assumirmos um currículo ampliado faz-se
necessário reinventarmos os espaços de transmissão cultural. Caberia, portanto,
um breve entendimento sobre a proposta deste artigo: como podemos incorporar os
exemplos de experiências de projetos transversais para o debate sobre a História e
a seleção cultural? Quando produzimos saberes não-escolares e consideramos
nossas histórias locais para compreendermos a globalidade podemos vislumbrar
processos de descolonização do conhecimento a ser ensinado? Como a
invisibilização dos pressupostos advindos de uma aposta na diversidade passa a
ser um recurso de manutenção da perspectiva colonial de currículo? Os conteúdos
de História herdados da aventura colonial ganham centralidade no debate sobre os
modos de descolonizar a transposição didática em sentido mais amplo? E por
último: como podemos defender uma brasilidade decolonial indo além dos
currículos escolares e da visão eurocentrada de currículo?

16
De certo, essas questões orientam nosso olhar investigativo e nos
aproximam de achados teóricos e metodológicos indispensáveis ao campo da
educação. De todas as indagações suscitadas neste estudo - sobre o continuísmo e
o descontinuísmo das representações do “Brasil Colonial” no currículo de História -,
nos interessou a que diz respeito ao objeto de ensino e suas diferenças com
relação ao objeto de saber correspondente. Para Ramón Grosfoguel, (2008, p.168)
“esta continuidad del poder desde la colonia hasta hoy permitió elites blancas
clasificar a las poblaciones y excluir a las racializadas de las categorías de
ciudadanía y de la comunidad imaginada conocida como la nación”. Nosso estudo
toma como base o diálogo com a crítica pós-colonial para pensar políticas e práticas
curriculares privilegiando autores comprometidos com um contra-discurso e
abordagens emancipatórias dos sujeitos coloniais (o eu e o outro).
Examinamos aspectos do desenho curricular que nos fixam como sujeitos
coloniais; buscamos interfaces que facilitem a movimentação do currículo dentro e
fora dos muros da escola; situamos nuances do debate sobre as políticas e as
relações de poder instituídas a partir do conhecimento selecionado para ser
ensinado; ampliamos a concepção de práticas pedagógicas e de espaços de
formação por entendermos que a cidade pode ser o ponto de partida para outras
pedagogias dando suporte às instituições escolares. Neste caminho, apreendemos
alguns dos determinantes que definiram o debate inevitável sobre, “Pedagogia
Decolonial”, como defende Catherine Walsh (2008). Sugerimos re-significações das
práticas discursivas sobre as identidades construídas no Brasil e nos espaços de
construção de saberes que possam contribuir para a ampliação das representações
sobre “brasilidade (s)” problematizando o lugar colonial desses sujeitos agrupados
na utopia de identidade nacional.
Currículo de História (s) do Brasil e caminhos transversais
No Brasil de hoje, gestores da administração pública, educadores e
pesquisadores, enfrentam como desafio, uma agenda pautada na ampliação das
condições de acesso ao bem cultural e oportunidades de maior participação dos
segmentos historicamente deixados de fora da experiência cidadã que privilegia,
sobretudo, a educação escolarizada. Um exemplo disso é a repercussão dos
resultados de aproveitamento da Escola Municipal Casa Meio-Norte localizada na

17
periferia de Teresina (Piauí). De acordo com seu projeto educativo, a comunidade
escolar elabora uma proposta pedagógica diferente, resultado de estudos feitos
com base na Psicopedagogia. A escola fez parte das experiências documentadas
no Aprova Brasil (2007), um estudo que reuniu práticas educativas (trinta e três
escolas) consideradas de sucesso. A parceria com instituições externas à
comunidade escolar é uma das dimensões valorizadas nas conclusões porque
assim essas instituições “podem estar ligadas aos recursos e infra-estrutura da
escola, a projetos socioculturais ou a ações socioeducativas” (p.57). No documento,
ganha ênfase as práticas pedagógicas variadas e “embora haja referência a
processos pedagógicos formais, a ênfase das declarações sobre a proposta
pedagógica diz respeito a um conjunto de práticas que podem ou não ser parte de
uma proposta ou projeto político-pedagógico” (p.60). Ainda sobre a Escola
Municipal Casa Meio-Norte, chama a atenção seu projeto intitulado “Didáticas
Alternativas” que sistematiza as aulas com base numa visão espiritual da criança.
A grande repercussão dos resultados obtidos na Prova Brasil (2005) indica
como o sistema educacional, às voltas com as resoluções sobre a educação em
ciclos, os modos de avaliação, e as transformações conceituais, incorpora, por
questões irrefutáveis, teorias e discursos sobre alternativas para a transposição
didática, para o currículo, visando desestabilizar ou se quisermos “desacomodar”
(grifos nossos) a cultura escolar. Indica, ainda, como é possível promover
interseções incluindo outros espaços educativos no sentido de problematizar o lugar
do conhecimento. Segundo as análises do Aprova Brasil (2007), há, entre os
entrevistados, “declarações que explicam que os professores vão além do uso do
livro didático, trazendo para a sala de aula recursos novos ou levando as crianças
para outros ambientes e espaços onde podem interagir e aprender, na própria
comunidade, no município” (p.27). Nota-se, portanto, uma corrida pela “qualidade” e
por experiências de “sucesso” no processo ensino-aprendizagem. E, assim, ganha
centralidade a idéia de expansão dos espaços educativos. Por tudo isso, podemos
afirmar que, compreender o currículo é compreender as distintas possibilidades de
transmissão da(s) cultura (s). E se assim for, transmissão cultural está para além do
estabelecimento “escola”.
A crítica pós-colonial parte de um discurso construído fora do lugar, conforme
Edward Said (2003) aponta. Suas análises nos ajudam a compreender as práticas

18
educativas e o papel do conhecimento selecionado como referência para uma dada
sociedade. Conforme Ramón Grosfoguel (2008, p.164),
El sistema-mundo capitalista está estructurado alrededor de una división internacional de trabajo y un sistema global interestatal. Las estratégias geopolíticas de los Estados del centro pueden en muchas ocasiones sacrificar sus intereses econômicos a corto prazo en aras de preservar los intereses a largo plazo del capitalismo como sistema-mundo. Los países-vitrina son ejemplos de este mecanismo. Se trata frequentemente de países militar y simbólicamente estratégicos dentro de una región. Considerando a colonização como um fato social total, podemos arriscar
afirmar o quanto faz sentido a luta por garantir espaço para narrativas
historicamente excluídas das propostas oficiais de curricular. Qual seria a história do
Brasil silenciada no processo de invenção do currículo desta disciplina escolar?
O texto introdutório dos PCNs (1997, p.10) ressalta, o quanto é preciso
colocar no centro do debate, as atividades escolares de ensino e aprendizagem e a
questão curricular como de inegável importância para a política educacional da
nação brasileira. Nota-se o quanto a questão curricular tornou-se um imperativo
para a compreensão dos arranjos sociais engendrados para reforçar as hierarquias
a partir da diferenciação dos segmentos sociais.
Pensando um pouco com Catherine Walsh (2008), entendemos a Pedagogia
Decolonial como uma possibilidade de por em cena o racismo, a desigualdade e a
injustiça racializada bem como uma oportunidade de vislumbrarmos práticas
voltadas à transformação. Apostar em uma Pedagogia Decolonial pode ser, por
exemplo, abrir mão de currículos eurodirigidos criando alternativas para
enfrentarmos as múltiplas identidades que nos constituem. Significa considerarmos
saberes outros na seleção de conteúdos vislumbrando uma maior “flexibilização do
conhecimento de referência”, se assim pudermos considerar. Seriam práticas re-
significadas, portanto, aquelas que privilegiam espaços educativos oferecidos no
itinerário percorrido ao longo de uma dada cidade.
As identidades coloniais são por si mesmas variantes fundadoras da
manutenção das diferenças que nos afetam e nos dividem entre racializados e não-
racializados. Pensando um pouco com Vron Ware (2004, p.7) o caso do Brasil, o
que está em jogo é a “necessidade de reconhecer os padrões destrutivos de
racismo que perpetuam a injustiça social e de eliminar o preconceito e a
discriminação”. O lugar de privilégio dos grupos identificados como não-racializados
(eurodescendentes e/ou brancos) parece sofrer ameaças com a lente de aumento

19
dos estudos sobre a branquidade-branquitude. Segundo Bento (2003), os privilégios
dos grupos brancos não são discutidos, apesar de a escravidão dos povos
africanos ter sido desumana, deixando heranças simbólicas positivas para o
primeiro segmento.
Ao situarmos a Pedagogia Decolonial alinhada aos processos educativos no
Brasil, enfrentaremos práticas discursivas sobre as heranças e os lugares da
subalternidade que nos diferenciam pelas formas de racialização e não-racialização
ainda vigentes: seja no currículo prescrito, nas diferentes pedagogias aqui
ressaltadas ou, ainda, nos bancos escolares. Os desafios de descolonização dos
referenciais historicamente selecionados na abordagem sobre as identidades
brasileiras nos alertam para a urgência de criação de subsídios que auxiliem outras
práticas pedagógicas no processo ensino-aprendizagem de História.
Em Cultura e Imperialismo (SAID, 1995, p.106), o romance é analisado como
um artefato cultural da sociedade burguesa e como resultado, o imperialismo e o
romance se fortaleceram reciprocamente a um tal grau que seria impossível ler um
sem estar lidando de alguma maneira com o outro. Os “prejuízos identitários”, se
assim pudermos considerar, são fortemente atacados nos estudos baseados na
crítica pós-colonial. Ao considerarmos tais pressupostos como racionalidades
insurgentes, pensar a Pedagogia Decolonial significa pensar pedagogias outras
para além do espaço escolar. Sua base intercultural nos obriga a aceitar as
interseções estabelecidas para além da instituição estabelecida como legitimadora
dos saberes curriculares. Seriam, portanto, conformações necessárias ao
“empreendimento decolonial” (grifos nossos) que vai além dos muros da escola. No
sentido dado por Catherine Walsh (2008), o poder sobrevive, toma novas formas e
assume estratégias, inclusive em sociedades multiétinicas e culturalmente diversas.
Esta mutação, quando se pensa em descolonização curricular, tem sido maior que
a escola. As diferentes mídias, os espaços de socialização dos jovens pouco
valorizados pelo sistema educacional, podem ser fontes de estudos promissores no
tocante aos saberes que circulam e aos valores assimilados no que se refere aos
desejos identitários desses sujeitos sociais. Em outros termos, aprende-se em
distintos espaços educativos e sobre este aspecto, a escola não consegue
acompanhar o tempo das imagens, da produção cinematográfica que chega aos
diferentes lares do Brasil; não consegue incorporar as novidades tecnológicas
oferecidas aos adolescentes e jovens a cada instante.

20
A escola é um estabelecimento dentre tantos outros numa dada sociedade.
Define-se na incompletude das diferentes esferas sociais. Para a efetivação de um
projeto de descolonização do currículo podemos admitir, primeiramente, suas
limitações bem como as limitações dos sujeitos nas relações de inspiração colonial
que nos caracterizam como “um país de hierarquias coloniais por inspiração” (grifos
nossos). Quando analisamos estes achados teóricos partimos de uma perspectiva
de abertura curricular e posteriormente, de insurgência do “outro colonial”.
Aceitamos ser provável instituirmos uma política curricular reconhecendo os
obstáculos forjados nessa experiência hierárquica de sociedade. Práticas
discursivas eurodirigidas passam a ser alvo dos insurgentes bem como de
movimentos reivindicatórios que visam o desfetichismo como uma estratégia de
combate aos estigmas no currículo.
Na seção “Pluralidade Cultural” que integra os temas transversais dos PCNs
(1997, p.20), o texto de apresentação destaca que:
Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a, e da superação das discriminações é atuar sobre um dos mecanismos de exclusão - tarefa necessária, ainda que insuficiente, para caminhar na direção de uma sociedade mais plenamente democrática”. Neste eixo, segundo as pesquisadoras Vargens e Freitas (2009, p.384),
“atribui-se ao mito da democracia racial o papel de preservação de uma longa
história de discriminação na escola brasileira encoberta e sustentada pela imagem
de um país de braços abertos”. Por outro lado, as mesmas autoras encontram
semelhança na “invenção” de um Brasil Mestiço e de um Brasil Plural. Em sua
crítica o patrimônio étnicocultural é valorizado por ser um traço da chamada
brasilidade e, neste sentido, apresentam sua discordância. Para elas “esta
perspectiva implica uma visão essencialista da construção identitária, visto que a
suposta identidade nacional é definida por uma origem histórica pautada no
encontro de diferentes culturas” (VARGENS & FREITAS, 2009, p.388). Fica
evidenciada a crítica àquilo que entendem como “reforçar a idéia de culturas e
identidades de origem” e “focar na afirmação da diferença”. Podemos supor que,
esta crítica, desconsidera uma agenda política responsável por avanços
significativos sobre a mudança de discurso curricular. E, se assim for, corremos o
risco de aderir ao rebaixamento da questão político-pedagógica tão cara aos que,
ao longo das últimas décadas, lutam por justiça denunciando a hegemonia dos
discursos eurocentrados.

21
Vimos, no trabalho de Vargens e Freitas (2009) um exemplo sobre como é
possível afastar-se da agenda política que, no final do século XX, conseguiu tocar
as políticas educacionais com vistas a problematizar o domínio da orientação
eurocêntrica. Suas conclusões não fazem distinção entre um discurso curricular que
conserva visões eurocêntricas – continuísmos a partir da idéia de um Brasil Mestiço
- e a proposta de descontinuísmos na seleção do conhecimento – a opção por um
Brasil, plural, um Brasil decolonial. Concordando com Leite (2005) a teoria da justiça
curricular apresentada por Connell (1997) favorece práticas contrahegemônicas
onde há lugar para os interesses dos menos favorecidos, para a participação e a
escolarização comum e que se estrutura na intenção de produzir situações de
igualdade. Assim, “em um currículo contrahegemônico não se trata de substituir os
beneficiários mas, sim, de superar os obstáculos que as atuais estruturas do poder
representam para um progresso intelectual e cultural partilhado”. (LEITE, 2005, p.8).
Ao analisarmos as proposições sobre pedagogias decoloniais apenas a partir de
uma concepção discursiva, tiramos a relevância do processo de construção de uma
política e de uma prática que se pretendem emancipatórias. As manifestações
contrárias às políticas diferencialistas como é o caso da implementação da Lei
10639 (2003,), que, alterou a Lei nº 9.3946 (1996), e que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial a temática "História e
Cultura Afro-Brasileira", podem refletir as formas de resistência que denunciam
perspectivas de conservação da idéia da mestiçagem em detrimento de um Brasil
de todas as manifestações culturais.
O tecido colonial reveste nossa história, forja e deforma nossas identidades
na medida em que celebramos, cotidianamente, a partir de distintas pedagogias
sociais, no currículo em ação, na agenda escolar e nas datas comemorativas, os
processos de subalternização de segmentos inteiros de nossa sociedade como é o
caso dos afrobrasileiros. O bicentenário da chegada da Família Real Portuguesa foi,
em grande escala, um desses episódios explícitos das formas de reforçar nossas
“inspirações coloniais”. Vimos, com base em fragmentos de um projeto político-
pedagógico de uma dada escola da rede oficial de ensino médio, justificativas onde
momentos como esses “são boas oportunidades para conhecer a história da cidade
e valorizar o patrimônio herdado”. Observa-se quão natural é, nestes discursos
pedagógicos, a reprodução de pressupostos que valorizam tão somente as 6 Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

22
características arquitetônicas da cidade que, por sua vez, justificam a organização
de passeios com os estudantes.
Em outros termos, a chegada da Família Real ao Rio de Janeiro passa a ser
tratada no currículo, em suas diferentes fases, – prescrito e em ação - como um fato
histórico a ser comemorado sem a devida observância dos prejuízos coloniais que
nos afetam como parte da periferia da colonização. Tais referências permanecem
intocadas e se justificam por ser este um objeto cultural legitimado na seleção de
saberes escolares e por satisfazer, historicamente, aos anseios das periferias
coloniais. No dizer de Castro-Gomez (2007, p.13), “asistimos, más bien, a una
transición del colonialismo moderno a la colonialidad global, proceso que
certamente há transformado las formas de dominación desplegadas por la
modernidad, pero no la estructura de las relaciones centro-periferia a la escala
mundial”. Para os pesquisadores do Projeto Latinoamericano modernidad-
colonialidad é importante questionar o mito da descolonização e a tese de que a
pós-modernidade nos conduz a um mundo já desvinculado da colonialidade
(CASTRO-GOMEZ, 2007, p. 14). Sob essa orientação, afirma-se que a ciência
social contemporânea não conseguiu incorporar o conhecimento “subalterno” aos
processos de produção de conhecimento (Idem).
Pedagogias outras e ampliação dos espaços educativos para rever a História
Ao propormos abordagens significativas para a experiência pedagógica de
grupos e/ou sujeitos envolvidos na transposição e/ou mediação do conhecimento
(conhecimento selecionado para ser ensinado e legitimado como currículo), não
podemos abandonar as pesquisas sobre diversidade e re-significação das políticas
curriculares. Em outro lugar (MIRANDA, 2010, p.4) afirmamos:
O desafio que se coloca para educadores/as em contextos multiculturais como é o caso do Brasil, inclui a análise da utilização de recursos antes desprezados como, por exemplo, a própria cidade onde se vive: um espaço educativo privilegiado. As histórias locais passam a subsidiar metodologias consideradas indispensáveis para uma transposição didática pautada na desfolclorização de espaços e de grupos que dele fazem parte.
Para tanto, seria conveniente observarmos as seguintes orientações a serem
consideradas pelas instâncias e pelos sujeitos envolvidos nos processos de
transmissão cultural:

23
• Refletir criticamente sobre as formas alternativas de orientar o processo de ensinar e aprender a História do Brasil e a sua diversidade;
• Refletir sobre as formas possíveis de mediar com justiça todo e qualquer conhecimento selecionado como currículo;
• Considerar outras referenciais para a pesquisa como parte de um todo incluindo os saberes não-selecionados convertendo-os em escopo para o desenvolvimento de um currículo mais aberto e conseqüentemente mais justo;
• Conhecer, analisar e criticar orientações metodológicas, orientações didáticas e os arranjos que legitimam os currículos oficiais.
Chama a atenção as possibilidades que já estão ao nosso alcance de
reconhecermos outras formas de narrar as histórias do Brasil.
Juliana Lages Sarinho (2010) desenvolve uma pesquisa ressaltando “a
necessidade de ampliar os estudos sobre patrimônio, estendendo-se a análise da
produção da memória social ao âmbito da recepção, pelos diferentes grupos
sociais, dos bens que pretendem representar e materializar uma memória comum”.
A autora ressalta que a “expressão ‘educação patrimonial’ configura-se como uma
redundância, pois não existe processo de aprendizagem que não leve em
consideração certo entendimento sobre o que seja patrimônio”. Argumenta, ainda,
que “falar em educação patrimonial é falar em educação cultural, não havendo
distinção entre as duas e fazendo com que a primeira seja considerada parte
integrante de todo o processo educacional que leva em consideração a formação
holística do indivíduo socialmente atuante”. (CHAGAS Apud SARINHO, 2010, p.92).
Assim, o conjunto dos bens patrimoniais possui a função de criar um repertório
simbólico que possibilite estabelecer na sociedade a noção de pertencimento e de
identidade nacional. Por isso, entre os atores sociais e os bens eleitos, poderia
existir um pacto afetivo e os valores culturais em destaque passariam a ter sentido
em suas vidas (SARINHO, 2010, p.98).
Ao aceitarmos a proposição da Pedagogia Patrimonial, poderíamos
considerar a multidimensionalidade da transmissão cultural e um currículo,
conseqüentemente, mais abrangente, mais flexível. Para a análise das
incompletudes no ensino de História – uma transposição analisada à luz da
diversidade cultural – parece haver um continuísmo favorecendo as representações
de um Brasil colonial em confronto com um Brasil Decolonial. Sendo a transposição
didática o trabalho que transforma um objeto de saber em um objeto de ensino,
passa a ser indispensável o reforço do apelo presente no texto dos Parâmetros

24
Curriculares (1997) acerca das alternativas ancoradas na diversidade cultural que
nos atravessa.
Na discussão sobre a rejeição da alteridade, importa entender “que forças
históricas e contemporâneas sustentam as formações particulares da branquidade
no Brasil” (WARE, 2004, p.9) e quais estratégias anti-coloniais seriam apropriadas
para subvertê-las. Tal convergência implica ações políticas no que concerne às
agendas dos grupos que confrontam os discursos curriculares e a luta por direito do
“outro” colonial como partícipe na construção da memória do país.
A guisa de conclusão
No quadro teórico aqui explorado, ganhou visibilidade a Pedagogia
Decolonial (Walsh, 2008) como escopo para vislumbrarmos outras pedagogias no
sentido de trabalharmos à favor da justiça curricular. Localizamos a problemática
sobre os lugares coloniais estabelecidos sob “imitação” e sobre os diferentes modos
de mediar os saberes selecionados como conhecimento de referência.
A imitação, neste contexto, pode significar um modo de comportar-se de
grupos e/ou sujeitos que se consideram estabelecidos, detentores de um bônus que
permite definir as hierarquias nas relações cotidianas e conseqüentemente, no
currículo.
Quando observamos as nuances do questionamento realizado sobre o que
querem os sujeitos fora do lugar (o outro colonial), sobretudo quando examinamos
as representações construídas nos referenciais no currículo de História, destaca-se
o apelo ao sistema colonial que assegura, a partir de um resgate constante da
memória, as práticas de fixação, de manutenção dos insurgentes, dos não-
europeus, dos outros produzidos ao longo da formação de uma suposta identidade
brasileira.
A descolonização da consciência e da memória de uma sociedade
dependerá da sua capacidade de enfrentar as aberrações do colonialismo que
hierarquizam grupos humanos pelas formas de imitação engendradas, também, nas
mediações curriculares.

25
Referências Bibliográficas
APROVA BRASIL: o direito de aprender: boas práticas em escolas públicas
avaliadas pela Prova Brasil/ [parceria entre] Ministério da Educação ; Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ; Fundo das Nações
Unidas para a Infância. – 2. ed. – Brasília : Fundo das Nações Unidas para a
Infância, 2007.103 p.
BENTO, Maria Aparecida Silva. Branqueamento e branquitude no Brasil. In:
CARONE, Iray; BENTO, Maria Aparecida Silva (orgs.). Psicologia social do racismo:
estudos sobre a branquitude e branqueamento no Brasil. 2a. Ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2003. p. 25-57.
BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira. Brasília. 2005.
___. Lei 10639-2003, de 9 de janeiro de 2003
___. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação
Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.126p.
___. Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais: história, geografia / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília:
MEC/SEF, 1997.
CARVALHO, J. M. de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2002.
CASTRO-GOMEZ, Santiago & GROSFOGUEL, Ramón. El Giro decolonial:
reflexiones para una diversidad epistêmica más allá del capitalismo global. Bogotá:
Siglo del Hombre Editores; Universidad Central; Instituto de Estudios Sociales
Contemporáneos y Pontifícia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007.
CÉSAIRE, Aimé. Discours sur le colonialism. Paris: Presence Africaine, 1957.
CHAGAS, Mario. “Educação, museu e patrimônio: tensão, devoração e
adjetivação”. In 1º. Encontro Nacional de Educação Patrimonial. Disponível em
http://www.iphan.gov.br.Acesso em 27 de outubro de 2009.
CONNELL, Robert W. Justiça, conhecimento e currículo na educação
contemporânea. In: SILVA, Luiz Heron da; AZEVEDO, José Clóvis de (Orgs.).

26
Reestruturação curricular: teoria e prática no cotidiano da escola. Petrópolis: Vozes,
p.11-35. 1995.
FLEURI, Reinaldo.Educação intercultural: mediações necessárias. Rio de Janeiro:
DP&A, 2003.
GIROUX, Henry. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas
em educação. Porto Alegre: Artmed, 1999.
GROSFOGUEL, Ramón. Cambios conceptuales desde la perspectiva del sistema
mundo. In: AMYA VILLA & BONILLA GRUESO. Diversidad, interculturalidad y
construcción de ciudad. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 2008.
LEITE, Carlinda. O currículo escolar e o exercício docente perante a
multiculturalidade - implicações para a formação de professores. In: V Colóquio
Internacional Paulo Freire, Centro de Estudos e Pesquisas Paulo Freire, Setembro
http://www.paulofreire.org.br/Textos/Conferencia%20de%20Carlinda%20Leite. pdf.
MIRANDA, Claudia. Transposição didática e construção de conhecimento para o
ensino-aprendizagem de história e cultura afrobrasileiras: Justiça curricular a partir
da lei 11645. In: XV ENDIPE, BELO HORIZONTE: UFMG, 2010.
___. Colaboração Intercultural e divisão de poder: perspectivas de descolonização
entre professoras e estudantes da escola pública. In: ANDRADE, Marcelo. A
diferença que desafia a escola: a prática pedagógica e a perspectiva intercultural.
Rio de Janeiro: Quartet. 2009.
MACEDO, Elizabeth. Parâmetros Curriculares Nacionais: a falácia de seus temas
transversais. In: MOREIRA, A.F.B. Currículo: políticas e práticas. Campinas, SP:
Papirus, 1999.
SAID, Edward. Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
___. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
___. Fora do Lugar. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
SARINHO, Juliana Lages. Olhares sobre a restauração da Igreja Nossa Senhora do
Carmo da antiga Sé. (dissertação) Rio de Janeiro: Programa de Pós Graduação de
História, Política e Bens Culturais (PPHPBC), Centro de Pesquisa e Documentação
de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas, 2010.
VARGENS, Dayala Paiva de Medeiros & FREITAS, Luciana Maria Almeida de.
Pluralidade cultural nos parâmetros curriculares nacionais. Linguagem & Ensino,
Pelotas, v.12, n.2, p.373-391, jul./dez. 2009.

27
WARE, Vron. Branquidade: identidade branca e multiculturalismo. Rio de Janeiro:
Garamond, 2004.
WALSH, Catherine. Interculturalidad crítica. Pedagogia decolonial. In: AMYA VILLA
& BONILLA GRUESO. Diversidad, interculturalidad y construcción de ciudad.
Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 2008.
___. Interculturalidad y colonialidad del poder: un pensamiento y posicionamiento
“outro” desde la diferencia colonial. In: CASTRO-GOMES, Santiago &
GROSFOGUEL, Ramón. El giro decolonial: reflexiones para una diversidad
epistêmica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores;
Universidad Central; Instituto de Estudios Sociales Contemporaneos y Pontifícia
Universidad Javeriana; Instituto Pensar, 2007.

28
O pensamento social brasileiro e a questão racial: da ideologia do “branqueamento” às “divisões perigosas”
Ricardo Cesar Rocha da Costa7
1. Século XIX: as elites dirigentes e as políticas de “branqueamento”
Pode-se dizer que o processo de independência política do Brasil, no início
do século XIX, inseriu na pauta de discussões da nossa elite dirigente, latifundiária e
escravagista, a preocupação com a construção de uma Nação soberana,
desenvolvida economicamente, mas que deveria, no futuro, partilhar socialmente
dos padrões civilizatórios de inspiração européia, considerados como superiores,
em comparação com outros povos. Tal ideia era baseada em fundamentos ditos
“científicos”, difundidos entre muitos intelectuais brasileiros que, exatamente por
serem “filhos” dessa citada elite dirigente, faziam seus estudos superiores na
Europa.
A ideia científica de “raça” teve origem e começa a ser difundida no final do
século XVIII e durante todo o século XIX. Pensadores europeus como Ernest
Renan, Arthur de Gobineau, Gustave Le Bon, Vacher de Lapouge, entre outros, não
só se preocuparam com o estabelecimento de um sistema classificatório de caráter
“científico”, como procuraram sempre comprovar a superioridade civilizatória da
“raça” branca – com destaque para a de origem “ariana”, conforme pensava
Gobineau – e a prática da “mistura” como “fonte de decadência para a raça
superior” (WIEVIORKA, 2007, p. 21). Teorias evolucionistas, como as formulações
defendidas por Lapouge, Herbert Spencer e Lewis Morgan, distinguiam a existência
de diferentes estágios de evolução da humanidade (selvageria, barbárie e
civilização, segundo Morgan), com diagnósticos nada “animadores” sobre o futuro
do Brasil: na visão de Lapouge, um país que apresentava “uma imensa nação
negra em regressão para a barbárie” (citado por CARNEIRO, 1995, p. 22).
De fato, estatísticas divulgadas na segunda metade do século XIX (1872)
apontavam que a população livre brasileira, de cor, dezesseis anos antes da
7 Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense. Doutorando em Serviço Social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor de Sociologia do IFRJ – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus São Gonçalo.

29
Abolição, correspondia a 42% da população. Este percentual, somado aos 16% de
população escrava, representava um total de 58% de negros, em relação à
população total (cf. SKIDMORE, 1989, p. 57). Este número “incomodava” a elite
política, preocupando inclusive abolicionistas como Joaquim Nabuco, que
levantavam dúvidas sobre a constituição de uma sociedade liberal numa realidade
que apresentava um grande contingente populacional não-branco (cf. SKIDMORE,
1989, p. 38). Estava em jogo, portanto, como afirmou-se acima, a construção de
uma futura identidade nacional.
Desde antes da independência, entretanto, políticas oficiais de
“branqueamento” da população estavam em curso. Esse foi o caso, por exemplo,
da assinatura, em 1818, por D. João VI, do tratado de colonização de Nova Friburgo
por imigrantes suíços – fato que deveria ser entendido, segundo o príncipe regente,
como “parte de um processo civilizatório em curso no Reino do Brasil” (SEYFERTH,
2002, p. 30). Mais adiante, em 1824 – já durante o governo de D. Pedro I –, fatores
geopolíticos determinaram a destinação de recursos públicos para o assentamento
de imigrantes alemães no Sul do país. O projeto de colonização foi retomado com
recursos privados na década de 1840. Segundo Giralda Seyferth,
“Havia o entendimento de que terras públicas deviam ser colonizadas com imigrantes europeus, alimentado pela crença de que a existência do regime escravista era empecilho para a implantação de uma economia liberal no país e a população de origem africana não se coadunava com os princípios da livre iniciativa. Nessa lógica evidentemente racista, negros e mestiços (e também os índios selvagens) podiam ser escravos, servos ou coadjuvantes, mas não se adequavam ao trabalho livre na condição de pequenos proprietários” (SEYFERTH, 2002, p. 30-31).
Na década de 1850, ainda segundo Seyferth, a publicação da tese
determinista racial do conde de Gobineau, que defendia as “virtudes civilizatórias”
do branco europeu, reforçou a defesa das políticas de imigração planejadas pelo
Estado (Idem, 2002, p. 32). Gobineau, diga-se de passagem, foi embaixador
francês no Brasil, onde desembarcou em 1869. “Amigo pessoal” do Imperador
Pedro II, considerava-o uma honrosa exceção numa terra “desprezível”, de cultura
estagnada e sob a ameaça de terríveis doenças tropicais. Quanto ao povo
brasileiro, caracterizava-o como “uma população totalmente mulata, viciada no
sangue e no espírito e assustadoramente feia”, além de definir os nativos como
“nem trabalhadores, nem ativos, nem fecundos” (passagens citadas por
SKIDMORE, op. cit., p. 46-47).

30
Apesar da tese de Gobineau a respeito da tendência ao desaparecimento da
população brasileira, por causa da “degenerescência” genética, como conseqüência
da intensa mestiçagem (Idem, ibidem)8, alguns intelectuais brasileiros, no final do
século XIX e início do XX, passaram a entender as políticas de “branqueamento”
como a solução possível para o objetivo de se garantir, no futuro, um país partícipe
da moderna “civilização européia”.
Silvio Romero, por exemplo, entendia a existência de uma hierarquia racial
(“escala etnográfica”), entre o branco europeu, o negro africano e o índio nativo
(nesta ordem), afirmando que essa mistura é que apontava o caráter particular do
Brasil, dando origem a “uma sub-raça mestiça e crioula” – porém, sob o predomínio
dos brancos, em razão da sua cultura mais desenvolvida (cf. SKIDMORE, op. cit., p.
50-51). Dentre as contribuições das “raças” subjugadas, o preto trazia o importante
componente de adaptação dessa nova raça ao clima tropical. Mas, apesar da
mestiçagem quase completa que Romero chega a descortinar no horizonte da
História futura do Brasil, ele não apresenta conclusões enfáticas, variando entre da
tese da “vitória do branco” à de “uma mescla áfrico-indiana e latino-germânica”,
desde que se priorize a imigração alemã (ver SKIDMORE, 1989, p. 51-53). Em
1888, contudo, Romero se mostrava mais confiante:
“O povo brasileiro, como hoje se nos apresenta, se não constitui uma só raça compacta e distinta, tem elementos para acentuar-se com força e tomar um ascendente original nos tempos futuros. Talvez tenhamos ainda de representar na América um grande destino histórico-cultural” (ROMERO, 1888, p. 66 apud SKIDMORE, 1989, p. 53).
Apesar desse tipo de visão de caráter racista – descontando-se, é claro, a
relação entre o pensamento social predominante e o contexto histórico –, como é o
caso das idéias defendidas por Silvio Romero, surpreende, na obra clássica de
Skidmore, a revelação de que, já no século XIX, “os abolicionistas partilhavam da
crença geral de que a sociedade brasileira não abrigava preconceito racial”, ao
contrário do que ocorria nos Estados Unidos (1989, p. 38). O brasilianista cita, como
exemplo, um deputado escravagista de Minas Gerais, indignado com “injustificadas
e caluniosas críticas à harmonia racial brasileira” (1989, p. 39. Grifos meus), assim
8 Registre-se que Gobineau não estava sozinho na defesa dessas idéias: outros observadores estrangeiros que aqui aportaram ainda no século XIX, tais como o argentino Inginieros e os franceses Louis Couty e Louis Agassiz, entendiam que os males do Brasil eram causados pela sua colonização pelos africanos escravizados ou pela mistura de raças (cf. SKIDMORE, 1989, p. 47).

31
como a seguinte afirmação de Joaquim Nabuco em O Abolicionismo, também
bastante significativa:
“A escravidão, por felicidade nossa, não azedou nunca a alma do escravo contra o senhor, falando coletivamente, nem criou, entre as duas raças, o ódio recíproco que existe naturalmente entre opressores e oprimidos” (NABUCO, 1883, p. 22-3 apud SKIDMORE, 1989, p. 39).
Essas ideias não impediram, no entanto, a defesa da tese do
“branqueamento” também entre os abolicionistas, através da imigração européia,
que deveria ter o seu processo “evolutivo” acelerado. O triunfo gradual do branco
também contribuiria, segundo os abolicionistas, para resolver o problema da
escassez de mão-de-obra, resultante do fim da escravidão. Skidmore cita mais uma
vez Nabuco, para ilustrar sua defesa de um projeto de país,
“(...) onde, atraída pela franqueza das nossas instituições e pela liberdade do nosso regime, a imigração européia traga sem cessar para os trópicos uma corrente de sangue caucásico vivaz, enérgico e sadio, que possamos absorver sem perigo...” (NABUCO, 1883, p. 252 apud SKIDMORE, 1989, p. 40).
Para complementar o que se expôs acima, Skidmore cita também José do
Patrocínio, que afirmou, comparativamente, ser o Brasil “mais abençoado” que os
Estados Unidos,
“(...) podendo fundir em massa popular indígena todas as raças, porque a civilização portuguesa, em vez de haver procurado destruir as raças selvagens, as assimilou, preparando-se assim para resistir à invasão assoladora do preconceito de raças” (PATROCÍNIO, 1887 apud SKIDMORE, 1989, p. 40).
Essa ideia de “fusão” de raças, desde que sob a supremacia branca
européia, e a tal harmonia racial propalada pelas elites, se inserem num processo
de construção de uma história do Brasil impermeável a conflitos de quaisquer
espécies, como que se pudesse ignorar as diversas lutas travadas nas províncias
imperiais, que ocorreram nesse mesmo século, acirradas pelo processo de
emancipação política, assim como o genocídio da população indígena, que teve
início já no século XVI, e toda a violência inerente à escravidão, desde o outro lado
do Atlântico.
A Lei Áurea, no entanto, logo seguida pelo advento da República,
impulsionou o debate iniciado pelos abolicionistas e por Silvio Romero, exigindo da
elite intelectual uma redefinição da presença do negro na sociedade brasileira,
visando a definição de uma almejada identidade nacional.

32
Um dos autores que discute a questão acima com bastante propriedade é o
professor da Universidade de São Paulo – USP, o antropólogo Kabengele
Munanga. No seu concurso de livre-docência, esse autor formula hipótese e tese
que seguem na linha das reflexões apontadas por Skidmore, no sentido de que “o
processo de formação da identidade nacional no Brasil recorreu aos métodos
eugenistas, visando o embranquecimento da sociedade” (MUNANGA, 2004, p. 15).
Embora tenha fracassado em seu principal objetivo, essa idéia, segundo Munanga,
teria vingado por meio de mecanismos psicológicos, que permaneceram intactos
“no inconsciente coletivo brasileiro, rodando sempre nas cabeças de negros e
mestiços”, que desejam “ingressar um dia na identidade branca, por julgarem
superior” (Idem, ibidem, p. 16). O fracasso concreto do branqueamento físico,
portanto, na opinião do autor, não destruiu a ideologia do branqueamento.
Discutindo o tema “A mestiçagem no pensamento brasileiro”, Munanga
discorre sobre a recepção, entre intelectuais brasileiros, do determinismo biológico,
que acreditava “na inferioridade das raças não brancas, sobretudo a negra, e na
degenerescência do mestiço” (MUNANGA, op. cit., p. 55). Como membros da elite
dirigente do fim do século XIX e início do século XX, tais pensadores foram
diretamente influenciados pela ciência européia ocidental, no debate intelectual a
respeito da construção da nacionalidade brasileira. Citando um artigo da
antropóloga Giralda Seyferth, Munanga afirma que
“O que estava em jogo (...) era fundamentalmente a questão de saber como transformar essa pluralidade de raças e mesclas, de culturas e valores civilizatórios tão diferentes, de identidades tão diversas, numa única coletividade de cidadãos, numa só nação e num só povo” (Idem, ibidem, p. 55).
Assim, Kabengele Munanga destaca que, enquanto Silvio Romero – apesar
das inconsistências apontadas por Skidmore (cf. 1989, p. 53), como se viu acima –
defendia a “homogeneização da sociedade brasileira” através da mestiçagem,
apostando, com “otimismo”, no futuro de uma nação brasileira branca, quase todos
os outros pensadores de destaque nessa época, tais como Nina Rodrigues,
Euclides da Cunha e Oliveira Vianna, seguiam linhas diferentes de análise. Entre
eles, Nina Rodrigues, ao contrário de Romero, destilava “pessimismo” com a
possibilidade de construção de uma identidade nacional única. Diagnosticando
características raciais inatas e imutáveis, de cunho hierárquico, Rodrigues defendia
uma institucionalização das diferenças que, segundo Munanga, poderia ter

33
construído no Brasil uma espécie de regime de apartheid (MUNANGA, op. cit., p.
60). Euclides da Cunha, famoso pela obra Os Sertões, filiava-se à corrente
“pessimista” em relação à identidade nacional, não acreditando em uma nação
etnicamente branca no futuro, mas sim mestiça – e, por isso, degenerada, “sem a
energia física dos ascendentes selvagens e sem a atitude intelectual dos ancestrais
superiores” (Idem, ibidem, p. 62).
Já outro intelectual desse período, João Batista de Lacerda, diferentemente
dos anteriormente citados, considerava os mestiços como física e intelectualmente
superiores aos negros. Apostava, porém, como Silvio Romero, numa futura
composição racial de maioria absoluta branca, com base na mestiçagem – mas,
diferentemente de previsões de outros autores, somente no Brasil do século XXI (cf.
MUNANGA, 2004, p. 67-69).
Paralelamente às questões citadas, uma determinada corrente teórica terá
intersecção nesse debate, principalmente durante a primeira metade do século XX:
os defensores das idéias eugenistas, que constituíram um movimento internacional
“em defesa da pureza e da limpeza da raça”. Representados no Brasil pelo médico
Renato Kehl e com apoiadores entusiasmados, como o escritor Monteiro Lobato,
além de diversos políticos e intelectuais, o movimento eugenista brasileiro foi
“isolado” e “esquecido” a partir de 1942, com a entrada do país na Segunda Guerra
Mundial, ao lado das tropas norte-americanas (cf. DIWAN, 2007).9
Vozes radicalmente discordantes da época, influenciados pelos estudos
antropológicos de Franz Boas e de outros intelectuais, Alberto Torres e Manuel
Bomfim rejeitaram as idéias que defendiam a inferioridade étnica do Brasil, focando
o problema do país na alienação das elites e na exploração estrangeira [Torres], e
em causas históricas relacionadas ao caráter predatório da colonização ibérica,
como sendo as responsáveis pelo relativo atraso cultural, científico, político e de
organização social dos países latino-americanos [Bomfim] (cf. MUNANGA, 2004, p.
67-68).
Outro pensador destacado por Munanga foi Francisco José de Oliveira
Vianna, em razão da sua capacidade de sistematização e de difusão das idéias de
9 Além de Kehl e Lobato, a historiadora Pietra Diwan relacionou diversos intelectuais como defensores das idéias eugenistas no Brasil, entre os quais Oliveira Vianna, Roquette-Pinto, Fernando Azevedo, o sanitarista Arthur Neiva e o psiquiatra Francisco Franco da Rocha (ver DIWAN, op. cit., p. 92-100). A partir de 1942, segundo Diwan, os adeptos brasileiros da eugenia “desapareceram da cena política ou trataram de reorientar suas histórias omitIndo sua participação nesse movimento” (p. 121). A exceção foi o médico Kehl, que virou uma voz isolada.

34
caráter racista no Brasil – apesar da sua aparente superação teórica, nessa época,
proporcionada pelos estudos desenvolvidos por Boas, citados acima, acolhidos no
país por Torres e Bomfim. Oliveira Vianna formula uma verdadeira hierarquização
da mestiçagem ocorrida no país, com a produção de mestiços “superiores” e
“inferiores”. Concorda com Nina Rodrigues, quando afirma que a mistura entre
negros e brancos apresentaria um caráter degenerescente; mas se aproxima
também de Euclides da Cunha, quando defende que a mistura entre brancos e
índios resultaria num mestiço fisicamente superior ao mulato (cf. MUNANGA, op.
cit., p. 71-76). De qualquer forma, a principal tese de Oliveira Vianna – que ele
procura demonstrar através de estudos de projeção demográfica – é a futura
arianização do Brasil, seja pelo aumento quantitativo da população branca “pura”,
em razão do estímulo governamental à imigração européia, seja pela crescente
mestiçagem, que reduziria o coeficiente dos sangues negro e índio (cf. MUNANGA,
op. cit., p. 80-87). Vale a pena reproduzir um fragmento da interessante formulação
de Oliveira Vianna, citada por Munanga, comparando a situação do negro e as
relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos – questão, como se vê, há muito
tempo na pauta dos debates sobre essa temática:
“Não há perigo de que o problema negro venha a surgir no Brasil. Antes que pudesse surgir seria logo resolvido pelo amor. A miscigenação roubou o elemento negro de sua importância numérica, diluindo-o na população branca. Aqui o mulato, a começar da segunda geração, quer ser branco, e o homem branco (com rara exceção) acolhe-o, estima-o e aceita-o no seu meio. Como nos asseguram os etnólogos, e como pode ser confirmado à primeira vista, a mistura de raças é facilitada pela prevalência do “elemento superior”. Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, ela vai eliminar a raça negra daqui. É óbvio que isso já começou a ocorrer. Quando a imigração, que julgo ser a primeira necessidade do Brasil, aumentar, irá, pela inevitável mistura, acelerar o processo de seleção” (VIANNA, 1899 apud MUNANGA, 2004, p. 86).
Como concluiu Munanga, a citação, por si só, dispensa outros comentários a
respeito da ideologia do “branqueamento” presente no processo de miscigenação,
conformando, no Brasil, a construção de uma identidade nacional baseada na
herança branca européia, e negando qualquer possibilidade de se pensar em
alguma identidade alternativa, fundamentada na herança negra de origem africana
(cf. MUNANGA, 2004, p. 87).
A partir dos anos 30 do século XX, no entanto, esse debate vai assumir
outras características, como se verá a seguir.

35
2. Século XX: o mito da “democracia racial”
A busca de uma identidade nacional, sob o ponto de vista da questão racial,
assume outro caráter nos anos 1930 e 1940, com especial destaque a partir de
1933, com a publicação de Casa-grande & senzala, do sociólogo pernambucano
Gilberto Freyre. De acordo com Maria Luiza Tucci Carneiro, Gilberto Freyre, ao
contrário do pensamento anteriormente em voga, defendeu a idéia que o país havia
resolvido seu problema racial, através do encontro das três raças:
“Em vez de ameaça, a mestiçagem foi transformada por Gilberto Freyre em solução para os problemas do Brasil, graças ao legado cultural português. O brasileiro estaria a caminho de produzir uma nova raça através do processo de miscigenação, que (...) possibilitou ao mulato – que atendia aos padrões estéticos e eugênicos do senhor branco – melhores condições de vida e ascensão social” (CARNEIRO, 1995, p. 35-36).
Para corroborar a afirmação de Carneiro, nada melhor do que reproduzir,
juntamente com a autora, dois trechos inteiramente esclarecedores da própria obra
de Gilberto Freyre:
“O intercurso sexual de brancos dos melhores estoques – inclusive eclesiásticos, sem dúvida nenhuma, dos elementos mais seletos e eugênicos na formação brasileira – com escravas negras e mulatas foi formidável. Resultou daí grossa multidão de filhos ilegítimos – mulatinhos criados muitas vezes com a prole legítima, dentro do liberal patriarcalismo das casas-grandes; outros à sombra dos engenhos de frades; ou então nas “rodas” e orfanatos. Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América a que se construiu mais harmoniosamente quanto às relações de raça: dentro de um ambiente de quase reciprocidade cultural que resultou no máximo aproveitamento dos valores e experiências dos povos atrasados pelo adiantado; no máximo da contemporização da cultura adventícia com a nativa, da do conquistador com a do conquistado” (FREYRE, 1987, p. 91; 442-443 apud CARNEIRO, 1995, p. 36. Grifos meus).
Assim, como se depreende dos pequenos fragmentos acima, Gilberto
Freyre, segundo Renato Ortiz (1994), “desloca o eixo da discussão, operando a
passagem do conceito de ‘raça’ ao conceito de cultura”, permitindo “um maior
distanciamento entre o biológico e o cultural” (MUNANGA, 2004, p. 87). No
entendimento de Kabengele Munanga, Freyre, ao contrário dos autores anteriores,
que viam a mestiçagem como um processo extremamente negativo, vinculado à
degenerescência, apresenta uma nova formulação para a construção da identidade
nacional, inaugurando o “mito originário” da três raças constituintes da sociedade
brasileira. Esta é a base para a construção do mito da “democracia racial”, como

36
afirma Renato Ortiz: “somos uma democracia porque a mistura gerou um povo sem
barreira, sem preconceito” (ORTIZ, 1994, p. 41 apud MUNANGA, op. cit., p. 89).
No entendimento de Munanga, o mito da democracia racial brasileira, ao
exaltar a harmonia entre as três raças, penetra profundamente na sociedade,
encobrindo as desigualdades sociais e facilitando a alienação dos não-brancos, ou
seja:
“(...) encobre os conflitos raciais, possibilitando a todos se reconhecerem como brasileiros e afastando das comunidades subalternas a tomada de consciência de suas características culturais que teriam contribuído para a construção e expressão de uma identidade própria. Essas características são ‘expropriadas’, ‘dominadas’ e ‘convertidas’ em símbolos nacionais pelas elites dirigentes’” (MUNANGA, 2004, p. 89).
Segundo Thomas Skidmore, ao valorizar o papel cultural específico do
africano, principalmente, mas também do indígena, no processo de construção da
identidade nacional, Gilberto Freyre contribuiu para a interpretação do Brasil como
uma sociedade multirracional, em que as contribuições das três raças eram
“igualmente valiosas” (SKIDMORE, 1989, p. 211. Grifos no original). Na verdade,
observa o próprio Skidmore, a análise apresentada por Freyre, ao contrário da idéia
de se promover um pretenso “igualitarismo racial”, reforçava
“(...) o ideal de branqueamento, mostrando de maneira vívida que a elite (primitivamente branca) adquirira preciosos traços culturais do íntimo contato com o africano (e com o índio, em menor escala)” (SKIDMORE, op. cit., p. 211).
Segundo o antropólogo Roberto Da Matta, essa “fábula das três raças”,
inspirada nas idéias de Freyre, deu origem a uma mistificação do racismo numa
sociedade completamente hierarquizada e anti-igualitária como é o Brasil,
“impedindo o confronto do negro (ou do índio) com o branco colonizador ou
explorador de modo direto”. A intermediação e o sincretismo, segundo esse autor,
além de impedir o conflito, tem o papel de obliterar a “percepção nua e crua dos
mecanismos de exploração social e política“, referendando a idéia de predomínio da
“harmonia” nas relações raciais (DA MATTA, 1981, p. 83).
As críticas apontadas acima foram formuladas pelos meios acadêmicos em
anos mais recentes. Historicamente, no entanto, as teorias do “branqueamento”
passaram a ser duramente questionadas após a Segunda Guerra Mundial, quando
a Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura, em função das conseqüências provocadas pela expansão das teorias e

37
dos regimes nazi-fascistas, preocupou-se com o encaminhamento de ações de
combate a políticas e ideologias baseadas em discriminações raciais. Nesse
sentido, a anunciada “democracia racial brasileira”, inspirada pela obra de Gilberto
Freyre, ganhou notoriedade e interesse acadêmico, como um estudo de caso que
deveria ser investigado, por oposição não só às ideologias racistas citadas, como
em relação aos conflitos violentos que caracterizavam as relações raciais norte-
americanas. Dessa forma, na década de 1950, a Unesco patrocinou uma pesquisa
das relações raciais no Brasil, a partir da Universidade de São Paulo – USP,
coordenada pelo pesquisador francês Roger Bastide e pelo sociólogo brasileiro
Florestan Fernandes. Estes e outros pesquisadores – tais como Oracy Nogueira,
Octavio Ianni, Fernando Henrique Cardoso, entre outros –, a partir desse grande
projeto da Unesco, negaram empiricamente a tese de Gilberto Freyre que
identificava as relações raciais brasileiras como sendo “harmoniosas” – pelo
contrário, apontavam a existência de uma clara desigualdade e de um intenso
preconceito racial, que acompanhava a desigualdade social brasileira.
Para ilustrar o alcance dessas pesquisas, vale a pena citar o comentário de
Lilia Moritz Schwarcz, na apresentação da reedição de uma das obras produzidas
por Florestan Fernandes no contexto do projeto Unesco, O negro no mundo dos
brancos. Citando as pesquisas de Fernandes, Schwarcz afirma que
“O autor notava (...) a existência de uma forma particular de racismo: ‘um preconceito de não ter preconceito’. Ou seja, a tendência do brasileiro seria continuar discriminando, apesar de considerar tal atitude ultrajante (para quem sofre) e degradante (para quem a pratica)”. O conjunto de pesquisas do autor apontava, dessa forma, para novas facetas da ‘miscigenação brasileira’. Sobrevivia, enquanto legado histórico, um sistema enraizado de hierarquização social que introduzia gradações de prestígio a partir de critérios como classe social, educação formal, origem familiar e de todo um carrefour de cores. Quase como uma referência nativa o ‘preconceito de cor’ fazia as vezes da raça, tornando ainda mais escorregadios os mecanismos de compreensão da discriminação. Chamado por Fernandes de ‘metamorfose do escravo’, o processo brasileiro de exclusão social desenvolveu-se de modo a empregar termos como ‘preto’ ou ‘negro’ – que formalmente remetem à cor de pele – em lugar da noção de classe subalterna, nesse movimento que constantemente apaga o conflito. Invertia-se, pois, a questão: a estrutura social brasileira é que era um problema para o negro, uma vez que bloqueava sua cidadania plena” (SCHWARCZ, 2007, p. 18-19).
Para o que nos importa no escopo deste trabalho, a citação acima cumpre a
função de identificar, tomando o pensamento de Fernandes como referência, o
posicionamento dos pesquisadores da USP e da Escola Paulista de Sociologia –
também integrante do projeto Unesco – no debate a respeito do mito da

38
“democracia racial brasileira”, através da afirmação da permanência da
hierarquização, dos conflitos e de uma forma particular de racismo.
Nos anos 1970, na trilha aberta pelos pesquisadores paulistas, os sociólogos
Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Silva, entre outros, ampliam os estudos
desenvolvidos em São Paulo, apresentando análises que apontavam para diversas
características do racismo no Brasil, fundamentadas em análises de pesquisas
quantitativas, a partir dos dados apurados pelos Censos Demográficos oficiais e
outras estatísticas populacionais, empreendidas pelo IBGE – Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e de Estatística. Tais análises revelavam, por exemplo, que
o racismo brasileiro poderia ser mensurado no maior percentual de vitimização de
agressão física sofrida por pretos e por pardos, em comparação com os brancos,
assim como, da mesma forma, por outros indicadores, tais como posse de
documentos oficiais de identificação; escolaridade e freqüência à escola, em todos
os níveis de ensino; acesso ao mercado de trabalho; abordagem policial etc. (ver, a
título de exemplo, HASENBALG, 2005; HASENBALG, SILVA e LIMA, 1999).
Por fim, deve-se registrar o grande embate no desmascaramento do mito da
“democracia racial” promovido pelo Movimento Negro brasileiro, no contexto da
redemocratização pós-ditadura militar de 1964.10 O movimento, de uma certa forma,
complementou politicamente e foi complementado pelas pesquisas acadêmicas que
se iniciaram nos anos 1950, que serviram de suporte teórico e estatístico à
denúncia do preconceito racial existente no Brasil – na contramão do que
afirmavam as elites intelectuais até então. Em um artigo a respeito do movimento
negro, Amauri Mendes Pereira assinala que, durante o regime autoritário, a
ascensão do nível de instrução e de acesso ao emprego, por parte da população
negra – uma conseqüência do chamado “milagre econômico” –, trazendo
“possibilidades de mobilidade ascendente, principalmente nos centros urbanos”,
favorece a presença de negros em espaços (bairros, locais de trabalho, culturais e
de lazer) até então “reservados” às elites brancas:
“Com este novo quadro, os conflitos étnicos eram inevitáveis. Começava o desmascaramento (tanto para quem vivenciava as situações, como para a população em geral, através das sucessivas denúncias de discriminação racial nos meios de comunicação) das aparentes tranqüilidade e justeza das relações raciais no Brasil” (PEREIRA, 1999, p. 95-96).
10 Não cabe aqui a apresentação e a discussão sobre o movimento negro brasileiro, sob o risco de escapar aos objetivos mais imediatos deste trabalho.

39
Joel Rufino dos Santos, por sua vez, afirma, muito apropriadamente, que “o
movimento negro, no sentido estrito, foi uma resposta, em condições históricas
dadas, ao mito da democracia racial”. Esse mito, segundo ele, elaborado “no bojo
da Revolução de Trinta”, não se referia simplesmente em uma tese acadêmica:
“(...) a crença na democracia racial decorria do senso-comum brasileiro, naquelas circunstâncias históricas; e, ao mesmo tempo, estava entretecida a outros conjuntos de imagens idealizadas, como o da história incruenta, o da benignidade da nossa escravidão, o da cordialidade inata do brasileiro, o do destino manifesto etc.” (SANTOS, 1985, p. 287).
Assim, identificando-se o movimento negro brasileiro contemporâneo do
ponto de vista das entidades que se organizaram na luta anti-racista, o surgimento
da Frente Negra Brasileira, em 1931, pode ser entendido no contexto como parte de
uma reação ao senso-comum que acreditava no mito da “democracia racial”, citado
acima por Santos.
Da mesma forma que o “milagre econômico” dos anos 1970, apontado por
Pereira, a Revolução de Trinta, segundo Santos, também teria significado
mudanças e oportunidades de ascensão a uma parte da população negra urbana
brasileira, permitindo-lhe alguma forma de mobilidade social. Essa população negra,
no entanto, deparava-se com anúncios ostensivos do tipo “não aceitamos pessoas
de cor” – em clubes, serviços, moradias, empregos etc. (SANTOS, 1985, p. 287-
288). No entanto, Santos observa que o movimento negro, nesse período,
diferentemente dos anos 1970, apresentou “uma resposta canhestra à construção”
do mito da democracia racial, pois não conseguia vê-lo “de fora”:
“Na sua visão – comprovando a eficácia do mito – o preconceito era ‘estranho à índole brasileira’; e, enfim, a miscigenação (que marcou o quadro brasileiro) nos livraria da segregação e do conflito (que assinalavam o quadro norte-americano), sendo pequeno aqui, portanto, o caminho a percorrer” (SANTOS, 1985, p. 289).
Por isso, tratava-se de um movimento, à época, de caráter “integracionista”,
que organizava atividades de recreação e “clubes de negros”, promovia campanhas
para o ingresso de pretos na polícia e o apelo pelo fim da discriminação policial. Não
é difícil entender porque, entre 1937 e 1950, no contexto do mito da “democracia
racial”, o movimento, segundo Santos, refluiu como um todo (cf. SANTOS, op. cit.,
p. 289).

40
3. Século XXI: por que a ideia de “divisões perigosas”?
O debate anunciado como pertencendo ao século XXI, na verdade, tem
início no final do século XX. Podemos identificar a sua “gênese” em 1995 quando,
no primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso – sociólogo ex-
estudioso das relações raciais no Brasil, que participou do projeto Unesco –, foi
criado o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra.
No ano seguinte, em 1996, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)
estabeleceu uma série de ações governamentais voltadas para a valorização da
população negra, tais como a criação e a instalação de Conselhos da Comunidade
Negra, o apoio a ações de discriminação positiva por parte de empresas privadas e
o desenvolvimento de ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos
profissionalizantes e universidades.
Em outubro de 2001, o Brasil participou, em Durban, África do Sul, e foi
signatário da III Conferência Mundial das Nações Unidas de Combate ao Racismo,
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata.
Em 2002, o segundo governo FHC lançou o segundo PNDH, instituindo por
decreto, em 13 de maio, o Programa Nacional de Ações Afirmativas.
Finalmente, com a vitória de Luís Ignácio Lula da Silva, nas eleições
presidenciais de 2002, foi criada a Secretaria de Promoção de Políticas para a
Igualdade Racial – SEPPIR, elaborado o Estatuto da Igualdade Racial e foram
lançadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.11
A relação de ações e políticas governamentais voltadas para “a promoção da
igualdade racial”, citadas acima, provocaram um intenso e polêmico debate nos
meios acadêmicos, na imprensa e na sociedade brasileira. Uma das razões para
isso foi a idéia, defendida por intelectuais, jornalistas e cidadãos, de que essas
medidas têm o objetivo de instaurar um “abrangente processo de racialização das
políticas sociais” (LAMOUNIER, 2007, p. 9. Grifo meu). Isso significa afirmar que o
Estado brasileiro, segundo esses estudiosos, pretende apostar na “regulamentação
‘racial’ da cidadania”, no combate das desigualdades, do preconceito e da
discriminação, provocando “efeitos colaterais sumamente indesejáveis no que toca
11 Aproveitamos, no início desta seção, a relação de iniciativas e de políticas governamentais enumeradas por Kamel (2006, p. 34-39).

41
à sociabilidade e à concepção política da nação brasileira”, impondo “uma
dicotomização ‘racial’ e potencialmente rancorosa a um país mestiço“ (Idem, ibidem,
p. 9-10).
Diversos jornalistas e estudiosos participam desse embate contra a
“racialização das políticas públicas”, desde o executivo das Organizações Globo, Ali
Kamel – ex-estudante de Ciências Sociais na UFRJ –, até estudiosos e militantes
políticos de movimentos sociais, pertencentes a todo o espectro ideológico e
político, da direita à esquerda. Grande parte dos artigos publicados na imprensa
foram reunidos, em 2007, na coletânea organizada pelos professores Peter Fry,
Yvonne Maggie, Marcos Chor Maio, Simone Monteiro e Ricardo Ventura Santos,
sob o sugestivo título Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo.
Além da principal acusação, sintetizada acima pelo sociólogo Bolívar
Lamounier, pode-se destacar questões, críticas e afirmações do seguinte naipe
(todas retiradas da coletânea citada):
- “Nenhuma pessoa de hoje tem culpa do que ocorreu no país há séculos. Não se pode punir os que não têm acesso a cotas ou ficará implícito que os brancos pobres são escravocratas. Temos que acabar com o racismo de um lado e de outro” (Ferreira Gullar, p. 23); - “O Brasil pode vir a se tornar um país dividido entre negros e brancos, sim, trocando a valorização da mestiçagem pelo orgulho racial” (Pinto de Góes, p. 59); - “Os revisionistas escreveram (...) que a Lei Áurea foi a conclusão de um programa das elites, pontuado pelas leis do Ventre-Livre e dos Sexagenários, para a plena implantação do capitalismo no Brasil” (Magnoli, p. 65); - “Está em andamento no Brasil uma tentativa de genocídio racial perpetrado com a arma da estatística” (Carvalho, p. 113); - “O Brasil não tem cor. Tem um mosaico de combinações possíveis” (Lessa, p. 123); - “Diferenças étnicas causam os mais horrorosos conflitos e guerras pelo mundo afora. Não é razoável que aprendizes de feiticeiro os tragam para o Brasil” (Zarur, p. 131); - “A genética desmoralizou o ‘racismo científico’, provando que a espécie humana não se divide em raças. Para preencher o formulário do ministro da Classificação Racial, os pais deviam ignorar a ciência e eleger o preconceito como guia” (Magnoli, p. 135); - “A criação de cotas, no Brasil, representa um retrocesso na medida em que, pela primeira vez na República, se distinguem, na lei, brancos e negros” (Goldemberg e Durham, p. 171); - “Não se pode cair na esparrela da dívida histórica para tornar mais deserdados ainda os simplesmente pobres” (Nassif, p. 176); - “(...) que a antropologia racial de nossos personagens repouse em paz; afinal, são idéias de outros tempos. O difícil é acreditar que está ressurgindo com vigor no Planalto Central brasileiro na aurora do século XXI” (Santos, p. 187); - “Espanta mesmo é o modo como vão ser reeducados os nossos jovens para que se tornem ‘cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial’” (Pinto de Góes, p. 197);

42
- “O estatuto suprime o conceito de igualdade política e jurídica dos cidadãos” (Magnoli, p. 286).
Como se pode depreender da seleção de fragmentos dos artigos da
coletânea, realizada pelos próprios organizadores (fiz um “recorte” da tal seleção),
percebe-se a quantidade de questões que estão envolvidas nesse debate: a já
citada acusação de “racialização” das políticas de Estado; a acusação explícita de
racismo aos defensores das políticas de promoção da igualdade racial; a “denúncia”
do uso das pesquisas quantitativas como manipulação estatística; a idéia de se
buscar a construção um país dividido e, possivelmente, apostar-se numa futura
guerra civil entre negros e brancos...
No meu entendimento, não há a necessidade de se ater à discussão de
cada uma dessas e de outras acusações apresentadas pela coletânea Divisões
perigosas. Uma leitura mais atenta dos artigos revela que, com uma ou outra
exceção, mesmo os textos produzidos por acadêmicos de renome, em linguagem
jornalística, acabam resvalando para argumentos superficiais ou simples
reproduções do senso comum – o que é um completo contra-senso daqueles que
se dizem preocupados em aprofundar o debate sobre esse tema.
De qualquer forma, a proposta é a de retomar-se, aqui, elementos
levantados anteriormente neste trabalho, travando-se um diálogo com algumas
questões mais relevantes, apontadas no livro citado.
Alguns autores qualificados apontam elementos importantes nessa
discussão. Nesse sentido, pode-se citar o artigo do historiador Ronaldo Vainfas, que
afirma:
“Creio ser inútil (...) reeditar o debate sobre se a nossa escravidão foi mais adocicada que a norte-americana, como sugeriu Gilberto Freyre. Aliás, nem ele nem qualquer historiador negariam a violência do escravismo em qualquer tempo ou lugar” (VAINFAS, 2007, p. 85).
Gilberto Freyre, de fato, como afirma outro historiador, Manolo Florentino, “é
o interlocutor oculto da maioria dos defensores das cotas raciais” (FLORENTINO,
2007, p. 91). Florentino, no entanto, preocupa-se em destacar a seguinte questão:
“Gilberto de Mello Freyre é autor da mais revolucionária tese produzida pelo pensamento social brasileiro no século XX – a de que somos o resultado da mistura ‘vitoriosa e quase livre’ entre o aborígene despreparado para resistir ao contrato dissolvente com o europeu, o português mestiço e plástico antes mesmo da aventura atlântica e o africano escravizado, este o molde mais perene de nossa civilização mestiça. De seu enraizamento é prova o que hoje dela se diz: que a tese é óbvia”.

43
(...) Por meio da prosa desconcertante e bela de Gilberto Freyre, de abastardante a miscigenação virou elemento civilizacional positivo e válido. E além de válido, valioso. Tão valioso que é no seu uso que reside a origem do mito da democracia racial brasileira e da escravidão leniente. (...) Deveríamos ser, ou acreditar que éramos, uma democracia racial de idílicas raízes (...). Logo, a grande utilidade dos escritos freyreanos para os interessados em fundar uma identidade brasileira esteve em que, sob esse tentador invólucro, podia se esconder a tão almejada paz social, o outro elemento dito fundamental de nossa identidade” (FLORENTINO, 2007, p. 93-94).
Apesar do poético texto de Manolo Florentino sobre a importância da tese de
Freyre, seu artigo se confronta exatamente com a questão fundamental que se
pretende levantar nesta seção – e percebida com propriedade por Vainfas: os
ferozes ataques desferidos por intelectuais acadêmicos, jornalistas e outros
cidadãos às políticas de promoção da igualdade racial, através do Estado, se
traduzem, no fundo, como uma recuperação, em pleno século XXI, do mito da
democracia racial de Gilberto Freyre.
Entende-se aqui que não há qualquer necessidade de se discutir
exaustivamente os vários textos de onde se pode depreender a idéia supracitada,
porém, a agressividade e o tom dos argumentos daqueles contrários “à política de
cotas” ou ao Estatuto da Igualdade Racial denota uma inquietude incomum com a
possibilidade de se quebrar a harmonia sob a qual se assenta não somente as
relações raciais no Brasil, como também conflitos de quaisquer tipos, incluindo a
questão da terra, a emancipação da mulher ou a (ultrapassada?) luta de classes.
Isso talvez explique a defesa apaixonada que o “geógrafo, cientista social e
jornalista” Demétrio Magnoli, da USP, elabora a respeito da data da Lei Áurea e do
papel histórico da princesa Isabel e “os personagens públicos e milhares de heróis
anônimos”, em detrimento da instituição do Dia da Consciência Negra. Escrevendo
sobre o dia 13 de maio, afirma que
“(...) É uma tragédia que essa data tenha sido praticamente enterrada sob a narrativa revisionista fabricada na linha de montagem da ‘história dos vencidos’” (MAGNOLI, 2007, p. 65).
Magnoli “esquece-se” de anotar, não se entende bem o porquê, que o 13 de
maio também foi uma “data fabricada”, como tantas outras na História do Brasil –
exatamente por se tratar da “história dos vencedores”, ou seja, da classe
dominante. Trata-se, talvez, de uma opção política, a respeito de que lado se deseja

44
ficar. Em seus artigos em O Globo, esse autor deixa bem claro de que lado da
história ele se coloca.
Este é o caso também do já citado ex-estudante de Ciências Sociais, Ali
Kamel, hoje um jornalista transformado em um bem-sucedido executivo das
Organizações Globo, também presença freqüente nas colunas do jornal citado.
Apesar de não apresentar qualquer artigo na coletânea acadêmica de Fry, Maggie
et al., seu livro, Não somos racistas, produzido com base nos artigos que redigiu
sobre a questão racial, e lançado em 2006, transformou-se rapidamente num
verdadeiro best seller, para os padrões editoriais brasileiros. Mais de um autor da
coletânea acadêmica em tela indica, entusiasticamente, a sua leitura, como é o
caso de José Roberto Pinto de Góes (2007, p. 61) e de Carlos Lessa. Este último a
recomenda “a todos os brasileiros de boa vontade” (LESSA, 2007, p. 126).
Realmente, somente com muita “boa vontade” se pode levar a sério as
digressões de Kamel. No seu livro, após algumas afirmações pertinentes sobre o
caráter da obra de Gilberto Freyre, contextualizando-o, com base em Yvonne
Maggie, no “ideal de nação expresso pelo movimento modernista, que via na nossa
mestiçagem a nossa virtude” (KAMEL, 2006, p. 19), e de se admitir a existência de
racismo no Brasil (Idem, ibidem, p. 20), o jornalista:
1) desqualifica todas as pesquisas sociológicas realizadas a partir dos anos 1950,
como foi o caso do projeto Unesco (cita nominalmente Florestan Fernandes,
Fernando Henrique Cardoso e Oracy Nogueira), e os trabalhos fundamentados
com base nas estatísticas oficiais, nos anos 1970, com destaque para a obra
de Carlos Hasenbalg (Idem, ibidem, p. 20-22);
2) considera o racismo norte-americano “mais duro, mais explícito, mais direto” do
que o brasileiro, chegando a cunhar a seguinte frase, no mínimo infeliz: “não
tenho dúvidas de que um arranhão dói menos do que uma amputação” (p. 22);
3) ataca as ações do movimento negro brasileiro, acusando-o de efetuar “a
importação acrítica de uma solução americana para um problema americano”
(p. 23);
4) também comparando a realidade brasileira com a norte-americana, afirma que
“nossa especificidade não é o racismo. O que nos faz diferentes é que aqui,
indubitavelmente, há menos racismo e, quando há, ele é envergonhado,
porque tem consciência de que a sociedade de modo geral condena a prática
como odiosa” (Idem, ibidem, p. 23); e

45
5) investe contra uma sociologia “que dividiu o Brasil entre negros e brancos”,
chancelando, segundo ele, “a construção racista americana segundo a qual
todo mundo que não é branco é negro. É usar uma metodologia racista para
analisar o racismo” (p. 23-24).
A partir de então, afirma que é uma “tragédia” que essa sociologia tenha
ganho espaços e encontrado eco no movimento negro brasileiro, desde os anos
1970, e passa a atacar todas as políticas de promoção da igualdade racial, listadas
no início desta seção (cf. KAMEL, 2006, p. 24-41).
Retomando o alarmante e ameaçador título “Divisões perigosas”, talvez
deva-se concluir com uma breve reflexão a respeito dos conflitos declarados e
latentes, envolvendo “vencedores” e “vencidos”, entre as classes sociais que se
enfrentam no cotidiano da história, e os processos de “construção de identidades”.
Aparentemente, no caso em questão, as tais “divisões perigosas” camuflam mais do
que espelham determinados interesses. Da mesma forma, pode-se dizer que o mito
da “democracia racial”, na verdade, não corresponde a uma determinada “igualdade
de oportunidades”, onde todos participam democraticamente, mas a afirmação de
um mundo marcado pela “ausência de conflitos” – desde que hegemonizado por
uma elite branca de origem européia, que se impõe cultural, política e
economicamente. O “perigo” da anunciada “divisão” está claramente dado quando
se aponta para a possibilidade de quebra desse padrão europeu, pretensamente
universalista e homogeneizador.
4. Um debate inconcluso e insuficiente...
Cento e vinte anos após a Abolição no país, podemos constatar a
persistência do racismo e da desigualdade racial, um problema atacado apenas
tangencialmente pelas políticas sociais levadas a cabo pelo Estado brasileiro. Um
estudo recente do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, por exemplo,
revela que, entre 1976 e 2006, apesar da acentuada diminuição da diferença nas
taxas de alfabetização entre brancos e negros, resultante da universalização do
acesso à educação básica, o hiato entre aqueles que haviam completado o ensino
superior, no mesmo período, triplicou a favor da população branca. Outro dado
relevante diz respeito à desigualdade de renda: embora a implementação de

46
políticas distributivas, tais como a expansão da aposentadoria rural e o aumento
real do salário mínimo, e programas como o Benefício de Prestação Continuada e
Bolsa Família, tenham atingido principalmente a população negra, por ser
quantitativamente majoritária entre os mais pobres, projeções estatísticas apontam
que a queda da desigualdade de renda, mantendo-se o ritmo atual – por sinal,
impensável em um contexto de crise capitalista, com possível depressão econômica
–, levaria 32 anos até que as populações negra e branca brasileiras tivessem, em
média, a mesma renda (cf. IPEA, 2008, p. 7-13).
Como observa Marcelo Badaró Mattos, as análises das séries estatísticas
históricas produzidas pelo IBGE “demonstram o caráter duradouro da
discriminação” racial brasileira, com
“a superposição do que (...) chamamos de desigualdade secundária sobre a desigualdade primária, agravando para um setor da classe trabalhadora a já profunda iniqüidade a que toda a classe esteve(á) submetida” (MATTOS, 2007, p. 192).
Estas últimas observações têm a intenção de direcionar o debate para um
outro caminho, não trilhado pelo “academicismo vulgar” criticado na seção anterior
deste artigo: a necessidade de fazermos uma profunda discussão sobre as relações
de desigualdade de classe produzidas historicamente no Brasil, com a devidas
contribuições dadas pela escravidão e pelo racismo na conformação do nosso
“exército industrial de reserva” (cf. MATTOS, op. cit.; ver também ARCARY, 2007).
As questões que procuramos destacar pretendiam, na verdade, ressaltar o
anacronismo de grande parte da nossa intelectualidade que, para combater
politicamente as ações afirmativas e o estatuto da igualdade racial, envereda pela
reciclagem de idéias originárias dos anos 1930, já suficientemente desmistificadas
desde a segunda metade do século passado. Uma ideologia que, por sua vez,
como assinalamos, operou numa linha de continuidade e complementaridade com o
racismo presente nas políticas oficiais de “branqueamento” da população, que
vinham desde o século XIX.
Caberia, talvez, perguntar o que estaria escondido sobre o véu da
“denúncia”, revestida por um discurso pseudo-acadêmico, e do alerta quase
dramático para as tais “divisões perigosas”. Por outro lado, como resposta, caberia
também inserir no debate o conceito marxiano de luta de classes, tornando as tais
“divisões” mais explícitas e qualificadas.

47
Referências bibliográficas ARCARY, Valério. “Por quê as cotas são uma proposta mais igualitarista que a
equidade meritocrática?”. Crítica marxista, 24, p. 106-109, 2007.
CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O racismo na História do Brasil: mito e realidade. 2ª
ed. São Paulo: Ática, 1995.
DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à Antropologia Social.
Petrópolis-RJ: Vozes, 1981.
DIWAN, Pietra. Raça pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo. São
Paulo: Contexto, 2007.
FLORENTINO, Manolo. “Da atualidade de Gilberto Freyre”. In: FRY, Peter et al.
(Org.). Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. 25ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio,
1987.
FRY, Peter; MAGGIE, Yvonne; MAIO, Marcos Chor; MONTEIRO, Simone;
SANTOS, Ricardo Ventura (Org.). Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil
contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
GÓES, José Roberto Pinto de. “Histórias mal contadas”. In: FRY, Peter et al. (Org.).
Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2007.
HASENBALG, Carlos. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. 2ª ed. Belo
Horizonte: UFMG / Rio de Janeiro: IUPERJ, 2005.
HASENBALG, Carlos; SILVA, Nelson do Valle; LIMA, Márcia. Cor e estratificação
social. Rio de Janeiro: Contra Capa, 1999.
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Desigualdades raciais, racismo e
políticas públicas: 120 anos após a abolição. Comunicado da Presidência n. 4.
Brasília: IPEA / DISOC – Diretoria de Estudos Sociais, 2008, 16 pp.
KAMEL, Ali. Não somos racistas: uma reação aos que querem nos transformar
numa Nação bicolor. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
LAMOUNIER, Bolívar. Prefácio. In: FRY, Peter et. al. (Org.). Divisões perigosas:
políticas raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2007.

48
LESSA, Carlos. “O Brasil não é bicolor”. In: FRY, Peter et al. (Org.). Divisões
perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2007.
MAGNOLI, Demétrio. “Abolição da Abolição”. In: FRY, Peter et al. (Org.). Divisões
perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2007.
MATTOS, Marcelo Badaró. “Cotas, raça, classe e universalismo”. Outubro, 16, p.
175-200, 2º semestre de 2007.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional
versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Londres, 1883.
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 4ª ed. São Paulo:
Brasiliense, 1994.
PATROCÍNIO, José do. Gazeta da Tarde, 5 de maio de 1887.
PEREIRA, Amauri Mendes. Trajetória e perspectivas do movimento negro
brasileiro. Rio de Janeiro: ALERJ, 1999.
ROMERO, Silvio. História da Literatura brasileira. Rio de Janeiro, 1888, 2 v.
SANTOS, Joel Rufino dos. “O movimento negro e a crise brasileira”. Política e
Administração. Rio de Janeiro, Vol. 2, p. 285-308, julho-setembro 1985.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. “Raça sempre deu o que falar”. In: FERNANDES,
Florestan. O negro no mundo dos brancos. 2ª ed. São Paulo: Global, 2007.
SEYFERTH, Giralda. “O beneplácito da desigualdade: breve digressão sobre
racismo”. In: VV.AA. Racismo no Brasil. São Paulo / Petrópolis-RJ: ABONG, 2002.
SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento
brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
VAINFAS, Ronaldo. “Racismo à moda americana”. In: FRY, Peter et al. (Org.).
Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2007.
VIANNA, Francisco José de Oliveira. In: VERÍSSIMO, José. Artigo publicado no
Jornal do Comércio, 4 de dezembro de 1899.
WIEVIORKA, Michel. O racismo: uma introdução. São Paulo: Perspectiva, 2007
(Debates; 308).

49
Reflexões educativas sobre o ensino da História da África
Aderaldo Pereira dos Santos12
Na Introdução Geral do primeiro volume da monumental História Geral da
África, J. Ki-Zerbo afirma que a história da África necessita ser “reescrita”, isto
porque, segundo este historiador africano, “até o presente momento, ela foi
mascarada, camuflada, desfigurada, mutilada” (KI-ZERBO, 2010, p. XXXII) pela
força dos preconceitos e dos interesses, que projetaram uma imagem negativa
deste continente, ainda com grande presença na atualidade. Creio que de braços
dados com o desafio de reescrever a história africana deve estar, também, o
desafio do ensino de uma nova história da África, fundamentado com mais precisão
e rigor histórico. Para tanto é preciso que os educadores da história deste
continente mantenham-se informados a respeito da produção historiográfica que
busca resgatar a importância da história dos africanos para a humanidade. A
tradução para o português e a disponibilidade através do site da UNESCO, para
toda pessoa interessada, dos oitos volumes da História Geral da África, sem dúvida
é um marco no sentido de uma maior democratização dos conhecimentos sobre a
história do referido continente. Além desta fundamental fonte de informação, outras
obras precisam ser consultadas e estudadas, dentre elas eu destacaria o livro de
Paul Lovejoy, Escravidão na África – uma história das suas transformações, e o de
Carlos Lopes, Compasso de Espera – o fundamental e o acessório na crise
africana. Neste artigo procuro apresentar algumas reflexões a respeito destas duas
obras que considero fundamentais para os professores de História que assumem o
desafio de ensinar história africana em suas aulas.
Ao investigar a dimensão e complexidade do fenômeno da escravidão no
continente africano, Lovejoy aborda assuntos importantes que nos permitem
compreender de modo mais aprofundado o que foi a escravidão na África, e a partir
dos conteúdos desenvolvidos na obra, temos condições de trabalhar com nossos
educandos diferenças e semelhanças entre a escravidão praticada pelos africanos
com àquela que foi implantada na América. O livro também nos ajuda a refletir 12 Mestre em Educação pela UERJ, Especialista em História da África e do Negro no Brasil pela UCAM, Especialista em História do Século XX pela UCAM, Graduado em História pela UFF, Professor de História da FAETEC e do DEGASE.

50
sobre outra questão que está no âmbito de minhas preocupações como educador.
Ao trazer à tona o tema da escravidão, tenho o interesse de pensar este assunto
considerando não apenas a escravidão em si, mas, sobretudo, o processo
contrário, ou seja, o de resistência e luta pela libertação dos escravos. Entendo que
ensinar escravidão, sem considerar a luta contra ela, constitui numa atitude que,
além de reforçar a idéia de escravidão “pacífica” e “natural”, limita a compreensão
do próprio fenômeno, não só porque uma coisa nunca existiu sem a outra, mas
também por entender que a forma como o fenômeno se constituiu na sociedade se
relacionou com o processo de enfrentamento contra a própria escravidão. O livro
de Carlos Lopes, por sua vez, apresenta uma abordagem crítica importante de
temas e aspectos que ajudam a ampliar nosso entendimento sobre a dinâmica da
História da África Contemporânea, sobretudo, no que se refere à região que se
convencionou chamar de “África subsaariana”. Sendo assim, espero que tais
reflexões contribuam no sentido de despertar em outros professores de História e
demais educadores, o desejo de agirem como sujeitos do processo de
descolonização da educação brasileira, aberto pelas leis 10639/2003 e 11645/2008.
Escravidão e luta contra escravidão na África, debate necessário.
Philip. D. Curtin disse certa vez que para os africanos, “o conhecimento do
passado de suas próprias sociedades representa uma tomada de consciência
indispensável ao estabelecimento de sua identidade em um mundo diverso e em
mutação” (CURTIN, 2010, p. 37), entendo que a “tomada de consciência
indispensável” à qual se refere Curtin, também diz respeito às diversas sociedades
que sentiram a ação política e cultural da diáspora africana no processo histórico de
suas formações. Sendo assim, considerando a sociedade brasileira fruto, em
grande parte, do trabalho econômico, político e cultural de africanos e seus
descendentes nascidos aqui, presumo ser no mínimo necessário conhecermos e
pensarmos mais sobre a África, para conseguirmos realizar o que Curtin disse
acima. Isto nos coloca de imediato um desafio: ampliarmos o “espaço da África” na
sociedade. A busca desta ampliação implica, de forma dialética, na ampliação do
espaço da África dentro de nós. Este raciocínio se inspira nas reflexões de Franz
Fanon acerca do fenômeno da “descolonização” (Os Condenados da Terra) e na
“Arma da Teoria” de Amílcar Cabral. Um conhecimento histórico da África

51
consistente é uma “arma teórica” fundamental em prol da “descolonização” da
educação brasileira. Neste sentido, a complexidade da escravidão na África precisa
ser compreendida com mais profundidade. O livro de Paul E. Lovejoy sobre a
escravidão na África é obra que ajuda qualquer professor de História entender o
complexo fenômeno da escravidão ocorrido no continente africano.
O livro de Lovejoy foi revisado pelo historiador Manolo Florentino, e se
estrutura em doze capítulos, mais dois prefácios, lista de mapas, lista de tabelas,
notas sobre moedas, pesos e medidas, além de apêndice com cronologia de
medidas contra a escravidão, notas, bibliografia e índice. O autor é um norte-
americano naturalizado canadense. Ele trabalha o assunto articulando uma
abordagem mais panorâmica, no que diz respeito à escravidão em geral na África, a
uma abordagem específica, sobretudo, para apreender os processos que
possibilitaram as transformações da escravidão nas diversas regiões e tipos de
sociedades. As divisões internas dos capítulos desenvolvem questões de caráter
teórico e conceitual, assim como analisa os processos históricos dos povos
africanos entre si e suas relações com povos de outros continentes. Em termos
cronológicos, o autor define como marcos o fim do século XIV e início do XX.
A tese principal do autor consiste em desenvolver uma análise da história da
África tomando por base o estudo das transformações que a escravidão sofreu no
continente, e considerando a dinâmica desempenhada por “influências externas” e
“forças internas” neste processo de transformação. Ele parte do pressuposto de que
tal processo de transformação foi bastante influenciado pelo fato determinante de
que “a escravidão era uma instituição central em muitas regiões da África”
(LOVEJOY, 2002, p.14). Sua perspectiva consiste não em determinar à maior ou
menor importância de fatores externos ou internos, mas procurar entender como
tais fatores “afetaram o curso da história” (LOVEJOY, 2002, p.20). O autor investiga
no livro transformações sofrida na economia política de sociedades escravistas na
África considerando o impacto do Islã, dos mercados internos e externos, e das
ações dos “escravos e ex-escravos no debate sobre abolição e emancipação”
(LOVEJOY, 2002, p. 21). Em termos teóricos, o autor argumenta que é preciso se
ater ao que ele chama de “diferença fundamental” entre a escravidão em espaços
de diáspora e a escravidão na África. Segundo ele, “as características específicas
da escravidão como um modo de produção na África atrelavam os mecanismos da
escravização ao tráfico de escravos e à utilização de escravos” (LOVEJOY, 2002,

52
p.22). Isto significa que na África a escravidão foi um processo que articulou três
dimensões, ou seja, a dimensão comercial, a produtiva e de serviços, e a que
envolvia captura e deslocamento de escravos. É neste sentido que o autor afirma
que “na África, a estrutura da escravidão que sustentava as formações sociais e
econômicas dos maiores estados e sociedades estava intimamente ligada à própria
escravização” (LOVEJOY, 2002, p.22).
Ao trabalhar o aspecto propriamente conceitual do fenômeno da escravidão,
o autor explora três conjunturas: a que se refere ao âmbito de sociedades africanas
tradicionais, a que sofreu influência do “fator islâmico” e a que teve a ação marcante
do “comércio transatlântico”. Sua análise privilegiou observar como se deu o
fenômeno da expansão da escravidão no continente africano, buscando destacar o
impacto do comércio exterior no processo de expansão da escravidão, que, de
maneira geral, desenvolveu-se num nível geográfico, proporcionando a difusão da
escravidão para várias regiões do continente; e num nível sócio-econômico, em que
constatou o crescimento da importância da escravidão nas sociedades africanas.
Além de ser um modo de exploração, em que o escravo era propriedade e
possível mercadoria, estando completamente a mercê da vontade do seu dono e
senhor, Lovejoy destaca que um aspecto peculiar da escravidão na África, consistiu
no fato de ser “fundamentalmente um meio de negar aos estrangeiros os direitos e
privilégios de uma determinada sociedade, para que eles pudessem ser explorados
com objetivos econômicos, políticos e/ou sociais” (LOVEJOY, 2002, p.31). Neste
sentido, ser estrangeiro era ser “etnicamente diferente”, sem vínculo de parentesco,
portanto, com mais possibilidade de ser escravizado. Tal análise nos leva a pensar
sobre o significado da “liberdade” nas sociedades escravistas africanas. Segundo
Lovejoy, “o termo é realmente relativo”. As próprias palavras do autor esclarecem
este ponto de vista:
“No contexto das sociedades escravocratas, a liberdade envolvia uma
posição reconhecida numa casta, numa classe dirigente, num grupo de parentesco
ou algum tipo de instituição. Uma tal identificação incluía um conjunto de direitos e
obrigações que variavam consideravelmente de acordo com a situação, mas ainda
eram distintos daqueles dos escravos, que tecnicamente não tinham direitos,
apenas obrigações. O ato de emancipação, quando existia, transmitia um
reconhecimento de que escravo e homem livre eram opostos. A emancipação

53
demonstrava dramaticamente que o poder estava nas mãos dos homens livres, não
dos escravos”( LOVEJOY, 2002, p.31).
Sendo assim, estar na condição de escravo significava carregar um estigma
que marcava profundamente a vida do grupo étnico escravizado, pois ser escravo
não era apenas pertencer a um senhor, mas subordinar-se a vigilância e controle do
grupo escravizador. Tal realidade estabelecia em poder coletivo que dificultava a
capacidade reativa do escravo à condição da escravidão. Além disso, um outro fator
deve ser considerado. No contexto da escravidão africana, em muitos casos, a
estratégia utilizada era de obediência e não de rebeldia. Para muitos escravos, ter
uma condição melhor significava assumir funções e responsabilidades que em
grande parte exerciam papel fundamental na própria sustentação e reprodução da
sociedade escravista. Portanto, um fenômeno “contraditório” se estabelecia: muitas
vezes, para ter benefícios e deixar de sofrer os tormentos mais duros da condição
de escravo, alguns escravos assumiam funções mais privilegiadas (ex:
militar/comércio/burocracia), que no quadro africano, eram funções que davam
sustentação a própria formação social e econômica de determinadas sociedades
escravistas na África.
No entanto, em que pese às dificuldades, a resistência e rebeldia dos
escravos à escravidão existiram. Como escreve Lovejoy, havia limites:
“Em geral era alcançada alguma espécie de acomodação entre senhores e
escravos. O nível sociológico dessa relação envolvia um reconhecimento por parte
dos escravos de que eles eram dependentes, cuja posição requeria subserviência
ao senhor, mas igualmente necessitava da aceitação por parte dos senhores de
que existiam limites até onde os escravos podiam ser forçados” (LOVEJOY, 2002,
p.36).
Existia uma relação de força certamente desigual para o escravo, diante da
violência empregada como forma de controle social, porém, lembra Lovejoy que tal
violência produzia nos escravos “tanto uma psicologia de servidão quanto o
potencial para a rebeldia” (LOVEJOY, 2002, p.36). O aspecto da rebeldia se
acentua se considerarmos o que disse o autor de que “é incorreto pensar que os
africanos escravizaram os seus irmãos” (LOVEJOY, 2002, p.55), segundo ele, “na
verdade, os africanos escravizaram os seus inimigos” (LOVEJOY, 2002, p. 55).
Sendo assim, a fuga coletiva, tanto na América com os quilombos, quanto na África
com diversas formas de ação grupal, foi sempre uma tática a ser colocada em

54
prática para conseguir algum objetivo. Lovejoy cita um exemplo ocorrido na região
da Gâmbia na década de 1730, em que os escravos ameaçaram com a fuga em
massa se o senhor quebrasse a regra de vender escravo de família “sem o comum
acordo” (LOVEJOY, 2002, p. 181) dos demais escravos, caso o fizesse todos
fugiriam até serem “protegidos pelo próximo reino para o qual eles escaparem”
(LOVEJOY, 2002, p. 181). Visualizo uma espécie de “quilombo” ambulante,
guardando as devidas proporções, nesta imagem que expressa um movimento que
envolve “fuga”, “acordo”, “proteção”. Todo esse potencial de rebeldia maturado pela
prática da escravidão veio a explodir no decorrer do século XIX. As contradições
vieram à tona, e os europeus souberam usá-las em prol dos seus interesses
colonialistas. Entretanto, a despeito do papel exercido pelas “missões cristães” no
combate à escravidão, diz o autor que, “registros mostram claramente que os
próprios escravos eram fundamentalmente responsáveis por tomar a iniciativa que
começou a destruir a escravidão” (LOVEJOY, 2002, p.380). Portanto, precisamos
conhecer melhor esta história, e assim contribuir para uma visão crítica a uma ideia
a muito questionada, que pode muito bem está se reforçando, mesmo sem querer,
pelos diversos cursos de história da África que estão sendo ministrados por este
Brasil a fora, ou seja, a velha ideia de que na África a escravidão foi algo mais
“natural”, e que, portanto, a opção pelo escravo africano na formação das
sociedades escravistas da América, deveu-se ao fato do africano ter uma
propensão mais “natural” à escravidão. Quando se ensina escravidão sem enfatizar
o contraditório, pode-se estar contribuindo para o retorno desta velha ideia sem se
dar conta.
Os educadores e o Movimento Negro brasileiro não devem temer o debate
“espinhoso” sobre a questão da escravidão na África. Tanto é ruim não tratar da luta
dos escravos africanos contra a escravidão na África, quanto é tapar os olhos para
este fenômeno histórico de escala mundial que foi o processo das transformações
da escravidão no continente africano. Uma perspectiva de ensino de história que
articule história da África, história do Brasil e história de outros continentes, pode
muito bem ser pensada a partir desta temática. O livro de Paul Lovejoy demonstrou
ser fonte fundamental neste propósito. Além disso, a obra é bastante convincente
no tocante a complexidade e a dimensão que a escravidão tomou no continente
africano.

55
Que compasso é este? – o Compasso de Espera de Carlos Lopes
Refletindo sobre a conjuntura caribenha no livro Da Diáspora, Stuart Hall
afirma que retrabalhar a África “tem sido o elemento mais poderoso e subversivo de
nossa política cultural no século vinte” (HALL, 2003, p. 40). Penso que com o
advento da lei 10639/2003 e de toda a conjuntura que está propiciando a expansão
do debate sobre a temática da África e do ensino da história africana na sociedade
brasileira, o prognóstico de Hall cabe para o Brasil neste século XXI. Isto porque
sabemos o quanto a “África” foi esquecida e desprestigiada em nosso país, ao
mesmo tempo em que sabemos também o quanto ela é importante para os
processos de valorização cultural e política de parcela majoritária da sociedade, ou
seja, nós, os afro-descendentes. Como professor de História que busca contribuir
para ampliar o ensino da história africana nas escolas, creio ser necessário ter a
preocupação de desfazer os estereótipos e mitos sobre este continente, tendo o
cuidado de não criar outros, de modo a tornar a História da África não apenas uma
ferramenta contra o racismo e eurocentrismo, que ainda persistem sobre diversos
aspectos na educação brasileira, mas por compreender que devemos entender a
História da África por ela mesma, conhecer seus processos e contradições, que
existem na história de todos os povos, seja qual for o continente analisado, e por
saber que abrir os olhos para a complexidade da história deste continente é uma
das condições para entendermos em sua plenitude a história da humanidade e, em
particular, a história do Brasil. O livro de Carlos Lopes nos ajuda neste propósito.
Nascido na Guiné-Bissau e realizando sua formação acadêmica na Suíça e
França, o autor atuou em universidades de diversos países, a exemplo de Guiné-
Bissau, Alemanha, México, Portugal e Brasil, além de ter também participado como
economista do desenvolvimento junto às Nações Unidas (PNUD). Sua obra versa
sobre um conjunto de questões que segundo Boaventura de Sousa Santos, que
assina o prefácio, constitui-se num significativo “programa de reflexão” para se
pensar criticamente sobre problemas africanos contemporâneos, vistos numa
perspectiva complexa e como parte de “um problema mundial”.
Considerando o limite deste tipo de trabalho, optei a seguir por apresentar
uma síntese do panorama teórico que pude apreender da análise do livro, e
destacar a discussão que o autor desenvolve em relação à temática da
historiografia sobre a História da África, visto que tal assunto corresponde uma das

56
minhas preocupações enquanto pesquisador e educador do tema. No entanto,
perante a riqueza e complexidade de cada ponto destacado por ele, convém dizer
que esta opção também se baseou na compreensão de que teria dificuldade de
refletir, com profundidade, mais aspectos, em um texto de número pequeno de
páginas. Diante do relevante roteiro de discussão que trata a obra, creio que as
questões destacadas pelo autor, a meu ver, podem contribuir para pensarmos
sobre uma plataforma de ensino da História da África Contemporânea dentro de um
ponto de vista que considere à relação entre fatores internos e externos interferindo
na dinâmica histórica do continente.
O livro é dividido em oito capítulos e trata, sobretudo, de aspectos políticos e
econômicos referentes à África subsaariana. O autor também incluiu anexos com
gráficos estatísticos de dados do continente africano a respeito de dívida externa,
investimento estrangeiro, recursos financeiros, comércio, produção alimentar, taxa
de mortalidade infantil, crescimento do Produto Interno Bruto, crescimento
populacional, despesas governamentais, acesso aos serviços básicos e freqüência
ao ensino primário. Os números apresentados privilegiam o período das duas
últimas décadas do século XX, segundo o autor, reveladores de “duras realidades”
que “desencadearam a visão fatídica de África” (LOPES, 1997, p.32). Lopes se
preocupou em pensar sobre esta conjuntura a partir da noção de “crise africana”,
entendida por ele como expressão de um processo de mudança em que fatores
externos e internos precisam ser pensados de forma articulada, para se
compreender os possíveis sentidos da crise, assim como, as possíveis saídas. O
alvo do autor consistiu em ir além de entender com mais profundidade o fenômeno,
ele buscou também com sua análise atacar o que denomina de “determinismo
pessimista”, que ainda paira sobre as compreensões que se tem sobre o continente
africano. Ao invés do pessimismo quanto à crise e, por conseguinte, a mudança,
Carlos Lopes adverte aos apressados que “a mudança veio para ficar” e conclui:
“Devido a um número crescente de fatores, que convém analisar, a estabilidade, tal como a definíamos até bem recentemente, vai transformar-se num mito. A mudança é a nova constante” (LOPES, 1997, p.13). Entender a crise e as mudanças que a constitui, implica para o autor,
“conhecer o melhor possível os fenômenos globais” (LOPES, 1997, p.14), pois
segundo o ponto de vista que buscou fundamentar no corpo do texto, “crise,

57
mudança e globalização tendem a tornar-se sinônimos na terminologia e
epistemologia nascentes” (LOPES, 1997, p.14).
Sendo assim, para refletir sobre problemas que se manifestam no contexto da
África subsaariana, o autor de Compasso de Espera esclarece que é necessário
realizar a análise a partir de uma perspectiva teórica que relacione o “global” e o
“particular”. Neste sentido, o trato com o conceito de globalização aparece como
central nas reflexões do autor. A maneira como define este conceito, revela a rica
realidade dinâmica e complexa que o termo expressa:
“É importante entender que a globalização está em processo e é um processo. Iniciou-se antes do nosso tempo e, inevitavelmente, continuará para além deste. A sua compreensão exige uma combinação da nossa memória, do presente e da imaginação. É um fenômeno que tanto pode produzir integrações como marginalizações, tanto tem poderes hegemônicos como contra-hegemônicos, tanto é marcado por continuidade como por crises e mudança” (LOPES, 1997, p.14). Para dar conta do desafio de compreender teoricamente a crise africana,
Carlos Lopes propõe “uma análise sistemática da globalização”, de modo a evitar
uma visão fragmentada do problema e possibilitar o discernimento do que seria
“fundamental” e “acessório” no entendimento do fenômeno. Tal feito só seria
possível a partir de uma perspectiva sistêmica e histórica:
“O pensamento sistêmico desconfia das soluções simplistas e tenta a busca de conexões entre os eventos que o discurso convencional ignora; e solicita o aprofundamento de tópicos que podem estar além do nosso conhecimento ou da nossa experiência direta” (LOPES, 1997, p. 14/15). (...) É meu propósito demonstrar que o recurso à História é indispensável neste empreendimento. Tanto do ponto de vista endógeno como do exógeno é necessário poder apreender o caráter sistêmico da crise de valores, que é tão importante como à crise pura e simples” (LOPES, 1997, p.16). Utilizando a expressão usada por Boaventura no prefácio para qualificar o
conjunto de discussões que o livro trata, o “programa de reflexões” do autor
consistiu em refletir sobre as questões e temáticas da “inferioridade africana”, de um
“diagnóstico alternativo da crise”, do “afro-pessimismo versus afro-otimismo”, da
“cooperação técnica”, o problema da “governabilidade” e a questão da
“africanização da democracia”.
Ao desenvolver uma análise que objetivou, dentre outras coisas, refletir sobre
o posicionamento do continente africano no cenário mundial, a meu ver, as
abordagens do autor a respeito de cada um dos pontos que ele trabalhou, fornecem
elementos importantes para o professor de História pensar uma plataforma de
ensino da história contemporânea da África subsaariana, que busque articular e

58
esclarecer a complexidade da relação desta região com outras partes do mundo e
com a “globalização”: “O futuro da globalização e da África estão intrinsecamente
conectados. Ambos simbolizam construções complexas, irremediavelmente ligadas”
(LOPES, 1997 p.16).
Uma interrogação dá título ao capítulo que trata do tema sobre a possível
inferioridade dos povos da África subsaariana. Carlos Lopes nos propõe pensar
então a seguinte questão: “inferioridade africana?” A dúvida levantada tem para ele
sentido, uma vez que considerando as três grandes linhas historiográficas que se
debruçaram sobre a História da África, o autor apresenta uma questão fundamental
para quem pretende pensar (como eu) a respeito do papel da História e da
historiografia na construção e desconstrução da idéia de inferioridade africana. A
questão vem no afirmativo: “foi através da História e da historiografia que se
construiu a imagem da inferioridade africana” (LOPES, 1997, p.17), diz o autor.
Perseguir o entendimento desta afirmativa constitui um dos meus interesses
acadêmicos.
Entretanto, meu foco também está voltado para pensar o que o ensino da
História pode fazer para “desconstruir” a idéia de inferioridade e ao mesmo tempo
construir outras que busquem reforçar princípios de respeito às diferenças,
liberdade, igualdade, justiça, democracia e de respeito aos direitos humanos. Como
o ensino da História pode contribuir para educar em direção a tais princípios sem se
deixar cair na armadilha de criar mitos? É necessário ficar atento ao que nos ensina
Marc Bloch,
“Sempre que as nossas sociedades estritas, em perpétua crise de consciência, se põem a duvidar de si mesmas, verificamos que se perguntam sobre se fizeram bem em interrogar o seu passado ou se o interrogaram bem”(Introdução à História, p. 12) Interrogações sobre o passado, como diz Marc Bloch acima, sempre surgem
em sociedades que vivem “em perpétua crise de consciência”. O exemplo da
sociedade brasileira é emblemático no que diz respeito à característica marcante de
desigualdade racial que persiste ao tempo. A questão do ensino da história da
África, por exemplo, expressa claramente este aspecto, à medida que não há
dúvida quanto o tratamento desigual que a História da África tem no campo do
ensino da História. Muito desta situação se fundamenta na concepção de
“inferioridade africana”, que segundo Carlos Lopes pauta-se, por um lado, no
“desconhecimento” da História da África; por outro, na idéia de “marginalização” da

59
África “na história universal” (LOPES, 1997, p.18). Apesar do autor está se referindo
a uma determinada linha historiográfica africana, penso que o argumento
apresentado ajuda a refletir sobre tal ponto no âmbito do ensino da História da
África no Brasil. Vejamos a argumentação do autor:
“O desconhecimento da História do continente é patente em qualquer significativa amostragem literária, dentro e fora do continente, com exemplo até nas luxuosas enciclopédias universais ou outros tomos de referência cartesiana do saber ocidental. Apesar de historiadores como Fernand Braudel terem conseguido imprimir uma nova dinâmica de interpretação histórica com as noções de interdepedência, integração e relacionamento de espaços na economia-mundo, e de ser sobejamente conhecida a presença do valor do trabalho e da riqueza africanas, por exemplo no comércio transatlântico, continua a imperar esta marginalização da contribuição africana na história universal”( LOPES, 1997, p.18) Em outro momento, quando aborda sobre o período colonial, Carlos Lopes
ressalta o aspecto de que a “inferioridade africana” foi alicerçada na colonização.
Segundo ele, “a inferioridade africana foi fortificada pela estrutura da colonização”,
que apresentava pelo menos três formas de exercer o poder, ou seja, “a dominação
física, humana e espiritual”. Este último, inclusive, visto pelo autor como sendo
“sumamente importante uma vez que esteve na origem de uma regeneração da
mentalidade africana”( LOPES, 1997, p.20). Regeneração esta que visava como
queria os “primeiros ecos protonacionalistas”, a defesa da reivindicação de
“igualdade dos africanos regenerados em relação aos seus mentores europeus”
(LOPES, 1997, p.20). Carlos Lopes vai mais longe e revela o surgimento de um
dualismo propiciado pela experiência colonial:
“A estrutura colonial vai dicotomizar a sociedade africana: tradicional versus moderno, oral versus escrito, direito consuetudinário versus administração, subsistência versus produtividade, segmentarismo versus centralismo. Uma panóplia de dualismos regedores da extensão de marginalidade que se vai instalar como interpretação corrente das sociedades africanas. E é claro que a historiografia africana não escapa a esta lógica implacável da dualidade. Como tão pouco escapa à nova configuração social, política e econômica introduzida pelo dualismo global integração-marginalização”( LOPES, 1997, p.20). O olhar a respeito da África vai se revestir, portanto, em um “simbolismo da
inferioridade” que afeta os processos de identidade através da “recusa da
alteridade”, manifestada pela vontade de “civilizar o africano modelando-o, mesmo
esteticamente, ao que é considerado superior”( LOPES, 1997, p.21). De acordo
com o autor de Compasso de Espera, “esta corrente da inferioridade continua a
dominar uma larga parte das interpretações sobre África feita por não africanos”
(LOPES, 1997, p.21).

60
O movimento de contraponto à tendência da “inferioridade africana” se
expressa, no que se refere ao campo da historiografia africana sobre História da
África, na corrente defensora da idéia de uma “superioridade africana”. Tal corrente
é qualificada por Carlos Lopes como sendo “corrente da pirâmide invertida”, que
segundo ele, gerou “uma História que vai suscitar excessos” (LOPES, 1997, p. 23).
Lopes reivindica, então, o balançar do “pêndulo da História”, anunciando o
ajuste histórico a partir do surgimento de cientistas sociais e do “nascimento dos
novos historiadores africanos, libertos da necessidade de impor uma superioridade
africana” (LOPES, 1997, p.23). Esta nova geração vem se pautando numa
perspectiva pluridisciplinar e de “longa duração”, de inspiração braudeliana, que seja
capaz de realizar a “relação e conexão entre os vários níveis da realidade social:
global, regional, nacional e local” (LOPES, 1997, p.26). Sendo assim, o autor
conclui da seguinte forma a visão que apresenta desta nova perspectiva histórica
sobre a história da África:
“Surge, finalmente, ‘nova escola’ de pensadores africanos, despojados das cargas emocionais dos seus predecessores, e igualmente preocupados com a previsão. Alguns deles encontrando mesmo dificuldades (...) em centrar as suas análises apenas na História. Os desafios contemporâneos impõem uma leitura multifacetada, pluridisciplinar e despojada de complexos arcaicos. São estes novos intérpretes da realidade que vão conectar a interpretação histórica à crise do continente” (LOPES, 1997, p.25).
Conclusão
Os estudos sobre África tendem a ganhar maior dimensão em nossa
sociedade a partir da aprovação da Lei 10639/2003, sobretudo, porque deu
“munição” aos educadores e políticos que assumem o ofício-militância de contribuir
para a “descolonização” da educação e para o combate ao racismo. Ampliar o
saber sobre África contribui neste sentido, pois ajuda a “mexer” com a base deste
ensino eurocêntrico que impera em todos os níveis da educação brasileira. A
conjuntura atual, a meu ver, está favorecendo a ampliação da temática africana na
educação, e, por conseguinte, também na sociedade. Vejamos o quadro: uma lei
que estabelece o racismo como crime, outra que determina a obrigatoriedade do
ensino sobre África e da diáspora africana, outra que garante o direito de
propriedade para descendentes de quilombolas, e ainda as que definem políticas de
ação afirmativa, são exemplos de conquista do Movimento Negro brasileiro que

61
apontam para um longo percurso de uma conjuntura de “reparação histórica” em
que, a meu ver, cria a possibilidade de nos colocarmos diante da questão levantada
por Stuart Hall em seu livro Da Diáspora – identidades e mediações culturais.
Refletindo sobre determinados movimentos político-culturais no Caribe, Hall os
entende, em certa medida, como tentativas de lidar com a “questão de interpretar a
‘África’, reler a ‘África’, do que a ‘África poderia significar para nós hoje, depois da
diáspora” (HALL, 2003, p.40). Tal questão também se coloca no contexto brasileiro,
e é neste campo que envolve a questão expressada nas palavras de Stuart Hall,
que se situa minha reflexões. Para poder pensar qual o significado da “nossa África”
é preciso conhecer o que está sendo e o que foi a África, e isto quer dizer, conhecer
mais sobre história da África. E parafraseando o dramaturgo Nelson Rodrigues que
escreveu sobre “a vida como ela é”, devemos conhecer a história da África como
foi, de fato, pelo menos conhecer sem temer pensar sobre o conhecido.
No tocante a questão da escravidão é preciso apresentar mais alguns
argumentos a título de conclusão. Começo, então, lembrando o que disse Joel
Rufino dos Santos ao tratar sobre o tema dos “quilombos” em programa da TV
Escola (DVD – Pluralidade Cultural, Vol. II/MEC), segundo ele “a história da
escravidão é inseparável da história da luta contra a escravidão”, concluindo em
seguida que “não há escravidão pacífica”. Orientando-me por esta perspectiva, o
que pretendi aqui diz respeito a um assunto que me parece pouco explorado no
tocante a história da África, ou seja, à temática das estratégias de luta e resistência
de escravos africanos contra a escravidão na África. Percebo a necessidade de
pensar esta temática, diante de uma conjuntura nacional favorável a proliferação do
ensino da História da África, a partir da aprovação da lei 10639. Meu olhar se volta
para um problema que ando visualizando a título de hipótese. Minha observação
indica que grande parte dos cursos de História da África enfatiza o aspecto da
importância da escravidão no continente africano. No entanto, é perceptível que
pouco se trata, para não dizer quase nada, das formas de resistência e luta de
escravos africanos contra a escravidão a que foram submetidos. Sendo assim, a
base do ensino assume uma configuração que privilegia uma perspectiva de quem
está no poder. São os grandes e diversos reinos africanos que dominaram e
escravizaram povos africanos, participando inclusive e, sobretudo, do comércio de
escravos. Gosto de olhar, no entanto, para o que é contraditório ao poder. No
tocante a temática da escravidão, o que me mobiliza como historiador e professor é

62
investigar o que foi possível o escravo fazer para tentar romper, equilibrar ou
atenuar a condição de escravo imposta pelo poder. Isto vale para o Brasil, para a
África, ou onde quer que tenha ocorrido escravidão.
Neste sentido, entendo que não basta focalizarmos a luta do africano contra
o colonizador europeu, é preciso também olhar para as formas de luta e resistência
daqueles milhares escravos que foram escravizados por africanos na própria África,
de compreender melhor os processos e ações em que os escravos foram
protagonistas na busca por liberdade, ou pelo menos para minimizar sua condição
de escravizado. E de onde vem esta minha perspectiva no tocante à temática da
escravidão? Não há nada de novo no que estou falando, apenas procuro levar para
o estudo da escravidão na África àquilo que aprendi com a historiografia brasileira
que se colocou de forma crítica frente à ideia do “escravo coisa”. Criticando esta
ideia, a historiografia a que me refiro buscou pensar o escravo como sujeito.
Gostaria de frisar, também, que meu foco de interesse se pauta, também,
numa perspectiva teórica de pensar para “além da escravidão”, considerando, neste
sentido, a argumentação apresentada pela historiadora Hebe Mattos13, ao prefaciar
o livro Além da Escravidão, de Frederick Cooper, Thomas C. Holt e Rebecca J.
Scott. Dentre outras coisas, Hebe trata da relação entre “escravidão” e “cidadania”,
e destaca como “questão crucial” em todas as sociedades escravistas, “as
possibilidades de alforria e as formas de integração do ex-escravo à sociedade em
que foi cativo” (MATTOS, 2005, p.15). Considerando a perspectiva da autora,
acrescentaria também como fatores cruciais enfrentados pelas sociedades
escravistas, as ações de rebeldia individual ou coletiva, as diversas formas de
pressão usada pelo escravo para minimizar, remediar ou extinguir os variados
meios de intimidação e maus tratos aos quais estavam submetidos. Hebe destaca
também a repercussão do discurso liberal, com seu suposto direito a liberdade
universal, que ganhou corpo no século XIX atuando como “fermento” para tornar a
emancipação “questão ainda mais central nos contextos históricos, surgidos nas
Américas e também na África desde o século XIX até meados do XX” (MATTOS,
2005, p.15). Sobre este aspecto, Lovejoy se debruça no capítulo 11, em que analisa
o “impulso abolicionista” que se expandiu pelo continente africano a partir do século 13 Hebe Mattos escreveu um artigo que deveria ser leitura obrigatória para todo professor de História, trata-se de “O ensino da História e a luta contra a discriminação racial no Brasil”, neste artigo ela pontua as questões centrais para se compreender o quanto o ensino da História, e em especial o ensino da História da África se constitui num instrumento fundamental para se superar o problema do racismo na sociedade brasileira.

63
XIX, juntamente com o liberalismo, o imperialismo, etnocentrismo europeu e o
“racismo científico”, todos “ventos” do século XIX que prepararam o terreno para a
ocupação européia na África.
Logo, os educadores e o Movimento Negro brasileiro não devem temer o
debate “espinhoso” sobre a questão da escravidão na África. Tanto é ruim não tratar
da luta dos escravos africanos contra a escravidão na África, quanto é tapar os
olhos para este fenômeno histórico de escala mundial que foi o processo das
transformações da escravidão no continente africano. Uma perspectiva de ensino
de história que articule história da África, história do Brasil e história de outros
continentes, pode muito bem ser pensada a partir desta temática. O livro de Paul
Lovejoy demonstrou ser fonte fundamental neste propósito. Além disso, a obra é
bastante convincente no tocante a complexidade e a dimensão que a escravidão
tomou no continente africano.
Em relação ao livro de Carlos Lopes busquei destacar o quanto esta obra é
fonte importante para o pesquisador e professor que queira compreender a História
Contemporânea da África subsaariana de forma crítica, com base numa perspectiva
sistêmica, que trabalhe a relação entre a região e os processos globais aos quais a
África foi envolvida pelo movimento da História. As demais questões desenvolvidas
pelo autor e que não puderam ser aprofundadas aqui, em virtude do limite do texto,
também trazem para discussão pontos fundamentais para quem deseja entender
melhor o que se passou e se passa na África subsaariana em termos políticos,
econômicos e culturais nas sociedades pós-coloniais. Operando com uma
abordagem mais geral que não teve como foco analisar um país específico da
região, penso que a análise de Lopes é leitura obrigatória para todo e qualquer
estudioso da temática, não só pelo cuidado com que trata o conteúdo dos assuntos,
mas também como modelo metodológico de argumentação teórica e histórica.
Referências bibliográficas:
BLOCH, Marc. Introdução à História. Portugal: Publicações Europa-América,
Coleção SABER, 6a. edição, 1993 (Tradução de Maria Manuel e Rui Grácio).
CABRAL, Amílcar. Obras Escolhidas: A Arma da Teoria - Unidade e Luta, Lisboa,
Seara Nova, 1978.

64
CURTIN, Phillip. D. “Tendências recentes das pesquisas históricas africanas”. In:
História Geral da África I – Brasília: UNESCO, 2010).
FANON, Frantz. Os condenados da Terra. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira,
1979.
HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. Org.: Liv Sóvik. Belo
Horizonte: Ed. UFMG; Brasília: UNESCO no Brasil, 2003.
KI-ZERBO, J. “Introdução Geral”. In: História Geral da África I – Brasília: UNESCO,
2010).
LOPES, Carlos. Compasso de Espera – o fundamental e o acessório na crise
africana. Porto: Edições Afrontamento, 1997.
LOVEJOY, Paul E. A escravidão na África: uma história de suas transformações.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
MATTOS, Hebe. “Prefácio”. In: Além da Escravidão: investigações sobre raça,
trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação/Frederick Cooper, Thomas
C. Holt, Rebecca J. Scott. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
MATTOS, Hebe. “O ensino da História e a luta contra a discriminação racial no
Brasil”. In: Ensino de história: conceitos, temáticas e metodologia/Martha Abreu e
Rachel Soihet (orgs.) – Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.
SANTOS, Joel Rufino dos. “Quilombos”, Programa da TV Escola (DVD –
Pluralidade Cultural, Vol. II/MEC).

65
Da África visões da Europa ou Exemplos de re-apoderação do discurso literário em Angola e
Moçambique
Marcelo Pacheco Soares14
1. A Angola de Pepetela
O espantoso Jaime Bunda Jaime Bunda estava sentado na ampla sala destinada aos detetives. Havia três secretárias, onde outros tantos investigadores lutavam contra os computadores obsoletos. Havia também algumas cadeiras encostadas à parede. Era numa destas, a última, que Jaime pousava a sua avantajada bunda, exagerada em relação ao corpo, característica física que lhe tinha dado o nome. O seu verdadeiro era comprido, unindo dois apelidos de famílias ilustres nos meios luandenses. Mas foi numa aula de educação física, mais propriamente de vôlei, que surgiu a alcunha. Às tantas, o professor, irritado com a falta de jeito ou de empenho do aluno, gritou: — Jaime, salta. Salta com a bunda, porra! A partir daí, ficou Jaime Bunda para toda a escola. De fato, as suas nádegas exageravam. Ele, aliás, era todo para os redondos, até mesmo os olhos que gostava de esbugalhar à frente do espelho, treinando espantos. A mãe é que não gostou nada quando ouviu colegas tratarem-no assim, és um mole, não devias deixar que te chamassem um nome ofensivo, mas ele encolheu os ombros, a minha bunda é mesmo grande, vou fazer mais como então? (PEPETELA, 2003, p. 11)
Eis a apresentação ao leitor do personagem elaborado pelo angolano
Pepetela para (anti-)protagonizar dois romances: Jaime Bunda - agente secreto
(publicado originalmente em 2001) e Jaime Bunda e a morte do americano (editado
pela primeira vez em 2003). As relações intertextuais que essas duas obras
estabelecem com um repertório literário exterior são bem evidentes, porque bebem
em fontes da Literatura Inglesa de massa, cujos personagens-símbolo e estruturas
narrativas já estão enraizados no imaginário universal. Assim, o nome Jaime Bunda
remete imediatamente aos escritos de Ian Fleming, que trouxe a público em
meados do século XX um dos mais famosos personagens da ficção
contemporânea, James Bond, agente a serviço de Vossa Majestade britânica muito
conhecido pela alcunha de 007 e cuja notoriedade foi definitivamente consolidada
pelo cinema hollywoodiano, essa genuína e eficiente máquina pós-moderna de
difusão de imagens. Jaime Bunda comporta ainda características inerentes aos 14 Professor de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Mestre e Doutorando em Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

66
detetives particulares das novelas policiais clássicas — por exemplo: “Era muito
observador, não deixava escapar nenhum gesto ridículo, por minúsculo que fosse.”
(PEPETELA, 2003, p. 12) Largamente praticada, produzida, ambientada e
consumida na Inglaterra em seus primórdios no século XIX, quando Londres ainda
possuía atmosfera deveras propícia a crimes em função do seu crescimento como
metrópole alvo de fortes processos migratórios e também da névoa constante sob a
qual se escondia, resultados das recentes Revoluções Industriais, essa disposição
literária do mundo moderno para tais textos, de forte apelo mercadológico, traz
como representante ilustre Hercule Poirot, o detetive belga criado por Agatha
Christie (cerca de três décadas mais antigo do que Bond), e encontra sua gênese
especialmente nas narrativas oitocentistas de Arthur Conan Doyle, estreladas por
Sherlock Holmes.15
Poirot e, mais notadamente, Holmes e Bond são ícones incontestáveis da
cultura ocidental, de largo alcance popular, de modo que funcionam como modelo
para muitas criações da ficção contemporânea. Todavia, é evidente que não será
esse exatamente o caso de Jaime Bunda; os traços que compõem o personagem
criado por Pepetela não permitem que possamos vislumbrar entre ele e os demais
alguma relação de especularidade precisa, já que, pelo contrário, as referências
surgem aqui em um registro de paródia. Aquilo que encontramos em Jaime Bunda
é um arcabouço dos populares personagens europeus manipulado para, no
entanto, abarcar um conteúdo distinto das figuras heróicas tradicionais. Assim,
Jaime Bunda expõe-se por vezes indolente, conformista, megalomaníaco, pouco ou
nada hábil, ridicularizado ao invés de respeitado pelos que o rodeiam, embora tenha
o ar presunçoso e superior dos holmes e dos poirots que se multiplicam em
literatura dessa natureza, o que, dada a sua real situação, apenas torna o
personagem ainda mais caricato. A forma burlesca como Jaime Bunda nos é
oferecido sugere já desde as linhas iniciais do seu primeiro romance um anti-herói.
E essa sua categoria será potencializada por um ambiente instrumentalizado por
aparelhos obsoletos que contrastam com os de tecnologia de ponta de que James
Bond normalmente usufruiria; além dos citados computadores arcaicos do 15 É evidente que deveríamos enumerar ainda os três contos do americano Edgar Allan Poe, que tanto tempo viveu e produziu na Inglaterra, os quais deram origem às narrativas policiais modernas (“Os crimes da Rua Morgue”, “A carta furtada” e “O mistério de Maria Roget”), mas referimo-nos aqui à cultura de massa e, sob essa ótica, podemos considerar a popularidade de Auguste Dupin, o detetive idealizado por Poe, bastante reduzida, apesar de (ou quiçá em função de) — e não nos furtaremos de tecer aqui um juízo de valor — o nível de elaboração da poética poeana se revelar mais significativa do que os das práticas literárias de Doyle e, principalmente, de Agatha Christie.

67
departamente de polícia, a viatura designada ao personagem, sem sirene e com o
carburador sustentado por um barbante, igualmente bem ilustra sua condição
diversa (e adversa) à das de que Bond gozaria:
[...] a nuvem negra de fumaça que saiu do escape não enganava ninguém, era mesmo um carro vulgar, ótimo para não despertar suspeitas em Luanda. Jaime rebuscou o cofre do tablier, onde encontrou uma escova de dentes usada, camisas-de-vênus, papéis, notas de 500 mil kwanzas fora de circulação, um resto de sabonete, uma meia com buracos, duas balas 7.65, um velho cartão dando acesso ao talho nos tempos do socialismo esquemático, uns recibos antigos todos amassados, dois rebuçados, um bloco de notas, uma esferográfica partida, e finalmente um resto de fio [...] (PEPETELA, 2003, p. 20)
E a atitude conformista do personagem ganha relevo na elaboração de um
discurso ilusório que ele usará para justificar suas precárias condições de trabalho:
“Certamente tinha o motor a funcionar à perfeição, o aspecto exterior era apenas
para disfarçar, pensou o agente.” (PEPETELA, 2003, p. 19)
Mas o caráter parodístico que identificamos nos dois romances lega às
narrativas outra possibilidade de análise. Assim, vejamos: sobre a paródia, Linda
Hutcheon tece pertinente consideração, ao afirmar que os textos paródicos são uma
apologia à subversão, uma vez que abrigam um paradoxo central: “sua
transgressão é sempre autorizada” (HUTCHEON, 1985, p. 39). A dissonância
estabelecida entre Jaime Bunda e os modelos europeus (nos quais se baseia, ao
mesmo tempo em que os renega) impulsionará um discurso transgressor impetrado
pela poética pepeteliana, que se voltará contra o conformismo quase ingênuo do
seu protagonista, a fim de denunciar as mazelas de um país ainda assolado por
décadas de guerras de motivações distintas.
Passada a euforia do fim da lógica colonial na qual ficara mergulhada até
meados da década de 1970, alcançado o término da Guerra Civil em que se
embrenhara após a sua independência, Angola é um país que deve reconhecer as
devastadoras conseqüências das últimas décadas e os ônus que tal conjuntura lhe
deixa de herança. Com isso, os dois romances revelam-se tão somente narrativas
pseudo-policiais, espécie de gênero relativamente recente que, travestindo-se de
história de detetive, rediscute os seus mecanismos (O nome da rosa, do italiano
Umberto Eco, talvez seja o seu apogeu), como reconhece também Carmen Lucia
Tindó Secco:
Elegendo para protagonista do livro de trama aparentemente policial um personagem kitsch, o romance Jaime Bunda estabelece, de início, com os leitores, um pacto carnavalizador de sátira à sociedade angolana. [...] Jaime Bunda, desviando-se dos

68
cânones tradicionais do gênero policial, realiza uma dessacralização do investigador clássico, comportando-se como um James Bond à angolana. [...] Em Jaime Bunda, ao contrário do romance policial convencional, o que o leitor encontra o tempo todo é justamente a desmontagem irônica dos clichês característicos desse tipo de narrativa. Há duas estórias: a do crime e a do inquérito; porém, esta não é narrada por um amigo do detetive, e, sim, por uma polifonia discursiva que alterna as vozes de quatro narradores, todos falseadores e despistadores do assassinato inicial. A estória deste é apresentada no Prólogo por um pseudo-autor, ou seja, um autor ficcional que comanda os quatro narradores e, ao mesmo tempo, se esconde e se revela, sendo marcado o seu discurso em itálico e entre colchetes, toda vez que faz uso da palavra. O primeiro narrador se mostra ingênuo e imprudente, logo sendo demitido pelo pseudo-autor; o segundo, Milika, é quem escreve o relatório do crime, não o da morte da menina de quatorze anos, porém o da corrupção e contrabando disseminados em Angola, principalmente após o ingresso desse país na economia transnacional de livre mercado; o terceiro narrador é o mais ferino e mordaz, possuindo um humor cético e corrosivo como o de Machado de Assis; emite sarcásticas críticas, funcionando como um duplo autor ficcional; o quarto narrador retoma a função do relatório e tenta unir tudo, no entanto, também não consegue deslindar nada. O grande enigma, no fundo, é o desvendamento pelo leitor da enunciação polifônica do romance que, operando com o fingimento escritural, sinaliza com o cinismo social, para a descrença no poder instituído em Angola, atingido também pelas leis do FMI e Banco Mundial. O pseudo-autor aparece no Prólogo, no Epílogo e faz recorrentes intromissões aos discursos dos quatro narradores, atuando como um autor intruso, semelhante aos dos romances de Machado de Assis. (SECCO, 2008, p. 148-50)
Somente leitores incautos lêem narrativas dessa envergadura crendo se
tratarem de enredos de mistério, porque, na verdade, seus autores aproveitam a
franca potencialidade desses produtos para alcançar determinado público para que,
a partir do pré-texto de construir uma simples e vulgar história de crime e
investigação policial, acender outros efeitos em seus leitores, tornando secundário o
próprio segredo que moveria a trama. Os dois romances que patenteiam Jaime
Bunda como protagonista são, em verdade, ensejos para que Pepetela, sociólogo
por formação, traga à discussão temas relevantes da história contemporânea de
Angola: a denúncia da falta de engajamento político dos angolanos em um contexto
posterior à Revolução Colonial, a exacerbada influência das culturas estrangeiras
no país, as conseqüências da intervenção sul-africana em Angola na década de
1970, os abusos de poder das autoridades instituídas oficialmente, a questão do
subdesenvolvimento do país e da corrupção que impera nas suas práticas político-
administrativas.
Mas, na opção de Pepetela, reside também outra pretensão. Ora, a África
habituou-se a ver a África interpretada pela arte de seus colonizadores europeus,
sob a pena de seus poetas e prosadores — de Portugal, por exemplo, surgiram

69
desde Luís Vaz de Camões (e sua visão quinhentista inevitavelmente legitimadora
do domínio português sobre os outros povos) no épico maior da língua portuguesa
que são Os Lusíadas até posicionamentos de escritores do século XX
representantes de uma intelectualidade disposta a colocar em questão os
problemas africanos, como a lúcida reflexão política e anti-colonial de Helder
Macedo sobre Moçambique no romance Partes de África e a exposição de
experiências coloniais em Angola e Moçambique no romance A costa dos
murmúrios, de Teolinda Gersão, e em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe em
contos de Jorge de Sena como “Duas medalhas imperiais, com Atlântico”.
Ensaístas também portugueses como Alfredo Margarido, Pires Laranjeira e Manuel
Ferreira, todavia, observam já na década de 1960 movimentos artísticos que
buscam legitimar, nas ainda então colônias portuguesas, a identidade desses
países, o que levou à concepção de nomenclaturas para descrevê-los como
angolanidade, moçambicanidade, cabo-verdianidade, são-tomensidade e
guineidade. Assim, ao escrever romances em que se apropria de personagens
europeus, recriando-os sob a atmosfera angolana, Pepetela inverte esse
mecanismo que traz uma visão exterior para ler o país e toma posse do discurso
para promover, em contrário, uma discussão legitimamente angolana sobre Angola
— daí o jogo polifônico que permeia o texto, sob a batuta de um autor-ficcional
hierarquicamente superior que, a certa altura, dispensa os serviços de um narrador,
digamos, bem-comportado de procedência clássico-européia para dar voz a outros
de matizes nacionais.
Em suma: os dois romances de Jaime Bunda, ao mesmo tempo em que
trazem à tona o debate sobre as condições sócio-políticas angolanas, apropriam-se
da cultura importada para lançarem seus olhares sobre ela e ainda sobre si
próprios, libertando-se do acentuado domínio dessa mesma tradição estrangeira.
2. A Moçambique de Mia Couto
Sob essa mesma dupla função (discutir os problemas da nação enquanto se
apropria de discursos externos que, via de regra segundo seus próprios interesses,
tradicionalmente desempenhavam essa tarefa) se desenvolverá também um conto
do moçambicano Mia Couto intitulado “Sidney Poitier na barbearia de Firipe
Beruberu”, o qual apresenta como personagem central um barbeiro de origem

70
humilde que, na década de 1960, em virtude das reclamações de alguns clientes
insatisfeitos, para comprovar seu talento, lança mão de um postal com a foto do ator
americano negro Sidney Poitier, na época, um dos nomes mundialmente
conhecidos do cinema de Hollywood. Firipe Beruberu, o barbeiro em questão,
alega que o corte de cabelo de Poitier é obra sua e, numa relação jocosa com seus
clientes, que fingem dar crédito à história, pretensamente recupera o seu prestígio.
A narrativa se divide em três partes: a primeira apresenta o barbeiro Beruberu
e expõe as circunstâncias que o levam à mentira; a segunda é responsável pela
inclusão na narrativa do assistente do barbeiro, Gaspar Vivito, e evidencia a boa
relação entre o mestre e o ajudante; e a terceira traz à tona a conseqüência da
mentira criada pelo barbeiro: os agentes da Pide (Polícia Internacional de Defesa do
Estado) confundem Beruberu com um politizado envolvido com Eduardo Mondlane,
fundador da Frelimo (Frente de Libertação Moçambicana) e prendem o barbeiro.
Será ao término da sua segunda parte que o conto de Mia Couto fornecerá o
trecho que desperta a nossa atenção para diálogos com o ilustre romance
setecentista do escritor espanhol Miguel Cervantes, Dom Quixote (personagem-
título que, como Bond e Holmes, permeia o imaginário mundial):
E corriam os dois atrás de imaginários inimigos. Acabavam por se tropeçarem, sem jeito para se zangarem. E cansados, ofegavam um ligeiro riso, como se perdoassem ao mundo aquela ofensa. (COUTO, 1998, p. 158) (Grifos nossos)
Os imaginários inimigos em questão são supostos morcegos que comem
frutos na maçaniqueira16. Ora, o personagem mundialmente conhecido por correr
atrás de inimigos imaginários é Dom Quixote, sempre sob a escuderia do fiel Sacho
Pança. E se tropeçarem é um fato corriqueiro nas peripécias dessa dupla nos dois
volumes do romance de Cervantes. Ademais, os dois personagens do fragmento
acima são o barbeiro e seu assistente; não é casual que apresentem a mesma
relação mestre/aprendiz encontrada entre Quixote e Sancho. O trecho que
destacamos no conto, portanto, obriga o leitor a reinterpretar os dois primeiros
movimentos da narrativa, que se mostrarão em diversos aspectos uma releitura do
clássico de Cervantes, e o prepara para um entendimento mais amplo da terceira e
última parte do texto.
Ora, a atitude de reimaginar o real (a qual, aliás, também observamos no
angolano Jaime Bunda) é a particularidade fundamental do personagem de
16 Árvore da flora local, cujo fruto é vulgarmente designado por maçã-da-índia.

71
Cervantes. E no que diz respeito ao barbeiro Beruberu cujo primeiro nome,
Firipe, modificado em relação ao que seria o seu original em espanhol, Felipe,
transfigura-se em mais um indício do diálogo deformante que promove a recriação,
pelo conto moçambicano, de sua matriz espanhola, fornecendo-lhe cor local
constata-se que essa transformação da realidade também lhe é latente. A
barbearia é quase imaginária, se considerarmos que o tecto era a sombra da
maçaniqueira e que paredes não havia. Tal qual, o que Beruberu faz com a foto de
Poitier, tentando enganar os clientes e até certo ponto a si mesmo, nada mais é do
que reorganizar a realidade conforme a sua conveniência, segundo, na verdade,
fazia Quixote.
Outra característica comum a ambos os personagens o moçambicano e o
espanhol encontra-se em seus discursos imodestos: enquanto Dom Quixote se
apresenta como o último representante digno dos membros da cavalaria andante
(porque, segundo alega ele, os demais de sua época apenas se molestam com os
damascos), Beruberu (ainda menos discreto do que o personagem espanhol) se
intitulará mestre dos barbeiros.
Além disso, ao fim da segunda parte do conto miacoutiano, dá-se ênfase a um
sentimento de tristeza que Firipe procurava esconder, mas que, em certos
momentos, revelava ao seu assistente. Referimo-nos mais precisamente às
ocasiões em que Beruberu se confessava triste para Vivito; e vale lembrar que Dom
Quixote enverga o epíteto de cavaleiro da triste figura. Um dos motivos dessa
tristeza desenvolve-se no nível das relações amorosas. E, nesse âmbito, o amor
platônico, tão ao gosto do maneirismo europeu, também marca presença na
narrativa de Mia Couto, representado na aparição da vendeira Rosinha, que atiça o
olhar ansioso de Beruberu ao passar na rua todas as tardes: essa mulher, com
quem o barbeiro trava nada mais do que um cotidiano contato visual, evidenciando
o platonismo dessa relação, representaria a sua idealizada Dulcinéia.
Do mesmo modo, a ética romântica e caricaturada que se divisa nas atitudes
de Dom Quixote no romance de Miguel de Cervantes, a contrastar com a sociedade
espanhola do século XVI em que o autor da obra está inserido, igualmente é, de
certa determinada maneira, observável no barbeiro criado por Mia Couto. Firipe
Beruberu, diante de eventuais reclamações da clientela, preferia não receber
pagamento, mostrando certo desprendimento material que por vezes caracterizara

72
Dom Quixote: “E era assim: cliente descontente ganhava direito de não pagar. O
Beruberu só cobrava satisfações.” (COUTO, 1998, p. 156)
Para além do nível da narração, averiguamos ainda algumas características
comuns às estruturas dessas duas obras aqui comparadas. Uma delas se refere à
citada divisão do texto de Mia Couto, que, desse modo, apresentada saltos que
podemos identificar como cinematográficos, semelhantes aos que Arnold Hauser,
importante historiador da arte, observara surgir prematuramente em Dom Quixote.
Além do mais, Mia Couto baseia os diálogos do conto nas conversas de todos os
dias e quiçá Cervantes tenha sido o primeiro romancista a fazer uso de tal
estratagema. Por fim, é inevitável pensar que em ambos os textos descobrimos o
inusitado surgimento do trágico dentro cômico.
O trágico que permeará o cômico nessa narrativa de Mia Couto refere-se,
especialmente, ao resultado do chiste criado pelo barbeiro. Logo percebemos que
o conto em análise e a obra maior de Cervantes apresentam semelhante caráter
social, uma vez que, ainda para Hauser, o romantismo cavaleiresco, que Dom
Quixote ironiza, “é essencialmente um sintoma do incipiente predomínio das formas
de governo autoritárias” (HAUSER, 1972, p. 527). Pois é justamente o sistema de
repressão, que violentamente rege o comportamento das autoridades
moçambicanas, aquilo que será denunciado na parte final do conto de Mia Couto,
quando a Pide impõe o seu injusto julgamento e prende não apenas o barbeiro,
mas também o seu assistente e, ainda, Jaimão, o vendedor de tabaco a que Firipe
pagara para confirmar a mentira sobre a foto de Sidney Poitier. O trecho em que as
circunstâncias fazem a Pide concluir o envolvimento político de Beruberu com a
Frelimo está longe de ser um julgamento reto e, em verdade, o direito à defesa que
o barbeiro parece creditar a si mesmo se revela mais uma das suas ilusões
quixotescas.
— Onde está a fotografia do estrangeiro? Estrangeiro? Sim, desse estrangeiro que você recebeu aqui na barbearia. O Firipe duvida primeiro, depois sorri. Entendera a confusão e prontificava-se a explicar: — Mas senhor agente, isso do estrangeiro é história que inventei, brincadeira... O multato empurra-o, fazendo-lhe calar. — (...) Então explica lá o que é isso aqui: “Cabeçada com dormida: mais 5 escudos”. Explica lá o que é essa dormida... — Isso é por causa de alguns clientes que dormecem na cadeira. O polícia já cresce na sua fúria. Dá-me a foto.

73
O barbeiro retira o postal do bolso. O polícia interrompe o gesto, arrancando-lhe a fotografia com tal força que a rasga. — Este aqui também adormeceu na cadeira, hein? — Mas esse nunca esteve aqui, juro. Fé-de-Cristo, senhor agente. Essa foto é a do artista do cinema. Nunca viu nos filmes, desses dos americanos? — Americanos, então? Está visto. Deve ser companheiro do outro, o tal Mondlane que veio da América. Então este também veio de lá? — Mas esse não veio de nenhuma parte. Isso tudo é mentira, propaganda. — Propaganda? Então deves ser tu o responsável da propaganda da organização... (COUTO, 1998, p. 159-61)
E os equívocos prosseguem, incriminando cada vez mais Beruberu e os que o
rodeiam. É o fim da ilusão do barbeiro, o que o condena à morte (apenas
subentendida ao término do conto), tal qual acontece com o fidalgo espanhol, que
mortalmente adoece quando recupera a sanidade e perde de vista a miragem que
era sua vida de cavaleiro andante.
Por fim, a partir de seu final trágico, que denuncia as injustiças e truculências
promovidas por um governo de exceção, o conto “Sidney Poitier na barbearia de
Firipe Beruberu” consegue, assim como Dom Quixote, conciliar a cor local de seu
país de origem com uma inegável (e lamentável) dimensão universal, apropriando-
se de um ícone estrangeiro para adaptá-lo à realidade de Moçambique, a fim de
que a nação possa dar cabo de um processo de institucionalização de um discurso
legitimamente moçambicano para discutir Moçambique. Assim, essa leitura
comparativa, em que a literatura espanhola surge como matriz de um texto
moçambicano, até pareceria descabida se pensarmos que Mia Couto
manifestamente busca uma moçambicanidade para seu fazer literário (assim como
Pepetela, indubitavelmente, sói instituir a angolanidade em sua poética). No
entanto, escolher justamente o maior nome da ficção da Espanha, nação que
mantém uma eterna rivalidade com o país que foi por séculos para a terra natal de
Mia Couto o dominador (Portugal), é reafirmar com boa dose de ironia a ainda
relativamente recente independência de Moçambique.
E, além disso, conforme buscamos demonstrar, recriar um personagem
clássico estrangeiro aos moldes da cultura de um país é já naturalizá-lo nesse país,
e assim ocorre tanto com o James Bond transmudado em Jaime Bunda quanto com
o Dom Quixote que se manifesta em Firipe Beruru.

74
Referências bibliográficas AUERBACH, Erich. “A Dulcinéia Encantada”. In: Mimesis. São Paulo: Perspectiva,
2001, p. 299-320.
CAMÕES, Luís Vaz. Os Lusíadas. Lisboa: Instituto Camões, 1992.
CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote – o cavaleiro da triste figura. Tradução:
Viscondes de Castilho e Azevedo. São Paulo: Nova Cultural, 2002.
CHRISTIE, Agatha. O misterioso caso de Styles. Tradução: Sylvio Monteiro. São
Paulo: Abril Cultural, 1983.
COUTO, Mia. “Sidney Poitier na barbearia de Firipe Beruberu”. In: Cada homem é
uma raça. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 145-62.
DOYLE, Arthur Conan. Um estudo em vermelho. Tradução: Rosaura Eichenberg.
Porto Alegre: L&PM, 2010.
ECO, Umberto. O nome da rosa. Tradução: Aurora Fornoni. Rio de Janeiro: O
Globo, 2003.
FERREIRA, Manuel. Literaturas africanas de expressão portuguesa. Lisboa: ICP,
1977.
FLEMING, Ian. Cassino Royale. Tradução: Thomaz Souto Corrêa. Porto Alegre:
L&PM, 1999.
GERSÃO, Teolinda. A costa dos murmúrios. Lisboa: Dom Quixote, 1988.
HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. Tradução: Walter H.
Greenen. São Paulo: Mestre Jou, 1972, 2v.
HUTCHEON, Linda. Uma Teoria da Paródia. Tradução: Teresa Louro Pérez.
Lisboa: Edições 70, 1985.
LARANJEIRA, Pires. Literaturas africanas de expressão portuguesa. Coimbra:
Universidade Aberta, 1995.
MACEDO, Helder. Partes de África. Rio de Janeiro: Record, 1999.
MARGARIDO, Alfredo. Estudos sobre literaturas das nações africanas de Língua
Portuguesa. Lisboa: A Regra do jogo, 1980.
PADILHA, Laura Cavalcante. Entre voz e letra: o lugar da ancestralidade na ficção
angolana do Século XX. Niterói: EdUff, 1995.
PEPETELA. Jaime Bunda – agente secreto. Rio de Janeiro: Record, 2003.
------. Jaime Bunda e a morte do americano. Rio de Janeiro: Record, 2004.

75
POE, Edgar Allan. Histórias extraordinárias. Tradução: Oscar Mendes e Milton
Amado. Rio de Janeiro: O Globo, 1987.
SECCO, Carmen Lucia Tindó. “Entre crimes, detetives e mistérios (Pepetela e Mia
Couto - riso, melancolia e o desvendamento da História pela Ficção)”. In: A magia
das letras africanas. Rio de Janeiro: Quartet, 2008, p. 145-56.
SENA, Jorge de. Antigas e novas andanças do demônio. Lisboa: Edições 70, 1989.

76
Educação étnico-racial brasileira: uma forma de educar para a cidadania
Maria Elena Viana Souza17
1. Introdução
Sou coordenadora de um projeto de pesquisa, na instituição em que trabalho -
UNIRIO, intitulado O preconceito racial nas entrelinhas das diferentes práticas
educativas escolares. Esse projeto tem como objetivos analisar a prática cotidiana
de escolas da Educação Básica do município do Rio de Janeiro, mais precisamente
Educação Infantil e primeiro segmento do Ensino Fundamental, através,
principalmente, das suas manifestações culturais-pedagógicas relacionadas aos
alunos negros e mestiços afro-descendentes18; analisar os conteúdos de formação
e informação que poderiam estar privilegiando certos aspectos étnicos em
detrimento de outros; analisar experiências do trabalho educativo que estariam
voltadas para a valorização de alunos negros e mestiços afro-descendentes e,
consequentemente, a valorização dessa parcela populacional da sociedade
brasileira.
Coordeno esse projeto desde 2005 e, desde então, eu e as bolsistas do curso
de Pedagogia, estivemos presentes em quatro escolas do primeiro segmento de
Ensino Fundamental e três escolas de Educação Infantil. Dentre os vários
resultados provenientes das pesquisas já feitas, detenho-me aqui em um deles: ao
fazer atividades pedagógicas que valorizam aspectos culturais relacionados à
cultura africana e afro-brasileira, contribui-se para uma educação étnico-racial
brasileira e, nesse sentido, valoriza-se as crianças negras e mestiças afro-
descendentes, provocando nelas um sentimento maior de pertencimento social,
histórico e cultural, trabalhando-se, portanto, em prol da construção de uma
cidadania para todos, mas, em especial, para esse segmento da população
brasileira.
17 Professora do Programa de Pós-graduação em Educação da Unirio, pesquisadora das questões étnicorraciais. 18 Utilizo a expressão mestiços afro-descendentes para diferenciar aqueles que têm o fenótipo bem negro de outros tipos mestiços, com fenótipos indígenas, orientais, europeus etc.

77
Com base nesses pressupostos, este trabalho tem como objetivo principal
trazer para o debate as relações que podem ser feitas entre uma educação étnico-
racial e alguns elementos constitutivos para a construção da cidadania, no contexto
escolar de educação básica. Para tanto, utilizo o pensamento de alguns autores
como Corrêa (2000), Cuche (2002), Ferreira (2004), Gomes (2001), Hasenbalg
(1979, 1988, 1992), entre outros. Recorro também à lei 10.639/03 que estabeleceu
as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
2. Sobre a cidadania
Educar para a cidadania já se tornou palavra de ordem nas escolas do Rio de
Janeiro. Nos documentos curriculares oficiais, nos projetos pedagógicos das
escolas, nas falas dos professores é comum encontrarmos tal expressão. Por ser
algo já corriqueiro, fala-se em cidadania sem refletir sobre o seu significado e a
importância de tal significado.
Aqui neste trabalho, entende-se cidadania como o estatuto do cidadão numa
sociedade, estatuto baseado na regra da lei e no princípio da igualdade
(DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS SOCIAS, 1987, p.187). Mas, a qual concepção de
igualdade estamos nos referindo? Não à noção de igualdade que herdamos da
Revolução Francesa, do século XVIII, fortalecida até os dias de hoje por alguns
preceitos cristãos. Essa noção de igualdade é abstrata e é um dos princípios
básicos para o fortalecimento de um estado individualista porque quando dizemos
que somos todos iguais queremos dizer com isso que basta nos esforçarmos que
conseguiremos conquistar tudo aquilo que almejamos, principalmente, se o que
almejamos estiver relacionado a bens materiais.
Começamos a questionar essa noção de igualdade quando percebemos
que ela por si só não é suficiente para tornar as oportunidades acessíveis para
quem é socialmente desfavorecido. De uma noção abstrata de igualdade, então,
passa-se para uma concepção substantiva de igualdade, de forma que as
desigualdades ou as situações desiguais sejam tratadas de forma não semelhantes.
Portanto, da concepção liberal de igualdade que trata o ser humano de
forma genérica e abstrata, destituído de cor, raça, credo, classe social gênero etc,
passa-se a percebê-lo como um ser específico, dotado de características

78
singulares, um sujeito de direitos, situado historicamente, com especificidades e
particularidades. (PIOVESAN, 1998, apud GOMES, 2001). A igualdade, então,
deixa de ser simplesmente um princípio abstrato e passa a ser um objetivo concreto
a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade.
Pode-se, então, falar de cidadania como a representação universal do homem
emancipado, fazendo emergir a autonomia de cada sujeito histórico, como a luta por
espaços políticos na sociedade a partir da identidade de cada sujeito. (TEIXEIRA,
1986, apud CORRÊA, 2000, p. 217)
É nesse sentido que entendemos a educação étnico-racial como forma de
educar para a cidadania, ou seja, a partir do momento em que a identidade das
crianças negras e mestiças afro-descendentes são valorizadas para que esse
segmento populacional possa se emancipar cada vez mais e lutar por sua inclusão
nos espaços políticos, sociais e econômicos da sociedade brasileira.
3. Educação Étnico-Racial
3.1 Ideologia racial brasileira
Há muito tempo todos os homens eram pretos. Certo dia, Deus resolveu compensar a coragem de quatro irmãos. Sem lhes dizer nada, ordenou-lhes que cruzassem um rio. O que tinha mais fé e era mais ligeiro, rapidamente, obedeceu à Deus cruzando o rio a nado. Ao sair do outro lado do rio, estava completamente branco e muito bonito. O segundo, ao ver o que tinha acontecido com o irmão, imediatamente correu para o rio e fez o mesmo. Só que a água já estava suja e ele saiu amarelo. O terceiro também quis mudar de cor e fez o mesmo que seus irmãos. Mas, como a água já estava bem suja, chegou à outra margem mulato. O quarto, o mais lento e preguiçoso, quando chegou ao rio, Deus já o tinha secado. Então, ele pode somente pressionar os pés e as mãos contra o leito do rio. Daí o negro ter apenas as solas dos pés e as palmas das mãos brancas.
O pequeno conto popular do folclore de São Paulo, relatado por Florestan
Fernandes19 revela que grande parte do povo brasileiro refere-se ao negro de forma
jocosa ocultando, na verdade, o preconceito que sempre perpassou pelo
pensamento brasileiro. Essa forma de pensar, que coloca o negro de forma social e
etnologicamente inferior ao branco, constitui-se numa ideologia racial que foi usada
como fator seletivo, colocando os negros à margem da sociedade brasileira. Mas,
essa explicação não fez parte apenas do ideário popular brasileiro. 19 Este conto popular, cujo título é Origens das Raças foi extraído de Florestan Fernandes, Mudanças Sociais no Brasil, São Paulo. 1937. p.357.

79
As tendências políticas e culturais estabelecidas pelos colonizadores
portugueses, que prevaleceram até o final do século XIX, permitiram que fosse
criada uma ideologia baseada no encontro de três raças: branca, negra e indígena.
Mas, à época da Abolição, a elite brasileira, minoria educada do país, vivia um
momento de dualidade. Ao mesmo tempo que suas idéias moldavam-se pelas
tradições culturais e jesuíticas vindas de Portugal, modificavam-se pela cultura
francesa, iluminista e laica e pelas concepções liberais trazidas da Inglaterra e dos
Estados Unidos. Havia a vontade de se construir uma nação mais moderna, mais
desenvolvida e isso significava um país mais livre.
Joaquim Nabuco, o mais influente teórico abolicionista, redige um manifesto
em 1880 onde condena a escravidão pois esta "fizera um Brasil vergonhoso e
anacrônico, face ao mundo moderno, e fora de compasso com o "progresso de
nosso século"... Só pela abolição da escravatura poderia o Brasil gozar os "milagres
do trabalho livre" e colaborar "originalmente para a obra da humanidade e para o
adiantamento da América do Sul"20.
Nessa mesma época, as teorias racistas estavam em pleno apogeu na
Europa. Os europeus, reforçados intelectualmente com o prestígio das ciências
naturais, acreditavam ter atingido a superioridade econômica e política devido à
hereditariedade e ao meio físico favoráveis. Implicitamente, raças mais escuras ou
climas tropicais seriam incapazes de produzir civilizações mais evoluídas. Como
destaca Skidmore (1976), os europeus não hesitavam em expressar-se em termos
pouco lisonjeiros à América Latina e ao Brasil, em particular, por causa de sua vasta
influência africana.(p.13) Tinha-se uma visão pessimista do Brasil pois ele era tido
como um lugar grandioso por sua natureza e pequeno pelos homens que o
habitavam - em meio a essa pompa e fulgor da natureza, nenhum lugar é deixado
para o homem. Ele fica reduzido à insignificância pela majestade que o circunda. (
BUCKLE, 1872, apud SKIDMORE, p.44)
A vontade de se criar uma sociedade mais branca era tão grande que
quando um grupo de fazendeiros e políticos propôs, em 1870, a importação de
trabalhadores chineses para o Brasil, a reação foi muito negativa. Joaquim Nabuco
argumentava que a imigração chinesa serviria apenas para "viciar e corromper mais
a nossa raça" .
20 Confere em Skidmore (1976) p. 34-35.

80
Sylvio Romero (1888) foi um dos primeiros cientistas sociais brasileiros que,
influenciado por autores evolucionistas europeus ( GOBINEAU, HAECKEL, LE
PLAY e SPENCER entre outros), tentou uma interpretação do Brasil com base na
tese do "branqueamento". Acreditava que toda nação era o produto da interação
entre a população e o seu habitat natural. O Brasil seria, então, o produto de três
raças: o branco europeu que sendo do "ramo greco-latino" era inferior ao "ramo
anglo-saxão", o negro africano que jamais havia criado uma civilização e o índio
aborígene que era de baixo nível cultural.
Quando os primeiros sociólogos e antropólogos brasileiros elaboraram
teorias sobre a questão da raça já o fizeram sob uma perspectiva que colocava o
mestiço como realidade do "caos étnico" brasileiro21.
Mas, o primeiro estudo etnográfico e sistematizado do negro e do índio
brasileiro, onde o preconceito ficava explícito, foi feito na década de 1890, por um
mulato, jovem professor catedrático da Faculdade de Medicina da Bahia: Raimundo
Nina Rodrigues . Ele tentou fazer uma cuidadosa e exata catalogação das origens
etnográficas dos africanos trazidos para o Brasil. Além do folclore, das festas
populares e da religião africana procurou estudar suas línguas e suas influências na
Língua Portuguesa do Brasil. Esses estudos - dados baseados em testemunhos
orais - o levaram a acreditar que o africano era, sem qualquer dúvida científica, um
ser inferior.
Baseado nessa crença, nos seus estudos sobre raça e Código Penal (1894),
defendia que o comportamento social dos negros, índios e mestiços, era afetado
pelas características raciais inatas, não podendo, dessa forma, ter o mesmo
tratamento no Código, fato que deveria ser relevado pelos policiais e legisladores.
A reação ao pensamento racista veio com a idealização de uma democracia
racial através das influências da obra de Gilberto Freyre (1933) - Casa Grande e
Senzala - que de acordo com Skidmore virou de cabeça para baixo a afirmativa de
ter a miscigenação causado dano irreparável. (p.210)
Hasenbalg em Relações Raciais no Brasil Contemporâneo (1992) afirma
que
21 Seyferth (1989) postula que as primeiras teorias elaboradas por antropólogos e sociólogos brasileiros foram elaboradas de forma ensaística e pouco rigorosa em seus pressupostos científicos porque foi produzida uma falsa questão racial, baseada na crença da inferioridade das raças não brancas. (Confere p. 13)

81
Os anos de 1930 nos oferecem pela pena de Gilberto Freyre, a versão acadêmica do que hoje chamamos de mito da democracia racial brasileira. Durante algumas décadas, essa concepção mítica prestou inestimáveis serviços à retórica oficial e até mesmo à diplomacia brasileira.(...) Seduzia simultaneamente os brasileiros brancos com a idéia da igualdade de oportunidades existente entre pessoas de todas as cores, isentando-os de qualquer responsabilidade pelos problemas sociais dos não-brancos. (p.140)
A "pena de Gilberto Freyre", no prefácio à primeira edição de Casa Grande e
Senzala (1964), escreve que
A escassez de mulheres brancas criou zonas de confraternização entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravos. Sem deixarem de ser relações - as dos brancos com as mulheres de côr - de "superiores" com "inferiores" e, no maior número de casos, de senhores desabusados e sádicos com escravas passivas, adoçaram-se, entretanto, com a necessidade experimentada por muitos colonos de constituírem família dentro dessas circunstâncias e sôbre essa base. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que doutro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala. (p. XXXIV)
Gilberto Freyre ainda postula que o povo português, pelas qualidades de seu
caráter, demonstrou que somente ele seria capaz de obter sucesso na colonização,
principalmente por adotarem a estratégia da miscigenação. Afinal, foi o branco
português que relacionou-se sexualmente , primeiro, com a índia e depois com a
negra, propiciando o aparecimento do mestiço o qual viria a se constituir como o
tipo mais adequado para construção da nação brasileira. O negro e o índio,
portanto, teriam contribuído igualmente para o sucesso da colonização.
Em meados da década de 1940 foi feita uma ampliação dos estudos das
relações raciais no Brasil por militantes e cientistas negros tais como Guerreiro
Ramos (1950, 1957) e Abdias do Nascimento (1982)22. Eles tinham como finalidade
o desmascaramento da democracia racial brasileira. Mas, pela denúncia da
existência do preconceito racial no Brasil, alguns autores serão acusados de
burgueses intelectuais e que estariam americanizando as relações raciais
brasileiras e praticando um racismo às avessas.
Mas, a partir da década de 1950 que a questão racial, no Brasil, passa a ser
melhor analisada. Em 1951, a UNESCO patrocina um amplo projeto sobre o negro
que tornou-se objeto de pesquisa de vários cientistas sociais brasileiros, norte-
americanos e franceses, tais como: Florestan Fernandes, Oracy Nogueira, Roger
Bastide, Marvin Harris, entre outros. Eles realizaram trabalhos de campo no 22 Guerreiro Ramos e Abdias do Nascimento, além de cientistas eram militantes e estavam mobilizados em torno do Teatro Experimental do Negro, instituição tida como uma das organizações do Movimento Negro.

82
Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Pelos resultados obtidos constatou-se que o
Brasil não era um paraíso racial como haviam imaginado. Verificou-se que a
estética branca predominava na sociedade brasileira e que havia discriminação com
base na cor da pele. Porém, mesmo havendo indícios da existência desse tipo de
discriminação, os autores reduziram-na a uma questão de classes. Acreditavam
provar, através das evidências de ascensão social dos mestiços, que no Brasil não
existiam barreiras raciais rígidas, já que seria permitido ao negro competir com os
brancos por um lugar na sociedade. A sociedade brasileira seria uma sociedade
multirracial de classes e não de castas. (SEYFERTH, 1989. p.28)
Foi nessa época, 1951, que o Congresso Brasileiro viu-se obrigado a votar
uma lei contra a discriminação racial, a Lei Afonso Arinos. Esse fato aconteceu após
um episódio explícito de discriminação contra uma bailarina negra norte-americana:
sua hospedagem foi recusada num hotel em São Paulo. Mas, essa lei ficou sendo,
na verdade, um belo gesto simbólico já que nenhum grande esforço foi feito, por
parte do governo, para investigar possíveis discriminações desse tipo.
Na década seguinte, cientistas sociais que trabalharam na missão
patrocinada pela UNESCO, ampliam suas pesquisas sobre as relações raciais.
Florestan Fernandes foi um deles23. Para o autor, a aquisição e a melhoria das
condições de ganho dos brasileiros tenderiam a criar uma situação mais favorável "
à absorção do negro e do mulato na ordem social competitiva". Este fenômeno
constituiria-se numa "manifestação pura de mobilidade social vertical". Certas
barreiras que impediam ou dificultavam a classificação social do negro ou do mulato
deveriam desaparecer, pelo menos, no que se refere à proletarização.
Para Florestan (1965), essa parcela da população poderia "lançar-se no
mercado de trabalho e escolher entre algumas alternativas compensadoras de
profissionalização". À medida que essa tendência se concretizasse, o negro
superaria, graças ao seu esfôrço, a antiga situação de papeurismo e anomia social,
deixando de ser um marginal (em relação ao regime de trabalho) e um dependente
(em face do sistema de classificação social). (p.134)
23 Devem ser lembradas também as pesquisas de Octavio Ianni e Fernando Henrique Cardoso - Cor e Mobilidade Social em Florianópolis (1960) que versava sobre a história e a situação do negro em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aí é apresentado um quadro muito diverso do que havia sido tradicionalmente descrito. Também são importantes As Metamorfoses do Escravo - Octavio Ianni (1962) e Capitalismo e Escravidão - Fernando Henrique Cardoso (1962).

83
Essas interpretações sugeririam um modelo abstrato de sociedade industrial
onde o único fator considerado como determinante de vida seria o mérito individual
dentro de um mercado competitivo. Na opinião de Hasenbalg (1992)
Revisando criticamente estas perspectivas teóricas, sugeri em outro lugar que o racismo como ideologia e conjunto de prática que se traduzem na subordinação social dos não-brancos, é mais do que um reflexo epifonomênico da estrutura econômica ou um instrumento conspiratório usado pelas classes dominantes para dividir os trabalhadores. A persistência histórica do racismo não deve ser explicada como mero legado do passado, mas como servindo aos complexos e diversificados interesses do grupo racialmente dominante no presente. (p.11)
Nesse outro lugar - Estrutura Social, Mobilidade e Raça (1988) - Hasenbalg
esclarece que uma parcela majoritária da população de cor já tinha uma experiência
prévia na condição de livre, ao longo do século XIX. Essa população cresceu,
portanto, à margem da economia escravista dominante. As desvantagens sociais
da população de cor livre acumularam-se durante e após a escravidão. Não será,
portanto, a mudança da situação econômica dos não brancos que terminará com os
mecanismos racistas de discriminação24.
O que provocou e provocará uma condição de vida desfavorável, a esse
grupo, será a mentalidade racista dos brasileiros herdada dos europeus e
disfarçada pela classificação social hierárquica que prevaleceu no Brasil desde a
época da chegada dos portugueses. Por causa disso, a população discriminada
não criou uma identidade própria que pudesse valorizá-la. Terminou-se por
considerar que no Brasil existem negros não assim tão negros e brancos não assim
tão brancos. Uma inocente visão que vai servir de base para a tão defendida
democracia racial.
Em suma, no Brasil, o determinismo racial importado da Europa serviu aos
interesses daqueles que apostavam numa elite branca para conduzir essa
sociedade. Mas, as relações que se estabeleceram entre brancos e negros, desde
o início da colonização, permitiram uma grande mestiçagem no Brasil, provocando
várias discussões que relacionavam raça e nacionalidade. Foi dado, enfim, um valor
positivo à mestiçagem pois, ela levaria ao "branqueamento" da população brasileira.
Esse valor dado à miscigenação, não modificou as concepções negativas
que existiam sobre o negro. Seria exatamente a "inferioridade do negro" que o faria
24 Em outro estudo - Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil (1979) - Hasenbalg reserva seis páginas para uma crítica à Florestan Fernandes ( p. 72-77).

84
sucumbir perante à "raça superior". Criou-se, portanto, uma identidade nacional
negativa pela presença da "raça inferior" em nossa população.
Com Casa Grande & Senzala a identidade brasileira é definida
positivamente, acentuando-se aí o nacionalismo brasileiro. O negro não é mais tido
como pertencente a uma "raça inferior" e é apontado, juntamente com o índio, como
um grande colaborador do português na construção da sociedade brasileira.
Gilberto Freyre, enfim, recupera de forma positiva, as representações acerca das
raças formadoras do povo brasileiro, sintetizando, dessa forma, o "mito das três
raças"ou o "mito da democracia racial".
A reação a esse mito vem, de início, com Guerreiro Ramos e Abdias do
Nascimento que denunciam a existência do preconceito racial no Brasil. Mais tarde,
Lambert e Florestan Fernandes relaciona a existência do preconceito à situação de
classes.
Estudos mais recentes (Hasenbalg) comprovaram que o racismo e a
discriminação não se limitam a uma questão de classes. O que limita o acesso do
negro a um melhor nível de vida, no Brasil, é a mentalidade racista existente até os
dias de hoje.
3.2 A ideologia racial brasileira e o contexto escolar
A responsabilidade do Estado com a educação não é um fato assim tão
recente, pois, a consciência da educação como direito de todos e como dever do
Estado torna-se forte no final da década de 1920, e, especialmente, na primeira
metade da década de 1930. De acordo com Buffa e Nosella (1991)
Grosso modo, trata-se de um grande momento educacional em que se começam a negar formas arcaicas e persistentes do ensino e se propõe uma modernização da administração, dos conteúdos e dos métodos escolares, no esteio, aliás, de um processo de modernização geral da sociedade brasileira. É um grande debate que se avoluma ao longo dos anos 20 e 30. (p. 59)
Ao final do século passado, só tinham acesso às poucas escolas públicas
existentes, os filhos da elite branca dominante. De acordo com Carvalho (1988)
foram inúteis os apelos de André Rebouças no sentido de ser estabelecido um
programa de assistência aos ex-escravos. (p.21) o que incluía terras e educação
para os libertos. Uma ou outra organização criou escolas para esse segmento da
população, mas, esse fato não chegou a alterar o quadro educacional.

85
Com o advento da República a elite intelectual brasileira começa a discutir
temas importantes para a modernização do país e dentre eles a educação popular.
Mas, durante o período que vai de 1894 ao início dos anos 1910, esse tema deixa
de ser prioridade pois o poder agora centra-se nas mãos de uma oligarquia cafeeira
que estava interessada somente no comércio do café e na manutenção do poder.
Aqui no Brasil, os obstáculos ao acesso à formação escolar destinaram para os
negros as tarefas de poucas qualificações e baixa remuneração - mascateio nas
ruas e virações de pequenos serviços. (Moura, 1988)
O nacionalismo suscitado pela Primeira Guerra Mundial, o relativo
crescimento industrial e a consequente urbanização da sociedade brasileira
despertaram a intelectualidade, novamente, para a questão educacional. Em 1920,
75% da população era analfabeta. Esse fato provoca uma intensa campanha de
erradicação do analfabetismo.
Nos anos de 1920, surge um novo movimento educacional caracterizado por
Cury (1988) como uma fase de otimismo pedagógico, que se expressa na proposta
de reforma das escolas, baseada na versão norte-americana do Movimento Escola
Nova cujos ideais identificavam-se com o liberalismo, ou seja, com a defesa da
individualidade, com a igualdade perante a lei e a liberdade de iniciativa.
Esses profissionais acabam publicando nos anos 30, mais precisamente em
1932, o Manifesto dos Pioneiros de Educação Nova. Esse Manifesto ao defender
uma escola pública obrigatória, gratuita e laica provoca uma acirrada discussão
entre leigos e católicos. Mas, mesmo assim, a Constituição de 1934 determina o
ensino primário obrigatório e totalmente gratuito, instituindo ainda a tendência à
gratuidade para o ensino secundário e superior. Para contrabalançar, o ensino
religioso foi inserido na escola pública e as escolas particulares foram reconhecidas.
Com a educação em alta, acreditava-se que o negro venceria na medida em
que conseguisse firmar-se nas ciências, nas artes e na literatura. Havia, portanto,
preocupação com a necessidade, tanto das crianças quanto dos adultos, de
frequentarem a escola. Em A Vóz da Raça, jornal oficial da Frente Negra
Brasileira, uma organização do Movimento Negro, essa preocupação é revelada:
Tambem o adulto vai a escola - A escola é o recinto sagrado onde vamos em comunhão buscar as ciencias, artes, música, etc. É na escola que encontramos os meios precisos para nos fazer entendidos pelos nossos irmãos. Somos seus fiéis discípulos e os mestres sacerdocios amaveis que nos dão a luz do saber. Para eles devemos a nossa educação em geral. Esta é a perfeição da educação. A perfeição da educação é a instrução combatida com polidez, é o bem viver e a ciencia unida a

86
virtude. Oh paes! Mandae vossos filhos ao templo da instrução intelectual - “a escola” não os deixeis analfabetos como dantes! Hoje temos tudo, aproveitai as horas noturnas se os trabalhos vos impedem. Ides à escola. Aproveitai o precioso tempo para engrandecer a nossa raça e o nosso querido Brasil”. (Editorial “Rumo à escola”. A Vóz da Raça. Ano I, no 13, junho/1933. p.3 - citado por SISS, 1994. p.35)
Nos anos 1940 e 1950, a rede pública de ensino cresceu de forma
substancial, sendo defendida pelos setores mais democráticos da sociedade. Mas,
as oportunidades educacionais para os negros não melhorou muito. Hasenbalg
(1979), ao fazer uma análise sobre o comportamento das desigualdades raciais no
que se refere à participação na educação formal chega às seguintes conclusões:
entre 1940 e 1950, os não-brancos acompanharam a expansão do sistema
educacional, elevando sua taxa de alfabetização. No entanto, os progressos
educacionais dos não-brancos foram mais lentos que os do grupo branco. (p.185)
Hasenbalg faz essa análise baseando-se em dados do Censo Demográfico
de 1940 e 1950 que entre outras coisas fornece os seguintes resultados: em 1940,
os brancos tinham uma possiblidade 3,8 vezes maior que os não brancos de
completar a escola primária, 9,6 vezes maior de completar a escola secundária e
13,7 vezes maior de receber um grau universitário. Em 1950, as possibilidades
passam a ser de 3,5 vezes maior na escola primária, 11,7 vezes maior na escola
secundária e 22,7 vezes maior no nível universitário. Em suma, em 1950, os
brancos que representavam 63,5% da população total, detinham 97% dos diplomas
universitários, 94% dos secundários e 84% dos diplomas da escola primária. De
acordo com Hasenbalg (1979), estes dados sugerem que a discriminação
educacional, juntamente com a discriminação racial exterior ao sistema
educacional, atuaram para produzir a exclusão virtual dos não-brancos das escolas
secundárias e universidades (p.186).
Em 17/11/1994, o jornal O Estado de São Paulo, 25 informa que segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o número de negros e pardos
alfabetizados no país é de 37% contra 60% de brancos e na USP - Universidade de
São Paulo - os negros não são mais do que 2% dos alunos34. No Rio de Janeiro, de
acordo com o jornal Folha de São Paulo, de 07/06/1996, o analfabetismo é 2,5
vezes maior entre negros que entre brancos e no acesso ao ensino superior, 12,5%
25 Luiz Claudio Barcelos (1992) em seus estudos sobre educação e desigualdades raciais informa que, pela PNAD/1987, “apenas 0,5% de pretos de 20 a 24 anos e 0,4% entre 25 e 29 anos têm curso superior completo. Para os pardos esses números são 1% e 2,9% respectivamente. (p. 55)

87
dos brancos concluem os estudos universitários contra 2,5% dos negros. Na pós-
graduação encontra-se 2,5% de brancos contra 0,1% de negros.
Os dados referem-se ao Censo de 1991 que pela primeira vez mediu , de
modo cruzado, o grau das desigualdades raciais e sociais no Brasil. Ainda, segundo
o IBGE, a maioria absoluta (59%) da população negra com mais de 10 anos só tem
o nível elementar de escolaridade, ou seja, até a 4a série do primeiro grau.
Em 1999, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE informa que
segundo o PNAD/ 1998, a taxa de analfabetismo para brancos é de 8, 4%; para os
negros é de 21,6% e para os pardos26 é de 20,7%. O analfabetismo funcional, isto
é, pessoas com, somente, até 3 anos de estudo, atinge 22,7% da população branca
contra cerca de 40% da população preta e parda. A população branca de 10 anos e
mais de idade tem uma escolaridade média de 6,5 anos completos de estudo,
enquanto as populações preta e parda têm uma escolaridade média de 4,5 anos.
Segundo dados do IBGE/ PNAD- 1999; 2003; 2008 - tem havido quedas
significativas do analfabetismo em todos os grupos de cor e em todas as regiões do
Brasil. Mas, as desigualdades raciais são marcantes. Em 2008, a população branca
residente no país apresentava uma taxa de 6,2%; já os grupos de pretos e pardos
apresentavam, respectivamente, 13,2% e 13,5%. Ao analisarmos tais informações,
levando em conta os aspectos regionais, observa-se que tanto nas regiões mais
prósperas quanto nas regiões mais pobres, a maior incidência de analfabetismo
recai para pretos e pardos.
Percebe-se que apesar da educação escolar constituir-se num dos degraus
para a mobilidade ascendente dos brasileiros, o negro pouco ascendeu no sistema
educacional formal e ainda está muito pouco representado nessa instituição. Com o
abandono da escola antes mesmo de completar o Ensino Fundamental, fica
reforçado o estereótipo “negro sem instrução”, quando o ingresso e a permanência
na escola estão intimamente relacionados a fatores econômicos, sociais e étnicos.
O papel da educação, tradicionalmente, cabia à família. Mas, com a
crescente complexidade das sociedades modernas, tornou-se necessário apelar
para o auxílio de outras instituições civis nessa tarefa. A escola foi uma delas. E é
no processo de educar-se que as pessoas constróem sua identidade e, portanto,
reconhecem a sua cor. Cor que, de acordo com Hasenbalg (1979) opera como um
26 As nomenclaturas preto e pardo são utilizadas pelo IBGE.

88
elemento que afeta negativamente o desempenho escolar e o tempo de
permanência na escola. (p.181)
É evidente que a educação, escolar ou não, está sempre vinculada à
ideologia que perpassa pela sociedade na qual ela está inserida.
Consequentemente, então, temos, no Brasil, uma educação escolar ainda
influenciada por uma ideologia racial que vê o negro como inferior. E como essa
ideologia vai influenciar os alunos negros na construção de sua identidade?
3.3 O conceito de identidade
Quando falamos a palavra identidade, geralmente, vem-nos às idéias a
carteira de identidade, um documento de identificação que nos registra sob um
número, representando algo material, palpável, estático, imparcial e neutro, sendo,
na verdade, uma das formas que o Estado tem de controle e organização social. No
dicionário, a palavra identidade traz como significado “qualidade de idêntico”, tendo
idêntico o significado de “perfeitamente igual”. Por dedução, identidade, então, seria
qualidade do perfeitamente igual. Nada mais reducionista pensar identidade dessa
forma. Identidade é uma expressão polissêmica que envolve muitos sentidos e
significados.
Ferreira (2004) considera identidade como
uma referência em torno da qual o indivíduo se auto-reconhece e se constitui, estando em constante transformação e construída a partir de sua relação com o outro. Não é uma referência que configura exclusivamente uma unidade, mas, simultaneamente, unidade e multiplicidade, e, como sugere Coelho Jr. (1996)27, ela seria mais bem compreendida se considerada como uma “identidade em crise”. Portanto, não uma simples representação do indivíduo, mas, qualidade submetida a uma tensão. (p.47)
A constituição da identidade do indivíduo é una e múltipla, simultaneamente,
porque trata-se de um processo dinâmico que reflete uma constante transformação
em que o eu e o outro mantém uma interação dialética, responsável por organizar
cada experiência pessoal que tem como representação de um mundo simbólico, ou
seja, essa experiência se dá através de construções sobre o real.
Nesse sentido, as experiências pessoais que resultam de construções sobre
um real que acarretam um mundo simbólico não favorável às pessoas,
27 COELHO Jr., N. A identidade (em crise) do psicólogo. Cadernos de Subjetividade, v. 4, p-302-304, 1996.

89
evidentemente que a identidade delas será construída com uma grande carga de
negatividade. E essas experiências são resultados da cultura estabelecida pelo
grupo do qual as pessoas fazem parte. Portanto, identidade e cultura são conceitos
intimamente relacionados.
3.4 Identidade e cultura
Quando nos referimos à identidade, fatalmente, nos remetemos ao conceito de
cultura porque a cultura é o referencial para a construção da identidade. Nesse
sentido, pode-se falar de uma identidade cultural que se constituiria em uma
modalidade de categorização da distinção nós/eles, baseada na diferença cultural.
(CUCHE, 2002, p.177)
Existem várias maneiras de se conceber uma identidade cultural. Numa visão
“naturalizada”, a identidade cultural remeteria o indivíduo ao grupo original de
vinculação, sendo a identidade vista como essência, algo imutável sobre a qual
“não há nada a fazer”. É a famosa índole ou “pau que nasce torto morre torto”. É
como se a identidade estivesse inscrita no patrimônio genético. Já numa visão
culturalista, não tão menos naturalizada, o determinante não é a herança biológica,
mas, a herança cultural. A identidade é definida como preexistente ao indivíduo que
interioriza os modelos culturais que lhe são impostos: “filho de peixe, peixinho é”.
Uma terceira visão seria a que reduz identidade a uma questão de escolha
individual e arbitrária (CUCHE, 2002).
Essas três concepções não permitem entender identidade numa concepção
relacional, vista como construção elaborada relacionalmente entre grupos, e numa
concepção situacional à medida em que há sempre uma situação - de poder, de
ideologia , de valores etc – a configurar essa relação.
Para se pensar a problemática racial brasileira no contexto da educação básica,
é necessário perceber identidade tanto em uma concepção relacional como em
uma concepção situacional, pois, o preconceito racial28 contra a população negra
brasileira, responsável por construir uma identidade negativa para a população que
o sofre, não existe de forma absoluta, ou seja, os brasileiros não nascem
28 Entende-se preconceito como “um julgamento negativo e prévio dos membros de um grupo racial de pertença, de uma etnia ou de uma de uma religião ou de pessoas que ocupam outro papel social significativo. Esse julgamento prévio apresenta como característica principal a inflexibilidade pois, tende a ser mantido sem levar em conta os fatos que o contestem.” (GOMES, 2005, p. 54)

90
predispostos biologicamente e nem culturalmente para sentir o preconceito. Ele é
uma construção relacional, construído socialmente, provocando hierarquizações de
poder, de valores etc, estando a maioria da população negra em patamares
inferiores.
3.5 Identidade colocada em prática
Em 2006, uma bolsista do grupo de pesquisa fez seus estudos de campo29
em uma escola situada em um determinado município da Baixada Fluminense30.
Na sala de aula em que foi realizada a pesquisa, podiam ser vistos murais com
muitos desenhos, sílabas, palavras, alfabeto, vogais, números, um quadro de giz,
jornais e revistas, por tratar-se de uma turma de progressão31.
Nessa turma havia uma média de vinte alunos, com idade entre 9 e 13
anos. A maioria era composta de meninas negras e mestiças afro-descendentes.
Havia também crianças com deficiência auditiva ou estrabismo acentuado. Várias
crianças vinham de outras escolas por não apresentar um rendimento satisfatório
nas mesmas e outras que apresentavam distorções entre idade e série. Ainda havia
outras que estavam na turma de progressão, em seu segundo ano consecutivo sem
alcançar o objetivo, pois, não conseguiam ser alfabetizadas. A professora da turma
fazia alguns relatos e entre eles, o relato sobre um menino tido pela escola como
menino-problema. Esse menino tinha o fenótipo de um mestiço afro-descendente,
estava na faixa dos 13 anos e segundo a professora, era um menino com uma
história complicada.
Esse daí, coitado! Estou tentando salvar. Mas está difícil. A mãe tem problema de mente, o irmão já teve até preso por roubo, e foi aluno daqui da escola, mais daqui a pouco matam! E este está indo pelo mesmo caminho, não quer nada! Só quer saber de cantar funk!
Funk! Foi a partir daí que a bolsista, sob minha coordenação, passou a
fazer um trabalho que nos levou a buscar fundamentos teóricos para o
enriquecimento de nossa pesquisa. Esse aluno era repetente e a professora
29 Tratava-se de uma pesquisa-ação em que as pesquisas são “concebidas como meio de favorecer mudanças intencionais decididas pelo pesquisador. O pesquisador intervém de modo quase militante no processo, em função de uma mudança cujos fins ele define como a estratégia”. (BARBIER, 2002, p.42) 30 Baixada Fluminense é o nome que se dá a municípios próximos, periféricos, ao Rio de Janeiro. 31 Turma de progressão era a denominação dada àquelas turmas cujos alunos não haviam sido alfabetizados dentro do período considerado regular. Hoje, as turmas de progressão não mais existem.

91
confidenciou à bolsista que naquele ano letivo teria que aprová-lo mesmo que ele
não soubesse ler ou escrever.
A bolsista tentou estabelecer contato com o menino perguntando se era
verdade que ele não gostava de estudar. E ele lhe respondeu que estava cansado.
Então, a bolsista perguntou se ele não gostaria de cantar um funk para ela
aprender. Ele a olhou um pouco espantado e desconfiado, abaixou a cabeça na
carteira e, junto com outro menino, também considerado problema, começou a
cantar, escondendo a face, como se estivesse envergonhado do que estava
fazendo. Ambos cantaram e depois ela perguntou se eles não poderiam escrever
para ela treinar em casa para aprender melhor a música e fez um desafio: “ a não
ser que vocês não saibam escrever”.
Os alunos arrancaram uma folha do caderno e juntos escreveram a letra,
como aprendizes, demonstrado aspectos de uma escrita pré-alfabética. Tentaram
correlacionar a fala com a escrita e discutiram entre si a forma correta dessa escrita
e, algumas vezes, perguntavam se “três” era com “T” ou “V”. Neste movimento, os
meninos escreveram boa parte da música. Também contaram a história da música,
quem cantava e o que queria dizer.
Na verdade, os alunos dialogavam com uma realidade muito próxima da
deles e o funk tornava-se uma forma de desabafo social e grito de socorro. Dentre
tantos funks escolheram um que chamava a atenção para o contexto em que
viviam32.
Essa situação mostra como a escola ainda desvaloriza os saberes populares
e afro-descendentes em função de um conhecimento centrado em uma cultura
branca.. Talvez, fosse uma tentativa melhor sucedida alfabetizar a turma através
das letras de funk, pois, além de serem úteis nas discussões sobre aspectos sócios,
geográficos, históricos, biológicos, os professores poderiam ainda debater temas
sobre a ética, pluralidade cultural e violência urbana. Acreditamos que as tentativas
dos professores refletem a vontade de acertar, mas não sabem como e nem por
onde começar.
32 O funk cantado pelos meninos é uma versão denominada “Proibidão” e faz apologia à criminalidade, drogas, sexo, não tendo sido gravada ou cantada oficialmente, apenas tocada nos bailes: “Bota a cara, porque a bala vai come. Pra tentar tu tem que ta maluco. Quem tentar na Prover vai comer chumbo.” (Trecho musical atribuído a MC Sabrina).

92
Normalmente, muitas manifestações culturais afro-descendentes são
consideradas inferiores. Numa visão contrária, entendemos que o rap, o funk e
muitas outras formas de expressão dessa cultura devem ser valorizadas e
trabalhadas na escola. Mas, essa valorização exigirá da escola uma nova postura
curricular que possibilite às crianças um reconhecimento de sua cultura para que ela
se valorize nos saberes escolares. Não defendemos que as crianças fiquem
restritas ao seu meio de produção cultural. Ao contrário, defendemos que tenham
acesso a todas expressões culturais existentes em nossa sociedade.
Mas, já não é mais novidade dizer que os processos pedagógicos não são
neutros e, por isso, devem ser consideradas as relações que se estabelecem
nesse espaço porque como diz Certeau ( 1994) espaço é um lugar praticado (p.
202). No espaço escolar, os embates entre os diferentes sujeitos que o compõem
são frequentes. Vivenciando o dia a dia escolar, percebe-se o quanto as diferenças
culturais entre alunos e professores influenciam nas relações estabelecidas em tal
espaço. Ora são as diferenças provocadas pela diferentes faixas etárias, ora são
aquelas provocadas pelo tipo de religião exercida, ora são os valores internalizados
que cada sujeito expressa.
Isso quer dizer que as contradições culturais, econômicas e sociais atingem
os sujeitos sociais em suas vidas, em seus objetivos, em seus cotidianos. Mas, a
escola, em nome de uma educação universal para todos, esquece de tais
contradições. Por esta razão, encontram-se em jogo, suas identidades individuais e
coletivas.
Conforme nos diz Cuche (2002), a identidade é sempre uma negociação
entre uma “auto-identidade” – definida por si mesma e uma “hetero-identidade”33 -
definida pelos outros. A situação relacional é que vai legitimar, de forma positiva ou
negativa, a auto-identidade. Ou seja, numa relação de força entre os grupos , a
auto-identidade fica em desvantagem quando a hetero-identidade estigmatiza o
grupo dominado. Essa estigmatização dos grupos minoritários leva tais grupos a um
reconhecimento para si de uma identidade negativa. Desenvolve-se entre eles um
fenômeno de desprezo por si mesmo que está ligado à interiorização de uma
imagem construída pelos outros (hetero-identidade).
Essa explicação de Cuche (2002) nos permite melhor entender o sentimento
de desvantagem de muitos alunos negros e mestiços afro-descendentes. A escola 33 Cuche toma emprestado de Simon (1979) essas expressões.

93
reforça a idéia já tão propagada pela mídia e outros meios de que a cultura a ser
valorizada é aquela entendida pelo grupo dominante como a melhor.
Evidentemente que tal cultura não é a que valoriza a população negra e mestiça
afro-descendente. Não é de se estranhar, portanto, que haja preconceito do negro
contra o próprio negro. Quem quer se identificar com algo que é considerado
inferior?
Quando na escola um aluno chama o outro – o aluno negro - de macaco,
tição, que tem um cabelo ruim, vai se construindo e se reforçando uma auto-
identidade negativa, pois, o que se interioriza é uma hetero-identidade considerada
superior. Evidentemente que o portador dessa auto-identidade negativa,
dependendo dos mecanismos desenvolvidos até então para lidar com maior ou
menor segurança com tal desvalorização, procurará negar essa identidade. Um
aluno da Educação Infantil, ou do Ensino Fundamental, não teve ainda a
oportunidade de ter acesso a certos conhecimentos que poderiam os levar a um
melhor entendimento dessa questão. É a partir daí fica muito propício ao aluno
negro desenvolver um sentimento de rejeição contra si mesmo, provocando-lhe
inseguranças que vão trazer prejuízos para o seu rendimento escolar.
Apesar do funk ser muito tocado em rádios e TV, periodicamente, ele é
também alvo de notícias envolvendo violência, participação de bandidos e
confrontos policiais, criando, assim, uma atmosfera negativa da sociedade,
consequentemente, entre os professores, sobre ele. Mas, o funk está presente na
vida cotidiana da maioria dos alunos pobres e a situação da grande maioria dos
alunos das escolas públicas brasileiras é de pobreza e, principalmente, os negros e
mestiços afro-descendentes são os que mais se inserem em tal situação. Isso não
quer dizer que todos têm a mesma identidade. Existem especificidades que
precisariam ser abordadas e trabalhadas para serem respeitadas. Porém, essas
especificidades são, na maioria das vezes, "esquecidas" em prol de uma sociedade
"harmônica", homogênea, onde as individualidades são igualadas por um modelo
comum de cultura, em nome de uma pretensa ordem social.
A escola, portanto, de forma geral, não considera a diversidade de pessoas
e, portanto, de culturas. Assim, o real não é apresentado como heterogeneidade,
como processo que faz variar o que existe; o real é apresentado como se fosse
estável (ITURRA,1997). Homogeneiza-se as diferentes culturas e a riqueza de
relações que podem ser estabelecidas entre e com elas. Tantas cumplicidades que

94
escapam em nome dessa dominação cultural que sufoca e limita, pois, a escola
constitui-se num terreno cultural onde ocorrem embates, transgressões,
contestações, ambiguamente superpondo reprodução e resistência. (LOPES, 1997,
p.64)
Pode-se dizer que o preconceito racial interfere na busca do negro pela sua
identidade, levando-o a viver, constantemente, com pensamentos de desprazer.
Passa a acreditar que assumindo certos comportamentos, que julga ser exclusivos
do branco, será aceito pela sociedade. Não percebe que formas de comportamento
não são características de tipos de raça. E, para evitar mais sofrimentos, ele termina
por se privar de confrontos com pensamentos racistas. Aceita como verdadeira
aquela realidade que lhe é imposta, desistindo, de antemão, de encontrar saídas e
soluções para os seus problemas.
Faz-se urgente, então, que uma educação étnico-racial seja implementada
como contribuição para a cidadania. Essa é uma das propostas das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, estabelecidas pela lei
10.639/03.
4. Algumas propostas das diretrizes curriculares estabelecidas pela Lei
10.639/03
A lei 10.639/ 2003 estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Africana. Essa lei altera a lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos
seus artigos 26, 26A e 79B. Trata de uma política curricular apoiada em diversas
áreas do conhecimento, buscando combater o racismo e a discriminação contra a
população negra brasileira. Nesse sentido, propõe a divulgação e produção de
conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos
orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes dos diferentes grupos
étnicos que compõem a sociedade brasileira, para interagirem na construção de
uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos
garantidos e sua identidade valorizada.(BRASIL, 2005, p.10)
Quando se trata de diretrizes curriculares, não podemos deixar de perceber
que trata-se também de orientações e princípios, ou seja, diretrizes não são apenas

95
conteúdos e objetivos que orientam atividades pedagógicas. No caso específico
dessas diretrizes, elas trazem princípios que orientam não somente para
procedimentos pedagógicos que permitem a aplicabilidade da lei como também
procuram chamar a atenção para a necessidade de mudanças nas maneiras de
pensar e agir dos indivíduos.
O direito dos negros de se reconhecerem na cultura nacional e poderem
manifestar seus pensamentos com autonomia é uma das metas do parecer e está
diretamente relacionada com a idéia de construção de uma nação democrática e
cidadã. Não se pode acreditar na existência de uma verdadeira nação democrática
e cidadã enquanto houver segmentos populacionais alijados do contexto sócio-
político e econômico.
Uma outra meta diz respeito ao direito dos negros e de todos cidadãos
brasileiros em cursarem todos os níveis de ensino, em instituições bem equipadas,
com professores qualificados para lidar com diversas situações decorrentes do
racismo entre os diferentes grupos. Essa qualificação passa pela formação para
trabalhar com os mais variados saberes que vão permitir o entendimento e a
sensibilidade indispensáveis para trabalhar a questão. Acreditamos que tais
conhecimentos colaborarão para a valorização da identidade desse segmento
populacional.
As diretrizes apontam três princípios para orientar, de forma geral, as ações
dos sistemas de ensino e dos professores: 1. consciência política e histórica da
diversidade; 2. fortalecimento de identidades e de direitos e 3. ações educativas de
combate ao racismo e discriminações. Esses princípios trazem orientações para
posturas a serem adotadas pela escola. São sugeridas vinte posturas e
destacaremos algumas delas para fazermos alguns comentários .
Um trabalho mais reflexivo sobre o preconceito e a discriminação contempla
os princípios da “consciência política e histórica da diversidade” e do “fortalecimento
de identidades e de direitos”, pois, entre outras coisas, devem orientar para:
- à igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direito.
Não se pode pensar em igualdade apenas em termos formais, ou seja,
levando-se em consideração a igualdade prescrita em lei, conforme já descrito
anteriormente.

96
– à desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando
eliminar conceitos, idéias, comportamentos veiculados pela ideologia do
branqueamento, pelo mito da democracia racial[...]34
A concepção de que vivemos numa verdadeira democracia racial é antiga e
baseia-se principalmente em dois fatos: na miscigenação que no Brasil aconteceu
em grande escala e na comparação que se fazia e se faz até hoje – em menor
intensidade - com a segregação racial e conflitos raciais nos Estados Unidos35.
Essa concepção não surgiu por acaso e a sociedade brasileira ainda traz em
seus pensamentos uma ideologia racial que foi construída a partir de teorias
racistas que estavam em pleno apogeu na Europa, no final do século XIX. Os
europeus, reforçados intelectualmente com o prestígio das ciências naturais,
acreditavam ter atingido a superioridade econômica e política devido à
hereditariedade e ao meio físico favoráveis. Implicitamente, raças mais escuras ou
climas tropicais seriam incapazes de produzir civilizações mais evoluídas36.
Esse mito ainda é reforçado na escola porque a minimização da questão
racial no Brasil leva os professores a não questionarem certas situações de conflito
existentes em nossa sociedade, provocando nos alunos o sentimento de que o
sucesso escolar deve-se exclusivamente ao esforço individual. Como os alunos
não brancos são os que mais engrossam as fileiras dos "mais atrasados", estes
acabam por interiorizar o fracasso, legitimando, assim, a idéia de que essa parcela
da população não consegue melhorar sua situação de vida porque não se esforça.
- o esclarecimento a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana
universal.
Esses equívocos estão relacionados à idéia de que raça é uma só, a
humana. Não cabe polemizar a questão racial brasileira partindo do argumento de
que raças não existem, porque concordamos com esse argumento, porém, não
podemos reduzir nosso entendimento a esse discurso ingênuo. Seria muito 34 O mito da democracia racial surgiu na elite, nos meios acadêmicos e, apesar de se ter em Gilberto Freyre, leia-se Casa Grande & Senzala (1933), o mais importante referencial, na verdade, ele está presente no pensamento racial brasileiro desde o século dezenove. 35 Cf em Skidmore, 1976. 36 Idem

97
tranqüilo não adotar o termo raça como forma de neutralizar o racismo, no entanto,
a questão é muito mais complexa porque conforme Gomes (2005), é no contexto da
cultura que nós aprendemos a enxergar as raças.(p.49). Portanto, raças são, na
realidade, construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações sociais
e de poder ao longo do processo histórico. Não significam, de forma alguma, um
dado da natureza. (idem).
Nesse sentido, não existe uma identidade humana universal. Mesmo com o
processo de globalização em que a homogeneização cultural tenta se fazer
presente, as identidades nacionais e locais se reforçam em atos de resistência a
esse processo. (HALL, 2006)
- o desencadeamento do processo de afirmação de identidades, de historicidade
negada ou distorcida.
A afirmação de identidades de sujeitos que tiveram sua historicidade negada ou
distorcida passa pela desconstrução de algumas concepções enraizadas em nossa
sociedade como: o mito da democracia racial; o ‘medo” de se tocar no assunto para
não provocar o preconceito racial – como se ele não existisse; o racismo como
somente um problema econômico e não também cultural; a existência do
preconceito racial estar somente na escravidão. Se o professor buscasse
conhecimentos sobre essas concepções e sobre a ideologia que elas acarretam,
perceberia a complexidade do tema, contribuindo para o desencadeamento do
processo de afirmação de identidades e da cidadania da população negra e mestiça
afro-descendente brasileira.
5. Considerações finais
As situações vivenciadas por toda minha trajetória profissional, reforçadas
pelo que foi vivido nas escolas pesquisadas, nos revelam a importância dos debates
sobre a problemática racial da população negra brasileira para que seja possível
refletir sobre a situação desvantajosa em que se encontra essa população em
relação à população branca, revelando que mais do que o preconceito há uma
discriminação, um preconceito nada velado contra esse segmento populacional.

98
Um professor quando revela desconhecer a existência do preconceito racial
em sala de aula, reforça tal preconceito e corrobora para uma ideologia que ainda
está muito presente em nossa sociedade. E nesse caso, concordamos com
Gramsci ao definir ideologia como concepção de mundo que se manifesta em todos
os setores da vida (econômico, artístico, jurídico, ...), tanto individual quanto
coletivamente. Dessa forma, ideologia está relacionada à capacidade de inspirar
atitudes concretas e provocar a ação. Ora, se é fato que muitos professores,
mesmo sem ter consciência disso, vêem seus alunos negros e mestiços afro-
descendentes de forma inferiorizada, obviamente, que não vão perceber a
existência do preconceito racial e se não o percebem, nada vão fazer para
minimizá-lo, considerando, muitas vezes, que atitudes preconceituosas não passam
de “intriguinhas”.
Luiz Alberto de Oliveira Gonçalves (1985) ao discorrer sobre os rituais
pedagógicos37 a favor da discriminação racial, destaca que a agressão às crianças
negras vem acompanhada de um silêncio dos professores, sob a alegação de que
um dia aprenderão e que o que importa é o caráte”. (p.314) O autor ainda afirma
que
os professores tendem a transmitir estereótipos humilhantes acerca dos grupos étnico-raciais negros. Dificulta, assim, às crianças negras a formação de um ideal de Ego negro, e, em relação às crianças, de uma forma geral, estes conteúdos racistas acabam reforçando atitudes discriminatórias entre segmentos sociais significativos desta sociedade”. (p.324)
O mito da democracia racial, um dos aspectos de nossa ideologia, teve,
como causa principal, o medo da classe dominante em ceder às exigências de
cidadania à população negra. Evidente que aceitar democraticamente as diferenças
significa aceitar também a igualdade de oportunidades. Como o sistema econômico
e político brasileiro não permite essa relação de igualdade, destrói-se a identidade,
a auto-estima e o reconhecimento dos valores do grupo oprimido, que no caso
desse estudo é o negro.
As possibilidades de construção de uma auto-identidade positiva da
população negra e mestiça afro-descendente no contexto escolar e as de
conquistar, de fato, a condição de cidadãos, passam por alguns desafios:
37 Gonçalves usa a expressão “rituais pedagógicos” emprestada de Cury (1985). Para esse autor “ritual pedagógico” seria o “funcionamento da formação pedagógica” e nele se expressam as práticas escolares que por sua vez expressam uma concepção de mundo. E, quanto mais burocratizada a instituição mais coercitivo o “ritual pedagógico” será.

99
. É necessário buscar formas de trabalhar contra o preconceito e a favor da
cidadania tanto de forma contínua quanto pontualmente.
. Necessita-se, urgentemente, buscar conhecimentos sobre a problemática racial
brasileira.
. É preciso trabalhar em prol de uma identidade positiva para as crianças negras e
despertar nos professores, alunos e responsáveis o entendimento sobre a situação
das crianças negras no cotidiano escolar.
No ano de 2000, ao entrevistar uma colega professora com fins de obter
dados para a minha tese de doutoramento, perguntei-lhe se ela fazia alguma
atividade com os alunos, que trabalhasse a temática racial. Ela me respondeu que
sim e deu como exemplo a exibição de um filme sobre o apartheid sul-africano. Ao
final, ela diz: “Meus alunos ficaram muito aliviados em perceber que aqui no Brasil o
racismo não existe”. Percebe-se, nesse depoimento, o desconhecimento da
professora em relação a certos tipos de conhecimentos necessários à
desconstrução e nova construção de um saber necessário para se começar a
desconstruir certas idéias que ainda estão arraigadas no pensamento da população
brasileira.
No que se refere à população negra, uma educação para o século XXI
precisará passar, portanto, por um conhecimento que permita a desconstrução de
falsas verdades sobre a população brasileira negra e mestiça afro-descendente. A
ideologia racista que ainda povoa a cabeça de muitos professores e alunos tem
uma história. Seu surgimento não foi por acaso. O sentimento de inferioridade que
muitos ainda possuem, por terem uma ascendência africana ou indígena, que lhes
dá uma aparência não europeizada dentro dos padrões “ideais” do que seria a
população brasileira, termina por formar uma identidade negativa nessas pessoas,
prejudicando sua forma de viver e de construir o mundo. Esse artigo buscou,
portanto, provocar formas de refletir e sensibilizar para uma luta que ainda se faz
muito necessária porque todo conhecimento tem como objetivo último o
crescimento pessoal e profissional de quem o procura.

100
Referências bibliográficas
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Lei
10.639/2003. Brasília, DF, junho/2005.
BUFFA, Ester & NOSELLA,Paolo. A educação negada: uma introdução ao estudo
da educação brasileira contemporânea. Cortez. São Paulo, 1991.
CARVALHO, José Murilo de. As Batalhas da Abolição. Estudos Afro-Asiáticos.
Publicação do Centro de Estudos Afro-Asiáticos - CEAA. N. 15. Conjunto
Universitário Cândido Mendes. Rio de Janeiro, Junho/1988. p. 14-23
CERTEAU, Michel de; GIARD, Luce. Uma Ciência Prática do Singular. In.:
CERTEAU, Michel de; GIARD, Luce; MAYOL, Pierre. A Invenção do Cotidiano. 2.
Morar, cozinhar. 3. Rio de Janeiro. Vozes, 1996.
CORRÊA, Darcísio. A construção da cidadania. Reflexões histórico-políticas. 2. ed.
UNIJUÍ. Ijuí. 2000.
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas Ciências Sociais. 2.ed. EDUSC. Bauru,
2002.
CURY, Carlos R. Jamil. Ideologia e educação brasileira: Católicos e liberais. 4 ed.
Cortez - Autores Associados. São Paulo, 1988.
DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS. 2. ed.. Fundação Getúlio Vargas. Rio de
Janeiro, 1987.
FERREIRA, Ricardo Franklin. Afro-descendente. Identidade em construção. 1ª
reimp. EDUC , Pallas. São Paulo, Rio de Janeiro, 2004.
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. Dominus
(USP). São Paulo, 1965.
FREYRE. Gilberto. Casa Grande e Senzala. 11 ed. brasileira. Livraria José Olympio
Editora. Rio de Janeiro, 1964. (1 ed. 1933)
GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da
Igualdade. Editora Renovar. Rio de Janeiro, 2001.
GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre
relações raciais no Brasil: uma breve discussão. In: BRASIL. Educação anti-racista:
caminhos abertos pela Lei Federal no 10.639/03. Brasília, Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 39-62

101
GONÇALVES, L. Alberto de O. O silêncio: um ritual pedagógico a favor da
discriminação racial. 1985. 183p. Dissertação. (Mestrado em Educação) UFMG.
Minas Gerais.1985.
GRAMSCI, Antonio. Concepção Dialética da História. 8 ed. Ed. Civilização
Brasileira. Rio de Janeiro, 1989. (1 ed. 1942)
HALL, Stuart. Identidades Culturais na Pós - Modernidade. 11. ed. Tradução:
Tomaz Tadeu da Silva e Guaracira Lopes Lauro. DP&A Editora. Rio de Janeiro,
2006.
HASENBALG, Carlos. Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil. Edições
Graal Ltda. Rio de Janeiro, 1979.
___. A pesquisa das desigualdades raciais no Brasil. In: Relações Raciais no Brasil
Contemporâneo. IUPERJ. Rio de Janeiro, 1992.
HASENBALG, Carlos A. & SILVA, Nelson do V.S. Estrutura Social, Mobilidade e
Raça. São Paulo: Ed. Vértice, 1988.
ITURRA, Raul. O Imaginário das Crianças. Os silêncios da cultura oral. Portugal:
Fim De Século. Lisboa, 1997.
LOPES, Alice R.C. Pluralismo Cultural e Políticas de Currículo Nacional., 20a
Reunião ANPEd. Caxambu, set./1997.
MOURA, Clovis. A Sociologia do Negro Brasileiro. Ed. Ática. São Paulo, 1988.
PIOVESAN, Flavia. Temas de Direitos Humanos. Max Limonad. São Paulo. 1998.
SEYFERTH, Giralda. As Ciências Sociais no Brasil e a Questão Racial. In: Cativeiro
& Liberdade. UERJ. Rio de Janeiro, 1989.
SISS, Ahyas. Democracia Racial, Culturalismo e Conflito no Imaginário dos Não-
Brancos. Dissertação. 203p. (Mestrado em Sociologia). Instituto Universitário de
Pesquisas do Rio de Janeiro - IUPERJ. Rio de Janeiro, 1994.
SKIDMORE, Thomas E. Preto no Branco. Raça e nacionalidade no pensamento
brasileiro. Trad. de Raul de Sá Barbosa. Paz e Terra. Rio de Janeiro, 1976.
TEIXEIRA, João Gabriel Lima Cruz. A construção da cidadania. UnB. Brasília, 1986.

102
Nos deram um espelho e vimos um mundo doente.
Marcia Gomes de Oliveira Suchanek38
Introdução
"Se você não educar o seu filho,
você está morto" Doethiró, junho 200839
Utilizei como epígrafe40 deste artigo uma curta, mas substancial, fala de meu
amigo Doethiró, líder político do povo Tukano, habitante do Alto Rio Negro, no
Amazonas. São palavras de uma pessoa que conhece o valor da educação dos
antepassados, de uma educação para a Vida.
Quando perdemos esta referência ancestral e deixamos para as instituições
formais toda a tarefa da educação, estamos perdendo os nossos filhos. Estamos
mortos, porque deixamos de transmitir-lhes quem somos e, por isso,
desaparecemos.
A Lei Nº. 11.465/08 alterou o Artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, em 10 de março de 2008, para incluir a obrigatoriedade do
estudo da História e Cultura dos Povos Indígenas, além da História e Cultura Afro-
Brasileira já anteriormente exigida (Lei Nº. 10.639/03), no currículo oficial da Rede
de Ensino, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e
particulares.
O que a alteração da LDB trás para nós é, sobretudo, a oportunidade de
aprender com os povos indígenas o que perdemos: um saber que vem do espírito.
Muitos filósofos já falaram sobre este saber. Mas, chegou a hora de conhecermos
os "filósofos" indígenas, os sábios desta terra, e aprendermos que História e Cultura
indígenas não fazem parte de um capítulo do folclore brasileiro, mas de um rico
saber das centenas de culturas indígenas existentes no Brasil.
38 Mestre em Sociologia e Direito (UFF), Especialista em Planejamento Ambiental (UFF), Graduada e Licenciada em Ciências Sociais (UFRJ) e Professora de Sociologia da FAETEC. Realiza trabalhos e pesquisas com povos indígenas desde 1989. 39 Frase extraída de conversa informal com Doethiró, em minha residência no Rio de Janeiro, quando em visita, junho de 2008. Doethiró, cujo nome em português é Álvaro Sampaio, é conhecido como Álvaro Tukano e luta pela causa indígena em todo o Brasil desde os anos 1970. 40 Índios. Renato Russo.

103
A Lei 11.465/08 exige que os professores tenham a capacidade de combater
o desconhecimento, a intolerância e o preconceito em relação aos povos indígenas.
Antes de mais nada é preciso conhecer a História que o Brasil fez com os nativos.
Esta História é o princípio de uma reformulação do pensamento e o principal
instrumento de combate aos pré-conceitos fixados ainda hoje em nossos livros
didáticos.
O começo
As primeiras explorações portuguesas no território brasileiro ocorreram
através de negociações comerciais com vários povos indígenas, em sua maioria
pertencente ao tronco lingüístico Tupi, como por exemplo, Carijó, Tamoio,
Tupinambá, Tupinaki, Guayanã, Waytaká, Aimoré e Caeté. Eles viviam ao longo da
faixa litorânea que se estendia do Rio da Prata até o Pará (NIMUENDAJU, 1987).
O comércio já era intenso em 1501. Neste ano, a Coroa Portuguesa deu a
Fernão de Noronha o direito, com exclusividade por três anos, de explorar a
madeira que daria nome à colônia, o pau-brasil (MAURO, 1989, p. 163).
O nascimento do "índio manso" e do "índio bravo"
Na guerra pelo monopólio comercial e territorial, os portugueses
estabeleceram alianças para combaterem os franceses. Os Temiminó e os
Tupinikim eram os principais aliados dos portugueses e, por isso, chamados de
índios mansos ou gentios. Os Tupinambá eram aliados dos franceses, sendo
inimigos dos portugueses, foram imediatamente identificados como índios bravos,
perseguidos e massacrados.
Os aliados aos portugueses forneciam alimentos, couro, ervas e, sobretudo,
pau-brasil. Serviram como soldados contra o invasor não português e construíram
as fortalezas portuguesas.
Quando o território passa a ser propriedade portuguesa
Em 1534, foi introduzido o sistema de capitanias hereditárias, iniciando uma
nova forma de relação com a terra e consequentemente com os seus habitantes.

104
A Coroa Portuguesa dividiu o território em quatorze lotes e deu o direito de
usufruto de 20% de cada lote a um capitão-donatário. Os 80% restantes deveriam
ser transferidos a terceiros, através do sistema de sesmarias41.
A Carta de Doação foi o primeiro documento de expropriação das terras
indígenas expedido pela Coroa Portuguesa.
Os povos indígenas foram escravizados
A Carta de Doação dava direito ao capitão donatário escravizar índios em
número ilimitado e autorizava a sua venda no mercado de Lisboa.
Neste primeiro momento, só era permitido escravizar os índios aliados aos
franceses. Mas, em 1565, ampliou-se a forma de captura, permitindo a escravidão
de índios apreendidos nas “guerras justas”.
A doutrina da guerra justa surgiu em Portugal no século XIV. Ela servia para
legitimar a guerra quando um povo recusava a evangelização ou quando cometia
práticas de hostilidades contra vassalos e aliados dos portugueses.
No Brasil, a guerra justa ocorreu com a invasão armada às comunidades
indígenas para capturar e transformar em escravo o maior número de pessoas
possível, incluindo mulheres e crianças. Estas invasões exterminaram parte
significativa da população do litoral, inclusive povos aliados aos portugueses. Em
consequência disso, a Lei de 20 de março de 1570 regulamentou as guerras justas,
autorizando a escravidão de prisioneiros somente com a permissão do Governador
Geral.
A captura sem permissão continuou sendo permitida nos casos de resistência
à evangelização. Portanto, permaneceram livres somente os índios que aceitaram a
conversão à religião cristã. Um paradoxo: a liberdade estava condicionada à
aceitação da submissão.
41 Sesmaria é um lote de terra com superfície muito variável cedida ao colono português, nomeado sesmeiro. Este recurso jurídico foi criado em 1375 para solucionar a grave crise de abastecimento alimentar que havia em Portugal. Na Colônia, mais do que para promover o cultivo à terra, serviu para dominá-la enquanto área colonial. Para maiores esclarecimentos sobre o sistema de sesmaria no Brasil ver Motta (1998).

105
Táticas para transformar os nativos em escravos
Tática 1: resgate de prisioneiros. Os portuguêses ofereciam mercadorias
européias (ferramentas, miçangas e roupas) ao grupo inimigo em troca do
prisioneiro. Como pagamento da salvação, o índio passava a trabalhar como
escravo para quem o resgatou.
Tática 2: missionários cooptavam para o trabalho aldeias inteiras através do
convencimento. Eles realizavam expedições (conhecidas como descimentos) com o
objetivo de convencer os índios a descerem de suas aldeias de origem sem
oferecer resistência armada. Os índios descidos deveriam desistir do seu modo de
vida tradicional e passar a viver em novos aldeamentos administrados pelos
missionários - as aldeias de repartições. Os índios descidos eram catequizados e
orientados para o trabalho de acordo com a quantidade e potencialidade da terra.
Havia, por exemplo, povoado missioneiro essencialmente pecuário, outros
dedicados à produção de ervas, de algodão ou à especialização de ofícios
artesanais. Em princípio, os índios das aldeias de repartição trabalhavam em um
sistema rotativo (período de dois a seis meses) nas roças da aldeia missionária e
depois iam trabalhar para os fazendeiros e para a Coroa.
O objetivo principal dos missionários era manter o monopólio sobre a
administração dos índios, garantindo poder exclusivo sobre o fornecimento de mão-
de-obra para toda a Colônia. Este monopólio esbarrava no interesse dos
fazendeiros, já que eles haviam arrendado as terras dos sesmeiros e estavam
imensamente necessitados de escravos.
Tática 3: fazendeiros invadiam as áreas agrícolas e de criação do gado para o
sustento da aldeia, provocando a destruição da autonomia econômica indígena.
Sem economia, os sobreviventes se rendiam a quem lhes oferecia trabalho, se
reorganizando em uma nova aldeia, criada pelo fazendeiro administrador particular
de índios.
Tática 4: alguns fazendeiros organizavam expedições, denominadas
bandeiras, para capturar índios nas regiões mais distantes do Brasil, da Argentina e

106
do Paraguai. Ao final de uma expedição, os índios eram divididos entre os
bandeirantes42, ficando a maior parte para o chefe da bandeira.
Índios alugados
Como uma forma de escamotear a escravidão dos povos nativos, foi criado o
termo “índios alugados”. Para fazer jus ao nome, a pessoa recebia pelo trabalho
executado alguns metros de pano de algodão, tecido pelas próprias índias.
Os índios alugados também estavam obrigados ao aprendizado da doutrina
cristã, recebiam alimentação insuficiente e castigos pesados. O trabalho nas
fazendas variava por setor, ocupação, etnia e sexo. Os homens carregavam
produtos do interior para o comércio do litoral. Comandados pelos sertanistas
(chefes das expedições para o sertão), faziam a abertura das matas como
soldados, eram os guias das expedições para o interior e responsáveis pela
alimentação dos sertanistas, fornecendo o que eles mais cobiçavam: as carnes.
Também foram mercadores de produtos de couro em vilas do interior e vaqueiros,
principalmente a partir do final do século XVII.
As mulheres cuidavam das roças e das lavouras de trigo e algodão, além de
serviços domésticos, como acompanhantes, babás e cozinheiras nas moradas dos
colonizadores (fazendeiros e funcionários da Coroa).
Os fazendeiros criavam mecanismos para reter os índios permanentemente
em seus estabelecimentos particulares, usando como principal recurso o
casamento de uma índia escrava de sua propriedade com um índio alugado.
Trabalho como mercadoria
O poder de gerar riquezas na Colônia dependia, em primeiro lugar, do poder
de capturar índios e controlar a distribuição de sua força de trabalho. Por isso, havia
uma forte disputa entre missionários (jesuítas, franciscanos e carmelitas) e
fazendeiros.
42 Monteiro (2002, p. 497, nota 3) observa que o termo bandeirante é um anacronismo no século XVII. A palavra só foi utilizada no século XVIII, inicialmente para designar expedições punitivas contra os índios em Goiás.

107
No final do século XVII, com a descoberta das minas de ouro nos estados de
Goiás, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso, os principais fazendeiros da região sul
deslocaram seus escravos indígenas para a região das minas.
Os fazendeiros que permaneceram em São Paulo, por exemplo, preferiram o
lucro imediato do comércio de escravos africanos e de gado do que investimentos
menos rentáveis na própria terra - justamente os que mais utilizavam o trabalho
indígena. Deste modo, a procura da mão-de-obra indígena caiu com a decadência
geral da lavoura paulista. Mas este fato não significou a completa substituição da
força de trabalho indígena pela africana. Desde o século XVI, a escravidão africana
foi concomitante à escravidão indígena.
O aumento do uso da mão-de-obra escrava oriunda do continente africano
não foi causado por carência de mão de obra nativa. Tratou-se de uma opção
geopolítica do governo central e atendeu aos interesses do comércio negreiro
(ALENCASTRO, 2000).
Em 1730, foi oficialmente extinta a administração particular sobre a vida dos
nativos. Entretanto, o sequestro e a escravidão continuaram através do programa
administrativo desenvolvido pelo Império português.
Extermínio cultural
O ministro português Marquês de Pombal criou, em 1757, uma lei conhecida
como Diretório dos Índios (ou Diretório Pombalino). Esta lei tinha o objetivo de
eliminar uma série de tradições e costumes dos nativos da Colônia, como por
exemplo:
- Proibia o uso das línguas indígenas, inclusive nas aldeias;
- Obrigava as crianças indígenas a frequentarem a escola;
- Obrigava os pais colocarem sobrenomes portugueses em seus filhos;
- Proibia o uso dos roupas e acessórios tradicionais indígenas;
- Proibia as habitações coletivas;
- Incentivava o processo de mestiçagem;
- Estimulava a ocupação de colonos europeus, transformando muitas aldeias
em povoados e vilas.
Em 1758 - um ano após a implementação do Diretório dos Índios - foi
decretada a extinção da escravidão indígena em todo o Brasil. Mas isto só

108
aconteceu na lei, porque na prática não foi o fim da escravidão, mas uma mudança
de interpretação jurídica: a partir daquele momento, os índios escravos não foram
mais reconhecidos como índios.
A situação pós-colonial
Quando o Brasil se tornou independente de Portugal (1822) buscou suas
bases de sustentação ideológica em uma imagem unificada de povo brasileiro, a
saber: cristão e mestiço.
Os diversos povos indígenas foram reduzidos a uma única imagem figurada:
"o índio"43. Imagem folclórica, sem referência à complexa realidade das centenas de
línguas e formas de vida que sobreviveram aos 300 anos de colonização. Povos
sem história, sem nome próprio, sem respeito.
O sentimento de nacionalidade brasileira foi construído passando por cima
dos direitos dos nativos.
A primeira Constituição do Império do Brasil, em 1824, ignorou completamente
a existência dos povos indígenas. “O Brasil independente marca um retrocesso no
reconhecimento dos direitos indígenas: no mesmo período em que o índio se torna
o símbolo da nova nação nega-se-lhe tanto a soberania quanto a cidadania”
(CUNHA, 1987, p. 63).
O Ato Adicional de 1834 determinou que as Assembléias das Províncias
legislassem os assuntos indígenas. Porém, os legisladores eram associados aos
poderes locais e permitiram invasões de terras e o extermínio de vários povos.
Lei de Terras
Em 1850, mesmo ano em que foi proibido o tráfico de escravos da África para
o Brasil, também foi criada a Lei de Terras (Lei 601 de 18/9/1850) - a primeira lei a
regulamentar o uso da terra em todo o território brasileiro.
Esta Lei oficializou o latifúndio e eliminou o direito de posse. Isto provocou a
extinção de dezenas de aldeias indígenas (DARELLA; LITAIFF, 2000).
43 Somente é correto dizer “o índio” quando se trata de uma determinada pessoa nativa. Sendo incorreto o uso do termo “o índio” ou “os índios” para se referir aos povos nativos.

109
É nesta lei que nasce o conceito jurídico de Reserva Indígena, depois amplamente utilizado, e que significava nada mais do que uma porção de terra pública separada (reservada) de uma gleba maior, que não era destinada à colonização, mas ao uso de um grupo indígena enquanto não fosse definitivamente "civilizado". Isto quer dizer que não era um reconhecimento dos direitos indígenas sobre as terras que ocupavam, mas a separação de uma terra qualquer para ser ocupada pelos índios, independentemente de seu direito (SOUZA FILLHO, 1993, p. 65).
A partir de 1887, as terras das aldeias extintas foram transferidas para o
domínio das Províncias, podendo ser aforadas pelas câmaras municipais (Lei 3348
de 20/10/1887, art. 8, § 3). Em 1889, o Brasil tornou-se uma República e a primeira
Constituição Federal, de 1891, “ratificará esse estado de coisas, atribuindo aos
estados as terras que eram das províncias” (CUNHA, 2002, p. 146).
O direito a sua própria terra
Existe um tipo de direito especial para definir o direito dos povos nativos a
suas próprias terras, chama-se indigenato. De acordo com o direito do indigenato,
as terras dos povos indígenas são reservadas ao seu usufruto exclusivo. O direito à
terra não é concebido ao índio como se ele a tivesse adquirido por simples
ocupação ou conquista, mas porque lhe é um direito congênito e primário. Não é
um simples ato de posse, mas de um título imediato de domínio. Não há, portanto,
posse a legitimar, mas domínio a reconhecer.
O Jurisconsulto João Mendes Junior dá uma aula magistral ao defender o
direito do indigenato em uma Conferência realizada em 190244:
“Não quero chegar até o ponto de affirmar, como P.J. Proudhon, nos Essais d’une philos.populaire, que - o indigenato é a única verdadeira fonte jurídica da posse territorial; mas, sem desconhecer as outras fontes, já os philosophos gregos affirmavam que o indigenato é um título congenito, ao passo que a occupação é um título adquirido. Conquanto o indigenato não seja a única verdadeira fonte jurídica da posse territorial, todos reconhecem que é, na phrase do Alv. de 1º de Abril de 1680, a primaria, naturalmente e virtualmente reservada, ou na phrase de Aristoteles (Polit., I, n.8), - um estado em que se acha cada ser a partir do momento do seu nascimento. Por conseguinte, o indigenato não é um facto dependente de legitimação, ao passo que a occupação, como facto posterior, depende de requisitos que a legitimem. O indígena, primariamente estabelecido, tem a sedum positio, que constitue o fundamento da posse, segundo o conhecido texto do jurisconsulto Paulo (Dig.titul. de acq. vel. Amitt. Possess., L. 1), a que se referem Savigny, Molitor, Maiz e outros romanistas; mas, o indígena, além desse jus possessionis, tem o jus possidendi, que
44 Terceira Conferência de João Mendes Junior, na Sociedade de Etnographia e Civilisação dos índios de São Paulo, sob o título “Situação dos indios depois da nossa independência”, apresentada em 1902 e publicada no livro “Os indigenas do Brazil seus direitos individuaes e políticos”, publicado originalmente em 1912 e em 1988, republicado em Edição Fac-Similar, pela Comissão Pró-Índio de São Paulo, Págs. 58 e 59 (GRAU, 2008).

110
já lhe é reconhecido e preliminarmente legitimado, desde o Alvará de 1º de Abril de 1680, como direito congenito” Mas na prática, através da Lei de Terras, foram doadas a alguns povos
indígenas somente as terras que não interessava a mais ninguém.
Século XX
Em 1910, o governo brasileiro criou o Serviço de Proteção aos Índios e
Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN). Subordinado ao Ministério da
Agricultura, este órgão federal tinha a função de localizar os índios que viviam
livremente e os caboclos dispersos pelo território brasileiro, transformá-los em
trabalhadores rurais e operários nas construções das estradas, linhas telegráficas e
demarcações das fronteiras do território brasileiro - ações estratégicas para a
consolidação do Estado Nacional (OLIVEIRA, 2003, Capítulo 3).
Lima (1995, p. 11) esclarece que o SPILTN foi “o primeiro aparelho de poder
estatizado a estabelecer relações de caráter puramente laico com os indígenas,
tanto no que tange aos seus quadros quanto à sua ideologia de ação”, dando início
ao monopólio do exercício do poder estatal sobre os povos nativos.
A tutela
A política do Estado em relação aos povos indígenas foi estabelecida com
base no recurso jurídico da tutela (LIMA, 1995). A tutela civil é um mecanismo de
proteção e defesa, válido para todos os cidadãos brasileiros.
Mas o Código Civil de 1916 criou um suporte legal para uma tutela especial
aos nativos (MAGALHÃES, 2005). Ao invés da defesa ser garantida pela
intervenção do Estado, determinando que o tutor aja sempre em defesa do tutelado,
no caso dos povos indígenas a tutela é exercida pela União que está obrigada a
agir sempre em defesa do que considera o bem comum – o que nem sempre
coincide com os interesses dos povos indígenas.
O Código Civil também fazia uma classificação entre os povos indígenas, de
acordo com o nível de contato estabelecido com a sociedade brasileira. O regime
de incapacidade relativa para viver no seio da sociedade nacional era aplicado
somente aos povos identificados como silvícola, isto é, os habitantes da selva. E

111
devido a esta incapacidade eles teriam o direito de proteção e defesa de suas terras
e culturas.
A tutela aos silvícolas era análoga ao instituto dispensado aos maiores de 16
anos e menores de 21 anos e aos pródigos (indivíduos que dilapidam o seu
patrimônio e, por isso, devem ser interditados pela família). Já os índios que se
acham confundidos na massa geral da população passam a ser regidos pelo direito
comum (Artigo 147, I, Código Civil de 1916), sendo, portanto, ignorado o direito
coletivo à terra e à vida de acordo com suas tradições e costumes (MAGALHÃES,
2005).
Em 1918, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores
Nacionais (SPILTN) passou a ser denominado apenas de Serviço de Proteção aos
Índios (SPI).
Atração fatal
O principal projeto dos idealizadores do Serviço de Proteção era fazer o
contato com os povos isolados antes das frentes de expansão econômica, dando
um suporte educacional para estes povos se integrarem à sociedade nacional. Não
havia um projeto para os índios em contato permanente, porque eles eram
considerados corrompidos pelos maus hábitos da população brasileira. A tática do
Serviço de Proteção consistia em criar uma sede administrativa em cada local de
atuação, denominada Posto Indígena45.
Fase 1: Atração
Os funcionários do Posto Indígena, conhecidos como sertanistas, indigenistas
ou pacificadores, colocavam presentes em locais estratégicos, onde os índios
transitavam em seu cotidiano. Estes presentes eram produtos industrializados,
como pentes, espelhos, miçangas e facões. Quando os índios começavam a pegar
estes presentes e a deixar igualmente outros como retribuição (artesanatos e
alimentos), estava estabelecida a fase denominada “atração dos índios isolados”.
45 Os Postos Indígenas existem até hoje em áreas indígenas reconhecidas pelo Governo Federal. A principal diferença é que atualmente os chefes dos Postos possuem, de um modo geral, uma postura menos autoritária e, em alguns casos, o chefe é indígena.

112
Fase 2: Comércio
Depois o Chefe do Posto introduzia a relação de troca, estimulando os índios
a trazerem seus produtos para então obterem os artigos industrializados.
Estabelecida a relação de troca, iniciava-se a estratégia para mantê-la. Nesta
segunda fase, a tarefa dos funcionários do Posto era a de introduzir o valor do
dinheiro. Tudo o que os índios inicialmente recebiam e davam como presente
passava a ser anotado em um caderno e colocado um valor estipulado pelo chefe
do Posto. Os produtos industrializados sempre valiam no mínimo duas vezes mais
do que os produtos indígenas.
A arma de fogo era um dos principais instrumentos para a criação do vínculo
com o Posto. A antropóloga Carmen Junqueira relata esta experiência entre os
Cinta-Larga, ocorrida na década de 1970:
As primeiras armas de fogo são emprestadas aos índios. Parte da caça que conseguem é necessariamente deixada para o Posto, acarretando uma melhoria da dieta dos funcionários que em outras circunstâncias devem se contentar com o arroz e feijão usual. A atração que a espingarda exerce sobre os caçadores é irresistível e em pouco tempo procuram obter a sua própria arma. Mesmo que tenham sucesso, não se rompe o vínculo com o Posto e tampouco o compromisso de ceder parte do produto das caçadas, pois dependem do fornecimento de munição (JUNQUEIRA, 1984, p. 1286).
Fase 3: Endividamento
Na terceira fase, o Posto Indígena funcionava como escola para ensinar o
português, técnicas de agricultura, pecuária, indústria e comércio, de acordo com a
vocação de cada região. Os funcionários do Posto obrigavam os índios a
trabalharem em atividades estabelecidas dentro do próprio Posto como pagamento
pelos produtos recebidos. Porém, como o trabalho indígena valia sempre menos do
que os produtos industrializados, os índios se endividavam constantemente. Parte
ou aldeias inteiras eram deslocadas para áreas próximas ao Posto, com a finalidade
de trabalharem por mais tempo para pagarem suas dívidas.
A atuação indigenista governamental mapeou e controlou as vidas dos povos
nativos retirando a sua autonomia. A maioria dos Postos Indígenas se transformou
em centros produtivos, rendendo lucros extraordinários a alguns de seus
funcionários e aos cofres públicos.

113
Ao final de 50 anos de atuação, o SPI estava envolvido em acusações de
corrupção administrativa, em escândalos de repercussão internacional. A melhor
forma que o Governo encontrou para eliminar as graves denúncias, sem solucionar
o problema, foi declarando a extinção do SPI, em 1966. No ano seguinte, surgiu a
Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
FUNAI – Fundação Nacional do Índio
Na Lei de Criação da FUNAI (Lei nº5.371/67), em seu Artigo 1º, fica exposto o
mesmo propósito do SPI de proporcionar a “aculturação espontânea do índio”,
promovendo sua evolução socioeconômica sem mudanças bruscas por intermédio
de uma “educação de base apropriada”, visando a sua progressiva integração na
sociedade nacional. Esta política deu continuidade à ruptura da vida autônoma dos
povos indígenas, gerando, em alguns casos, massacre e extermínio, e em outros a
miséria.
Em 1973, em plena ditadura militar, após várias denúncias internacionais
sobre maus tratos sofridos pelos índios no Brasil, foi criada a Lei nº. 6.001/73,
conhecida como Estatuto do Índio. Em vigor até hoje, reconhece a necessidade de
preservar as características culturais dos grupos étnicos e de promover o
“desenvolvimento” das comunidades indígenas, “no sentido de elevar o padrão de
vida do índio com a conveniente adaptação às técnicas modernas” (Artigo 53 do
Estatuto do Índio).
A terra indígena não é do índio
Em relação ao reconhecimento formal da terra, no Estatuto do Índio foi
reconhecida a posse e o usufruto permanente da terra, mas não foi dado o pleno
direito de sua propriedade.
A terra indígena é domínio da União e, mesmo no caso da aquisição por
compra, doação ou permuta, a terra continua sob o controle do Patrimônio Indígena
(Artigo 39 do Estatuto do Índio), gerenciado pela FUNAI (Fundação Nacional do
Índio).
O índio só tem o direito de administrar os seus próprios bens quando
demonstrar capacidade para o seu exercício (Artigo 42 do Estatuto do Índio). E ele

114
só pode ter plena propriedade da terra em caráter individual e quando somente se
for considerado integrado (Artigo 33, caput), ou seja, quando a propriedade deixar
de ser na prática uma terra indígena.
A diferença entre proteção e tutela
Em 1987, a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) criou o Departamento de
Índios Isolados. Finalmente foi estabelecida uma nova forma de relação com os
povos que não mantêm relação permanente com a sociedade brasileira: a missão
de demarcar os seus territórios sem realizar o contato46.
Ficou entendido que o reconhecimento oficial da existência de povos isolados,
não significaria tutela, mas a responsabilidade do Estado de protegê-los em sua
decisão de viver como desejassem. Cabendo ao Governo a função de reconhecer
os seus territórios e seus direitos humanos, individuais, coletivos e ambientais. Esta
foi a primeira demonstração de respeito do Estado brasileiro aos povos não
subordinados à tutela.
Em 2003, a FUNAI permanece com a finalidade de “preservação da
aculturação espontânea do índio, de forma a processar-se sua evolução sócio-
econômica, a salvo de mudanças bruscas” (Decreto nº 4.645/03, Estatuto da
FUNAI, Capítulo I, Art. 2º, II, d). Reforçando, portanto, os mesmos propósitos
indigenistas do início do século passado.
Somente em 2009, a FUNAI faz uma revisão de suas finalidades. Baseada na
Constituição Federal de 1988, o Decreto nº. 7.056/09 estabelece que a missão da
FUNAI é exercer, em nome da União, a proteção e a promoção dos direitos dos
povos indígenas.
Cabe à FUNAI garantir o cumprimento da política indigenista do Estado
brasileiro, baseada nos seguintes princípios (FUNAI, 2011):
a) garantia do reconhecimento da organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições dos povos indígenas;
b) respeito ao cidadão indígena, suas comunidades e organizações ;
46 A FUNAI contabiliza a existência de 63 povos sem contato com a sociedade brasileira (http://www.funai.gov.br/ Acesso em 14 mar. 2008).

115
c) garantia ao direito originário e à inalienabilidade e à indisponibilidade das
terras que tradicionalmente ocupam e ao usufruto exclusivo das riquezas nelas
existentes;
d) garantia aos povos indígenas isolados do pleno exercício de sua liberdade
e das suas atividades tradicionais sem a necessária obrigatoriedade de contatá-los;
e) garantia da proteção e conservação do meio ambiente nas terras indígenas;
f) garantia de promoção de direitos sociais, econômicos e culturais aos povos
indígenas;
g) garantia de participação dos povos indígenas e suas organizações em
instâncias do Estado que definem políticas públicas que lhes digam respeito;
h) e administrar os bens do patrimônio indígena, exceto aqueles bens cuja
gestão tenha sido atribuída aos indígenas ou suas comunidades.
A política de não interferência demonstra o amadurecimento alcançado pela
FUNAI ao longo de sua história, reconhecendo seus erros do passado quando
interferia autoritariamente na vida dos povos nativos.
Conclusão
As populações indígenas foram escravizadas tanto quanto as populações
vindas da África, no entanto, ainda vigora nos livros didáticos e no imaginário social
brasileiro a crença de que a mão-de-obra indígena foi integralmente substituída pela
força de trabalho africana.
A dificuldade da sociedade brasileira em aceitar a presença dos povos
indígenas é tão grande que até o reconhecimento da escravidão indígena é
negligenciado. “A mulher pega a laço” (frase popular) deixou de ser prova de
estupro e escravidão e passou a ser romance.
O governo português desenvolveu, desde o início da colonização, um aparato
jurídico-administrativo para escravizar as populações nativas. A prática da
escravidão em todo o período colonial causou o extermínio de centenas de povos e
a perda da identidade étnica por decreto legal de tantos outros.
O país independente não reconheceu a independência de seus povos. O
processo de construção da identidade nacional foi autoritário e não reconheceu a
pluralidade político-cultural dos povos nativos.

116
O Estado Nacional separou a política da cultura, destruiu a autonomia
sócioeconômica e transformou a identidade de cada povo em folclore nacional.
O Serviço de Proteção ao Índio atuou em todo o território brasileiro,
identificando povos indígenas até então desconhecidos pelo Estado. Introduziu o
valor do dinheiro e a dependência ao consumo de produtos industrializados -
sobretudo alimentos ricos em sacarose, armas de fogo, utensílios domésticos de
plástico e alumínio.
O interesse por conhecer novos instrumentos de trabalho, novos objetos de
arte e prazer, novos sabores e gostos em alimentos e bebidas, sempre fez parte
das relações interculturais estabelecidas durante a história da Humanidade. Os
objetos, presenteados aos índios, foram retribuídos com presentes igualmente
cobiçados pelos colonizadores (e mais tarde, funcionários públicos). Entretanto, não
se tratou de troca de presentes, como comumente se faz a quem se tem respeito.
Por trás deste gesto estava o projeto de dominação: o que era presente passou a
ser mercadoria.
As crianças, obrigadas a irem para a escola, aprenderam o valor do dinheiro e
absorveram novos desejos que somente o dinheiro seria capaz de realizar.
Enquanto isso, os adultos trabalhavam para pagarem a conta que faziam no posto
indígena, o centro administrativo do órgão tutor que funcionava (e em algumas
regiões ainda funciona) como o único posto comercial - subvalorizando os produtos
e trabalhos indígenas e supervalorizando os produtos industrializados. Deste modo,
os povos indígenas foram introduzidos no mercado consumidor de uma forma
particular: sem direito à escolha do que consumir. Esta prática se perpetua na
atualidade através das doações de cestas básicas: consomem os produtos
determinados pelos programas de assistência social públicos e privados.
O Estado existe para garantir a vida. Isto significa atenção e respeito às
especificidades culturais de cada povo e de cada pessoa. Diante de um Estado
omisso com a sua obrigação de proteção à vida (em todos os setores da
sociedade), os povos indígenas estão reféns das políticas assistencialistas. Eles
mesmos alimentam a relação de tutela que, em alguns casos, garante a
sobrevivência. Foram “pacificados”, ou seja, educados a aceitarem o mínimo.
Aprenderam a reconhecer a falta, a necessidade e a dependência como inevitáveis.
O maior indicativo de que a Lei 11.465/08 cumpriu a sua função social será no
dia em que poderemos passar a ler “a sigla FUNAI como Fundação das

117
Nacionalidades Indígenas, sugerindo a substituição deste Colonialismo interno por
uma Diplomacia interna” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1988, p. 48).
As principais ações da Diplomacia Interna são: o respeito ao direito nativo à
terra (o indigenato) e o impedimento da existência de usinas hidrelétrica e nuclear,
mineração, gado, latifúndio, queimada, extração de madeira e destruição das
nascentes em todas as áreas indígenas e regiões do seu entorno.
Referências Bibliográficas
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. 2000. O Tratado dos Viventes. Formação do Brasil
no Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1988. A crise do indigenismo. Campinas: Ed.
Unicamp.
CUNHA, Manuela Carneiro da. 1987. Os direitos do índio. Ensaios e documentos.
São Paulo: Editora Brasiliense.
____. 2002. Política indigenista no século XIX. In: ____. (org.). História dos índios
do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura:
FAPESP, p. 133-154.
DARELLA, Maria Dorothea P.; LITAIFF, Aldo. 2000. Os índios Guarani Mbya e o
Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. XXII Reunião Brasileira de Antropologia.
Fórum de Pesquisa 3: Conflitos Sociambientais e Unidades de Conservação.
Brasília.
FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Disponível em: http://www.funai.gov.br/.
Acesso em 05.04.11.
GRAU, Eros. 2008. Memorial da Comunidade Indígena Pataxó Hã Hã Hãe. Ação
Cível Originária n° 312. Relator: Ministro Eros Grau. Declaração de nulidade de
títulos imobiliários incidentes na Terra Indígena Pataxó Hã Hã Hãe. Em pauta para
julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Agendado para o dia
24/09/2008. Disponível em:
http://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1222078250_Memorial_Com_Pataxo_HHH_
ACO_312_STF.pdf . Acesso em: 05.04.11
JUNQUEIRA, Carmen. 1984. "Sociedade e cultura: os Cinta-larga e o exercício do
poder do Estado". Ciência e Cultura, São Paulo, v. 39, n. 8, p.1284-1287.

118
LIMA, Antonio Carlos de S. 1995. Um grande cerco de paz: poder tutelar,
indianidade e formação do Estado no Brasil. Petrópolis: Editora Vozes.
MAGALHÃES, Edvard Dias (org.) 2005. Legislação Indigenista Brasileira e normas
correlatas. Brasília: FUNAI/CGDOC.
MAURO, Frédéric. 1989. Portugal, o Brasil e o Atlântico (1570 - 1670). Lisboa:
Imprensa Universitária e Editorial Estampa.
MONTEIRO, John Manuel. 2002. Os Guarani e a história do Brasil meridional:
séculos XVI-XVII. In: CUNHA, Manuela Carneiro (org.) História dos índios do Brasil.
2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP,
p. 475-498.
MOTTA, Márcia Maria Menendes. 1998. Nas fronteiras do poder. Conflito e direito à
terra no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Vício de Leitura: Arquivo Público da
Cidade do Rio de Janeiro.
NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987. Mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju. Rio de
Janeiro: IBGE.
OLIVEIRA, Marcia Gomes de. 2003. Capítulo 3. A política do Estado relativa aos
povos indígenas. In: Terra, fome e cidadania indígena. Estudo de caso Guarany
Mbya. Dissertação (Mestrado em Sociologia e Direito) - Programa de Pós
Graduação em Sociologia e Direito, Universidade Federal Fluminense.
SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. 1993. Espaços ambientais protegidos e
unidades de conservação. Curitiba: Universitária Champagnat.

119
“A sala de aula é o último lugar onde ocorrerão mudanças”. A lei 11.465: suas implicações teóricas e
práticas na recente produção acadêmica.
Luiz Fernandes de Oliveira47
A frase que compõe o título deste texto foi expressa por uma professora de
língua portuguesa num seminário sobre a Lei 10.639 promovido por uma secretaria
de educação de um município do interior do estado do Rio de Janeiro.
Na ocasião, estavam presentes diversos docentes, principalmente da área
de história, e se debatia as grandes dificuldades de implementação da referida lei
nos espaços escolares e na sala de aula. Essas dificuldades se referiam desde a
falta de material didático sobre a história da África e dos negros no Brasil, o racismo
presente entre crianças e jovens, certa dificuldade dos docentes em discutir um
tema gerador de “muitos conflitos”, a falta de apoio pedagógico dos sistemas de
ensino, até a defasagem na formação de professores sobre a problemática das
relações raciais e educação.
Após tantas “evidências” levantadas no grupo sobre os desafios e as
dificuldades de ter esta lei cumprida nas escolas, a professora declarou que “a sala
de aula é o último lugar onde ocorrerão mudanças”.
Para alguns estudiosos da questão, presentes no seminário, esta frase
pareceu sintomática naquilo que percebemos atualmente nas discussões sobre a
implementação da Lei 10.639 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de
história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo do ensino básico48, ou
seja, as implicações curriculares e pedagógicas suscitadas pela nova legislação vão
percorrer um longo caminho até chegar efetivamente nas salas de aula.
A professora não fez uma declaração em tom pessimista, mas tentando
demonstrar que a superação e o combate ao racismo que esta lei apresenta
implícita e explicitamente, estão mobilizando questões muito além de uma
especificidade temática no campo educacional brasileiro.
47 Doutor em Educação pela PUC – Rio, Mestre em Sociologia pela UERJ e Especialista em História da África e do Negro no Brasil pela UCAM. Professor Adjunto do Instituto de Educação da UFRRJ. 48 Em 10 de março de 2008, foi sancionada a Lei 11.465/08 que substitui a Lei 10.639. Esta nova lei acrescenta apenas a inclusão do ensino da história e cultura dos povos indígenas. Portanto, a partir desse momento do texto, faremos referência a nova Lei que substitui a 10.639/03.

120
De fato, analisando os estudos e pesquisas acadêmicas desde a instituição
desse dispositivo legal – em 2003 - até o presente momento, podemos observar
que as diversas considerações teóricas e práticas perpassam questões como:
identidade negra, democracia racial, diferenças, igualdade, identidade, cultura,
multiculturalismo, livros didáticos, movimento negro, políticas de ações afirmativas,
formação docente, interculturalidade, exclusão, evasão escolar, repetência,
formação docente e outros.
O objetivo deste texto é sintetizar algumas discussões que vêm se
desenvolvendo em pesquisas e reflexões acadêmicas sobre a questão da
implementação da Lei 11.465 nos sistemas de ensino, no currículo e nas escolas
brasileiras, e identificar alguns limites dessas discussões a luz da complexidade e
tensões que se apresentam entre um dispositivo legal - que estabelece a
obrigatoriedade de certos conteúdos históricos e culturais - e as práticas e visões
pedagógicas e curriculares tradicionais que têm fortes inserções nas escolas e nas
salas de aula.
As razões que motivam a reflexão das tensões e complexidade desta
relação são, em primeiro lugar, as recentes produções acadêmicas desde o ano de
2003 sobre a Lei 11.465 que, mas do que tentar formular propostas pedagógicas
para implementação da lei, ainda não estão dialogando com experiências concretas
e bem sucedidas no que diz respeito a real inserção das propostas declaradas na
lei e, em segundo lugar, na necessidade de contextualizar as dificuldades dessas
mesmas produções que se apresentam concomitantemente as iniciativas oficiais de
implementação da lei. Ou seja, parece que de um lado há um esforço muito positivo
de propor iniciativas de reflexão teórica, e por outro, uma dificuldade significativa de
interpretar a real dimensão teórica e prática que esta lei mobiliza na perspectiva de
incluir temas, conteúdos e novos paradigmas teóricos, nada comuns no campo das
práticas pedagógicas e curriculares.
As pesquisas e reflexões acadêmicas que nos referenciamos para nossa
análise se encontram em algumas publicações significativas na literatura
educacional brasileira, a saber, os textos de: Nilma Lino Gomes, Educação,
identidade negra e formação de professores/as: um olhar sobre o corpo negro e o
cabelo crespo da revista Educação e Pesquisa; Anderson Ribeiro Oliva, A História
da África nos bancos escolares. Representações e imprecisões na literatura didática
da revista Estudos Afro-Asiáticos; Fúlvia Rosemberg, Chirley Bazilli e Paulo Vinícius

121
Baptista Silva, Racismo em livros didáticos brasileiros e seu combate: uma revisão
da literatura da revista Educação e Pesquisa; Ana Lúcia Valente, Ação afirmativa,
relações raciais e educação básica da Revista Brasileira de Educação; José
Ricardo Oriá Fernandes, Ensino de história e diversidade cultural: desafios e
possibilidades do Caderno Cedes; o texto do Núcleo de currículo do CEAFRO e da
Secretaria Municipal de Educação de Vitória-ES, A Educação Anti-Racista; Luciane
Ribeiro Dias Gonçalves e Angela Fátima Soligo, Educação das relações étnico-
raciais: o desafio da formação docente, apresentado na 29ª Reunião da ANPED no
Grupo de trabalho Afro-brasileiros e Educação e o texto de Maria Cristina Rosa, Os
professores de arte e a inclusão: o caso da lei 10639/2003, apresentado também na
29ª Reunião da ANPED no mesmo Grupo de Trabalho.
As categorias de análise, os acordos quanto à importância da lei e os temas
abordados.
A maioria dos textos que iremos analisar possui algumas categorias de
análises em comum como: identidade negra, representações, igualdade e
diferença, diversidade cultural, educação multicultural e multiculturalismo, currículo e
racismo. Algumas dessas categorias são bastantes presentes em outras temáticas
abordadas no campo educacional, mas aqui, elas se inserem nas reflexões que os
autores realizam acerca da Lei 11.465 e das relações étnico-raciais e educação.
Entretanto, há um acordo sobre duas questões que são focos de reflexão de
quase todos os autores: a questão da formação docente necessária para a
implementação da Lei 11.465 nas escolas e nos currículos do Ensino Básico e
sobre a importância social da escola no combate ao racismo estrutural brasileiro.
Cabe ressaltar também, que grande parte dos autores considera que a
discussão sobre educação e relações raciais no Brasil não deriva somente da
produção acadêmica, mas principalmente de um histórico de lutas do movimento
negro, principalmente a partir do final da década de 1970, que propiciaram o
surgimento não somente da referida lei, mas de uma série de legislações, como a
LDB, alguns artigos da constituição que reforçam uma identidade pluricultural da
nação brasileira e alguns dispositivos legais que intimidam atitudes,
comportamentos e publicações racistas e discriminatórias no campo educacional
contra afrodescendentes e minorias étnicas.

122
No texto de Gomes (2003) Educação, identidade negra e formação de
professores/as: um olhar sobre o corpo negro e o cabelo crespo, publicado quatro
meses após a Lei 11.465 ter sido sancionada, propõe-se uma reflexão sobre as
particularidades e possíveis relações entre educação, cultura, identidade negra e
formação docente.
Através de relatos e experiências sobre o corpo e o cabelo de pessoas
negras que freqüentam salões étnicos em Belo Horizonte, a pesquisadora
apresenta a questão da estética negra como elemento que está sempre presente
na vida escolar. A partir desses relatos, questionam-se as razões destes aspectos
não serem ainda discutidos nas escolas e na própria formação docente. Por outro
lado, vincula a questão da identidade negra com a formação docente, ou seja, de
que esta discussão deveria ser um dos aspectos da formação profissional dos
professores.
Suas afirmações se baseiam nos diversos relatos de pessoas negras que
descrevem o lugar que seus professores ocupavam em suas experiências
escolares, por exemplo, na afirmação positiva de uma identidade negra ou no
reforço dos estereótipos e da discriminação racial no espaço escolar e nas
interações pedagógicas em sala de aula.
Afirma ainda, que no aspecto da identidade negra, o corpo e o cabelo crespo
são dimensões bastante presente na memória escolar dos freqüentadores de
salões étnicos. Neste sentido, faz uma crítica as práticas docentes que não
percebem que o fracasso, a timidez e os conflitos, revelam tensões raciais no
espaço escolar e interferem na auto-estima de estudantes negros.
Nesta pesquisa, a autora aponta possibilidades, através da estética negra,
da escola e dos professores criarem situações positivas de aprendizagem a partir
da própria diferença negra, sendo os salões étnicos um possível aliado nesta tarefa
educativa.
Nesta perspectiva, a autora identifica a importância da lei 11.465, ou seja,
um dispositivo legal que pode contribuir para que escolas e professores possam
construir estratégias didáticas junto com outros espaços não escolares,
possibilitando inclusive, enfrentar os desafios da formação docente, já que a lei
inclui um novo olhar sobre a diferença e a identidade étnica, ausente por longos
anos na formação profissional dos docentes.

123
Os dois textos seguintes, de Oliva (2003) e de Rosemberg, Bazilli e Silva
(2003), tratam de uma temática semelhante: os livros didáticos e a questão racial no
Brasil. O primeiro, com o foco na questão da história da África, e o segundo, sobre a
presença do discurso racista em livros didáticos.
O texto de Anderson Ribeiro Oliva, A História da África nos bancos
escolares. Representações e imprecisões na literatura didática, que foi publicado no
segundo semestre de 2003, apresenta a discussão sobre as representações sobre
a África e os africanos em alguns livros didáticos, como reflexos de uma ampla
historiografia construída pelo ocidente.
O autor inicia a discussão com a constatação de que a lei 11.465 gerou uma
inquietação e muitas dúvidas, principalmente sobre o que pensamos e sabemos
sobre a África e os africanos, e mais, que a lei, apesar de ser justa, chegou
tardiamente e encontrará muitas dificuldades para implementação, por haver na
maioria dos livros didáticos de história, um caráter eurocêntrico. Além disso, falta
uma formação histórica dos professores no trato com a História da África, não
estereotipada e não permeada de visões de senso comum, expressos na questão
da AIDS, da fome, da violência, dos safáris ou dos animais exóticos.
Nas analises que o autor desenvolve sobre as representações da África e
dos africanos nos poucos livros didáticos que tratam do assunto, percebe-se que
esta discussão perpassa as grandes tendências historiográficas defendidas por
longos anos. O texto se divide em três partes, a primeira, numa breve descrição do
déficit na formação acadêmica dos historiadores e professores sobre a história da
África, a segunda, sobre as leituras históricas sobre a África produzidas no ocidente,
e a terceira, na análise de um específico livro didático que trata do assunto.
Na primeira parte, o autor considera que a formação dos historiadores e dos
professores de história se caracteriza, em relação à África e os africanos, na
perspectiva de um olhar que silencia, desconhece e é marcado por uma visão
eurocêntrica. Esta caracterização, segundo o autor, está na contramão daquela
perspectiva que entende a Africa e os africanos como campo de pensamento
humano e que, como outras partes do mundo, nos explicam e estão muito próximos
da história do Brasil.
Na segunda parte, se descreve as diversas visões que o ocidente forjou
sobre o continente africano, baseado em primeiro lugar na inferioridade dos povos
fora da Europa, que vem desde a antiguidade greco-romana até o início do século

124
XIX, em segundo lugar, pelo silêncio e pelas teorias racialistas construídas em
meados do século XIX até os anos pós-segunda guerra mundial, em terceiro, por
novas visões que ressaltam a importância do continente, no período dos processos
de independência nacional de diversos países africanos, e por último, a partir do
final da década de 1970, por uma nova escola de historiadores africanos. Com
exceção desses dois últimos períodos, todas as outras representações sobre a
África e os africanos, ainda são muito fortes entre historiadores, e que destorcem,
estigmatizam e simplificam os processos e dinâmicas históricas do continente.
Na última parte do texto, o autor vai tecer algumas considerações sobre o
livro de Mario Schimidt, Nova História Crítica. Neste, é avaliado um conjunto de
imagens e contradições no texto, nos quais, apesar do aspecto positivo e pioneiro
da proposta didática, se encontra ainda permeado por noções, conceitos e
anacronismos históricos que não representa, segundo o autor, alguns processos
históricos vividos pelos povos africanos.
Apesar da presença hegemônica, nos textos de história, do silenciamento,
do desconhecimento e do eurocentrismo sobre a África e os africanos, e de um
certo avanço de algumas poucas publicações, o autor considera que a Lei 11.465
contribui para uma redefinição das representações sobre a África, mas pensa que
vai demorar um pouco para que a referida lei responda com desenvoltura a questão
do que sabemos sobre a África e os africanos, pois existem ainda muitas lacunas e
silêncios sobre o tema.
Já o texto de Rosemberg, Bazilli e Silva (2003), publicado cinco meses após
a lei 11.465, faz um visita a produção acadêmica sobre o discurso racista nos livros
didáticos produzidos nos último 50 anos no Brasil. Os autores procuram revisar a
produção sobre livros didáticos e racismo e dividem o texto em duas partes: uma
análise da produção que enunciam o racismo nos livros e outra sobre aqueles livros
que o combatem. Ao final, mapeiam as ações do movimento negro e dos órgãos
oficiais no combate ao racismo neste âmbito.
Apesar de identificarem uma produção acadêmica desde a década de 1950
sobre o racismo e os livros didáticos, o texto considera que há uma produção
reduzida e incipiente além de uma desvalorização acadêmica sobre a temática. A
evidência disto é descrita quando se constata que, na revisão de dados de
produção da ANPED de 1981 a 1998, de 114 títulos sobre o tema do livro didático,
somente quatro são relacionados à questão do racismo.

125
A principal categoria de análise do texto é o “discurso racista”. As razões da
opção por esta “expressão” resultam da consideração de que o racismo se
caracteriza pela sua dimensão ideológica e simbólica. Ou seja, são entendidos
como processos ideológicos e simbólicos que estruturam as relações sociais
brasileiras.
Neste sentido, os autores identificam que o discurso racista ainda é muito
presente nos livros didáticos de história e língua portuguesa e que o foco de analise
das produções acadêmicas se concentram nos textos e nas imagens. Além disso,
no contexto das questões de relações raciais no Brasil, quando ainda é forte o mito
da democracia racial, o texto identifica três momentos de pesquisa sobre o tema: a
busca do preconceito nos livros didáticos, o desvelamento dos preconceitos nos
livros e uma análise mais apurada e a preocupação de que o livro visa também
preferencialmente o público branco.
Outra questão constatada, é uma certa contradição curiosa entre a pouca
reflexão acadêmica sobre o tema e um certo alarde em torno das ações oficiais e do
movimento negro que se desenvolvem atualmente. Para os autores, essas ações,
referentes às discussões e polêmicas sobre o Programa Nacional do Livro Didático
– PNLD -, ainda não suscitaram sistematizações teóricas sobre a questão do
racismo nos livros didáticos. Caracteriza ainda que as discussões estejam
permeadas por um anti-racismo diferencialista, advindo da agenda aberta pelo
Movimento Negro Unificado desde 1979. Entretanto, consideram que há uma
grande base objetiva para o crescimento desta discussão devido as ações
permanentes do movimento social negro, da constituição brasileira e do resultado
das discussões da III Conferência Mundial da ONU sobre racismo realizada em
2001, na Cidade de Durban – África do Sul.
Por fim, o texto identifica no PNLD, um espaço importante para o avanço
desta questão. Mas constata que, entre os livros avaliados pelo PNLD e menos
recomendáveis, são, numa pesquisa levantada pelo próprio MEC, aqueles mais
escolhidos pelos docentes.
A partir da Lei 11.465, os autores consideram também que está se abrindo
um espaço de discussão e muitos avanços, não restritos somente ao
questionamento de expressões grotescas de racismo nos livros didáticos, mas
sobre aspectos mais profundos e desafiadores. Entretanto, levam em conta, ao
mesmo tempo, os riscos que se tem em termos de aplicação real da lei, diante de

126
uma formação docente precária e de uma possível “enxurrada” de produção de
livros didáticos sem nenhum compromisso com questões históricas e teóricas.
Outros três textos que analisamos, referem-se as questões de ações
afirmativas na educação básica, a diversidade étnica na educação e a educação
anti-racista como política pública nacional específica.
O primeiro é de autoria de Ana Lúcia Valente, Ação afirmativa, relações
raciais e educação básica, publicado em outubro de 200449. O texto discorre sobre
a constatação, em diversos estudos, da grave situação das crianças negras no
ensino fundamental, da necessidade de políticas de ações afirmativas neste nível
de ensino para reverter situações de discriminação racial e de considerações sobre
a formação docente.
Com base em estudos sobre as questões raciais na educação básica, a
autora levanta as reflexões sobre os rituais pedagógicos que reforçam as
discriminações dentro do espaço escolar, mas também sobre o papel dos livros
didáticos e dos docentes neste processo.
Entretanto, o destaque maior, é a consideração de que há uma necessidade
de iniciativas pedagógicas que estabeleçam novas relações de socialização anti-
discriminatórias, evidenciando ao mesmo tempo o envolvimento de professores e
comunidade escolar.
Segundo a autora, não é possível pensar em novas metodologias, sem levar
em consideração, aquilo que ela denomina de “impasse pedagógico”, ou seja, uma
intervenção positiva da escola nas questões raciais diante de práticas e noções
racistas entranhadas e não combatidas por longos anos de socialização de crianças
e jovens.
O exemplo disto está na discussão que a autora apresenta sobre as
possíveis metodologias que podem ser aplicadas nas escolas no trato pedagógico
da questão, como palestras e utilização de novos recursos didáticos. Segundo a
autora, essas possibilidades são bem factíveis, entretanto, é necessário uma
profunda reflexão sobre as noções de igualdade e diferença.
Segundo a autora, a escola deveria assumir a mediação do reconhecimento
positivo da diferença, mas reconhece que é uma proposta teórica que exige ser
49 Cabe lembrar que em julho de 2004, a Lei 10.639 é regulamentada pelo Conselho Nacional de Educação, instituindo as Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação das relações Étnico-raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.

127
experimentada, já que, em algumas práticas pedagógicas a questão da diferença se
esbarra com o princípio da igualdade tão cara a cultura escolar.
Descrevendo algumas iniciativas de professores que obtiveram fracassos e
sucessos, o texto destaca a questão do efeito professor, ou seja, um elemento
substancial na condução de ações pedagógicas que podem, ou não, construir
situações de aprendizagem positivas em relação ao combate ao racismo na
educação básica.
Na parte final do texto, a autora vai propor algumas reflexões a respeito da
formação docente, retornando a questão da igualdade e da diferença. Segundo a
autora, para enfrentar os desafios da formação docente, faz-se necessário superar
a dicotomia entre uma suposta questão social desvencilhada da questão racial no
Brasil. Pois, na sua opinião, a questão social no Brasil só pode ser compreendida
corretamente a luz do contexto racial brasileiro, pois trata-se de articular valores
universais com as especificidades étnico-culturais.
Para a autora, a formação docente, para o enfrentamento da questão racial
na educação, não se resolve com capacitações de “finais de semana”, pois a
formação, principalmente a partir da Lei 11.465, precisa repensar as políticas sobre
a “capilaridade” nas relações pedagógicas e uma mudança de olhar sobre o
racismo nos espaços escolares. Para a autora, é necessário pensar a formação
docente no contexto da problemática da formação em geral, superar o dualismo
entre prática e teoria e politizar o debate, já que esta questão envolve relações de
poder e conflitos históricos nas relações sociais brasileiras.
Especialmente na formação de professores em geral, a autora nos afirma
que falar em superação do senso comum racial brasileiro, é fazer um “acerto de
contas” com a formação docente recebida ao longo de toda uma trajetória
acadêmica e profissional.
O texto seguinte é de José Ricardo Oriá Fernandes50, Ensino de história e
diversidade cultural: desafios e possibilidades. O tema do texto traz a discussão
sobre diversidade cultural e ensino de história, afirmando que a Lei 11.465 contribui
para os debates sobre o tema e possibilita uma ruptura com o modelo eurocêntrico
no ensino de história e para uma educação multicultural.
50 Destacamos que este autor acompanhou todo o processo de aprovação da Lei 10.639 no Congresso Nacional, pois era, na época, um dos consultores legislativo da Câmara dos Deputados na área de educação e Cultura.

128
O texto faz uma crítica ao modelo dominante de ensino de história, que
apesar de tentar apagar outras culturas, ainda não conseguiu silenciar a presença
da alteridade. Por outro lado, afirma que as escolas e os livros didáticos seguem o
esmo rumo, considerando que especialmente os currículos, contribuem para a
evasão escolar e a repetência de negros e mais pobres.
Para o autor, as escolas não sabem lidar com a diversidade cultural, e as
razões disto, se expressam em conteúdos eurocêntricos e um corpo docente que
não tem atitudes positivas diante de milhares de crianças negras e brancas.
Inventariando diversos dados estatísticos da desigualdade racial produzidas
no país e as ações do movimento negro nos últimos anos, o autor considera
importante o surgimento da Lei 11.465 pelo papel que a escola pode cumprir na
formação de atitudes e valores essenciais a formação cidadã.
Por outro lado, esta lei não se constitui enquanto um parâmetro normativo
isolado, mas se insere ao lado de outros como a LDB, o Programa Nacional dos
Direitos Humanos e o reconhecimento oficial do 20 de novembro com data histórica,
não só dos afrodescentes, mas de toda a nação brasileira.
O autor ainda considera que a Lei 11.465 representa a possibilidade de
construção do multiculturalismo crítico nas escolas brasileiras, se referenciando na
perspectiva descrita por Gadotti (1992), ou seja, “a diversidade cultural é a riqueza
da humanidade. Para cumprir sua tarefa humanista, a escola precisa mostrar aos
alunos que existem outras culturas além da sua.” Entretanto, o autor, assim como
outros, identifica um “gargalo” para tal proposta: a formação docente.
Apesar de identificar este gargalo, o autor se limita a propor soluções para a
má formação docente na perspectiva de realização de cursos de extensão e
produção de novos materiais didáticos, considerando, mesmo assim, que há um
longo caminho para que as escolas se transformem num instrumento de afirmação
de uma identidade pluricultural nacional.
O texto produzido pelo Núcleo de currículo do CEAFRO e da Secretaria
Municipal de Educação de Vitória-ES, A Educação Anti-Racista, se constitui
enquanto produção coletiva a partir de uma experiência de política pública na
questão racial em educação no município de Vitória – ES, produzido no ano de
2006.

129
No início do texto, a Lei 11.465 é caracterizada como política pública que
trata as desigualdades raciais como questão nacional específica e como política de
reparação.
Em seguida, cita uma série de iniciativas legislativas do estado e do
município de Vitória, apesar de constatar que as propostas formuladas não se
constituem em tarefas fáceis de serem aplicadas, pois se trata de pensar questões
complexas como currículo, diferença e identidades.
Após a citação de leis estaduais e municipais, o texto faz uma breve
descrição das pesquisas acadêmicas que apontam pistas e evidências sobre a
discriminação racial nas escolas e confirmam a extrema exclusão racial no processo
de escolarização.
Em seguida problematiza o que considera como armadilhas perigosas, as
discussões em torno do multiculturalismo e da diversidade étnica, ou seja, muitas
dessas questões, se não forem aprofundadas, podem levar a uma mera celebração
das diferenças e da tolerância, sem problematizar as relações de poder
historicamente construídas no Brasil.
O texto faz uma aposta numa educação intercultural e anti-racista, onde a
questão da identidade e da diferença sejam discutidas e entendidas no contexto das
relações de poder dentro e fora da escola. Entretanto, mais uma vez, surge uma
contradição: na experiência de tentativa de aplicação da Lei 11.465, se constata,
por exemplo, nas escolas de Vitória, a contradição entre uma concepção de
educação anti-racista imaginada e o vivido por alunos e professores, ou seja, entre
uma aposta e a realidade do racismo e discriminações praticadas, existe uma
distancia a ser superada. O texto por fim, aponta somente proposições teóricas,
considerando que as ações afirmativas devem se constituir enquanto proposição de
justiça social, por meio de uma pedagogia interétnica.
Os dois últimos textos vão fazer uma reflexão explícita sobre a formação
docente no contexto da Lei 11.465 e foram produzidos para serem apresentados na
29ª Reunião da ANPED no Grupo de trabalho Afro-brasileiros e Educação em 2006.
O primeiro texto é de Luciane Ribeiro Dias Gonçalves e Angela Fátima
Soligo, Educação das relações étnico-raciais: o desafio da formação docente. As
autoras iniciam a discussão constatando o crescente número de publicações e
estudos sobre a discriminação racial e educação. Porém, constata também que a

130
situação dos negros desde o início do século XX pouco mudou, principalmente na
área de educação.
Diante deste quadro, o texto acredita na “suma importância da formação
docente” como elemento para mudança desta situação, destacando o papel da Lei
11.465 neste aspecto. Entretanto, do ponto de vista das reflexões teóricas, as
autoras situam um dado relevante: o surgimento nas legislações educacionais
brasileiras do conceito de diferença. Apesar disto, afirmam que, no caso da lei
11.465, esta questão ainda é incipiente e não provoca inserções significativas no
âmbito do espaço escolar.
As autoras identificam na herança da escravidão e nos materiais didáticos,
as causas dessas ausências e pouca inserção, por outro lado, apostam numa
possível solução, sintetizada nos aspectos de revisão dos currículos, dos materiais
didáticos e, principalmente, num investimento na formação de professores.
As autoras defendem a idéia de que por longos anos, os educadores tiveram
suas formações profissionais permeadas por concepções homogeneizadoras,
eurocêntricas e de orientação masculina e cristã. Neste sentido, caracterizam a
formação docente como prioritária para a construção de mudanças em direção ao
reconhecimento da diversidade nas práticas educativas. Aqui, se constata que as
autoras vinculam uma política formativa de reconhecimento da diversidade como
capacidade de transformação.
Alguns aspectos destas questões são aprofundados pelas autoras, com: a
valorização da cultura européia e as imagens da África, mas no texto se fazem mais
perguntas do que apresentação de respostas.
No aspecto da formação docente, elas destacam que este processo de
mudança não se efetiva de forma linear e determinista, pois constatam que há
necessidade de um processo de “reapropriação e reinvenção do conhecimento”.
Mas, se questionam como isto é possível na perspectiva de criar situações de
aprendizagem ou “ações criadoras”.
Por fim, destacam que apesar da questão da diferença estar ganhando força
nas pesquisas educacionais, ainda assim, identificam a existência de tensões entre
igualdade e diferença, na medida em que estas noções são vistas como
contrapostas.
O outro texto que analisa a questão da formação docente é de Maria Cristina
Rosa, Os professores de arte e a inclusão: o caso da lei 10639/2003. A intenção

131
deste é problematizar uma investigação realizada com professores de artes
plásticas da cidade de Florianópolis. A discussão teórica enfatiza a formação de
professores nesta área de conhecimento.
A partir do referencial teórico do multiculturalismo crítico de Peter MacLaren
(1999), o texto é dividido em três partes: os aspectos teóricos, o estudo de caso
sobre os professores de artes e a Lei 11.465 e propostas de diretrizes para a
formação de professores de artes em sintonia com a referida lei.
O objetivo do texto é sintetizar fundamentos para uma educação multicultural
crítica no ensino de arte. Mas, o aspecto interessante da proposta da autora, é a
interpretação de que a Lei 11.465 e as Diretrizes Curriculares que regulamentam a
obrigatoriedade do ensino de história e culturas da África e dos negros no Brasil,
contextualizam os conceitos que ela vai utilizar no texto, ou seja, diversidade
cultural, currículo, racismo, etnicidade e raça.
No campo das artes, a autora afirma que o maior problema no
enfrentamento destas questões é o enfoque eurocêntrico encontrado na produção
sobre história da arte, e uma visão dominante que identifica a arte africana como
exótica ou folclorizada.
Entretanto, ressalta que o ensino de arte tem um grande potencial para a
compreensão das diferenças, baseado nos fundamentos críticos do
multiculturalismo, na perspectiva de autores como MacLaren (1999), Gomes e Silva
(2002) e Hall (2003).
Em seguida expõe sua pesquisa com quinze professores de arte na cidade
de Florianópolis. Relata que sua intenção inicial era de identificar os professores e
suas aproximações com a Lei 11.465. Entretanto, ao longo das entrevistas,
constatou que esta aproximação não existia, ou seja, muitos desses docentes, ou
não conheciam a lei, ou tinham visões estereotipada sobre discussão étnico-racial
no campo das artes plásticas.
Neste sentido, a pesquisadora reorienta sua investigação na perspectiva da
pesquisa-ação. Ou seja, parte da premissa de que primeiro fazia-se necessário
identificar o nível de interação dos professores com a lei para, em seguida, propor
uma articulação entre a sua investigação e a pretensão de preparar uma formação
continuada docente para o enfrentamento dos desafios de implementação da lei
11.465.

132
A partir de então, o texto descreve algumas questões encontradas nas
entrevistas como: a percepção dos professores com uma visão estereotipada do
escravo, a falta de material didático, a fragilidade da formação docente que impedia
os professores darem conta de uma discussão profunda sobre o tema e a presença
numericamente pequena de crianças negras nas escolas de Florianópolis, como
argumento de que esta discussão não caberia nas escolas.
Com esses dados em mãos, a pesquisadora pretende construir bases
teóricas e práticas para o desafio da especificidade de formação dos professores de
arte, que ela denomina de diretrizes para aplicação da Lei 11.465.
Estes novos rumos para sua pesquisa são justificados pela constatação do
afastamento dos professores da lei, expresso em desinformação e declarações de
que esses não se sentiam aptos. Portanto, tendo em vista também a dificuldades
teóricas destes professores, já que a matriz teórica dominante nas artes é
referenciada no eurocentrismo, procura-se fundamentar uma formação docente
estreitamente vinculada com o diálogo interdisciplinar, com a antropologia e a
educação inclusiva, além das questões que envolvem as tendências que discutem
a prática reflexiva dos professores.
Por fim, discute a possibilidade de uma formação docente diferenciada
baseando-se no fato de que, atualmente, existe uma nova realidade docente diante
da diversidade de sujeitos que se apresentam no interior das escolas, e que,
portanto, justifica a necessidade do redimensionamento do olhar, uma mudança de
linguagem, a reflexão da prática, uma ação interdisciplinar e a construção de um
perfil docente vinculado à pesquisa no espaço escolar. Na especificidade dos
professores de artes, a autora corrobora esta perspectiva, acrescentando, que
estes, na vivência da própria arte, podem construir poderosas ferramentas
simbólicas para a educação do olhar para a diferença.
As contribuições, os limites e as implicações teóricas e práticas no campo
educacional diante da Lei 11.465.
Fazendo um passeio por estes textos, podemos perceber que o simples fato
de termos uma legislação que estabelece uma obrigatoriedade de um conteúdo
pedagógico nos sistemas de ensino, principalmente um tipo de conteúdo que inclui

133
uma perspectiva nada tradicional como a questão da diversidade étnica, não é
suficiente para uma serena aplicação.
Por ser uma legislação que aborda uma temática altamente controversa – as
relações étnico-raciais no Brasil -, no campo educacional, ela vem mobilizando
questões que se referem à desconstrução de noções e concepções apreendidas
durante os anos de formação dos professores e vão enfrentar preconceitos raciais
muito além dos muros escolares.
Não é por menos que a maioria dos autores destaca alguns pilares de
enfrentamento para a possibilidade, - e não a garantia – de aplicação efetiva da lei
11.465 como: a aliança de professores e escolas com outros espaços educativos
para uma afirmação positiva da diferença, o enfrentamento teórico contra visões
eurocêntricas arraigadas no senso comum, o combate à fortaleza do discurso
racista hegemônico na sociedade brasileira, a superação de um quase inevitável
impasse pedagógico que as escolas e os professores enfrentam, mesmo com
práticas pedagógicas anti-racistas, e a constatação que até uma reinvenção do
conhecimento humano se faz necessário.
Diante deste trabalho de Sísifo, a pequena contribuição que podemos dar
neste texto, é uma reflexão crítica sobre estas louváveis produções acadêmicas
descritas acima. Pois, mesmo identificando a relevância das diversas contribuições,
poderíamos acrescentar outras, na perspectiva de um aprofundamento e avanço
das tentativas de teorizações e analises de uma legislação, recém saída do forno,
mas que tem uma longa história de lutas no movimento negro, e que por sua vez,
de certa forma, não se constitui como mais um modismo acadêmico, mas pode
abalar as reflexões tradicionais no campo da educação, principalmente, no campo
da formação docente e da produção do conhecimento.
Afirmamos no início deste texto que nosso objetivo, através da sintetização
das questões acima descritas, era identificar alguns limites das discussões a luz da
complexidade e tensões que se apresentam entre um dispositivo legal e as práticas
e visões pedagógicas e curriculares tradicionais que têm fortes inserções nas
escolas e nas salas de aula.
O que nos move, após a leitura dessas reflexões, é que essas se
apresentam num contexto ainda incerto de implementação da lei 11.465. Como
observamos, não existem ainda experiências concretas e bem sucedidas no que diz
respeito a real inserção das propostas declaradas na lei. Os textos parecem realizar

134
um esforço muito positivo de propor iniciativas de reflexão teórica, entretanto, nota-
se, da parte de alguns autores, a dificuldade de interpretar a real dimensão teórica e
prática que esta lei mobiliza na perspectiva de incluir temas, conteúdos e novos
paradigmas teóricos, nada comuns no campo das práticas pedagógicas e
curriculares. Porém, não queremos desmerecer as iniciativas, pois, entendemos
que a formulação de novos enfoques teóricos e práticos, principalmente diante de
um dispositivo legal ainda em vias de aplicação, requer certos cuidados analíticos
para não se incorrer em visões apaixonadas e conclusões apressadas.
Afirmávamos inicialmente que um dos pontos em comum nos textos
apresentados é a questão da formação docente diante da Lei 11.465. Em todos os
textos há uma preocupação quanto às tarefas e iniciativas que devem ser
concretizadas para a aplicação da lei. Entretanto, alguns autores abordam aspectos
específicos tentando constatar desafios, tensões e impasses.
Na questão dos livros didáticos, nos chama atenção o artigo de Rosemberg,
Bazilli e Silva (2003), quando destacam que professores, na pesquisa de Ana Célia
Silva (2001), não percebem indícios de discriminação racial nos livros didáticos. Por
outro lado, os autores consideram “curioso”, as escolhas dos professores daqueles
livros menos recomendados pelo MEC no quesito preconceito.
Uma outra constatação dos autores são as dificuldades dos professores
perceberem os “discursos racistas” no âmbito escolar e nos livros didáticos.
Entretanto, sem analisar mais aprofundadamente, até porque não era um ponto de
reflexão, os autores apontam pistas importantes quando descrevem que os
professores escolhem mais, aqueles livros menos recomendados no quesito
preconceito. Esta constatação pode demonstrar, por exemplo, que a escolha de um
certo livro e não de outro, possui fortes correlações com a formação docente. Esta é
uma dimensão pouco estudada.
Nos textos de Fernandes (2005) e Valente (2004), há um acordo e um
desacordo. Por um lado, Valente, após delimitar bem a questão da diversidade
étnica na formação docente, afirma que esta não se realiza com “capacitações nos
finais de semana”, e que se faz necessário, pensar na capilaridade das relações de
aprendizagem na sala de aula, promover uma mudança de olhar sobre o racismo
nos espaços escolares e fazer um “acerto de contas” com a formação docente
anteriormente recebida.

135
Fernandes (2005), por sua vez, tem a mesma preocupação, afirmando que,
para a Lei 11.465 não “virar letra morta”, é necessário enfrentar o “gargalo” da
formação docente, com cursos de extensão e o incentivo a criação de novos
materiais didáticos. O autor não aprofunda mais sobre o que seria este “gargalo”,
mas limita-se a propor soluções ainda mais genéricas do que esta expressão
utilizada.
Ao contrário deste autor, Valente (2004) vai mais fundo quando fala na
“capilaridade” das relações de aprendizagem, “mudança de olhar” e um “acerto de
contas” com a formação docente inicialmente recebida pelos professores.
Entretanto, na tentativa de formular uma proposta, a autora peca pela abstração e
ingenuidade, pois sugere, dentre outras coisas, uma espécie de troca, ou seja, os
governos investiriam na formação dos professores, e estes, se comprometeriam a
aderir aos programas oficiais, dentre eles, a aplicação da Lei 11.465. O que
realmente significaria isto? Será que o próprio Estado já teria resolvido a questão
das políticas de reconhecimento das diferenças sem contrapô-las as políticas de
igualdade, como a autora já criticara em parágrafos anteriores?
Ainda sobre a formação docente, por outro lado, nos textos apresentados
para a 29ª Reunião da ANPED, de Gonçalves e Soligo (2006) e Rosa (2006),
percebe-se que existe uma abstração em excesso e a possibilidade de perda da
capacidade analítica do atual momento de implementação da Lei 11.465.
Gonçalves e Soligo (2006) pecam pelo excesso de abstração quando
caracterizam a formação docente como prioritária para a realização de mudanças
na perspectiva do reconhecimento da diversidade e da diferença.
Apesar de situar muito bem o que está em jogo nas discussões sobre a lei
11.465, ou seja, as tensões entre igualdade e diferença e o papel político da lei em
pautar a diversidade no campo educacional, a autora levanta somente perguntas:
“Como lidar com a diversidade cultural em sala de aula?” “É possível escapar de um
modelo monocultural de ensino?” “Poderão professores incluir a eqüidade de
oportunidades educacionais entre seus objetivos?” “Como socializar, através do
currículo e de procedimentos de ensino, para atuar em uma sociedade
multicultural?”
Ao final, suas respostas são ainda mais genéricas: “novas metodologias”,
“reformulação dos currículos”, “criar oportunidades de sucesso escolar”, etc. Ou
seja, uma reflexão abstrata que pouco responde a uma de suas próprias questões:

136
intervir na formação docente na perspectiva de “reapropriação e reinvenção do
conhecimento”.
Mas, é no texto de Rosa (2006) que surge um aspecto sobre a formação
docente que muito nos preocupa: a possibilidade da perda de capacidade analítica
e sua substituição por uma ansiedade política de intervenção.
Na perspectiva de analisar a formação dos professores de artes plásticas e
suas aproximações com a Lei 11.465, a autora logo constata uma distancia
avassaladora, ou seja, os professores por ela entrevistados, não conhecem a lei,
reconhecem a má formação, têm visões estereotipadas sobre a escravidão e os
afrodescendentes no Brasil e ainda consideram que a pouca presença de negros
nas escolas de Florianópolis, servem como argumento para problematizar a
proposta de inclusão étnico-racial nos currículos.
Com base nos referenciais do multiculturalismo crítico, a autora opera uma
conclusão que nos parece bastante perigosa do ponto de vista analítico e político:
após constatar a distancia entre a formação docente desses professores de arte e a
Lei, ela procura apontar diretrizes tendo em vista a formação crítica reflexiva desses
mesmos professores. Para tentar cumprir seus objetivos, a autora se utiliza da
metodologia da pesquisa-ação.
A pesquisa ação é bem definida como uma operação em que
“pesquisar é uma atividade que corresponde a um desejo de produzir saber, conhecimentos (...) Conhecer não é descobrir algo que existe de uma determinada forma em um determinado lugar do real. Conhecer é descrever, nomear, relatar, desde uma posição que é temporal, espacial e hierárquica” (Costa, 2001 p. 248.) E ainda
“Esta perspectiva se insere numa concepção de pesquisa participativa capaz de produzir saberes com alguma chance de se chegar a uma proposta educacional alternativa, que postulem currículos centrados nas várias tradições culturais dos docentes investigados. Possibilitando inclusive, a perspectiva de mudanças curriculares concretas” (Thiollent, 2004).
Ou seja, a pesquisa da autora se propõe, ao mesmo tempo, contribuir para
construção de novos saberes no campo da formação docente e ser peça relevante
nas transformações do campo de investigação.
Nada mais interessante do que uma pesquisa-ação que se proponha, além de
investigar e analisar um objeto dado, criar soluções a certas contradições
verificadas pelo pesquisador e pela própria pesquisa. Entretanto, no caso da autora,
para uma pesquisa que pretende investigar a formação docente inicial, as

137
impressões teóricas sobre novos dispositivos legais e as perspectivas pensadas e
elaboradas para a aplicação de um dispositivo de legislação educacional que
envolve muitas tensões e desafios, a pesquisa-ação pode limitar um olhar mais
apurado, já que o pesquisador tem uma intenção clara de modificar a constituição
do real. Portanto, mesmo que ela venha a servir de suporte para os próprios sujeitos
envolvidos, o olhar, a análise e as inferências, serão realizadas somente pelo
pesquisador.
Neste sentido, o que nos preocupa em suas intenções é a perda da
capacidade analítica das próprias dinâmicas que poderão possibilitar uma
mudança. Afinal, seria somente uma pesquisa acadêmica que poderia contribuir
para uma aproximação dos professores de arte em direção a Lei 11.465? Não
existem outros fatores que também podem contribuir para esta aproximação? Será
que é somente uma pesquisa-ação que tem a capacidade ou o fôlego de mudar
paradigmas e matrizes teóricas dominantes no ensino de artes?
Estes questionamentos nos remetem àquilo que consideramos o grande
desafio para a implementação da lei 11.465, ou seja, a questão que perpassa a
maioria dos textos analisados acima e que diz respeito à presença das reflexões e
embates teóricos sobre a diferença e as concepções eurocêntricas.
Nos textos, identificamos algumas reflexões neste sentido, como por
exemplo, quando Gomes (2003) afirma que professores e escolas constroem
situações de aprendizagem para produzir identidades positivas a partir da própria
diferença. O que ocorre realmente nesta ocasião? Ou, no texto de Oliva (2003), o
que significa romper, em termos teóricos e pedagógicos, com o silenciamento, a
inferioridade e o eurocentrismo nas representações sobre a África e os africanos?
Na mesma perspectiva, por que, segundo Rosa (2006), também nas artes é
necessário enfrentar o eurocentrismo?
Num outro aspecto, segundo Rosemberg, Bazilli e Silva (2003), em alguns
momentos, “a crítica ao racismo produzido e sustentado pelos livros didáticos
suscitou intensa reação de defesa, especialmente quando a representação criticada
era da lavra de notáveis no panteão da literatura infanto-juvenil brasileira”. Ou seja,
sua descrição é no sentido de que havia uma reação poderosa de autores
eminentes, que certamente representam vozes de uma visão de mundo
reconhecida, inclusive, mundialmente. Por que esta dificuldade?

138
No mesmo texto, as autoras se preocupam com a possibilidade de uma
enxurrada produção de livros didáticos sem nenhum compromisso com questões
teóricas e históricas.
Numa perspectiva diferente, mas que pode nos remeter a um mesmo ponto,
é o fato de Valente (2004) ressaltar que a implementação da lei necessita repensar
profundamente a “capilaridade” das relações de aprendizagem. Questão que nos
parece semelhante quando o texto do CEAFRO manifesta a contradição entre uma
proposta anti-racista na educação – o imaginado – e as condições objetivas de
sociabilidade que crianças negras e brancas são submetidas sob a ótica das
discriminações raciais - o vivido -, que é denominado por Valente (2004), de
“impasse pedagógico”. Na constatação dessas contradições, o texto do CEAFRO
se questiona como é difícil formular novas propostas para uma pedagogia
interétnica.
Por fim, Gonçalves e Soligo (2006) formulam a idéia que toca no cerne de
nossas indagações: é necessário uma “reapropriação e reinvenção do
conhecimento”.
Na perspectiva de contribuir para um debate teórico e pedagógico para
implementação da Lei 11.465, consideramos que estas questões que os autores
levantam como eurocentrismo, impasse pedagógico e o enfrentamento do racismo
na capilaridade dos processos de aprendizagem, há a necessidade de um
redimensionamento do olhar que envolve dois aspectos.
O primeiro aspecto envolve um processo de redimensionamento de certos
paradigmas amplamente consolidados no conhecimento histórico. Esse processo,
no nosso entendimento, requer aquilo que a estudiosa Catherine Walsh, do
Programa de Doutorado em Estudos Culturais Latino Americanos da Universidade
Andina Simon Bolívar, no Equador, defende: um projeto voltado para o
repensamento crítico e transdisciplinar, caracterizando-se também, como força
política para se contrapor as tendências acadêmicas dominantes de perspectiva
eurocêntrica de construção de conhecimento.
Para Walsh (2005), faz-se necessário a construção de um paradigma distinto
do pensamento crítico, que é denominado “um pensamento outro” ou “de outro
modo”, e que tem como propósito, não a simples descolonização, mas também a
decolonialidade, que implica partir da desumanização e considerar as lutas dos
povos historicamente subalternizados pela existência, para a construção de outros

139
modos de viver, de poder e de saber. Portanto, decolonialidade é visibilizar as lutas
contra a colonialidade a partir das pessoas, das suas práticas sociais, epistémicas e
políticas.
A questão central é a coexistência de diferentes epistémes ou formas de
produção de conhecimento entre intelectuais, tanto na academia, quanto nos
movimentos sociais, colocando a questão da geopolítica do conhecimento. Aqui,
entende-se geopolítica do conhecimento como a estratégia modular da
modernidade. Esta estratégia, de um lado, afirmou suas teorias, seus
conhecimentos e seus paradigmas, como verdades universais e, de outro,
invisibilizou e silenciou os sujeitos que produzem “outros” conhecimentos. Foi este o
processo que constituiu a modernidade, cuja raiz se encontra na colonialidade.
Implícita nesta idéia está o fato de que a colonialidade é constituída pela
modernidade, e esta, não pode ser entendida sem tomar em conta os nexos com a
herança colonial e as diferenças étnicas que o poder moderno/colonial produziu.
Daí surge a perspectiva de introduzir epistémes invisibilizadas e
sublternizadas, fazendo a crítica ao mesmo tempo da colonialidade do poder, ou
seja, a utilização da raça como critério fundamental para a divisão dos povos em
níveis, lugares e papéis sociais e com uma ligação estrutural à divisão do trabalho.
Colonialidade do saber é outra noção utilizada. Ou seja, uma noção entendida
como a repressão de outras formas de produção do conhecimento e legitimadora
da perspectiva eurocêntrica.
A colonialidade do poder e do saber são conceitos centrais dentro do projeto
voltado para o repensamento crítico e transdisciplinar.
Outro conceito central é a diferença colonial, ou seja, pensar a partir das
ruínas, das experiências e das margens criadas pela colonialidade do poder na
estruturação do mundo moderno/colonial, como forma não de restituir
conhecimento, mas de fazê-los intervir em um novo horizonte epistemológico
transmoderno e pós-ocidental. Este, por sua vez, tem uma utilidade estratégica e
política.
A perspectiva da diferença colonial requer um olhar sobre enfoques
epistemológicos e sobre as subjetividades subalternizadas e excluídas. É o
interesse por outras produções de conhecimento distintos da modernidade
ocidental. Diferentemente da pós-modernidade, que segue pensando a partir do
ocidente moderno, a construção de um pensamento crítico alternativo, parte das

140
experiências e histórias marcadas pela colonialidade. O eixo que se busca é a
conexão de formas críticas de pensamento na América Latina, na África, assim
como de outros lugares do mundo, enfim, a decolonialidade da existência, do
conhecimento e do poder. Walsh cita também outros conceitos como: “pensamento
- outro” e “pensamento crítico de fronteira”.
“Pensamento - outro” parte do princípio da possibilidade do pensamento a
partir da decolonização, ou seja, a luta contra a não existência, a existência
dominada e a desumanização. É uma perspectiva semelhante ao conceito de
“colonialidade do ser”, ou seja, uma categoria que serve como força para questionar
a negação histórica dos afrodescendentes e indígenas, por exemplo.
O “posicionamento crítico de fronteira” é um processo onde o fim não é uma
sociedade ideal, como abstrato universal, mas o questionamento e a transformação
da colonialidade do poder, do saber e do ser, sempre consciente de que estas
relações de poder não desaparecem, mas que podem ser reconstruídas ou
transformadas de outra forma.
O pensamento de fronteira significa fazer visível outras lógicas e formas de
pensar, diferente da lógica eurocêntrica e dominante. O pensamento de fronteira se
preocupa com o pensamento dominante, mantendo-o como referência, mas
sujeitando-o ao constante questionamento e infectando-o com outras histórias e
modos de pensar. Walsh considera esta perspectiva como componente de um
projeto intercultural e decolonizador, permitindo uma nova relação entre
conhecimento útil e necessário na luta pela descolonização epistémica.
Por fim, este (re) pensamento crítico, que pode se constituir desde a
colonialidade incluindo os novos movimentos sociais e a intelectualidade, tem
também como idéia, criar novas comunidades interpretativas e que ajude a ver o
mundo de outra forma.
Nesta perspectiva, concordamos com Walsh e, o que se evidencia para
estudiosos, historiadores e professores, é um redimensionamento epistemológico
de suas formações teóricas, na medida em que, novas “epistémes” se insurgem
teimosamente no cenário acadêmico, principalmente a partir da mobilização forjada
com o surgimento da obrigatoriedade do ensino de história da África nos currículos
do ensino básico.

141
Entretanto, para tal finalidade, faz-se necessário pensar num segundo
aspecto, ou seja, uma nova perspectiva pedagógica e didática, através de uma
política de formação continuada docente.
Percebemos nos textos algumas tensões didáticas e pedagógicas, nos quais
é possível inferir que os autores conhecem de perto os problemas advindos da
presença das questões raciais no processo de ensino-aprendizagem. Essas
problemáticas levam a percepção de que há questões além da aplicação normativa
da Lei 11.465, ou seja, as concepções subjetivas docentes em relação às questões
raciais no Brasil que mobilizam uma reflexão sobre o elemento conflitual inter-racial
e que se estabelece quando este se evidencia nos espaços educacionais.
Boaventura de Souza Santos no texto, Para uma pedagogia do conflito
(1996), defende a idéia de uma educação que parta da conflitualidade dos
conhecimentos, ou seja, um projeto educativo conflitual e emancipatório, onde o
conflito sirva, antes de tudo, para vulnerabilizar os “modelos epistemológicos
dominantes”.
Boaventura fundamenta esta posição política e epistemológica,
argumentando que em tempos de globalização, da sociedade do consumo e da
informação, a burguesia internacional tem na tese do fim da história, seu referencial
epistemológico de celebração do presente e da idéia da repetição, que permite ao
presente se alastrar ao passado e ao futuro, canibalizando-os. Com a derrota do
“socialismo” e a consolidação da vitória da burguesia, para o autor, o espaço do
presente como repetição foi se ampliando e, “hoje a burguesia sente que sua vitória
histórica está consumada e ao vencedor consumado não interessa senão a
repetição do presente. Daí a teoria do fim da história” (Santos, 1996:16).
O autor afirma ainda que essa mesma teoria “contribuiu para trivializar,
banalizar os conflitos e o sofrimento humano de que é feita a repetição do presente”
(Santos, 1996:16). Este sofrimento, por sua vez, é mediatizado pela sociedade de
informação, se transformando “numa telenovela interminável em que as cenas dos
próximos capítulos são sempre diferentes e sempre iguais às cenas dos capítulos
anteriores” (Santos, 1996:16). E mais: “Essa trivialização traduz-se na morte do
espanto e da indignação. E esta, na morte do inconformismo e da rebeldia” (Santos,
1996:16).
Quando examinamos as contradições pedagógicas e formativas de docentes,
que os autores traduzem em seus textos, percebemos concepções e saberes

142
práticos que aceitam o que existe de relações raciais no Brasil, que não percebem a
trivialização de sofrimentos, mobilizados por brincadeiras e constantes posturas
omissas e discriminatórias e que olham posturas, gestos e concepções
preconceituosas como fatalidades humanas.
Boaventura nos permite perceber estas questões de conflitualidades étnico-
raciais dentro das escolas como elementos históricos mais amplos, que devem ser
evitados, pois, tratar-se-iam de questões “retrogradas”, já que na concepção do
pensamento social hegemônico, o passado, os sofrimentos humanos, as injustiças,
as opressões, o racismo, são vistos como elementos que devem ser evitados e que
seriam superáveis num futuro próximo e radioso, ou seja, um futuro como sinônimo
de progresso.
Entretanto, Boaventura nos informa outro aspecto dessa discussão, ou seja,
atualmente as energias do futuro parecem desvanecer-se, pelo menos enquanto o
futuro continuar “a ser pensado nos termos em que foi pensado pela modernidade
ocidental, ou seja, o futuro como progresso” (Santos, 1996:16). Ele nos diz, que os
vencidos da história “descrêem hoje do progresso porque foi em nome dele que
viram degradar-se as suas condições de vida e as suas perspectivas de libertação”
(Santos, 1996:16).
Neste sentido, consubstanciado pelo mito da democracia racial, parece ser
esclarecedor o entendimento de concepções docentes que evitam a manifestação
da conflitualidade que surge ou possa surgir quando da discussão em sala de aula
sobre relações étnico-raciais no Brasil. Evita-se falar com os alunos sobre racismo
no Brasil, procura-se de antemão afirmar que os conflitos raciais no Brasil não
existem, e quando se manifestam, são localizados, individualizados ou fazem parte
do repertório de outras pessoas que são preconceituosas.
Parece que a perspectiva inicial de argumentação seria prevenir um conflito
latente e evitar a revelação das discriminações no espaço escolar. Neste sentido, a
professora que afirmou que “a sala de aula é o último lugar onde ocorrerão
mudanças”, está nos informando que nos debates sobre conflitos raciais, os
aspectos conflituais se revelam fortemente, mas o enfoque epistemológico,
expresso na evitabilidade do conflito, se transforma numa perspectiva de dúvida e
incapacidade teórica e prática de enfrentar a conflitualidade iminente nas
discussões étnico-raciais e educação.

143
Estas questões, parecem mesmo revelar o que Boaventura (1996) diz sobre a
morte da indignação, do espanto, a trivialização das conseqüências perversas da
sutilidade das discriminações raciais no Brasil.
O autor nos convida a reflexão sobre a necessidade de uma pedagogia e uma
didática que promovam a conflitualidade dos conhecimentos, ou seja, questionando
a idéia do fim da história, afirma a possibilidade de uma outra teoria da história, que
devolva ao passado “sua capacidade de revelação”, isto é, um passado reanimador
que, através de “imagens desestabilizadoras” e da conflitualidade, nos faça
potencializar e recuperar nossa capacidade de espanto e indignação perante o
“apartheid global” e os sofrimentos humanos.
Este é o projeto educativo emancipatório enunciado pelo autor. Ou seja,
produzir imagens desestabilizadoras a partir de um passado concebido não como
fatalidade, mas como produto da iniciativa humana. Para o autor, a sala de aula
teria que se transformar em campo de possibilidades de conhecimentos dentro do
qual há que optar. Ele esclarece melhor está formulação afirmando:
“As opções não assentam exclusivamente em idéias, já que as idéias deixaram de ser desestabilizadoras no nosso tempo. Assentam igualmente em emoções, sentimentos e paixões que conferem aos conteúdos curriculares sentidos inesgotáveis.” (Santos, 1996:18)
Ou seja, através de imagens desestabilizadoras, se tece a esperança e se
alimenta o inconformismo e a indignação, mas sem renunciar a proposição de
estabelecer a conflitualidade de conhecimentos, isto é, professores e alunos
discutindo duas ou mais concepções de mundo, suas diferenças e semelhanças e
suas possibilidades de experimentação social.
Portanto, numa nova proposta pedagógica e didática, faz-se necessário um
debate permanente entre os docentes, pois, num projeto educativo conflitual, que
faz do conflito de conhecimentos um modelo pedagógico, ou como diz Boaventura,
uma “pedagogia das ausências” que possibilite a imaginação de modelos
curriculares que nunca existiram, os professores deveriam exercitar novas
sociabilidades étnico-raciais e novas posturas nas suas subjetividades.
As questões étnico-raciais que a Lei 11.465 suscita na educação, geram
desafios e tensões na dimensão cognitiva e subjetiva dos docentes e nos espaços
escolares. Por outro lado, a lei não é de fácil aplicação, pois trata de questões
curriculares que são conflituais, desconsiderados como relevantes ou questionam e
desconstroem saberes históricos considerados como verdades inabaláveis. A

144
questão curricular se desdobra também na necessidade de uma nova política
educacional de formação inicial e continuada, para reverter positivamente às novas
gerações, uma nova interpretação da história e uma nova abordagem da
construção de saberes.
Por fim, a aprendizagem que podemos tirar dessas visitas aos textos
acadêmicos, é a necessidade de mobilizar constante e cotidianamente essas
discussões, desconstruir paradigmas e enfrentar inevitáveis conflitos na sala de aula
para articular e promover uma perspectiva intercultural, baseada em negociações
culturais, favorecendo um projeto comum, onde as diferenças sejam patrimônios
comuns da humanidade.
Referências bibliográficas:
COSTA, M. V. “A pesquisa-ação na sala de aula e o processo de significação”. In:
SILVA, L. H. da. A escola cidadã no contexto da globalização. Petrópolis: Vozes,
2001, p. 239-256.
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DAS
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA. Brasília: MEC, 2005.
FERNANDES, J. R. O. “Ensino de história e diversidade cultural: desafios e
possibilidades”. In: Cadernos Cedes, Campinas, vol. 25, n. 67, p. 378-388, set./dez.
2005.
FORDE, G. H. A, VENERANO, I. M. e NEVES, Y. P. “A Educação Anti-Racista”. In:
http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/educacao/diretriz_pdfs/texto_ceafro.pdf
acessado em 2006. Equipe elaboradora: Núcleo de currículo – CEAFRO –
SEME/PMV 2005.
GOMES, N. L. “Educação, identidade negra e formação de professores/as: um olhar
sobre o corpo negro e o cabelo crespo”. In: Educação e Pesquisa, São Paulo, v.29,
n.1, p. 167-182, jan./jun. 2003.
GOMES, N. L. e SILVA, P. B. G. (Orgs.). Experiências étnico-culturais para a
formação de professores. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
GONÇALVES, L. R. D. e SOLIGO, A. F. “Educação das relações étnico-raciais: o
desafio da formação docente”. In: 29ª Reunião da ANPED, GT: Afro-brasileiros e
Educação/ n. 21. 2006.

145
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
McLAREN, P. Multiculturalismo Crítico. São Paulo: Cortez, 1999.
OLIVA, A. R. “A História da África nos bancos escolares. Representações e
imprecisões na literatura didática”. In: Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro: Ano
25, n. 3, 2003, pp. 421-461.
OLIVEIRA, I. B. de. Boaventura e a Educação. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2006.
ROSA, M. C. “Os professores de arte e a inclusão: o caso da lei 10639/2003”. In:
29ª Reunião da ANPED 2006, GT: Afro-brasileiros e Educação/ n. 21. 2006.
ROSEMBERG, F, BAZILLI, C. e SILVA, P. V. B. da. “Racismo em livros didáticos
brasileiros e seu combate: uma revisão da literatura”. In: Educação e Pesquisa, São
Paulo: v.29, n.1, p. 125-146, jan./jun. 2003.
SANTOS, B. de S. “Para uma pedagogia do conflito”. In: SILVA, L. H. et. al. Novos
mapas culturais, novas perspectivas educacionais. Porto Alegre: Sulina, 1996.
____. A gramática do Tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez
Editora, 2006.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2004.
VALENTE, A. L. “Ação afirmativa, relações raciais e educação básica”. In: Revista
Brasileira de Educação. Rio de Janeiro: Jan /Fev /Mar /Abr 2005 n. 28
WALSH, C. (org.) Pensamiento crítico y matriz (de)colonial: reflexiones
latinoamericanas. Quito: Universidad Andina Simon Bolivar. Ed. Abya-Yala, 2005.

146
A união pelo traço: caminhos de leitura para a poesia de João Maimona
Otavio Henrique Meloni51
Ao lermos a obra de João Maimona, percebemos um amadurecimento natural,
desde sua primeira publicação Trajectória Obliterada (1985) até seu livro mais
recente O sentido do regresso e a alma do barco (2007). Porém, para nosso
propósito acadêmico, fez-se necessário encontrar um recorte específico, para uma
obra composta, até agora por dez livros52 de poemas. Nesse sentido, tomamos
como ponto de partida para nossas reflexões o livro de 1987, Traço de união. Nele
percebemos um Maimona preocupado com o contexto social angolano e com as
mazelas que sobre ele – e ainda sobre a própria natureza em si – recaem e que
tanto são heranças da já finda guerra de libertação nacional quanto, e
principalmente, da guerra civil, então em pleno desenvolvimento.
O poeta reconfigura, nos textos, a situação social e política de seu país,
recriando-a em um universo poético que recebe os estilhaços de um real fracionado
pela violência e pela pobreza, e que é transformado em fraturas textuais e
temáticas, para além de se desenhar na própria depuração da linguagem. Para
Dufrenne, “o poetizável, com efeito, é o que, num mundo poético, pela virtude da
linguagem poética, se presta a ser ilimitado”(DUFRENNE, op. cit, p.94). Assim o
mundo poético de João Maimona se constrói sobre os alicerces de uma linguagem
em constante ebulição de sentidos. Ela é pensada e utilizada como instrumento
tradutor de uma realidade paradoxal de ruínas e esperanças, o que torna a escrita
poética ilimitada, como adverte Dufrenne.
É em Traço de união que João Maimona esboça temáticas e questões que o
vão acompanhar em todo seu trajeto literário, seja quanto à força representativa de
imagens constantemente reiteradas ou quanto à reconfiguração de toda a
paisagem da escrita. São essas imagens reiteradas os verdadeiros núcleos
51 Professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e Doutorando em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense (UFF). 52 A obra poética de João Maimona é composta por um grupo de dez livros, sendo eles: Trajectória Obliterada (1985); Lês Roses perdues de Cunene (1985); Traço de União (1987); As abelhas do dia (1988); Quando se ouvir o sino das sementes (1993); Idade das palavras (1997); No útero da noite (2001); Festa de Monarquia (2001): Lugar e origem da beleza (2003); e O sentido do regresso e a alma do barco (2007).

147
semânticos de sua poética. Podemos assinalar, como exemplos iniciais, imagens
como a do “caminho”, da “sombra”, das “aves” e do “sonho”. Tais representações
serão fundamentais para que possamos entrar no “mundo poético” de Maimona,
pois é através desses pontos de força que o angolano apresentará sua poesia.
Também nesse livro de 1987 encontramos os traços mais significativos de um João
Maimona leitor e de sua experiência literária como tal. Destacamos, nessa leitura, a
constante referência ao brasileiro Carlos Drummond de Andrade, assim como a
exploração do social imbricada ao estético, o que nos remete ao angolano
Agostinho Neto.
O livro reserva algumas surpresas ao leitor que acompanha os poemas por
uma ordenação em números romanos e se surpreende ao encontrar, em um índice
localizado na última página do volume, seus respectivos títulos – o que, certamente,
demanda a necessidade de uma nova leitura. A organização efetuada por Maimona
deixa clara sua intenção de dar seqüência à recepção dos poemas sem subordiná-
los uns aos outros ou provocar as interrupções da leitura do todo pela inserção dos
títulos. Assim, o poeta abdica da nomeação direta dos textos como forma de
interligar ou promover um traço de união – pelo que tais textos dizem e pelo diálogo
que produzem entre si. O próprio título do livro já nos mostra que Maimona busca
um momento poético de conciliação entre o homem e o mundo; a palavra e os
sentidos e entre o real e o possível. Traço de união pode, portanto, possibilitar
várias interpretações como, por exemplo, a união através e pela escrita, a união do
povo angolano que vive um momento de guerra civil, e/ou a união literária de suas
grandes referências com a geração atual.
Eleger Traço de união como mote para nossas reflexões sobre a escrita de
João Maimona é assinalar que seu universo poético se encontra em constante
formação e que, através do olhar do poeta, se traduz a realidade por meio de
campos paradoxais, formados pela constatação de uma realidade em ruínas –
físicas, geográficas, psicológicas e morais – e pela possibilidade de mudança do
quadro por ele vivido, naquele momento. Sobre isso, o próprio escritor nos fala em
entrevista concedida a Aguinaldo Cristóvão:
O testemunho da degradação ou de ruína reencontra seu lugar na linguagem do olhar. As outras linguagens (a dos valores, da acção, do espírito e do desejo) dispõem de imagens para tonificar a démarche susceptível de debelar o estado de degradação e de ruína. (MAIMONA, 2007, 91)

148
A resposta de Maimona atende à pergunta feita pelo entrevistador sobre um
ensaio da pesquisadora brasileira Maria Nazareth Fonseca53 acerca de sua obra,
vista por ela como espaço de ruína, assinalando a impotência da poesia perante a
realidade angolana. Cito a ensaísta:
Já no primeiro livro Maimona deixa transparecer sua visão sobre a impotência da
poesia diante da realidade angolana em ruínas. Seus versos constroem um perfil do
poeta, do artista da palavra, como aquele que se vale da literatura para expressar
um modo particular de refletir sobre o mundo em que vive. (FONSECA, 2000,
p158).
Mesmo considerando válida a análise da pesquisadora, Maimona revela, em
sua resposta, que vê o mesmo livro como “um conjunto de sinais de esperança”, o
que se reforça – inclusive no ensaio de Maria Nazareth Fonseca – na percepção de
que o poema se faz um espaço em constante transformação. Essa teia de sentidos,
palavra e realidade, transforma o espaço poético deste angolano, dele fazendo um
verdadeiro campo de batalha de significados no qual não lemos o todo e, sim, o
cada.
Iniciando nossas reflexões sobre Traço de união, percebemos que na obra já
se evidencia a força que o poeta confere à palavra dentro de seu universo de
criação. Nesse sentido, vale convocar a voz de Octavio Paz, que nos ensina:
Mal o homem adquiriu consciência de si, separou-se do mundo natural e construiu outro no interior de si mesmo. A palavra não é idêntica à realidade que nomeia porque entre o homem e as coisas – e, mais profundamente, entre o homem e seu ser – se interpõe a consciência de si mesmo. A palavra é uma ponte através da qual o homem tenta superar a distância que o separa da realidade exterior. (PAZ, op. cit, p.43) A relação homem/palavra/mundo talvez seja o grande cerne de todo e
qualquer grande poeta. Porém, o que salta aos olhos na escrita de Maimona é
como articula esses três elementos para criar um espaço fraturado e ao mesmo
tempo conciliador. Dizemos conciliador, pois o trabalho com a linguagem em
Maimona pretende restaurar uma ordem que possa equilibrar as tensões e
desenganos do homem no mundo, através de uma tênue, mas indelével esperança.
Neste contexto, a linguagem poética e, nela, a força atribuída à palavra assumem
papel central, pois é a partir delas que o poeta pode e vai estruturar seu “mundo
poético”, ainda dizendo com Dufrenne. Já agora, pensando com Paz, podemos
53 O ensaio em questão é: “João Maimona: uma poética em desassossego” In: África & Brasil: letras em laços. Rio de janeiro, ed. Atlântica, 2000, pp.157 – 174.

149
afirmar que a construção desse mundo paralelo ao “mundo natural” surge e se
realiza a partir dos anseios do individuo que o recria. As palavras, então, constituem
uma ligação entre os dois mundos: o natural e o criado pelo poeta. Surgem, desse
modo, os campos semânticos e os locais de força pelos quais ganham densidade
as imagens recorrentes dos poemas e sua forte carga de sentido. Vejamos o
poema I:
Hei-de perder o meu sonho nos sonhos da sombra
onde as lágrimas d’árvore espreitam a minha pele
Hei-de juntar o meu passo aos passos do mar
que apenas inspira os aromas da dor e do frio da memória
Hei-de desenhar o meu perfil nos perfis do céu
onde sou a folha do mundo que o mundo prometeu par’árvore da sombra.
(MAIMONA, 1987, p.11)
Notamos, neste texto, alguns indícios que já apontam para os principais
campos semânticos da poesia de Maimona, como “os passos”, que representam a
forte metáfora do caminho e da trajetória a serem seguidos; e a sombra que
assume – na relação feita por ele entre dia/noite, luz/sombra – importante papel na
constituição da paisagem da escrita. O poema nos mostra, ainda, um jogo entre
singular e plural que já aponta para um sujeito poético dividido entre o pessoal e o
coletivo, entre o seu ser íntimo e a realidade social. No campo do social,
percebemos, soterrado no texto acima, o poema “Havemos de voltar” de Agostinho
Neto e explicamos o porquê. Eis o poema de Neto:
Às casas, às nossas lavras às praias, aos nossos campos
havemos de voltar Às nossas terras
vermelhas do café brancas do algodão verdes dos milheirais havemos de voltar
Às nossas minas de diamantes ouro, cobre, de petróleo
havemos de voltar Aos nossos rios, nossos lagos
às montanhas, às florestas

150
havemos de voltar À frescura da mulemba
às nossas tradições aos ritmos e às fogueiras
havemos de voltar À marimba e ao quissange
ao nosso carnaval havemos de voltar Havemos de voltar à Angola libertada
Angola independente. (NETO, 1976, p128)
O título do poema serve de guia para as estrofes em que se expressa o
desejo de retornar para Angola e, principalmente, para um momento de felicidade.
No texto do líder do MPLA (Movimento Pela Libertação de Angola) e do futuro
presidente da Angola liberta, ainda percebemos uma idéia temporal muito
interessante, pois notamos um encontro de tempos na deliberação do sujeito de
regressar a algo que ainda não havia acontecido. Em sua última estrofe, Agostinho
Neto diz: “havemos de voltar / à Angola libertada / Angola independente”(NETO,
1972, p.128). Neto promove, assim, um encontro entre o presente da escrita, o
passado da memória e o futuro representado no desejo de liberdade, tudo isso dito
por uma voz plural, mas de que o sujeito nunca se exclui, pois que nunca abdica de
sua condição de ser “aquele por quem se espera”54. Já no poema I, que abre Traço
de União e no índice é chamado de “O que há-de ser meu”, Maimona cria uma
estrutura estrófica toda composta por dísticos, nos quais reveza a visão intimista do
sujeito poético com a sua vivência em um ambiente coletivo. Dessa maneira, as
intenções do sujeito acabam por se integrar às imagens plurais que cria. Por isso o
seu “sonho” se perde nos ‘sonhos da sombra”, de uma sombra na qual “lágrimas
espreitam a pele”. No segundo bloco de dísticos o movimento é parecido, porém, no
terceiro, o plural vai sendo abolido até restar somente o sujeito em sua unidade:
“onde sou a folha do mundo / que o mundo prometeu par’árvore da sombra”. Nesse
momento Maimona se aproxima mais uma vez das palavras de Agostinho Neto em
“Adeus à hora da largada”, quando se anuncia como a “folha do mundo que o
mundo prometeu par’árvore da sombra”. Aqui, o poeta de Traço de união se coloca
como metonímia do mundo, isto é, do coletivo que se constrói durante todo o
poema. Com isso, o sujeito poético assume sua responsabilidade perante a
54 O verso em questão faz parte do poema “Adeus à hora da largada”, primeiro texto do livro Sagrada Esperança, de 1975.

151
comunidade em que se insere, dizendo-se aquele que vem para restaurar (“folha”) a
realidade social (“árvore de sombra”). Encontramos o mesmo tom, por exemplo, no
sujeito poético que fala no poema XIX, posteriormente intitulado de “voto II”: “Eu
quero inspiração imensa / que traga às pétalas do caminho / versos de cor verde”
(MAIMONA, 1987, p.32). Notamos que o mesmo sujeito que se anuncia como a
“folha do mundo”, mais tarde quer uma inspiração que o faça produzir, dentro de
seu caminho, “versos de cor verde”. É o próprio sentimento de recriação, de
renovação da vida, da presença de um caminho que metaforiza não só o trajeto
pessoal do poeta, mas a necessidade de, como cidadão, continuar a escrever, a
acreditar e a ter esperanças. Maimona assinala que sua poética pretende, sim,
trazer o real para o poema, mas deixa claro que o poema está em constante
formação, sempre aberto a mudanças e transformações.
Esse “espaço aberto” é o ponto de partida para começarmos a pensar no
outro forte campo semântico da poesia de João Maimona: o do caminho. Antes,
será necessário considerar algumas questões pertinentes à eleição de tal imagem
para representar o fazer poético e o instante de materialização da poesia em
poema. Convocamos, outra vez, a figura de Carlos Drummond de Andrade, que
tem fundamental importância na formação literária do produtor angolano. Em
entrevista ao suplemento literário do Jornal de Angola, em 1986, João Maimona fala
dessa importância:
Das leituras de Carlos Drummond de Andrade, pude extrair um caudal de
idéias que me leva a privilegiar no conjunto dos meus poemas a qualidade e o valor
da existência humana. Quando leio Drummond, sinto-me participante de uma
autêntica festa espiritual. Drummond influenciou bastante a minha obra. A sua
poesia é para mim uma escola. Com ela apaixonei-me pelos traços lingüísticos tais
como o enjambement, a repetição, a enumeração, o estrangulamento. Com
Drummond cheguei a conclusão de que para se fazer poesia era necessário
agrupar num cesto três coisas fundamentais: o ritmo, a metáfora/metonímia e a
mensagem. E o meu poema “Poema para Carlos Drummond de Andrade” surge
como a única forma, singela e amiga, de homenagear o maior Poeta brasileiro da
atualidade. (MAIMONA, 1986, s/p)
Como vemos, Maimona é enfático ao dizer que foi através das leituras que fez
de Drummond que se descobriu poeta. Palavras como “influenciou”, “homenagem”
e “maior poeta”, demonstram bem a devoção que o angolano tem para com o

152
brasileiro. Além disso, a breve análise que faz da poética drummondiana nos mostra
algumas de suas próprias características estéticas e temáticas, o que acentua a sua
admiração pelo outro que, em um segundo estágio, é transformada em matéria
poética pelo angolano em seu poema VIII:
No meio do caminho tinha uma pedra. C.D.A.
É útil redizer as coisas
as coisas que tu não viste no caminho das coisas
no meio do teu caminho.
Fechaste os teus dois olhos ao bouquet de palavras
que estava a arder na ponta do caminho o caminho que esplende os teus dois olhos.
Anuviaste a linguagem de teus olhos
diante da gramática da esperança escrita com as manchas de teus pés descalços
ao percorrer o caminho das coisas.
Fechaste os teus dois olhos aos ombros do corpo do caminho
e apenas viste uma pedra no meio do caminho.
No caminho doloroso das coisas.
(MAIMONA, 1987, p.19)
Como referência para o momento da análise vale lembrar os versos de
Drummond:
No meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra.
nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra.
(DRUMMOND, 2002, p.16)
Ao recuperar o poema “No meio do caminho”, Maimona promove uma
recriação do espaço elaborado pelo poeta brasileiro, transpondo, para seu universo

153
literário, a imagem da pedra, imortalizada por Drummond. Pensando ainda sobre a
importância que a imagem da pedra adquire para o poeta brasileiro, Marlene de
Castro Correia fala que “o verso-núcleo de ‘No meio do caminho’ extrapolou o
poema e penetrou nos mais variados tipos de discurso (político, jornalístico,
esportivo etc.), adquirindo vida autônoma e transformando-se em propriedade
coletiva” (CORREIA, 2002, p.39). Para ela, tal utilização indiscriminada do verso em
questão deixou em Drummond uma profunda mágoa, revelada posteriormente em
outros poemas do autor, em declarações e testemunhos (Idem). Porém, em
Maimona o movimento é inverso ao drummondiano, já que a imagem da pedra
como metáfora dos obstáculos e dos percalços da vida perde seu protagonismo
para a imagem do caminho. Com isso, o poeta angolano se propõe a “redizer as
coisas” que não foram vistas no percorrer do caminho. A pedra, que aparece sete
vezes no poema de Drummond, tem uma única ocorrência no texto de Maimona e
serve como referência para que o leitor lembre, mais uma vez, o do brasileiro. Isso
demonstra que para este a ação principal é assinalar a presença de um obstáculo,
enquanto para o angolano a importância está na necessidade de percorrer o
caminho, independente dos percalços que o mesmo apresente. Será à imagem do
caminho que o sujeito poético de Maimona relacionará suas ideias principais, como:
“a linguagem de teus olhos”; “gramática da esperança”; “pés descalços”; e “bouquet
de palavras”. Por isso, ao invés de apenas reavivar o poema “No meio do caminho”
e seu verso-núcleo, Maimona promove um salto e extrapola a idéia drummondiana
de estar no meio do caminho, sempre a esbarrar nos obstáculos, propondo um
“caminho doloroso das coisas”55 que precisa ser trilhado. Com isso, estabelece-se
um contraponto à proposta de Drummond, tal como bem analisado por Carmen
Tindó Secco:
Tanto em Carlos Drummond de Andrade como em João Maimona, a pedra
alegoriza as dificuldades da vida, mas o poeta angolano ressignifica o uso dessa
alegoria, propondo que os obstáculos e os sofrimentos não impeçam o caminhar.
Das entrelinhas de seu poema, depreendemos que o redizer poeticamente o
“caminho doloroso das coisas” é uma forma de resistir às tragédias do cotidiano de
Angola. (SECCO, 2006, p.150)
55 O verso final do poema VIII, posteriormente intitulado de “Poema para Carlos Drummond de Andrade”, recebe grande atenção da crítica e da comunidade literária angolana. Lopito Feijoó, ao organizar sua antologia de jovens poetas angolanos a intitula de “No caminho doloroso das coisas” (1988), por exemplo.

154
Concordando com a ensaísta brasileira, reiteramos que tal ressignificação
justifica o enfoque maior na imagem do caminho do que no da pedra. Por outro
lado, não é apenas na recriação do poema de Drummond que o caminho assume
seu protagonismo. Esta é uma imagem que se tornará recorrente na poesia do
produtor angolano e servirá de metáfora de seu próprio processo de escrita, em
constante formação. Outro poema de Traço de união que trabalha tal metáfora de
maneira incisiva é o poema VII, que antecede o referente a Drummond e que será
posteriormente chamado de “Luz”:
Não atirem para o meu peito palavras sórdidas palavras velhas
para o meu peito não atirem palavras velhas palavras sórdidas
inventarei as minhas
no piso da cidade no chão do campo
na escuridão da solidão.
Para o meu caminho não atirem palavras velhas palavras sórdidas
irei à busca da palavra onde os homens desconhecem o grito
irei à busca da palavra onde os homens cultivam no peito as palavras que hão de ser ditas:
ditas à janela da cidade irei à busca da palavra
e direi o que se diz entre as paredes para que da palavra nasça a luz.
Não me atirem palavras sórdidas
palavras velhas inventarei as minhas
e serei um pedaço de palavra. (MAIMONA,1987; p.17)
A grande preocupação do poeta está em não contaminar seu caminho com
“palavras velhas” nem com “palavras sórdidas”. Tal preocupação se intensifica
quando demonstra o desejo de encontrar uma nova forma de elaboração para o
modo como percebe a realidade e a tentativa de transpô-la para o espaço do
poema. A imagem do caminho se associa diretamente à escrita do poeta, que
prossegue, através do sujeito lírico, dizendo que irá “à busca da palavra”, de
“palavras que hão de ser ditas”, isto é, há um forte indício de que ele busca um
caminho renovado, no qual as palavras possam adquirir a liberdade de seus

155
sentidos originais. O poema se encerra com uma afirmação reveladora, feita pelo
mesmo sujeito lírico, ao dizer que será, ele mesmo, “um pedaço de palavra”. Tal
afirmativa nos remete, novamente, às formulações de Octavio Paz:
O poeta não escolhe suas palavras. Quando se diz que um poeta procura sua linguagem, não se quer dizer que ande por bibliotecas ou mercados recolhendo termos antigos e novos, mas sim que, indeciso, vacila entre as palavras que realmente lhe pertencem, que estão nele desde o início, e as outras aprendidas nos livros ou na rua. Quando um poeta encontra sua palavra, reconhece-a: já estava nele. E ele já estava nela. A palavra do poeta se confunde com ele próprio. Ele é sua palavra. (PAZ, op. cit, p.55) Tal reconhecimento do poeta em sua própria palavra poética demonstra o
comprometimento com seu projeto literário. Buscar os vocábulos capazes de “dizer”
as imagens de seu mundo poético é reconhecer que há uma linguagem que precisa
ser reconstruída. Este trabalho, tão comum aos grandes poetas, se apresenta de
maneira diferente, de acordo com a necessidade de cada um. No caso presente,
vemos que João Maimona instaura seu momento de criação nos alicerces de uma
realidade social em ruínas e/ou estilhaçada. Quando diz querer ser ele mesmo um
pedaço de palavra, o que almeja é encontrar/ser uma palavra poética que consiga
representar os conflitos de um sujeito poético e civil fracionado pelo agravamento da
miséria humana, da guerra entre os próprios angolanos e da falência do projeto de
independência. “Caminho” e “sombra” retornam para afirmar as palavras de Octavio
Paz. O caminho, apresentado como doloroso, faz parte do poeta e do homem
Maimona, pois metaforiza a necessidade de prosseguir, ainda que em meio a tantas
tragédias. E a sombra, por ser representação de um encobrimento da luz, se faz a
metáfora daquele momento em que algo se interpõe entre o homem e sua
esperança, causando o sentimento de ansiedade e incompletude. Outra vez
convocamos Marlene de Castro Correia: “se a apreensão do mundo se realiza pela
linguagem, o poeta – como operador que é da linguagem – maneja a poesia como
instrumento de uma percepção mais aguda do real e como matriz instauradora de
‘uma ordem nova’ ou ‘uma nova desordem’”(CORREIA, 2002, p.13). Mesmo
falando diretamente do universo poético de Drummond, as considerações da
ensaísta tocam no cerne da poesia de uma maneira geral. A “apreensão do mundo”
e a “percepção mais aguda do real” nos mostram que o trabalho do poeta, mesmo
em seus momentos mais intimistas, não se afasta tanto do coletivo. Segundo
Octavio Paz “as palavras do poeta são também as palavras de sua comunidade. Do
contrário não seriam palavras. Toda palavra implica dois elementos: o que fala e o

156
que ouve.” (PAZ, op.cit , p.55). Maimona tem a consciência de tal processo
comunicativo inerente à palavra poética, apesar de ser rotulado por alguns críticos
como “hermético demais”. Podemos perceber a sua preocupação com essa
questão quando institui seu sujeito poético, o que se dá, muitas vezes, quando
convoca a presença de um interlocutor a quem ele se dirige, responde, indaga ou a
partir de quem reflete sobre determinada situação:
Acordaste como os primeiros passos do comboio. Pelo vidro do muro viste o medo da madrugada.
Mijaste no limiar do primeiro passo. E quiseste dar passos rápidos.
(Os homens quando acordam passam em revista
os sonhos da noite.)
Quiseste ser o dia em vez de estar no dia. E não viste a fala dos sonhos.
Nem sequer a memória da noite. Num minuto só viste o vazio dos sonhos.
Nas gavetas da tua cabeça só existe O vazio do tambor vazio. Só. Agora.
Este teu sonho é a tela de dores que se infiltram nas tuas pernas.
- não deixa crescer os teus lamentos – No limiar do primeiro passo
faltou passar a mão esquerda pela paisagem do cabelo.
Assim vias o corpo dos teus sonhos.
- não deixa crescer os teus lamentos – Pela próxima noite talvez. As noites
passam como a urina na bexiga. (MAIMONA, 1987, pp.24-25)
O uso da segunda pessoa do singular convoca o interlocutor, presentificando-
o. No entanto, apesar de ser responsável por todos os movimentos do texto, não
assume a voz no poema em nenhuma ocasião. O sujeito poético fala para e desse
interlocutor de maneira imperativa, direcionando os sentidos do que quer dizer,
sempre de acordo com as ações realizadas pelo “personagem”. Atrás desta
máscara textual, o sujeito poético questiona suas próprias atitudes, sua maneira de
agir, sempre em tom de reprovação, deflagrando a idéia de que algo poderia ter
sido, mas não foi. Assim, percebemos uma voz principal que se mascara muitas
vezes dentro dos versos, já que não quer ou não pode ser reconhecida diretamente.
A discussão sobre o existencial e a constituição do sujeito em uma sociedade

157
fraturada pela guerra fratricida que se abate sobre uma nação só recentemente
desvinculada do colonizador transporta, para o poema, suas tensões e o desejo
coletivo de denunciá-las e contra elas lutar.
O João Maimona poeta é, ao mesmo tempo, o homem público que participa
dos quadros do governo na câmara dos deputados e o cidadão crítico que observa
os rumos da sociedade e os problematiza em sua produção literária. Talvez assim
comecemos a entender a necessidade da presença dos imaginários interlocutores,
que funcionam como vozes de apoio, se assim podemos dizer, que o poeta
convoca para seus textos. Ao estabelecer um diálogo com outras vozes, o poeta
demonstra que há uma necessidade de não fechar o poema em uma monologia
qualquer. Por isso, cria um sujeito poético que insiste em intensificar o trânsito entre
o singular e o plural, o eu e o tu e, assim sendo, estabelece pontes entre ele e os
outros que também sofrem com a situação adversa do país.
Alguns versos e indícios do poema VII nos levam a pensar que a figura
soterrada sob o tu seja a do místico poeta Agostinho Neto. Tal constatação nos
permite intuir que Maimona, neste texto, esteja relendo o “sonho” da independência,
tal como projetado e construído por Neto, e que se afasta da euforia do primeiro
instante da libertação. Não são poucos os contatos entre este poema de Maimona e
a poesia e o ideário de Agostinho Neto. Logo no início, no primeiro verso, Maimona
convoca a imagem do comboio, dizendo que o interlocutor “acordou com os
primeiros passos do comboio”. Podemos remeter aos de “Comboio africano”: “Um
comboio / subindo de difícil vale africano / chia que chia / lento e caricato // grita e
grita // quem esforçou não perdeu / mas ainda não ganhou” (NETO, 1975, p.48). O
diálogo prossegue nos versos seguintes da mesma estrofe. Quando Maimona diz:
“Mijaste no limiar do primeiro passo. / E quiseste dar passos rápidos.”, podemos
remeter ao poema “Depressa” de Agostinho Neto: “ Impaciento-me nesta mornez
histórica / de esperas e de lentidão.” (NETO, 1975, p.124). Notamos que se trata de
um processo de releitura crítica, já que os versos de Maimona revêem os de Neto
apontando o que de “impossível” havia neles. Devemos reiterar, no entanto, que
Maimona não está preocupado em culpar ninguém, mas, sim, em repensar um
processo histórico e social que acabou contribuindo para a situação vivida no
momento em que escreve, quando não há como fazer da literatura um veículo
político-ideológico.

158
Saltamos para a terceira estrofe na qual encontramos o verso inicial “Quiseste
ser o dia em vez de estar no dia.”, que ecoa o talvez mais conhecido e impactante
dístico de Agostinho Neto, que se encontra no poema “Adeus à hora da largada”:
“Eu já não espero / sou aquele por quem se espera” (NETO, 1975, p.35), já por nós
em parte citado. Ainda na mesma estrofe, o poeta da geração de oitenta chama o
poema “Na pele do tambor” para a discussão, ao dizer que “Nas gavetas da tua
cabeça só existe / o vazio do tambor vazio. Só. Agora.” Assim, João Maimona
transforma o sentido da imagem do tambor tal como trabalhada por Neto e por
outros poetas. Ela deixa de ser convocação para a luta para fazer-se canto solitário
e vazio. Aliás, o termo “vazio” será posteriormente título do poema XIII de Traço de
união. Enquanto os versos de Agostinho Neto dizem: “mas não tão longe / nem tão
pervertido / quanto as vibrações / da pele do meu cérebro / esticada no tambor das
minhas mãos / pela África humana” (NETO, 1975, p. 89), Maimona demonstra que
as “vibrações cerebrais” ficaram guardadas nas gavetas da cabeça, como um som
surdo e sem grande significado diante da situação angolana. Por fim, podemos
ainda pensar na imagem da “noite”, muito recorrente nas páginas de Sagrada
esperança (1975) e que se faz presente em poemas como: “Sábado nos
musseques”; “Crueldade”; “Noite”; “Desfile de sombras”, dentre tantos outros. Nesse
caso, o que temos é um Maimona preocupado em não marcar a “noite” pelo viés
negativo como faz Neto nos poemas de seu livro de 1975, mas, sim, colocá-la como
espaço de renovação e esperança, o que faz através da imagem do sonho e da
necessidade de sonhar. Vemos, com isso, que a renovação e a ligação do poeta
João Maimona com a história literária e política de seu país são pontos
fundamentais para compreendermos a sua maneira de olhar e a própria
constituição de seu sujeito poético. Este diálogo, elaborado por ele com os poemas
e a figura histórica de Agostinho Neto, revela ser ele um sujeito que se afirma para
além de si mesmo e a partir do dizer e do agir do outro, deixando para o leitor um
rastro de citações e o convívio de vozes dentro do espaço do poema.
Outra forma utilizada pelo poeta de Traço de união para anunciar essas
“vozes” é o encontro de tempos distintos dentro do poema. O crítico brasileiro
Alfredo Bosi nos diz que “a poesia dá voz à existência simultânea aos tempos do
tempo, que ela invoca, evoca e provoca” (BOSI, 1997, p.121). O “encontro de
tempos” proposto por Bosi é parte de uma reflexão sobre o momento da escrita, a
época que ela retrata e as lacunas que só poderão ser preenchidas em um passo

159
adiante, isto é, na reescrita ou na leitura. Pensar que os desdobramentos temporais
assumem importante papel na constituição do poema é considerar a memória como
articuladora de imagens e vozes e potencializadora da palavra poética. Já vimos
que o instante da poesia é um momento abstrato que espera pelo labor do poeta
para transformar-se em poema, isto é, materializar-se. Essa poesia, inerente ao
homem, segue com ele até o presente da escrita. Podemos ver isso na voz de
Drummond:
Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto ele está cá dentro
inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair.
Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira.
(DRUMMOND, 2002, p.21)
Ao se tornar poema, a poesia se torna autônoma e realizadora de sentidos,
como bem já nos falou Octavio Paz. Portanto, a memória, o presente da escrita e as
lacunas deixadas entre versos se unem e passam a constituir um sujeito poético
dividido entre o voltar ao passado, o olhar para o presente e o pensar no futuro:
I Diz o que pensas do meu aroma.
Azul, verde, branco, estranho: é o aroma d’árvore
que alumia o teu campo. II
Sou mais uma árvore do campo que cresce à tua volta. E penetra o teu coração.
Nele brilha o meu olhar. Nos meus olhos que os teus olhos não querem atravessar nos meus ouvidos que os teus ouvidos não querem cruzar
sinto as dores da distância que vais criando na noite dos teus vôos.
III
Queria tanto ver o sol da tua pele penetrar os meus pés. Os meus braços. Os meus olhos.
Queria tanto ouvir a tua tempestade bater à janela dos meus desejos. Dos meus sentimentos.
Queria. Queria ver o teu corpo sentado nas minhas mãos. Ver a tua fronte na minha trajectória.
E abraçar os pontos de vista do teu sangue.

160
IV
Olha, quando passares pela boca da multidão deita tua mão nos gritos d’ervas.
(MAIMONA, 1987, pp. 26-27)
O poema XIV, posteriormente intitulado “Se as nossas almas juntassem seus
vértices” vem com uma dedicatória muito importante: “a todas as vozes de minha
geração”. Vemos, por ela, que o mesmo Maimona que se mostrara disposto a
dialogar com grandes referências literárias como Drummond e Neto, quer também
falar com as “vozes de sua geração”, isto é, com os que escrevem e atuam na
sociedade no mesmo instante que ele. Encontramos novamente o estabelecimento
de uma relação entre o sujeito poético e seu (s) interlocutor (es), relação marcada
pelos pronomes pessoais e possessivos de primeira e segunda pessoas,
respectivamente (“meu aroma... teu campo” ; “sou mais uma árvore do campo / que
cresce à tua volta” ; penetra o teu coração. Nele brilha o meu olhar”)56. O jogo ainda
revela o encontro do presente da escrita, tempo em que se faz o poema, e um
porvir que só se realiza no plano dos desejos do sujeito poético empenhado em
estabelecer um “traço de união” entre as vozes de sua geração. A intenção do
poeta de convocar as vozes dessa geração reforça a importância da metáfora do
caminho e a necessidade de prosseguirem juntos, em vértice – para utilizar o termo
do próprio poeta –, em um único trajeto, mesmo que este seja doloroso: “queria ver
o teu corpo sentado / nas minhas mãos. Ver a tua fronte na minha trajectória. / E
abraçar os pontos de vista do teu sangue.” Não há como não lembrar novamente o
brasileiro Carlos Drummond de Andrade: “Estou preso à vida e olho meus
companheiros. / Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. / entre eles,
considero a enorme realidade. / o presente é tão grande, não nos afastemos. / Não
nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.” (DRUMMOND, 2002, p.80). Com
isso, o desejo expresso no poema XIV se alia ao texto drummondiano para
demonstrar e ressaltar a necessidade de caminhar junto com os outros, unindo as
vozes de todos, para que se instaurem novos espaços, novas maneiras de olhar,
enfim, uma nova realidade.
Se os contatos literários com obras de outros autores evidenciam a
necessidade do poeta em seu trabalho com a palavra, é, porém, na tentativa de
retratar a terra angolana da maneira que deseja que Maimona dá um salto sobre a
56 Grifo nosso.

161
ressignificação dos vocábulos. Falamos de “Canto Vernacular”, o segundo e último
bloco do livro Traço de União. O bloco, que aparenta ser independente do primeiro,
porém, após uma cuidadosa leitura, percebemos que há um diálogo direto com os
poemas que compõem a primeira parte da coletânea de 1987. Ao observar versos
como: “irei à busca da palavra” (p.17); “serei um pedaço de palavra” (p.18)”; “ –
Escutai e cantai comigo / os olhos de amanhã” (p.30) ; e “ Eu quero a inspiração
imensa / que traga às pétalas do caminho / versos da cor verde.” (p.32) notamos
que anunciam, ainda na primeira parte do livro, as intenções que serão diretamente
representadas no segundo segmento. “Canto Vernacular” é constituído por apenas
dois poemas, porém é extremamente significativo para o desfecho da leitura que
propomos de Traço de União. Já no título deste novo bloco de poemas,
percebemos uma inclinação para a elaboração de uma escrita voltada para a
formação de uma nova língua, de novos e possíveis vernáculos que possam povoar
o canto. Reinventar e/ou buscar uma nova possibilidade de dizer é uma obsessão
do poeta, como já apontamos, porém o que percebemos, nesses dois poemas, é
um compromisso abertamente declarado não apenas com o trabalho linguístico,
mas com a realidade da inscrição poética e os conturbados espaços de escrita que
se sobrepõem para o autor – língua portuguesa; passado e tradições locais;
metalinguagem; formação de um sujeito poético capaz de dizer-se uno e outrar-se
na linguagem, etc.
É nesse universo de anunciação, no qual o poeta insiste em assumir
compromissos de cidadão angolano, que João Maimona escreve o poema I, depois
“Esperança dos passos”, no índice, poema que abre “Canto Vernacular”.
Encontramos aqui um sujeito poético ligado à terra angolana e preocupado com a
realidade social que reflete um passado recente de dominação e um presente
desanimador. Porém, esse mesmo sujeito poético nos demonstra que só é possível
deflagrar essa realidade, denunciar a desilusão e o desengano, apresentando a
terra angolana através de uma palavra nova, reconfigurada. A palavra, portanto, se
torna a única capaz de realizar a mudança, a transfiguração de sentidos e
realidades, pois é a ela que o poeta atribui a potência necessária para tanto:
Ó Angola meu berço do Infinito meu rio da aurora
minha fonte do crepúsculo Aprendi a angolar

162
pelas terras obedientes de Maquela (onde nasci)
pela árvores negras de Samba-Caju pelos jardins perdidos de Ndalatandu pelos cajueiros ardentes do Catete
pelos caminhos sinuozos de Sambizanga pelos eucaliptos das Cacilhas
Angolei contigo nas sendas do incêndio onde os teus filhos comeram balas
e regurgitaram sangue torturado
onde teus filhos transformaram a epiderme [em cinzas
onde das lágrimas de crianças crucificadas nasceram raças de cantos de vitória
raças de perfumes de alegria (...) (MAIMONA, 1987, p.35)
Percebemos que o poeta diz ter aprendido a angolar. Com a utilização desse
verbo, associado diretamente ao exercício da linguagem e do dizer, vemos que as
impressões do autor sobre a terra angolana, suas regiões e paisagens naturais vão
surgindo seqüencialmente por intermédio de tal descoberta. Aqui associamos a
idéia de angolar convocada por Maimona nesse poema ao título do bloco final de
Traço de União. O verbete do dicionário destinado ao vocábulo vernáculo indica três
possibilidades de leitura e aplicação. A primeira fala em próprio da região em que
existe. O segundo fala de linguagem pura, sem estrangeirismo. E o terceiro aponta
para o idioma de um país. Portanto, o canto vernacular proposto por Maimona
começa com a afirmativa: “aprendi a angolar.” Entendemos, então, o “angolar”
como instituir uma nova maneira de dizer/ser, diferente das outras e afirmada
através do seu local de escrita. Com esse contexto, o poeta introduz, no corpo do
poema, um panorama do cenário angolano, tanto por seus aspectos naturais
(“pelas terras obedientes de Maquela / pelos caminhos sinuosos do Sambizanga /
pelos eucaliptos das Cacilhas”) e quanto pelos sócio-históricos (“onde teus filhos
comeram balas / e / regurgitaram sangue torturado / onde teus filhos transformaram
a epiderme em cinzas’). O surgimento de tais elementos no poema só se faz
possível por intermédio dessa nova língua recriada por Maimona, pois ela é o
espaço de inscrição e de escrita, no qual ganha corpo o seu projeto poético.
Percebemos isso de maneira ainda mais clara na continuação do poema,
principalmente em sua penúltima estrofe: “A resposta está no meu olhar / e / nos
meus braços cheios de sentidos” (p.36). Maimona se projeta assim, como o

163
anunciador de uma nova proposta de escrita e de olhar, que se faz projeção de
novos sentidos, estabelecendo “traços de união” dentro e fora do texto.
O segundo bloco de Traço de união se encerra com uma nota que informa
sobre um prêmio concedido aos dois poemas que nele se encontram. Tal
premiação foi outorgada pela “Juventude do partido da Província do Huambo”. O
envolvimento político não faz com que Maimona perca sua sensibilidade para o
social e sua poesia, ancorada em uma linguagem renovada, consegue isentá-lo de
uma postura totalmente crítica, deixando-o como um observador atento do cotidiano
da sociedade angolana dos anos 80. Traço de União e, por ventura, “Canto
vernacular” são, por isso, um espaço de afirmação da poética de João Maimona, o
que já nos mostra um poeta integrado ao seu discurso e leitor de um porvir que não
esquece a realidade do presente, nem os acontecimentos do passado. É a sua “voz
(verde)” que anuncia ao leitor que vai “angolar”, com “palavras novas”, seguindo o
doloroso, porém necessário, “caminho das coisas”.
Referências bibliográficas
ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,
2003.
BOSI, Alfredo. O ser e o tempo na poesia.Cultrix: São Paulo,1993.
CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem. Petrópolis: Vozes, 1967.
CARVALHO, Ruy Duarte de. Tradições orais, experiência poética e dados de
existência. In: PADILHA, Laura. (org). Repensando a africanidade. ANAIS do I
encontro de professores de literaturas africanas de língua portuguesa. Niterói:
Imprensa universitária da UFF, 1995. p. 69-76.
CORREIA, Marlene de Castro. Drummond, a magia lúcida. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar editor, 2002.
DUFRENNE, Mikel. O poético. Tradução:Luis Arthur Nunes. Porto Alegre: editora
Globo, 1969.
FONSECA, Maria Nazareth Soares. João Maimona: Uma poética em
desassossego. In : SEPÚLVEDA, Maria do Carmo e SALGADO, Maria Teresa.
África & Brasil Letras em laços. Rio de janeiro, Ed. Atlântica: 2000, P. 157 – 174.
MAIMONA, João. Traço de União. União dos escritores angolanos, Luanda, 1987.

164
MATA, Inocência. A idade maior das palavras de João Maimona. In: Scripta, Belo
Horizonte (PUC/MG), N.5, 2000.
___. A poesia de João Maimona: o canto do Homem Total ou a catarse dos
lugares-comuns.In: Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa ,
Lisboa, n. 15-5o Série, p.181-188, 1993.
___. Literatura angolana: Silêncios e falas de uma voz inquieta. Lisboa: Mar Além,
2001.
MESTRE, David. Nem tudo é poesia. Luanda: União dos Escritores Angolanos,
1989.
NETO, Agostinho. Sagrada Esperança. Lisboa: Edições 70, 1975.
PADILHA, Laura Cavalcante. Novos pactos, outras ficções: Ensaios sobre
literaturas afro-luso-brasileiras. Porto Alegre: Edupucrs, 2002.
___. Entre voz e letra: O lugar da ancestralidade na ficção angolana do século XX.
Niterói: Eduff, 1995.
PAZ, Octavio. O arco e a lira. Tradução: Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1982.
SECCO, Carmen Lúcia Tindó. As águas míticas da memória e a alegoria do tempo
e do saber.In: Scripta. Belo Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais, 1997. v 1. n.1.
___. Carlos Drummond de Andrade: “O poeta de Itabira” evocado em África. In:
CHAVES, Rita; MACÊDO, Tânia e SECCO, Carmen. Brasil África, como se o mar
fosse mentira. São Paulo: Editora Unesp, 2006.

165
A poética do Jongo: tradição e reinvenção
Renato de Alcântara57
Cláudia Cristina dos Santos Andrade58 Oh, lua Desce pra quem veio te cantar (Oh, lua, vai) Olha o sol já vai saindo E quem é que vai chegar? Lua cheia vara a noite Me chamando pra cantar (Jongo Folha da Amendoeira)
O batuque do tambor chama para a roda, enquanto jovens de uma
universidade marcam, cada um a seu jeito, o ritmo com o corpo. É o Jongo
Folha da Amendoeira, iniciativa de estudantes universitários que inauguram,
naquele espaço, uma prática tradicionalmente nascida em comunidades
quilombolas. Assim, reinventam a prática, e paradoxalmente, perpetuam a
tradição.
O paradoxo nos chamou para o grupo. A pesquisa que vínhamos
desenvolvendo buscava instituições que promoviam acesso a diferentes formas
de cultura, e estávamos acompanhando as atividades do Centro Cultural Jongo
da Serrinha, em Madureira, no município do Rio de Janeiro. Em uma ida à
UFF, o som do tambu nos chama a atenção:“Isso é jongo!”. E era, promovido
por Rodrigo Rios e Elias Rosa, o primeiro estudante de Serviço Social da
UFF(Universidade Federal Fluminense), bolsista do Projeto de Extensão
Pontão do Jongo Caxambu e assessor do Quilombo São José e da
Comunidade de Pinheiral, todos no estado do Rio de Janeiro.
A partir das primeiras rodas fomos surpreendidos pelo inusitado da
situação: uma roda de jongo promovida por universitários, em uma praça de
encontro, a Praça de São Domingos (conhecida como Cantareira, lugar de
encontro dos universitários da UFF), como outras existentes nas grandes
cidades, em que diferentes músicas, diferentes grupos convivem, nem sempre
57 Mestre em Literatura Comparada(UFRJ). Professor da FAETEC, atualmente na direção do CETEP Imbariê. 58 Doutora em Educação(USP). Professora do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp/UERJ)

166
harmoniosamente. Chamamento que encantou a tantos outros, principalmente
os jovens que não conheciam o jongo, como Daline Gerber(2011):
Há pouco tempo conheci o Jongo através da minha amiga Carolina Oliveira. A principio estranhei um pouco a dança e a música, afinal, não faziam parte de algo com que convivia, não era algo de que tinha conhecimento pleno e embasado. Em sua casa, Carol ligou o som e começou a me passar os primeiros passos da dança. Me pareceu difícil a princípio, mas com o tempo fui me envolvendo de tal modo com o tambor e com a diversão de jogar com o corpo que pretendi ir mais além, e fui. Numa quinta-feira, eu e Carol, com saias rodadas fomos à Cantareira (Gragoatá - Niterói - RJ) participar da Roda de Jongo Folha de Amendoeira. Dancei pouco e desengonçada. Mas fiquei encantada com a solicitude dos dois rapazes de garra que tiveram a iniciativa de fazer uma roda de jongo aberta, em plena praça, de quinze e quinze dias na praça: Rodrigo Rios e Elias Rosa. Enfim, toda gente reunida numa roda, olhando um ao outro, contemplando um ao outro, com sorrisos, com alegria verdadeira. Hoje faço parte do grupo com muito orgulho e - é verdade - com muito pouco tempo para me dedicar mais.
Assim, após o acompanhamento do grupo por um quase um ano,
organizamos nossa análise a partir de duas cenas, acontecidas em agosto de
2010 e em maio de 2011, com o objetivo de compreender a construção da
poética dos pontos de Jongo nesse cenário, analisando o material coletado nas
rodas de Jongo a partir dos estudos de Alcântara(2008), e sob elementos
teóricos advindos da teoria da enunciação de Bakhtin e o conceito de
experiência de Benjamin. O objeto de análise, o Jongo, é discutido a partir da
“Cena 1”, em que destacamos as definições de jongo e sua relação com a
territorialidade, com a cultura do terreiro, culturas necessárias, ou seja, que só
existem enquanto há necessidade de sua existência: a tradição. Refletimos
sobre como o caminho de nossa pesquisa sobre o Jongo encontra o grupo e
nele se fixa: reinvenção. Nesse movimento, discutimos a questão da identidade
que surge no encontro, na experiência: identidade nova construída sobre
elementos tradicionais.
A “Cena 2” nos leva à poética do Jongo, aos textos criados pelo grupo, e
os sentidos deles emanados, assim como sua relação com a prática cultural
em si: o gestual, o ritual, o vestuário.
A lei 10 639 nos impele a compreender as manifestações culturais de
origem africana como parte inerente de uma sociedade que se quer pluriétnica.
Para tal, é preciso recuperar a memória étnica, em especial elementos culturais
historicamente marginalizados. O Jongo foi registrado no Livro das Formas de
Expressão do Patrimônio Imaterial do Iphan e inventariado. Sua riqueza

167
expressiva nos remete a aspectos fundamentais da identidade das populações
afrodescendentes, de nossa história e saberes. Educar para as relações étnico-
raciais é, no entender de Silva(2007, p.43):
fomentar práticas sociais voltadas para a convivência plena dos cidadãos; incentivar programas de inclusão socioeducacional, desenvolver políticas de reparação, por meio de ações afirmativas diversas, valorizar o patrimônio histórico –cultural das etnias marginalizadas, enfim, implementar ações que, superando os preconceitos historicamente forjados, e as discriminações tradicionalmente toleradas, resgatem a auto-estima, o universo simbólico, a cidadania e a identidade racial das comunidades que compõem a sociedade brasileira, particularmente os afrodescendentes”. Consideramos que a força da palavra cantada faz emergir o orgulho de
pertencer e recupera a história, retomando, na atividade jongueira, a (re)inauguração
de identidades, produzindo experiências que se contrapõem à massificação cultural
homogeneizante, descaracterizante e advinda de minoria étnica dominante.
O objeto: Cena 1
Agosto de 2010. É uma praça, em frente a uma universidade pública federal, no estado do Rio de Janeiro. Jovens em círculos, bebendo, conversando, dançando reggae, samba, comendo pizza em mesas espalhadas no entorno. Embaixo de duas grandes amendoeiras, em um dos cantos da praça, três tambores são tocados por diferentes rapazes, que se revezam. Dois deles se destacam, tiram pontos de jongo, dançam, chamam as pessoas para a roda. Estão criando a Comunidade Jongo da Amendoeira, como diz o panfleto distribuído por eles. Olhamos para cima e compreendemos o porquê do nome. Um rapaz, estudante de geografia, chega para perto da roda, timidamente aponta e diz: “Eu morei em Guaratinguetá, e conheci o jongo de lá. Eu não podia ir, minha mãe não deixava, mas eu consegui aprender. Morei no Tamandaré, mas lá só tinha jongo uma vez por ano... em festas... Aqui é sempre.” Demonstra surpresa e alegria. Entra na roda e dança.
Originário dos batuques e danças de rodas da tradição Bantu, o Jongo
apresenta-se como dança comunitária de origem rural que remonta à época da
escravidão. Manifestação cultural complexa, transita no campo do sagrado e do
profano, o Jongo é uma instituição social na medida em que o conceito
abrange, simultaneamente, a prática divinatória de seus versos cifrados, dança,
canto, canções, melodia, instrumentos, o momento da confraternização e o
grupo social dos jongueiros59. Através dos Jongos os negros tiveram que pôr
em prática suas habilidades de dizer de modo indireto. Nas metáforas 59 Para marcar essas diferenças semânticas, grafamos a palavra com maiúscula quando nessa abrangente significação. No plural enfatizam-se tanto os aspectos particulares quanto gerais.

168
percebidas por seus iguais, os antepassados e as forças metafísicas eram
reverenciados, encontros e fugas eram planejados:
Junta, junta mosquito-polva Marimbondo chegou agora.
Era desse modo que os escravos sabiam que algum outro cativo estava
sendo castigado e corriam para acudi-lo, conforme relatou uma jongueira de
Santo Antônio de Pádua aos pesquisadores do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN, no ano de 2004, durante os registros de campo
para o Inventário do Jongo do Sudeste, requisito para seu tombamento como
patrimônio Imaterial Brasileiro, ocorrido em 2006.
Sempre situado num panorama adverso, o negro brasileiro guardou um
traço fundamental das culturas africanas e que lhe garantiu a possibilidade de
reconstruir novos laços identitáros e de solidariedade: a relação coletiva com a
terra.
Conforme já dissemos, para os povos de África, a relação entre a o
homem e a terra se dá de modo coletivo. Na diáspora a posse da terra é
vedada, mas os cativos constroem, tomam posse e defendem o terreiro,
espaço de chão batido enfrente às senzalas, onde se canta e dança.
O terreiro difunde e recria, através de suas atividades, conhecimentos,
concepções filosóficas e estéticas, formas alimentares, música, dança: um
patrimônio de mitos, lendas, refrões, em constante recriação, pois são
respostas às demandas da realidade vivenciada por negros reunidos no
cativeiro.
É pólo irradiador de complexo sistema cultural no qual as manifestações
orais, histórias sagradas, contos, adivinhas, lendas, expressões do canto,
constituem um de seus elementos, que deve ser compreendido em função do
todo, isto é, do momento em que ocorrem, dos partícipes, os instrumentos
utilizados e demais nuances.
À medida que as repressões aumentam, o negro abriga-se na roda para
cantar, dialogar, e discutir a reconquista do terreiro e da liberdade, como
mostra esse ponto de Guaratinguetá:
Na cultura ancestral africana, o universo articulava-se de modo
cosmogônico, isto é, em autocriação integrada: suas partes respondendo pelas
relações entre os homens, a natureza e os Deuses. De maneira oposta, a

169
tradição judaico-cristã, da qual somos herdeiros, dualmente faz a separação
matéria-espírito. Na tradição estudada, essa dicotomia inexiste: céus, terras,
natureza, trabalho, homens, ancestrais e Deuses, todos interagem e se
complementam ou, nas palavras de Dias, (2001, p. 866):
Num universo sacralizado, qualquer ação do homem ganha caráter ritual, direcionando-se para equilibrar a sua força vital com as demais energias do cosmo. E convivem em continuum o mundo dos homens, da materialidade, e o mundo invisível, dos ancestrais e divindades. Sendo, pois, a vivência do sagrado total e cotidiana, ela não exclui as emoções humanas, o prazer e a alegria: a fé com festa que tanto intrigava os cronistas. A terra é lugar da celebração entre homens, ancestrais e natureza.
Conforme nos diz Silva (2006, p. 41), “era guardiã dos mortos, a servidora dos
vivos e a promessa dos vindouros. Pertencia a todos eles, no tempo e na
eternidade.”
As cerimônias dos candomblés da Bahia e do Rio de Janeiro iniciam-se
pela saudação aos orixás africanos e aos caboclos, considerados como donos
da terra. Na Umbanda ocorrem ritos iniciais semelhantes e no Jongo, temos os
chamados pontos de abertura, no qual os antigos jongueiros, os santos, a
comunidade e a própria terra são reverenciados.
Saravá toda essa terra Folha de Amendoeira Saravá mestre jongueiro E o povo da cantareira
Assim que as rodas do Jongo da Cantareira iniciam, pedindo licença à
terra aos jongueiros e ao povo do lugar.
As culturas de terreiro narram, segundo princípios de uma estética
singular, as transformações sofridas nas suas realidades particulares. Na
comparação entre elas pode-se perceber as semelhanças e diferenças de seus
processos de identificação e resistência. Teobaldo (2003, p. 11) ao notar que, a
partir de 1970, ocorre a fragmentação na vida social das comunidades do
trecho entre Campos e Paraty, desalojadas por conta da especulação
imobiliária, mostra que tal fato “exigiu das culturas orais-rítmicas como Jongos -
que têm seus fundamentos assentados nos laços familiares - uma reavaliação
urgente de seus códigos de comunicação”.
A migração para a cidade provoca, nestas culturas, a incorporação de
novos temas no seu universo, a fim de serem mantidas as suas funções:

170
Não há outra forma de compreender as culturas de terreiro, se não pela sua utilidade. Cantos de trabalho, terços cantados, rodas de Jongo, tudo isso é utilitário. Simplesmente porque é necessário. Socializa ações. Comunga identidades. (...) a cultura oral sobreviveu e ainda sobrevive, como no caso do Jongo rural de Angra dos Reis, porque aprendeu a superar os limites geográficos ou políticos que poderiam enfraquecer a sua resistência. (TEOBALDO, 2003, p. 12) A apropriação/reinvenção de elementos culturais constitui o eixo de
reflexão deste trabalho, em que a cultura é caracterizada não “apenas pela
gama de atividades ou objetos tradicionalmente chamados culturais, de
natureza espiritual ou abstrata, mas apresenta-se sob a forma de diferentes
manifestações que integram um vasto e intricado sistema de
significações”(COELHO, 2004, p 103). A cultura é, portanto, o que fazemos e o
que significamos, sendo um elemento mediado pela ação e reflexão humanas,
e, dialeticamente, delas faz parte, sendo responsável pelo que de humano
temos.
Partimos do pressuposto de que nosso olhar é constituído pelas
experiências culturais vividas nas relações sociais, e que quanto mais
reflexivos e rico de experiências somos, maior criticidade imprimimos ao olhar.
A constituição de experiência carrega o que é meu e o que é nosso, elementos
que se tocam e se modificam em uma relação dialógica. O olhar constitui uma
das portas de entrada de nossas experiências, no sentido que Benjamin
concede ao termo, um “fato de tradição, tanto na vida coletiva quanto na
particular. Consiste não tanto em acontecimentos isolados fixados exatamente
na lembrança, quanto em dados acumulados, não raro inconscientes, que
confluem na memória” (BENJAMIN, 1980, P. 30). Ao discutir o conceito de
memória involuntária em Proust, o filósofo se refere à experiência como algo
que conjuga conteúdos do passado individual com os do passado coletivo.
Os cultos, com os seus cerimoniais, com as suas festas (sobre as quais talvez nunca se fale em Proust), realizavam continuamente a fusão entre esses dois materiais da memória. Provocavam a lembrança de épocas determinadas e continuavam como ocasião e pretexto dessas lembranças durante toda a vida. Lembrança voluntária e involuntária perdem assim sua exclusividade recíproca. (BENJAMIN, 1980, p. 32) Assim, o material que significa o olhar carrega a historicidade em que
estamos imersos, que, por sua vez, devolve ao coletivo os significados que
construímos, pois o olhar expressa e capta. Ao captar fatos da tradição

171
ancestral nosso olhar se municia de uma compreensão mais arraigada dos
elementos constitutivos de uma cultura negada, no caso dos elementos
culturais de raiz africana, desvelando-a.
Neste sentido, o jovem grupo Jongo Folha da Amendoeira parte da
teoria à ação, ao propor a experiência de jongar, aqui compreendida a partir
dos estudos de Benjamin (1991) que faz uma importante distinção entre as
ideias de vivência e experiência. Enquanto essa se caracteriza por permitir a
apropriação de conhecimentos, que passam a fazer parte da constituição
psíquica do sujeito, de sua memória, aquela permite o desaparecimento do
vivido, por não ter sido ele incorporado à memória, pela supremacia da
captação do choque, do acúmulo de informações, em relação ao
armazenamento de impressões. Para Souza (1997), com essas reflexões
Benjamin mostra como a forma de produção capitalista e as transformações
técnicas interferem nas formas de sentir, deixando marcas não só no fazer
individual cotidiano como também na produção cultural coletiva. Há, desta
forma, uma degradação da experiência agravada pela aceleração do ritmo da
produção.
Ao propor a “experiência do jongar” os jovens buscam um dado
engajamento individual na direção de uma ação coletiva, indo na contramão da
degradação da experiência denunciada por Benjamin, e favorecendo o diálogo
constante com as diferenças, que se opõe à vivência individualista, tão cara em
nossos tempos de capitalismo avançado.
Bauman (2000), ao analisar o que ele chama de modernidade líquida,
explica a falta de engajamento como uma das consequências da estrutura
societária atual. Para o autor, há um atomismo das relações, nas quais o
indivíduo figura como responsável pelas decisões, fracassos e sucessos.
Bauman (2000) nos fala desta sociedade, percebendo que, em nossa época, a
individualidade se constitui como característica inexorável. Para ele, o tempo
da modernidade líquida é o tempo da total liberdade de escolha e de se
suportar sozinho suas consequências, em que o processo de identidade passa
de “grupos de referência” à “comparação universal”, já que os moldes são
muitos, variados, dados pelos exemplos vindos de outros indivíduos, e
efêmeros.

172
As pessoas não se identificam com o grupo dos liberais ou dos caretas,
mas com exemplos individuais. Essa ideia de identidade parte da análise da
globalização como fenômeno que mudou radicalmente a estrutura das
“condições de trabalho, as relações entre os Estados, a subjetividade coletiva,
a produção cultural, a vida quotidiana e as relações entre o eu e o outro”, como
alerta Vecchi no prefácio ao texto de Bauman (2005, p.11). Nesse, o sociólogo
traz algumas questões importantes para o desenho da sociedade atual. A
primeira é que a identidade é algo a ser construído, e não descoberto, ou seja,
não existe a priori e sim em um processo de construção contínuo. É inconcluso,
portanto.
O conceito de identidade tem intrínseca relação com o de comunidade.
Para Bauman (2000) existem comunidades, mas são, também, efêmeras e não
definidoras da identidade. Há um impulso modernizante que busca, o tempo
todo, destruir o velho para construir o novo. Fica-se sem referências sólidas. A
identidade constitui-se como um projeto sempre a realizar-se, porque os
objetivos sempre se modificam. Não há quem nos molde e sim o desejo
individual.
Porém, a ampliação da esfera da liberdade individual, paradoxalmente,
gera a rigidez da ordem estabelecida, resultado da desregulamentação, da
fluidez. O fluido é a metáfora escolhida porque garante a imagem perfeita:
ocupa todos os espaços, se molda a todos os corpos e, por isso, se mantém.
Não se deforma, conforma-se. Não há líderes e sim conselheiros que indicam
como fazer, e, por isso, a nossa competência poderá nos levar ao sucesso e a
incompetência, ao fracasso.
Bauman considera irreversível o processo de individualização, fazendo
com que o espaço da política, público, portanto, seja objeto de re-construção, o
que seria possível pelo compartilhamento de intimidades, ideia que ele
empresta de Sennett (1998 apud Bauman, 2000:46 –grifo do autor) porque “o
que nos leva a aventurar-nos no palco público não é tanto a busca de causas
comuns e de meios de negociar o sentido do bem comum e dos princípios da
vida em comum, quanto a necessidade desesperada de fazer parte da rede”.
É possível afirmar que as transformações que deram origem à
sociedade moderna e o avanço dos ideais burgueses propiciaram o
aguçamento do individualismo até chegar ao ponto alcançado em sua

173
configuração atual, em que fica patente a provisoriedade e a multiplicidade
inerente ao sujeito moderno. Em outra direção, Hall (2003) acrescenta a essa
discussão a ideia de que o conforto com uma identidade unificada é fruto de
uma história narrada por nós. É o sujeito que constrói uma trama sobre si, que
garante a unidade. Para o autor
à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidade possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2003, p. 13) O caráter de mudança que acompanha a globalização seria responsável
pela fragmentação e dispersão das identidades na pós-modernidade,
contestando e deslocando as identidades fechadas de uma cultura nacional. A
dispersão e a fragmentação, ao mesmo tempo em que dilui, recupera, porque
se podemos ser múltiplos, temos a “liberdade de ser”, ideia que se limita pelas
relações sociais, pelo que podemos ser.
Os jovens reunidos na Cantareira exercem esse direito, e, na difusão
buscam reintegrar mais uma identidade, aquela que está sob o acúmulo
advindo da mídia, na memória que quase se perdeu, na ancentralidade: a de
jongueiro. Uma construção identitária que se re-inaugura no encontro, na
formação de experiências comuns. A cada roda, elementos do ritual tradicional
é revisitado e incorporado à vida dos jovens que dela participam.
A poética: Cena 2
É uma festa. Os jovens participantes do Jongo Folha de Amendoeira comemoram um ano da roda, iniciada em 13 de maio de 2010. Há uma mesa redonda, coquetel, e a roda. Toda a organização é feita pelo grupo, que arrecadou dinheiro com vendas de rifas. O tema da mesa é “A construção das ideias racistas no pensamento brasileiro” e dela participam dois professores. Os jovens ouvem, atentos, as falas e, nas suas, contam suas experiências de vida. Depois do lanche, a roda, lá na praça. O espaço está enfeitado com folhas das amendoeiras e, dentro delas, as letras dos jongos. As moças estreiam suas saias floridas, usadas com camiseta branca e um lenço da mesma cor. Os rapazes, a camisa do grupo com calça clara. Rodrigo reza junto ao tambu, o jongo começa, todos cantam os pontos e dançam, com alegria.
A linguagem explicita as relações entre a subjetividade humana e os
produtos culturais. Apoiando-nos em Bakhtin (1997, p. 117) pensamos que
aquilo que é expresso pelo sujeito nasce de um território social, como um

174
produto desta inter-relação, da mesma forma que esta atividade mental é parte
constituinte do território. Nessa relação são fundamentais os conceitos de
diálogo e de alteridade, que nos ajudam a compreender como as mensagens
são compartilhadas e como sua circulação faz parte da formação subjetiva, de
forma a construir significados relativamente estáveis que compõem uma
ideologia do cotidiano. Neste sentido, Wersch(1991) chama atenção para a
matriz bakhtiana como fonte de conceitos que explicitam como as relações
sociais se organizam na constituição de sentidos individuais.
Para tal, Bakhtin traz como pressuposto básico a afirmação de que "todo
signo ideológico, e, portanto também o signo lingüístico, vê-se marcado pelo
horizonte social de uma época e de um grupo social determinados". E de que
forma isto se constrói? O processo de formação do signo parte da ideia de que,
para que um objeto da realidade possa se configurar semiótico-
ideologicamente, ele precisa adquirir uma significação interindividual,
constituindo-se como um índice de valor a partir de um dado "consenso social".
Porém, há uma dialética interna do signo, pois em seu interior se confrontam
"índices de valor contraditórios". O signo ideológico se constitui como uma
arena de lutas, da qual emergem os sentidos.
O vestuário utilizado pelos jovens, os gestos e o ritual, ensinado por eles
aos participantes da roda de tempos em tempos, fazem parte de um conjunto
de signos constitutivos da “experiência de jongar”. Bakhtin (1997, p.46) permite
a compreensão de que a construção subjetiva nasce do complexo social, e,
assim, como diz Wersch(1991), traz subsídios que fundamentam a ideia de que
a formação da mente carrega componentes construídos socialmente. Os
construtos bakhtianos focalizam o enunciado verbal, mas apontam, no que diz
respeito aos textos não-verbais, a insuficiência do signo para a apreensão dos
sentidos. Ou seja, existem elementos presentes nos textos não-verbais que
não são plenamente traduzidos pelos enunciados verbais. A forma de entrar na
roda, a reverência ao tambu, a marcação das palmas, o sorriso, as cores,
compõem um todo sem o qual a tradição não se mantém.
Bakhtin (1997) ao se referir aos textos não-verbais sinaliza a complexa
relação entre esses e as palavras, considerando a imagem um signo e,
portanto, uma construção ideológica. Para o autor

175
[...]Todas as manifestações da criação ideológica - todos os signos não-verbais - banham-se no discurso e não podem ser nem totalmente isoladas nem totalmente separadas dele. Isso não significa, obviamente, que a palavra possa suplantar qualquer outro signo ideológico. Nenhum dos signos ideológicos específicos, fundamentais, é inteiramente substituível por palavras. É impossível, em última análise, exprimir em palavras, de modo adequado, uma composição musical ou uma representação pictórica [..] Todavia, embora nenhum desses signos ideológicos seja substituível por palavras, cada um deles, ao mesmo tempo, se apóia nas palavras e é acompanhado por elas[...] (BAKHTIN, 1997, p, 38) Assim, nenhum signo se encontra isolado na consciência, que a ele se
referencia verbalmente. Apesar de não considerar que o signo verbal suplante
os demais signos, Bakhtin oferece lugar privilegiado à palavra no ato
consciente, por sua presença constante em todos os atos de compreensão e
de interpretação. Quando percebemos algo nem sempre conseguimos explicar
a percepção, o que ela representa naquele ato (e nem sempre é necessário,
basta sentir). Porém se queremos compreender conscientemente, nossa
interpretação passa pela expressão verbal.
Dispostos em círculo, os jongueiros movimentam-se no sentido anti-
horário. O primeiro passo sempre é dado com o pé direito acompanhando a
batida do tambu.
Os dançarinos, conforme observa Ribeiro (1960, p.47), “fazendo um
balance de dois ou três passos e viram à direita e esquerda” numa espécie de
simulação de abraço. Um casal realiza, no centro da roda, um solo até que seja
substituído por outro.
O cântico entoado pelo jongueiro chama-se ponto ou simplesmente
jongo. Falado ou cantado primeiramente pelo solista, possui versos livres
improvisados é respondido por todos. A voz, coletiva, irmana e une a todos.
Por isso os jongueiros utilizam as expressões "tirar" ou "jogar" um ponto
quando se referem a iniciar o canto. Tal procedimento situa-se no código de
coletividade que a roda exige: Ninguém faz o ponto. Fazer situa-se no plano
individual e a dinâmica do Jongo reforça a coletividade que reconhece na
palavra a força de fazer a roda girar.
Além disso, quando se “tira” algo é porque ele já existia, era imanente à
comunidade que comunga, toma parte do que é dito. Jogar está no campo
semântico da diversão e, ao mesmo tempo da destreza. Só joga aquele que

176
bebeu bastante da tradição jongueira, aprendendo e apreendendo seus
mistérios, preceitos, metáforas e malícias.
Saravá toda essa terra Folha de Amendoeira Saravá mestre jongueiro E o povo da cantareira
Os jongueiros da Amendoeira abrem assim suas rodas. Avisam que
chegaram para o Jongo e pedem licença ao mais velho. É um ato de respeito
às regras de comportamento, aprendido e apreendido no contato com os
pontos de outras comunidades:
Bendito, louvado seja É o Rosário de Maria, Bendito pra Santo Antônio Bendito pra São João Senhora Sant’Ana Saravá meus irmãos (JONGO DA SERRINHA, 2001, p. 46) Peço licença a Deus Nesta terra que eu piso Nesta terra que eu piso, (Jongo de Pinheiral. In: JONGO DO SUDESTE, 2004, p. 39) Saravá São Benedito Nossa Senhora do Rosário, (JONGO DO QUILOMBO DE SÃO JOSÉ, 2004, p. 52) Cheguei na angoma Tinha muita diferença Quero cantar meu pontinho E meus pais velhos dão licença. (Tia Maria Luíza, de Angra dos Reis In JONGO DO
SUDESTE, 2004, p. 39) Quando eu aqui cheguei Padre, Filho, Espírito Santo Se eu me benzer primeiro Por causa de algum quebranto. Um quebranto, Se eu me benzer primeiro Por causa de algum quebranto (idem, p. 41)
Durante as rodas na Cantareira, Rodrigo Rios as interrompe para
ensinar aos expectadores as regras do jongo. Diz ele "quando algum jongueiro
deseja cantar outro ponto, interrompendo o anterior, grita: “Machado!” ou
“Cachuêra!” Fala da tradição negra, preconceito, convida e ensina a dançar.
Em uma comunidade tradicional isso não ocorreria, pois esses ensinamento

177
são efetuados através de jongos. Em sua fala, no debate que iniciou a
comemoração do aniversário, Rios esclarece que os elementos religiosos
encontrados no Jongo são importantes que se combatam preconceitos e
intolerâncias. O contato com diversidade rítmica, religiosa, temática se faz
fundamental para o grupo, em uma atitude de resistência e diálogo.
Do ponto de vista da dinâmica da roda de jongo, os pontos podem ser
classificados em: de licença e louvação entoados no início do jongo ou da
chegada de um jongueiro a este. Os pontos de visaria, que alegram e divertem
os participantes expressando o cotidiano da comunidade se seguem60. Os
pontos de demanda, gurumenta, gromenta ou gorumenta, corruptela de
argumento (DIAS, 2001, p. 878), incluem os de encante e vêm a seguir. Sua
diferenciação estaria apenas calcada na intenção do jongueiro em
ensinar,desafiar ou enfeitiçar alguém61.Por último, pontos de despedida.
Na Amendoeira pontos oriundos de diversas comunidades jongueiras
são cantados. Mas eles também tiram seus pontinhos, que podem ser
classificados por suas temáticas.
A primeira temática observada diz respeito ao orgulho e a identificação com a terra:
A semente pra crescer Quer água pra germinar Saravá mestre jongueiro
Que veio a semente regar
A benção do criador Eu quero agradecer
Da terra nasceu a mata Me deu água pra beber
O sol é quem me faz rocha Vento pra eu semear
Deu tambor pra dançar Jongo em noite que tem luar
Esses pontos indicam com exatidão o procedimento inovador utilizado
na Amendoeira: no primeiro, a comunidade sabe que seus laços ancestrais são
diferentes das demais comunidades. Assim, se vê como uma semente, o novo,
o vir a ser. Sua existência necessita da presença do Mestre jongueiro ou
Cumba aquele que ensina, o feiticeiro da palavra. Sua missão é perpetuar a
60 Essa seqüência é feita sem pausas ou explicações que rompam a unidade da roda. 61 Acreditamos que dificilmente uma pessoa mal intencionada ficaria impune em uma roda de jongo. Alguém acudiria o injustiçado.

178
tradição jongueira com a inseminação do seu conhecimento ancestral, a água.
O segundo já mostra a comunidade em consonância com os elementos
naturais,que permitem seu fortalecimento. Uma vez reatados os laços entre o
velho e o novo, os jovens jongueiros podem se mostrar e convidar a todos para
a sua roda:
Olha o jongo caxambu oi folha de amendoeira Olha o jongo caxambu
Convidando todo mundo Pra cantar a noite inteira
Os versos cantados nem sempre utilizam metáforas, representando o
sentimento de pertencimento,quando são autorreferentes:
Descalço debaixo da Amendoeira Eu danço jongo de frente pro mar
Eu me senti na mama África
Ou até mesmo a visão compartilhada pelo grupo sobre a situação
histórica do negro, consolidando uma interpretação dos fatos históricos a partir
da situação do negro. São jongos de resistência, sem os volteios que os
marcavam nos momentos em que a expressão era proibida. No início do século
XXI, eles são cantos de denúncia e afirmação de uma outra forma de ver a
história
Isabel libertou preto Quem foi que te falou? Ela não libertou preto Preto é que se libertou
13 de maio princesa Isabel
Assinou papel de carta Que preto não escreveu
Eu não sei ler, também não sei escrever Mas sei que a liberdade branco não vai fazer
Atualizam as formas de discriminação, questionando as posições
reveladoras dos preconceitos arraigados:
Eu perguntei ao céu Eu perguntei à lua
Porque o Branco me vê Me olha e atravessa a rua?

179
Assim, bebendo na água da tradição, pedindo licença aos ancestrais, os
jovens jongueiros da Folha da Amendoeira, revelam nos versos emprestados e
nos tirados por eles, sua percepção do mundo, seu desejo de pertencer a um
manancial cultural que fale de nossas raízes afrodescendentes.
Considerações finais
Adeus, adeus Eu vou embora Fica com Deus
E Nossa Senhora
A lei 10 639/03 representa um marco na história da resistência cultural
dos negros trazidos para o Brasil em sua diáspora, porque exige a recuperação
de um patrimônio fundamental para o ser humano: sua história e sua cultura.
Nas rodas de jongo, o sentido é o oposto ao do realizado no ritual da árvore do
esquecimento: nos portos de embarque de escravos para a diáspora, havia a
árvore ou portal do esquecimento. Homens e mulheres eram obrigados a dar,
respectivamente, 9 ou 7 voltas ao redor deste e em sentido horário. As
memórias, o passado, a cultura e a identidade eram ritualisticamente
esquecidas, rompendo todos os vínculos, todos os laços de pertencimento.
Deste modo, os cativos perdiam a condição de viventes, convertendo-se em
mortos em vida. Se o “esquecimento” permitiu a sobrevivência em solo
estrangeiro, foi a lembrança que garantiu a dignidade, preservada na memória
oral dos afrobrasileiros.
Os jovens, em sua prática, nos educam, fazendo-nos compreender que
é preciso conhecer para reconhecer-se.
Referências bibliográficas
ALCANTARA, Renato de. A tradição da narrativa no Jongo. -Rio de Janeiro:
UFRJ / Faculdade de Letras, 2008
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 8a. ed. São Paulo:
Editora Hucitec, 1997.

180
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida.Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
2000.
BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas em Baudelaire. São Paulo: Abril
Cultural, 1980. p 29-56. (Coleção Os pensadores)
DIAS, Paulo. A outra festa negra. In JOANCSÓ, Istvean; KANTO, Íris(orgs).
Festa: Cultura e Sociabilidade na América Portuguesa. São Paulo: Hucitec:
EDUSP: FAPESP: Imprensa Oficial do Estado de SãoPaulo, 2001, vol 2.
GERBER, Daline Rodrigues. Criação, Cultura e Jongo. Disponível em:
http://sensacoesdeumatarde.blogspot.com/. Acesso em maio de 2011.
HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A
Editora, 2003.
IPHAN. Jongo no Sudeste. Brasília: IPHAN, 2005.
JONGO da Serrinha. Rio de Janeiro: Associação Cultural Jongo da
Serrinha:Secretaria Municipal de Cultural, 2007.(CD/Livro)
SOUZA, Solange Jobim e. Infância e linguagem: Bakhtin, Vygotsky e Benjamin.
Campinas: Papirus, 1997.
SILVA, Maurício Pedro. Novas diretrizes para o estudo da História e da Cultura
Afro -Brasileira e Africana. Eccos – Revista Científica. São Paulo, v. 09, p.39-
52, jan/jun. 2007.
WERTSH, James V. Voces de la mente. Un enfoque sociocultural para el
estudio de la acción mediada. Madri, Ed. Aprendizage Visor, 1991.

181
Parte 2
Práticas pedagógicas

182
Além do Jonny Quest: a utilização de dois clássicos cinematográficos como recursos didáticos no ensino de
história da África.
Walter Angelo Fernandes Aló62
Os contemporâneos da geração Hanna-Barbera certamente irão se lembrar
de um desenho animado chamado Jonny Quest, que retratava as aventuras de
uma turma de cientistas high tech nos mais remotos cantos do planeta.
Em minha memória afetiva ainda ecoa a frenética música de abertura do
desenho, tendo como pano de fundo os flashes dos episódios anteriores, sobretudo
na cena em que Jonny e sua turma, composta pelo Dr.Benton Quest (o pai do
protagonista), o fortão Roger Bannon, o amigo hindu Hagi e o frenético cachorrinho
bandit, um intrépido buldogue, aparecem fugindo de um bando de furiosos Pigmeu.
Caricatamente retratados, esses habitantes da floresta tropical africana
aparecem com suas pinturas e brandindo lanças para capturarem e, quem sabe,
cozinharem os intrusos brancos em seus imensos caldeirões.
Na verdade, poderíamos também estar falando de outros heróis ocidentais
das histórias em quadrinhos e do cinema, como o Fantasma, o imortal ”espírito que
anda”, senhor das florestas e “amigo” dos nativos, bem como do musculoso negro
Lothar, servo fiel do mágico Mandrake, personagens que como Jonny Quest foram
construídos a partir de uma visão eurocêntrica.
Cristalizada nas últimas décadas do século XIX, essa concepção colonialista
estereotipou a diversidade cultural de centenas de povos africanos, moldada em
uma experiência histórica de mais de 5000 anos, que forjou genuínos sistemas de
organização política e social, utilizando preconceitos como “inferioridade” e
“selvageria”, conforme já observou Leila Leite Hernandez:
O termo africano ganha um significado preciso: negro, ao qual se atribui um amplo espectro de significações negativas tais como frouxo, fleumático, indolente e incapaz, todas elas convergindo para uma imagem de inferioridade e primitivismo (...) nessa perspectiva a África ao sul do Saara, até hoje conhecida como África negra, é
62 Mestre em História Política e das Relações Internacionais / UERJ, Especialista em História da América / USU, Colaborador do PROEALC / UERJ, Membro da Coordenação de Projetos dos CVTs / FAETEC e Professor de História da ETE República / FAETEC e das redes pública e privada de ensino do Estado do Rio de Janeiro.

183
identificada como um conjunto de imagens que resulta em um todo indiferenciado, exótico, primitivo, dominado, regido pelo caos e geograficamente impenetrável.63
Deixando as evocações juvenis de lado e desde 1987 lecionando a disciplina
História, com passagens pelos níveis fundamental, médio e superior, me vejo ainda
indagando como construir estratégias letivas que possibilitem aos alunos
“descortinarem” uma nova concepção de África, compreendida a partir de uma
abordagem “descolonizada”, explorando a riqueza histórico-cultural de um
continente que abarca como nenhum outro uma grandiosa variedade humana:
Mesmo antes da chegada dos colonizadores brancos, a África já não abrigava somente negros, mas cinco das seis principais divisões da humanidade, e três delas restringem-se aos nativos na África. Um quarto das línguas do mundo é falada apenas na África. Nenhum outro continente abrange esta diversidade humana (...) a diversidade dos povos da África resultou de sua geografia variada e de sua longa pré-história. A África é o único continente que se estende da zona temperada do norte a do sul, também abrange alguns dos desertos mais secos do mundo, as maiores florestas tropicais e as montanhas equatoriais mais altas. A África era habitada por humanos muito antes do que qualquer lugar: nossos ancestrais remotos originaram-se de lá há sete milhões de anos, e o homo sapiens anatomicamente moderno pode ter surgido lá desde então.64
Por outro lado, a despeito de uma prévia intuição professoral que me inclina a
empreender algumas abordagens mais sofisticadas (ou menos alienadas) de
temáticas pontuais de história da África e ou afro-brasileiras, limitadas, entretanto, a
uma esgotável relação de itens (“a África no contexto das grandes navegações”; “a
natureza do tráfico negreiro”, “a formação social do Brasil colônia”; “a luta
abolicionista no Brasil das últimas décadas do século XIX”; a Descolonização do
pós II Guerra Mundial e poucas mais), ainda me sinto de certa forma limitado
qualitativamente para materializar na prática letiva cotidiana um enfoque renovado e
crítico dos conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
O motivo? Pertenço a uma geração de docentes, graduados antes de 2000,
notadamente em disciplinas como História, Geografia, Sociologia, Filosofia e
Literatura, praticamente “órfãos” das temáticas de matrizes africanas nas
respectivas formações acadêmicas.
Para ser fiel à verdade, recentemente soubemos que já em 1997 a professora
Leila Leite Hernandez ofereceu pioneiramente na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC / SP) alguns cursos de História Contemporânea da África e no
63 HERNANDEZ, 2005, p. 18 e 21. 64 DIAMOND, 2001, p.378.

184
ano seguinte passou a ministrar a disciplina História da África na graduação e na
pós-graduação em História Social da mesma instituição.
Por força da promulgação da Lei Federal nº 10.639 / 2003, que altera a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, as instituições de ensino brasileiras, em
seus diversos níveis, viram-se obrigadas a promover as adequações curriculares
necessárias, bem como a estimular a conseqüente atualização pedagógica dos
docentes.
No âmbito dos desdobramentos da referida lei, as editoras, inclusive as de
didáticos, reorientaram-se para a nova demanda de temáticas afro-brasileiras e
africanas65, enquanto as Universidades, as Secretarias Estaduais e Municipais de
Educação e os órgãos de classe passaram a promover cursos de atualização para
os professores e os educadores, nos níveis de extensão e de pós-graduação lato-
senso66.
Após essas considerações iniciais, gostaríamos de compartilhar com os
colegas professores e educadores uma recente e bem sucedida experiência letiva,
vivenciada com os alunos do ensino médio a partir da utilização de um mesmo
recurso didático: a exibição e a análise contextualizada de dois filmes históricos.
Ressalte-se que a referida experiência letiva foi concebida a partir da
convergência de duas áreas de interesse histórico, afortunadamente interligadas:
África e Islã. 65 Até aproximadamente 2000, minha lembrança (ou ignorância) de utilização de livros didáticos com abordagens “descolonizadas” e mais abrangentes nas temáticas africanas e afro-brasileiras resumia-se às obras do Professor Joel Rufino dos Santos. Já após 2003, no contexto da adaptação do mercado editorial à nova demanda acadêmica e escolar impulsionada pela Lei 10.639, merecem destaque, publicações como HERNANDEZ, Leila Leite- A África na Sala de Aula. São Paulo: Selo Negro, 2005; SCHMIDT, Mário Furley. Nova História Crítica. São Paulo: Nova Geração, 2005; AZEVEDO, Campos Gislane & SERIACOPI, Reinaldo- História. São Paulo: Ática, 2005, os dois últimos voltados para o ensino médio, com capítulos específicos sobre história da África e editados em 2005, e SOUZA, Marina de Melo e. África e Brasil Africano. São Paulo: Ática. 2008. 66 Ainda dentro do nosso universo de conhecimento e atuação, o Rio de Janeiro, destacamos, sob o risco de negligenciar a atuação de outras instituições, iniciativas como a da Universidade Cândido Mendes, promovendo cursos de especialização lato-senso e mantendo uma excelente biblioteca temática, a do Afro-Asiático; da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela criação do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais e Ações Afirmativas (NEERA), vinculado ao Programa de Inclusão da mesma Fundação, que nos dois últimos anos vem patrocinando , entre outras iniciativas, encontros docentes, palestras, cursos de extensão e publicações referentes à temática afro-brasileira e promovendo ainda a discussão para a formulação de ações pedagógicas cidadãs de superação da discriminação e do racismo nas unidades escolares da rede, e do SEPE, que em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) / Núcleo de Estudos Contemporâneos (NEC) realizou algumas edições de cursos de extensão em História da África. Merece destaque especial ainda as diversas iniciativas do Ministério da Cultura, da Fundação Palmares, da Universidade Federal da Bahia, da Secretaria Especial para a Promoção da Igualdade Racial e do Projeto A Cor da Cultura / Canal Futura.

185
Vale destacar que a nossa intenção não é “contar os filmes”, estragando o
prazer de quem se disponibilizar a vê-los, nem muito menos tornar “hegemônicas”
as visões que serão expressas a partir de alguns pontos ressaltados para análise.
De que filmes estamos falando?
O primeiro é o clássico Maomé, o mensageiro de Alá (Líbia, Líbano e
Inglaterra, 1976. 220 minutos), produzido e dirigido por Mousthaph Akkad, com
música de Maurice Jarre e estrelado por nomes como Anthony Quinn, Irene Papas,
Johnny Sekka e Michel Ansara.
O segundo é o recente 10.000 a.C. (2008, EUA, 108 minutos), dirigido por
Roland Emerich, tendo Steven Strait e Camile Belle nos papéis principais.
1º Sugestão - Filme: Maomé, o mensageiro de Alá
Uma ressalva oportuna: logo nos créditos iniciais os produtores advertem que,
em respeito ao Corão e de acordo com a interpretação teológica de autoridades
Islâmicas, Maomé não será personificado, evitando assim ofender a espiritualidade
do Profeta e de sua mensagem divina.
Quais as conexões do filme com a construção de uma abordagem diferenciada da
temática africana?
Procuraremos mostrá-las a partir de agora, elencando e posteriormente
comentando alguns dos referidos tópicos de reflexão e debate, com a vantagem
que os mesmos poderão ser contextualizados visualmente pelo aluno, sempre
ressalvando para os discentes os limites ficcionais de um roteiro cinematográfico,
mesmo quando centrado em temáticas históricas:
a) A gênese do Islã e a expansão pela África;
b) A intensa vida comercial na região entre a costa oriental africana e a Península
Arábica; a naturalidade da instituição escravista;
c) A corte do Rei Cristão da Abissínia;
d) A mensagem presente na trajetória do personagem Bilal (escravo).

186
a) A gênese do Islã e a expansão pela África
Nessa abordagem, o professor poderá comentar acerca do período entre os
anos de 610 e 632, marcado: pelas primeiras revelações presenciadas por Maomé;
a consolidação do status de Profeta de Alá; o politeísmo e o panteão da Kaaba na
Península Arábica (Meca); o suplício e o martírio dos primeiros mulçumanos; os
conflitos com a elite governante de comerciantes de Meca; a expulsão de Meca e o
exílio em Medina; “as espadas de Alá”, com destaque para o personagem Hanza,
interpretado por Anthony Quinn, naquilo que seria a gênese do conceito de jihad ou
guerra santa, móvel ideológico para a grandiosa expansão geográfica do Islamismo,
bem como ainda o retorno do Profeta à Meca.
É significativo ressaltar para os alunos que tal período preparou as condições
para a posterior islamização da África, iniciada a partir de 640 com a conquista do
Egito e progressivamente do norte do continente, desdobrando-se nos séculos
posteriores para o Sudão ocidental e central, o Chade, a Nigéria, o Mali, etc.
b) A intensa vida comercial na região entre a costa oriental africana e a
Península Arábica e a naturalidade da instituição escravista
Nesse ponto o docente terá condições de destacar a intensa vida comercial
ligando as cidades de Meca e Medina, na Península Arábica, às cidades do “chifre
da África”, estabelecidas através do Golfo de Aden e do Mar Vermelho.
Ali, onde entre outros atuais países localiza-se a Etiópia (Abissínia),
desenvolveu-se no início da era Cristã o Reino de Axum, que através do porto de
Adules, comercializava produtos da Índia, Arábia, África, China e Mediterrâneo.
Entre as mercadorias africanas destacavam-se o marfim, as plumas, o ouro
e o sal. Progressivamente, Axum passou a controlar as rotas comerciais do interior
para o litoral do Mar Vermelho e entre o vale do rio Nilo e Adules.
Os Axumitas empreenderam a conquista de territórios da Península Arábica
e do Império Kusch (Núbia), sendo que no século III já cunhavam moedas de ouro,
prata e bronze. No século IV converteram-se ao Cristianismo e aproximadamente
quatrocentos anos depois foram subjugados pela expansão mulçumana.
A maior parte das ações do filme ocorre nas ricas cidades comerciais de
Meca e Medina, ocasião em que os alunos poderão verificar diversas passagens

187
onde africanos negros aparecem na condição de cativos, inclusive em cenas
ambientadas no Império Bizantino e no Império Persa.
Acreditamos que o professor pode aproveitar a oportunidade para
contextualizar a questão da prática da escravidão entre os próprios africanos, com
possíveis analogias com o processo americano e brasileiro dos séculos XVI até
XVIII, a partir da visão panorâmica empreendida por Marina de Melo e Souza:
Desde os tempos mais antigos alguns homens escravizam outros homens, que não eram vistos como seus semelhantes, mas sim como inimigos ou inferiores. A maior fonte de escravos sempre foram as guerras, com os prisioneiros sendo postos a trabalhar ou sendo vendidos pelos vencedores. Mas um homem podia perder seus direitos de membro da sociedade por outros motivos, como condenação por transgressões e crimes cometidos, impossibilidade de pagar dívidas, ou mesmo de sobreviver independentemente por falta de recursos. Pelo menos era assim na África, onde acontecia de pessoas se entregarem como escravos a quem pudesse salvar a si e a sua família da morte por falta d alimentos, caso a seca ou os gafanhotos tivessem arruinado toda a colheita. Nos reinos que reuniam várias aldeias e federações de aldeias e nos quais o rei vivia numa capital, cercado de sua corte, de suas mulheres e de seus soldados, era maior e mais freqüente a presença de escravos (...) as mulheres, além dos trabalhos rurais e domésticos, também eram recrutadas para aumentar o harém do rei; os homens, além de trabalhar no campo, engrossavam os exércitos e faziam parte das caravanas como carregadores ou remadores. Havia uma hierarquia dentro da condição de escravo que ia desde o mais desprezado, como aquele que fazia serviços desagradáveis extenuantes, como trabalhar no campo e carregar cargas, até o que ocupava postos de responsabilidade e era admirado pelos seus talentos. O que fazia deste último um escravo, apesar do seu prestígio, era o fato de, por ser estrangeiro, não ter laços de parentesco ou de solidariedade na sociedade em que vivia, na qual só era reconhecido como membro na qualidade de subordinado a um senhor. Se traísse o seu senhor e escapasse com vida, seria reduzido ao último nível da escala social. A escravidão estava mais presente nas capitais dos reinos, nas cidades-estado e nos grandes centros de comércio, onde havia maior circulação de riqueza (...) além dos escravos serem integrados nessas sociedades, também eram uma mercadoria importante nas rotas do Saara (...) os que não ficavam trabalhando no norte da África, podiam ser mandados para o outro lado do Mediterrâneo, mas iam principalmente para a Península Arábica, sendo preferidas as mulheres (...) além de serem comerciados entre as sociedades africanas não islamizadas, os escravos estavam entre as mercadorias exportadas para a Arábia pelos portos da costa africana oriental, pelos quais podiam ser levados para a Pérsia e para a Índia, junto com mercadorias de luxo, como marfim, ouro, peles e essências naturais. Assim, quando os primeiros europeus chegaram à costa atlântica africana, e entre outras coisas se interessaram por escravos, abriu-se mais uma frente de comércio de gente, mas este já era velho conhecido de muitos povos africanos.67
Acreditamos que o professor consiga uma oportunidade ímpar para mostrar
que os componentes de cor e de raça, atribuídos à escravidão e à condição de
escravo, que legaram ao Brasil e aos EUA uma ideologia de pretensa inferioridade
67 SOUZA, 2008, p. 47 a 49.

188
dos africanos, expressa em comportamentos e atitudes racistas, é uma criação do
tráfico de escravos da idade moderna, realizado pelos europeus na costa atlântica
africana desde o início do século XV.
Todavia, o escravismo europeu da época do antigo sistema colonial não foi
igual, como vimos, ao tipo de escravidão vivida e praticada pelos diversos povos
africanos em seu próprio continente, realidade engendrada por uma série de
singularidades culturais, delimitadas no tempo e no espaço.
Conforme já destacamos, existem no filme várias cenas onde os africanos
negros são retratados na condição de escravos, propiciando ao docente a
oportunidade para esclarecer que nem todos os africanos são negros, bem como
ainda que as próprias idéias de uma África “una” e de “negro” são construções
teóricas européias do século XIX.
Nesse sentido, é fundamental o auxílio da geografia, explicando que ao sul
do deserto do Saara floresceram vários povos antropologicamente pertencentes ao
grupo humano negro devido a um pré-histórico processo de expansão e hegemonia
dos Bantos (provavelmente a partir dos atuais Camarões e Nigéria), explicando
assim como a África tornou-se majoritariamente negra.
No caso brasileiro, a transplantação de africanos escravizados ocorreu
nessas áreas de supremacia de povos negros, delimitada no vasto litoral atlântico.
Ou seja, para explicar o predomínio da escravização de africanos negros,
quer no âmbito do próprio continente como no contexto do tráfico atlântico da idade
moderna, não podemos desconsiderar a relevância dos fatores pré-existentes: a
geografia, a supremacia militar e a força da miscigenação (antropologia). Para
concluir esse tópico, alguns links com o filme.
Em determinada cena, na rica cidade mercantil de Meca, um dos abastados
senhores pune o seu escravo negro (personagem cujo nome é Bilal) em virtude do
mesmo ter se negado a açoitar um “rebelde” islâmico, cuja ofensa foi proclamar Alá
como “o único e verdadeiro deus”, o que então desafiava a tradição politeísta da
cidade, traduzida nos 360 deuses abrigados na Kaaba68.
No auge da ira com o escravo Bilal, o seu senhor proclama: “... eu comprei a
tua humanidade! Os teus deuses são os deuses do seu senhor!”. 68 Relembrando, a Kaaba (que significa casa de Deus) era na Arábia pré-islâmica um santuário em forma cúbica, situado na cidade de Meca, que dava guarida a cerca de 360 divindades das tribos do deserto, que em peregrinações anuais deixavam seus ídolos sob custódia da casa, ativando uma grande movimentação comercial na região. Alguns desses principais deuses foram Hubal (protetor de Meca), Al Lat (deusa do sol) e Al Manat (deusa do destino).

189
Em outra cena, já na corte do Rei negro da Abissínia, por ocasião do diálogo
deste com um enviado da cidade de Meca, que vinha reclamar a custódia dos
escravos fugidos, o monarca respondeu: “... devolveremos os seus escravos como
vocês certamente devolveriam os nossos, pois o corpo dos escravos pertence ao
mundo e podemos dispor deles...”.
c) A corte do Rei Cristão da Abissínia
Neste tópico desenrola-se uma das mais impactantes e reflexivas cenas do
filme, que entre as várias nuances interpretativas suscitadas ( colega professor,
sinta-se a vontade...) possibilita a desconstrução do estereótipo da África primitiva e
sem história, da “tribo, da tanga e do tambor”, em virtude da ambientação da
pomposa corte de um monarca africano do século VII, com toda a significação de
uma complexa organização política que enseja.
O soberano em questão era Annajashi, o “Leão de Judá”, rei cristão da
Abissínia (Etiópia) 69, região da África oriental, próxima da Península Arábica,
convertida ao Cristianismo no século IV, que recebe em sua corte um representante
de Meca, reclamando escravos fugidos.
Quando o rei percebe que além de escravos Meca também quer repatriar
“rebeldes religiosos”, o monarca profere uma contundente frase, afirmando “... que
em algum momento inicial todas as religiões representaram posturas de rebeldia...”,
conduzindo a questão, como mediador, para uma espécie de julgamento público,
ouvindo tanto as considerações do emissário de Meca como as dos primeiros
mulçumanos.
O debate travado é riquíssimo, enfocando questões teológicas convergentes
entre o Judaísmo, o Cristianismo e o nascente Islamismo, em meio a tradição
politeísta dos povos da Arábia pré-islâmica.
A eloqüência do representante dos “rebeldes”, afirmando que foi o próprio
Profeta Maomé que recomendou a eles procurarem refúgio da perseguição de
Meca na terra do sábio e justo rei cristão, enveredando pelos trechos primitivos das
palavras sagradas do Islã ( as revelações divinas ditadas pelo anjo Gabriel ), que 69 O termo etíope (Ityopya, cara queimada em grego) era aplicado na antiguidade a todos os africanos. O outro nome do país, Abissínia, derivaria da palavra árabe habbashat, uma das etnias do Iêmen que imigrou para a África por volta de 2000 a. C. O Geês, língua dos etíopes, pertence ao tronco semita e deriva do Sabeu, árabe do sul. Apud: Enciclopédia do Mundo Contemporâneo. São Paulo e Rio de Janeiro. Terceiro Milênio e PubliFolha. 2000. P. 270.

190
seriam posteriormente compiladas no Corão, especialmente no tocante a questão
do reconhecimento da significação profética de Jesus Cristo, alçado ao mesmo
patamar de Abraão, Noé e Moisés, é arrebatadora.
Ainda sob o impacto da força e da beleza do discurso do orador do Islã, o rei
Annajashi anuncia a decisão de prover abrigo, por tempo indeterminado, aos
fugitivos mulçumanos na Abissínia.
Aliás, algumas versões históricas dão conta que um pouco antes da fase das
revelações (610 a 632), Maomé teria mantido contatos de aprofundamento
teológico na própria Abissínia.
d) A mensagem presente na trajetória do escravo Bilal
Ao compartilhar essa última indicação para reflexão, gostaria de assumir o
risco de estar de alguma forma construindo uma hipótese que pode vir a ser
futuramente questionada por você, colega professor, visto que nunca conversei com
o Diretor do filme para saber se na concepção original da obra haveria a
intencionalidade de uma mensagem política qualquer.
A minha especulação centra-se na sensibilidade e na observação de quem
já assistiu ao filme diversas vezes, geralmente com a comodidade de estar com o
controle remoto nas mãos, realizando apontamentos para posterior checagem e
aprofundamento.
Por outro lado, sabemos que a partir de meados do século XX começou a
ruir academicamente o pressuposto da não-historicidade da África negra,
ocorrendo o reconhecimento de toda uma singularidade cultural e a difusão da
historicidade dos diversos povos subsaarianos, em seus variados e complexos
graus de organização social e política, possibilitando à pesquisa historiográfica e
antropológica sobre a África reativar as “vozes” de todas essas identidades
culturais soterradas pelo colonialismo europeu.
Já nas décadas de 1950/1960/1970 o sucesso das lutas de Descolonização
aflorou o orgulho de recuperação da identidade cultural (não necessariamente
nacional, entendida nos termos das fronteiras delimitadas pela Conferência de
Berlim), despertando a atenção mundial e aprofundando os processos de “reescrita”
da (s) história (s) africana (s), descolonizando mentalidades racistas e etnocêntricas,
inclusive a partir dos anos sessenta com a chancela da UNESCO.

191
Assim, historiadores africanos, afro-americanos e europeus passaram a
empregar o rigor científico e metodológico da pesquisa acadêmica aos temas
africanos, utilizando, inclusive, o “diálogo” com a arqueologia e a tradição oral e, já
nos dias atuais, com a lingüística e a etnografia.
De alguma forma, podemos dizer que a partir da década de 1960 do século
XX as questões políticas, econômicas e sociais africanas passaram a despertar
uma maior atenção da opinião pública internacional.
Mas, voltando ao ponto central, o que queremos dizer com a mensagem
presente na trajetória do escravo Bilal ?
Interpretado pelo ator Johnny Sekka, a saga de Bilal suscita algumas
conjecturas.
Estando em Meca no século VII, servindo a um rico comerciante,
provavelmente deve ter sido negociado no contexto dos diversos fluxos comerciais
orientais que ligavam o “chifre da África” à Arábia, oriundo bem possivelmente da
Núbia ou da Abissínia.
Ao se recusar a chicotear um mulçumano de primeira hora, endossa o valor
humanitário da compaixão, presente na mensagem do Islã.
Ao aderir aos que tinham fidelidade à mensagem do Profeta, os
mulçumanos, sofrerá o martírio como um igual, independente da condição
pregressa de escravo, acentuando a idéia de que todos são iguais perante Alá.
Ao padecer no deserto e no ostracismo de Medina, assumirá a condição de
líder político e de posterior “braço militar” na consolidação do Islã, com destacado
papel durante as guerras contra a rica cidade de Meca.
Quando ocorre a aceitação da mensagem de Alá pelos vários povos da
Arábia, Bilal será um dos protagonistas na preparação para o esperado regresso a
cidade sagrada de Meca, depois de dez anos de exílio (622-632).
Por ocasião da triunfal entrada do aparato militar islâmico em Meca, Bilal é a
voz proclamadora da não violência, do respeito às mulheres, aos fracos, aos
aleijados, aos órfãos e à própria natureza, perdoando inclusive os senhores de
Meca que expulsaram o Profeta e os mulçumanos (os fiéis à mensagem do Islã).
Talvez o maior dos simbolismos ocorra quando Bilal aproxima-se da Kaaba,
e antes de escalá-la, despe-se das armas, e de tronco nu, como o escravo de
outrora, silencia a multidão ao entoar os cânticos de louvor a Alá, proferindo as
orações que tão arraigadamente passariam a compor a liturgia islâmica.

192
Toda essa glória concedida a um (ex) escravo, portador da palavra do Islã,
pode ter representado uma tentativa de emprestar “corpo e voz” a uma mensagem
(em qualquer época sempre bem vinda!) humanista, de tolerância e de paz para o
conflito Árabe-Israelense, que à época da realização do filme (1976), contava com o
distanciamento histórico de apenas vinte e oito anos da fundação do Estado de
Israel e com o acúmulo de uma escalada de violência que tinha gerado até então
três guerras entre os árabes e os israelenses, a última delas em 1973, conhecida
como do Yom Kippur.
Sem falar ainda do contexto do trauma mundial ocasionado após o atentado
terrorista contra os atletas israelenses nas olimpíadas de 1972 e do horror das
imagens da guerra civil libanesa, eclodida em 1975.
Tudo isso num mesmo momento histórico de valorização e de curiosidade
acerca das temáticas africanas, interesse impulsionado ainda mais nos anos
setenta com as independências das colônias portuguesas na África (Angola,
Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau), sobretudo após a Revolução dos
Cravos, de 1974.
2º Sugestão - Filme: 10.000 a. C.
Nessa segunda indicação, ratificamos o propósito inicial: Como o filme em
questão pode ser utilizado em sala de aula, constituindo uma original e renovada
ferramenta de abordagem de temas da história africana?
Partindo da mesma premissa proposta no 1º filme, destacamos os seguintes
itens para análise e reflexão:
a) O povo Yaghal e a vida em uma comunidade pré-histórica
b) A Odisséia do herói D’Leh: outros mundos e uma África agrícola
c) Na Montanha dos Deuses: o Egito negro
a) O povo Yaghal e a vida em uma comunidade pré-histórica
O professor poderá destacar alguns aspectos econômicos, sociais e mágico-
religiosos da vida de uma comunidade do período pré-histórico, focando nos
Yaghal, protagonistas do filme, que habitaram provavelmente a Europa do norte, já

193
na fase final da última grande glaciação. Em meio a planícies, sobreviviam da coleta
e, principalmente, da caça ao mannak, uma espécie de mamute.
Para os Yaghal, a virtude e a coragem do caçador líder residiam no controle
da lança branca, que conduzia os demais guerreiros na busca de comida para todo
o povo, indicando relações comunistas de proteção e provimento da sobrevivência.
Como uma comunidade típica da transição entre o mesolítico e o neolítico, já
controlavam o fogo e vivenciavam suas experiências mágico-religiosas,
indissociáveis da pretensão de entender o mundo (a força da natureza).
Rogavam proteção ao Pai Mannak e tinham na figura da Mãe Velha uma
espécie de feiticeira ou sacerdotisa, que decodificava para a tribo as tramas do
plano divino e do destino.
Nas visões de Mãe Velha, o destino dos Yaghal seria alterado pelos
“demônios de quatro patas”. Todavia, residia em Evolet, a “menina de olhos azuis”
acolhida pela tribo, a “esperança de vida” para o povo.
Aqui caberia uma importante lembrança do docente aos alunos: Os Yaghal
então estariam em um estágio anterior ao sedentarismo, uma vez que não
dominavam ainda a técnica da agricultura e da domesticação dos animais.
b) A Odisséia do herói D’Leh: outros mundos e uma África agrícola
Nesse segundo tópico encontraremos um dos momentos mais significativos
do filme, conseqüentemente com diversos pontos de enfoque para o professor
interagir com a turma.
Destaque-se a travessia de grandes paisagens naturais, diferentes da
Europa do norte, berço dos Yaghal, bem como o contato com outros povos, com
diversificados níveis de organização social, política e econômica, notadamente os
africanos negros.
Ocorre que a tribo Yaghal é atacada pelos mercadores de escravos, que
capturam, além dos homens, a mística Evolet. É nesse momento que surge a figura
do nosso “Ulisses pré-histórico”, o caçador D’Leh, um jovem, que meio ao acaso,
tinha ganho a lança branca, e com ela a inesperada honra de liderar o povo.
A partir desse momento D’Leh reúne forças para resgatar a amada Evolet e
os demais irmãos Yaghal, em uma incrível jornada, que desembocará no Egito.

194
Nessa odisséia, o portador da lança branca terá a companhia dos amigos
Tic-Tic (o último portador da lança branca), Ka’ren e do adolescente Baku,
atravessando o que acreditamos ser a cadeia montanhosa dos Alpes, além de uma
inóspita floresta e o próprio deserto do Saara, o “mar de areia”.
Dois momentos emblemáticos dessa jornada: o primeiro, quando D’Leh cai
em uma armadilha subterrânea de caçadores, ficando frente a frente com um
gigante tigre dente de sabre (“tigre dente de lança”, na linguagem do povo Naku), a
quem liberta, colhendo uma futura gratidão da fera, no enredo de uma heróica
profecia de liberdade.
O segundo, um dos momentos de maior potencialidade de discussão para o
professor, é quando D’Leh e Tic-Tic entram em contato com vários povos africanos
negros, da região nilo-saariana, se surpreendendo com o domínio que uma dessas
tribos, os Naku, já tinham da agricultura, inclusive armazenando sementes e
utilizando enxadas de madeira e pedra.
Há uma interessante seqüência, onde os Naku manifestam as boas vindas
a D’Leh e a Tic-Tic servido iguarias, basicamente grãos, com destaque para uma
espécie de pimenta, que provoca em nosso herói uma divertida e óbvia reação,
comum àqueles que degustam tal alimento: a “garganta em chamas” e a
necessidade de água.
Didaticamente, o colega professor pode enfatizar que os estágios de
desenvolvimento humano provavelmente foram diferenciados, aleatoriamente
vinculados às condições geográficas, e independentes de questões raciais.
Se não fosse assim, como nossa historiografia eurocêntrica, a mesma que
rotulou a África negra de primitiva e sem cultura, poderia reconhecer o valor
civilizatório do pioneirismo africano (e negro!) no domínio da técnica da agricultura e
dos instrumentos de plantio?
Voltando à profecia. A cumplicidade entre o “tigre dente de lança” e D’Leh
explicava tudo para os Naku e para os outros povos nilo-saarianos, como os Kula,
os Tutt-Tutt, os Hoda e os “Sangue na cabeça”, todos vítimas de seqüestros
praticados pelos “demônios de quatro patas”, os mercadores de escravos.
O guerreiro da lança branca, vindo de além das grandes montanhas, que
falava com o “dente de lança” era o herói esperado, que lideraria os vários povos
até a “montanha dos deuses”.

195
Lá, teria que travar a maior batalha de sua vida: libertar os milhares de
homens e mulheres capturados e escravizados pelos deuses, como as de seu
próprio povo.
c) Na Montanha dos Deuses: o Egito negro
A “montanha dos deuses” ficava situada no Egito, especificamente na
planície de Giza.
Aqui, eu arriscaria dizer que encontraremos os momentos mais
espetaculares do filme, com inúmeras seqüências mostrando as grandes
edificações e as multidões de escravos, cortando e transportando blocos de pedra,
trabalhando na construção de obras públicas.
Para o professor abre-se a oportunidade para discutir uma série de
conceitos: o nascimento das primeiras civilizações na região do Oriente Próximo; o
modo de produção asiático; o Estado teocrático; a construção das pirâmides e da
esfinge; a importância histórica do Rio Nilo e a visão de um Egito negro.
Na seqüência, nosso herói e seus comandados se infiltram na cidade para
libertarem os irmãos, convivendo não apenas com as dificuldades do aparato militar
do regime da montanha dos deuses, como também com o controle ideológico que
os deuses mantinham sobre a consciência daquela massa de escravos.
O líder do regime era conhecido como o Todo Poderoso, uma espécie de
“primeiro faraó”, que personificava uma misteriosa civilização, em estágio superior
de desenvolvimento, oriunda, segundo os próprios escravos, “ ..das estrelas ou de
uma distante terra, engolida pelo mar...”.
Alguns traços dessa superioridade cultural aparecem, por exemplo, na
utilização de instrumentos de metais, na observação astronômica, na utilização de
cavalos, de mapas avançados e de grandes embarcações.
Aliás, muito da mística e do poder dos deuses vinha do impacto causado
pelas enormes embarcações, que utilizavam um sistema duplo de velas,
semelhantes a asas, chamadas pelo povo escravizado da montanha de grandes
aves.
O rio Nilo, via de comunicação natural na planície de Giza, que atracava e
conduzia as grandes embarcações, era conhecido como o ninho das grandes aves,
ou ainda denominado de serpente que se movia pela areia.

196
Roland Emerich, o diretor do filme, em depoimento afirmou que buscou
retratar intencionalmente três estágios distintos e possivelmente concomitantes da
evolução humana: a comunidade dos coletores e caçadores, dos Yaghal; os
agricultores, dos povos nilo-saarianos e o Estado teocrático, de cultura sofisticada,
da montanha dos deuses.
Para atingir seu objetivo, D’Leh percebe que teria que ir além da estratégia
militar. Seria necessário convencer a massa escravizada que o Todo Poderoso não
era um deus, e que por isso não poderia dispor da liberdade dos homens.
Nesse sentido, as seqüências de batalha e de revolta total dos escravos são
eletrizantes, demonstrando a face majoritariamente negra dos cativos, constituindo
o que viria a ser a civilização Egípcia clássica.
Na prática, tal possibilidade, de um Egito negro, foi desde o século XIX
negada e manipulada pela historiografia européia. Nos dias de hoje, infelizmente,
essa perspectiva ainda não foi totalmente revertida do ponto de vista acadêmico, o
que aumenta ainda mais a responsabilidade política dos historiadores e dos demais
estudiosos da cultura africana e afro-brasileira na construção de uma cidadania
intercultural, que nos legará uma sociedade justa e racialmente igualitária.
Conclusão
Recentemente, vasculhando a grande rede, encontrei referência destacando
que o filme 10.000 a. C. foi eleito pelo portal Yahoo como um dos campeões de
anacronismos históricos, visto que as grandes embarcações, a domesticação dos
cavalos e a construção das pirâmides retratadas, entre outras citações,
cronologicamente somente teriam sido realidade alguns milênios depois.
Descontando-se as legítimas liberdades ficcionais promovidas pelo diretor do
filme na busca da ação-emoção, acho que tal “polêmica” também deveria ser objeto
de discussão do professor com a turma, enfatizando a instigante idéia da possível
ocorrência de um prolongado processo de intercâmbio cultural entre povos distintos,
no alvorecer da civilização, na transição da pré- história para a história.
Por último, ao compartilhar a utilização das duas sugestões cinematográficas
como recursos didáticos para as aulas, abordando de maneira crítica e
contextualizada conteúdos da cultura africana e afro-brasileira, espero sinceramente

197
ter contribuído de alguma forma para o enriquecimento da prática profissional dos
colegas.
Sobretudo em uma área notadamente marcada por muitos campos de
pesquisa “em aberto”, com poucas experiências consolidadas e permeada pela
escassa produção de modelos aplicáveis no cotidiano do trabalho docente.
Até um próximo encontro, tomara que com a troca de novas experiências
(quem sabe ainda cinematográficas) nas temáticas africanas.
Prometo que não contarei mais o final dos filmes....
Referências bibliográficas
AZEVEDO, Campos Gislane & SERIACOPI, Reinaldo. História. São Paulo: Ática,
2005.
DIAMOND, Jared. Armas, Germes e Aço. Rio de Janeiro: Record, 1997.
HERNANDEZ, Leila Leite Lopes. A África na Sala de Aula. São Paulo: Selo Negro,
2005.
SOUZA, Marina de Melo e. África e Brasil Africano. São Paulo: Ática, 2008.
SERRANO, Carlos & WALDMAN, Maurício. Memória D’África. A temática africana
em sala de aula. São Paulo: Cortez Editora, 2008.

198
Zumbi: herói ou vilão?
Leda Maria de Souza Machado70
Introdução
Com a promulgação da Lei Federal nº 10639/03 que torna obrigatório o ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo escolar da rede oficial de
ensino, é que pude perceber a importância do negro na formação do povo
brasileiro. Até então, vivia num eterno ostracismo, pois passei todos esses anos de
minha vida só ouvindo falar mal do negro. Quando há referência sobre algum negro
é de modo pejorativo o que faz a não identificação com eles, por exemplo: “Negro
quando não caga na entrada, caga na saída”; “Cuidado para não denegrir a sua
imagem”; “Não tenho nada contra o negro, desde que ele saiba onde é o seu lugar”,
era o senso comum, isso me marcou tanto que resultou na falta de interesse de me
aprofundar em estudos sobre minhas raízes, sobre suas vidas.
A militância de alguns negros resultou na lei que tem-se intensificado as
pesquisas a procura de fatos das vidas de personalidades africanas trazidas para o
Brasil em condições de escravidão, como também dos afro descendentes.
Personalidades essas que com muita luta contribuíram para escrever a nossa
história. Um povo que foi sempre relegado a 2ª instância, no qual não se sabe sua
história, pois relevantes documentos da época foram destruídos a mando do
Ministro Rui Barbosa71 o que muito prejudica as pesquisas, tornando os relatos às
vezes um pouco folclóricos, a respeito desse personagem Zumbi.
Quando me propus a escrever este artigo, foi com o objetivo de fazer o leitor
refletir sobre a condição que vivia o negro no tempo da escravidão e também nos
tempos atuais. Essa reflexão passa pela vida do nosso ícone Zumbi.
O negro se auto desconhece por falta de referência, só conhece, como
personalidades de grandes feitos, os “heróis nacionais brancos”, que algumas das
vezes chegara a cometer atos violentos com os escravizados como fez Duque de
70 Formada em pedagogia pela FEBF/UERJ, Especialista em Ciências da Educação pelo ISEP, Psicopedagoga pelo Instituto Isabel, Especialista em Dinâmica DA/NA Sala de Aula pela UFF, Especialista em Orientação Educacional pela Fundação Getúlio Vargas. Diretora Adjunta na Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek da FAETEC. 71 Rui Barbosa, advogado, jornalista, jurista, político, diplomata, ensaísta e orador, que na ocasião exercia o cargo de Ministro da Fazenda do Governo Provisório, com o propósito de ocultar o passado escravista.

199
Caxias72. Olhando-se ao espelho o negro não consegue se ver nesses heróis, não
tem identidade, é preciso que mostremos as nossas crianças e aos jovens, os
líderes negros, sua trajetória de vida e o que realizaram para o bem comum,
aumentando a auto-estima e mostrando o cuidado que devemos ter, pois estamos
passando por um processo de transculturação. Vamos trabalhar no sentido de
construir coletivamente um novo paradigma, exercendo o olhar crítico sobre a
história dada pelos livros didáticos, se não continuaremos sem desvelar a outra
parte da real história, continuando obscura, com uma lacuna a ser preenchida.
Para melhor compreender e interpretar é preciso que cada um parta de sua
experiência, de seu ponto de vista, do modo como vê o mundo, por isso optei pelo
título do artigo: Zumbi: Herói ou Vilão? A resposta ficará a cargo da cosmovisão de
cada leitor.
A Escravidão
Nos porões do navio negreiro milhões de negros cruzaram o Atlântico, numa viagem sem volta, a partir do século XVI até o século XIX, quando se deu a abolição da escravatura. Enelita da Costa Correia (Guiné Bissau)
A escravidão teve início na Península Ibérica, nasceu na antiguidade, pode-se
dizer que é tão antiga quanto à humanidade.
A famosa Atenas, que tanto seduz ainda os intelectuais, conseguiu o seu esplendor à custa de dez escravos por cada cidadão, esclarecendo Platão que, no espírito dos escravos nada há de são nem de inteiro. (Verdasco, 1997, p.120)
Enquanto na antiguidade, em Atenas havia 10 (dez) escravos para cada
cidadão, dois mil anos depois em Portugal havia 1 (um) escravo para cada 10(dez)
cidadãos.
Na África também se fazia escravos como na antiguidade que eram os
prisioneiros de guerra, os condenados por transgressões, os que cometeram
crimes, os que não conseguiam liquidar as suas dívidas, os que não produziam o
suficiente para sua subsistência e de sua família, enfim pessoas vistas como
inferiores.
Já na África o ser escravo era resultado principalmente de guerras e de ataque
a aldeias desprotegidas, os vencidos tornavam-se escravos dos vencedores que
72 Duque de Caxias “Patrono do Exército Brasileiro”, que comandou um verdadeiro massacre aos quilombos, em 1838 a pedido dos fazendeiros e a mando do Imperador.

200
tinha todo o direito sobre eles, e essa posição de vencedor proporcionavam-lhes
maior riqueza e poder.
Na segunda metade do século XVI, Portugal possuía em média um terço do
comércio mundial. As expedições portuguesas tinham vários objetivos, dentre eles a
propagação do cristianismo o que menos aconteceu, pois uma das estratégias
utilizadas era o rapto de pessoas que caminhavam distraídas no litoral, levando-as
para serem comercializadas como escravas.
Fonte: África e Brasil Africano, 2005.
Ainda no século XVI até as últimas décadas do século XIX foram realizadas
transações comerciais rentáveis entre comerciantes europeus de escravos
africanos e reis africanos, ou seus substitutos.
Há controvérsias sobre a origem e os números dos primeiros negros
escravizados chegados ao Brasil. Alguns historiadores relatam que vieram do Golfo
da Guiné e São Tomé. Outros que no século XVII os que aportaram vinham de
Angola e já encontraram residindo aqui negros da Costa Oriental.
Admite-se que as primeiras levas de escravo vindas da África, tenham chegado ao Brasil logo após Martim Afonso de Sousa, para trabalharem nos engenhos de açúcar de São Vicente, o que é verossímil, uma vez que antes da vinda do primeiro capitão donatário, não haveria necessidade de trabalhadores, até porque não existiam povoações ou quaisquer núcleos permanentes. (Verdasca, 1997, p.124)
Arthur Ramos nos esclarece que,
Não se sabe exatamente qual o ano em que foram introduzidos no Brasil os primeiros escravos. Já o mercado era intenso nas Índias Ocidentais e não possuíamos nenhum

201
documento seguro provando a entrada de negros escravos em terras de Santa Cruz. (apud Verdasca, 1997, p.124)
Couto (1998) relata o parecer de alguns historiadores sobre o assunto:
Segundo um historiador francês, teria desembarcado na Província de Santa Cruz, nos últimos três decênios de Quinhentos, cerca de 50 000 negros, ou seja, uma média anual da ordem das 1667 unidades. Por seu turno, um reputado historiador da economia quinhentista, a partir do cálculo da participação do Brasil teria recebido à volta de 52 000 indivíduos da Guiné e idêntica soma de Angola o que totalizaria 104 000, a uma média anual da ordem dos 3467. Um historiador norte-americano, por seu lado, aponta para uma importação anual, nas últimas décadas do século XVI, da ordem dos 10-15 000 cativos etíopes. (p.305)
Não há entre os historiadores uma comunhão de idéias sobre o assunto, cada
um apresenta dados diferenciados uns dos outros. Dos sobreviventes do litoral
africano de onde aguardavam o embarque ao navio negreiro, do período inicial de
armazenamento do desembarque, da venda e da viagem até o local onde estariam
fixados, muitos morriam nas primeiras semanas, não chegavam a se aclimatar-se.
Os números eram alarmantes.
O Brasil em meados do século XVII era o “maior importador de escravos
africanos do Ocidente”. Era de Angola que vinha a maioria dos escravos, chamados
de “escravos Angola”, tinha também os da África supra equatorial que recebiam o
nome de “Costa da Mina”.
Os escravos Angola eram mais indicados para a lavoura e os Costa da Mina,
por serem mais fortes, iam para a mineração. Segundo alguns historiadores havia
escravos que dominavam as técnicas da agricultura, do uso do ferro e criação de
animais.
Outra região se destaca com “a mineração no centro-sul da colônia”, o Rio de
Janeiro que sendo modesta produtora de açúcar no segundo século da
colonização, mas com a descoberta e a exploração do ouro no século XVIII
transformou-se em grande importador de escravos, abastecendo Minas Gerais,
Goiás e Mato Grosso, por serem regiões mineradoras.
No século XVII a maior parte dos escravos supria as necessidades dos
engenhos pernambucanos que perdeu para os engenhos baianos com a invasão
holandesa. Os engenhos pernambucanos tinham como característica a mão-de-
obra escrava e a “exportação de mercadorias produzidas pelo trabalho escravo”.
Verdasca (1997) afirma que,

202
Os negros africanos, à semelhança dos índios brasileiros (por alguns designados negros da terra), eram povos em estado primitivo, de cultura neolítica (pedra polida), que desconheciam os metais, alimentando-se da caça, da pesca e da coleta de frutos selvagens, e não possuíam hábitos de trabalho regular. Ainda como os índios, os africanos eram tidos por indolentes, se bem que fossem considerados mais dóceis, obedientes e pacíficos. (p.123)
Os escravizados rurais, se assim podemos chamar, tinham sob sua
responsabilidade o plantio, o corte, o transporte e a trituração na moenda da cana,
como também pelo clareamento, nos caldeirões por coar as impurezas e o seu
derrame em formas para cristalizar-se transformar-se em açúcar.
Era um trabalho especializado e necessitava de conhecimentos pré-
estabelecidos do que ia realizar. Portanto não se pode dizer que o negro era rude,
brutalizado, incapaz como nos fazem crer.
Os escravizados urbanos que viviam nas grandes cidades da colônia, como
Salvador, Recife e Rio de Janeiro exerciam atividades diferenciadas, sempre a
mando de seus senhores. Os escravizados eram carregadores, oleiros, sapateiros,
carpinteiros e domésticos que atuavam como acompanhante, levando as senhoras
em cadeirinhas à passeios. Uns eram “escravos de ganho”, trabalhavam com uma
meta de ganho, ao atingi-la, destinava-a ao senhor e o excedente com o seu
consentimento guardava formando um pecúlio para comprar a sua alforria.
Os escravizados executavam trabalho contínuo, sem autonomia, com feitores
os vigiando e castigando. Mesmo com tanta dificuldade havia possibilidades
negociação entre senhores e líderes. Os senhores tinham medo do engenho ir à
ruína, pois eles podiam sabotar o ritmo de trabalho, danificar propositalmente peças
do maquinário, cometer infanticídio, suicídio e tentativas de vingança contra os
senhores.
Com a relação de conflito e negociação os escravizados obtinham alguns
benefícios como:
terras para o cultivo próprio, folgas que iam além dos feriados religiosos, livre articulação dentro e fora do engenho, o direito de constituir família, até acúmulo de bens de forma a conseguir sua alforria e de seus familiares. (Santos, ano1. nº4, p.10)
Quando havia quebra ou falha na negociação, as fugas e a formação de
quilombos73 eram as alternativas, isso representava prejuízos e ameaça a estrutura
73 Quilombo significa comunidade de escravos fugidos, provém de kilombo, palavra de origem mbundu que quer dizer acampamento de guerra.

203
econômica e social do regime escravocrata e para os escravizados um constante
perigo, pois havia risco constante de captura.
Fundação de Palmares
Alguns homens vêem as coisas como
elas são e perguntam: Por quê? Eu
sonho com as coisas e pergunto: Por que
não? (John Kennedy)
Os escravizados fugitivos buscavam refúgio nas florestas, onde ficou
conhecido com o nome de quilombos, estes espalharam-se pelo Espírito Santo,
Nordeste e Rio de Janeiro, eram locais onde tentavam resgatar suas raízes.
De acordo com pesquisadores, Palmares surgiu nos fins do século XVI, no sul
da capitania de Pernambuco, na parte superior do rio São Francisco, na serra da
Barriga, num pedaço da mata Atlântica. Para outros teve início em 1597, com a fuga
de 40 escravos de um engenho para uma região interiorana localizada na serra da
Barriga, local coberto por palmeiras de onde surgiu o nome Palmares. Ainda outros
acham que estava localizado entre Alagoas e Pernambuco, tendo uma visão
privilegiada da região.
Foi-lhe dado esse nome pelos negros que ali se estabeleceram, pois o solo
era fértil e íngreme com uma vegetação abundante e coberto por palmeiras, onde
atualmente é o estado de Alagoas.
Como toda organização, Palmares também tinha um líder, Ganga Zumba, que
comandava a capital do quilombo, que era chamado de mocambo74 do Macaco.
Seu governo era formado por um conselho, que tinha como conselheiros: Gana
74 Mocambo palavra de origem mbundu que significa esconderijo. Vários mocambos formam o quilombo.

204
Zona, seu irmão e Zumbi, seu sobrinho ou seu protegido, ambos chefes de
mocambo, os pequenos mocambos eram liderados por chefes locais.
Em Palmares a população a princípio era formada por homens que cultivavam
e colhiam toda espécie de frutas: jaca, laranja, melancia, ananás, manga, banana,
goiaba, das quais algumas serviam para fazer vinho, do coco extraíam a manteiga ,
da terra tiravam também raízes comestíveis, caçavam a maneira africana, fazendo
alçapões e armadilhas, conseguindo assim carne para seu sustento.
Tudo que precisavam tiravam da mata. Com as folhas das palmeiras
confeccionavam chapéus, vassouras, cestos, leques, esteiras, cobriam as
choupanas que eram erguidas com o miolo da pininga, nome de uma árvore, o
azeite era extraído da palmeira pindoba, as vestimentas eram feitas da casca das
árvores.
O tempo passa e mais homens chegam ao quilombo. Com uma população
totalmente masculina, partem em expedição a busca de mulheres, que raptam nas
fazendas vizinhas, libertam escravos, roubam comida e armas. Havia possibilidade
de em Palmares existir poligamia75 e até poliandria76.
Surgem as primeiras aldeias, começam a plantar milho, feijão, cana, mandioca
e legumes e a criar animais como galinha e porco, assim perdem o medo da fome e
dão início ao comércio com os vizinhos, pois esses só se dedicavam ao plantio da
cana-de-açúcar .
Lá viviam negros nascidos de diversas tribos africanas, era o refúgio de muitos
marginalizados pelo sistema escravocrata, com costumes e dialetos diferentes;
como crianças nascidas no Brasil que já habituara a cultura do branco; índios que
muitas vezes haviam também sido escravizados; mulatos e até brancos,
provavelmente fugitivos da justiça, era uma sociedade multirracial.
Organização Econômica e Social de Palmares
Como já havia dito Palmares era composta por negros de diversas tribos,
índios e brancos fugidos da justiça colonial portuguesa, cada um com o seu modo
de vida, convivendo lado a lado. Era uma ameaça aos colonos, pois os
escravizados sonhavam com esse lugar, onde havia liberdade. 75 Poligamia matrimônio de um homem com muitas mulheres. 76 Poliandria regime que se observa em sociedades matrilineares e no qual diversos homens em geral irmãos ou primos participam de posse de uma mulher.

205
Apesar dessa multirracionalidade havia a necessidade de se criar uma
organização social e esta se assemelhava com a de algumas tribos africanas, sem
deixar de ter influência dos palmarinos originários de vários outros grupos.
O quilombo de Palmares era formado por dezenas de mocambos, ou seja,
aldeias que tinham o seu próprio chefe e que mantinham certa distância uns dos
outros.
A princípio o critério adotado em Palmares para escolha do chefe era ser
descendente de nobres da África, por isso Aqualtune recebeu logo o governo de
um aldeia, com o passar do tempo outros critérios foram criados ser guerreiro e
guia religioso homens não nobres, mas que se destacavam na comunidade
transformavam-se também por mérito em chefes.
Deve-se levar em conta a realidade político-econômica e social na formação
do quilombo dos Palmares, e compreender a recusa diária dos escravizados em se
submeter à vontade do senhor.
A crise da década 1660 ocorrida em Pernambuco provocada pelos
holandeses, trouxe benefícios para os palmarinos pois, diminuiu a necessidade de
mão de obra nos engenhos, causada pela queda da produção. A vigilância e a caça
aos escravos fugitivos não se fazia necessário neste momento, ocasionando maior
poder de troca de caça, pesca e de produtos agrícolas por instrumentos usados na
agricultura, comercialização de armas de fogo e pólvora, como também de objetos
de cerâmica.
Declínio de Palmares
Como distorção do ser menos leva os oprimidos cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. (Paulo Freire)
Em 1602, Diogo Botelho na época governador-geral do Brasil, organiza a
primeira expedição contra os palmarinos. Os soldados destruíam as aldeias e
faziam prisioneiros, mas muitos conseguiam fugir e migravam para outros locais
onde reiniciava suas vidas, isso dificultava o crescimento dos mocambos.
Em 1630, Pernambuco encontrava-se em guerra com os holandeses, que
almejavam os lucros provenientes do açúcar, estes estavam nas mãos de
portugueses e espanhóis, ambos tinham o mesmo rei. Essa guerra proporcionou o

206
aumento da população de Palmares, pois segundo uns historiadores os donos de
engenho alistavam escravos para lutar oportunizando as fugas. Entre os fugitivos
estava uma princesa negra de nome Aqualtune.
Tropas holandesas foram enviadas para acabar com o quilombo: a de Rodolfo
Baro, que saiu em retirada, antes de serem massacrados pelos quilombolas. A de
João Blaer, que durante três meses
Os holandeses foram expulsos em 1654, nesse período Palmares tinha se
transformado numa potência. Cercada por muralha e repleta de armadilhas,
chamadas pelos soldados coloniais de “Outeiro dos Mundéus”.
Os palmarinos também organizavam expedições de guerrilha, saqueavam
engenhos, fazendas e casas comerciais pegando entre outras coisas armas e
munições. Os engenhos atacados organizaram expedições, por volta de 1667 as de
Zenóbio Acioli de Vasconcelos, em 1673 de Antonio Jacome Bezerra, em 1675
para uns foi a de Manuel Lopes, para outros já foi a de Fernão Carrilho. Alguns
dizem que em 1675 sob o comando de Fernão Lopes Carrilho, um exímio caçador
de negros, que aprisionou ou matou inúmeros chefes quilombolas, inclusive nessa
empreitada feriu Ganga Zumba que mesmo ferido conseguiu fugir, sua mãe quase
foi capturada.
Anunciou que acabara com Palmares, mas não era verdade e Ganga Zumba
precisou negociar,
O acordo de paz previa que os nascidos em Palmares ficariam livres, ganhariam terra para cultivar, direito para comercializar com seus vizinhos e a condição de vassalos de Portugal. (Lopes, ed. 27, 2005, p.34)
Ganga Zumba aceitou o acordo após pensar nos combates travados, na
dificuldade de adquirir armas de fogo e nas possibilidades de viver em paz. Mudou
para Cacaú, ao sul de Pernambuco, com seu irmão Gana Zona e seus fiéis
seguidores, onde acredita-se ter morrido envenenado a mando de Zumbi,.
Zumbi não aceitou o acordo, para uns historiadores talvez ele tivesse que
voltar para seu senhor, para outros, não se tratava apenas de sua liberdade, mas
da liberdade de todos os escravizados, pois nem todos foram contemplados no
acordo.
Zumbi se auto denomina novo líder de Palmares, dando início a uma guerra
civil entre seus partidários e os de Ganga Zumba. Os portugueses intervêem nesta

207
guerra e Cucaú foi extinta.. Após os fatos, todos os esforços foram feitos para
negociar igual acordo com Zumbi, mas ele não aceitou.
Como nada fora aceito, o bandeirante Domingos Jorge Velho recebeu a
missão de acabar de uma vez com Palmares. Na primeira tentativa que durou três
meses, os atacantes tiveram pesadas perdas. Segundo alguns pesquisadores
houve mais duas tentativas com a ajuda do Capitão-mor Bernardo Vieira de Melo,
sendo que na última com um exército de 9 mil homens e alguns canhões,
conseguiu chegar perto das muralhas de Macaco, Zumbi falhou nessa liderança e
morreu centenas de guerreiros, com a invasão Zumbi fugiu com alguns
companheiros que continuaram a atacar com escassez. Antônio Soares um dos
companheiros de Zumbi foi capturado e torturado para indicar onde era seu
esconderijo, chegando lá o matou traiçoeiramente com uma punhalada.
Zumbi foi decaptado, cortaram-lhe a mão direita, que não consta em todas as
pesquisas, arrancaram-lhe um dos olhos, teve o pênis decepado e introduzido em
sua boca, isso também não consta, a cabeça salgada e exposta em praça pública
em Recife.
Uma história muitos começos
A capacidade eurocêntrica de falsear fatos e evidências impossibilitou que se conhecesse a verdadeira história do povo africano e, por extensão, da própria humanidade... (Aroldo Macedo)
Todos os relatos que possuímos da vida de Zumbi foram feitos pelos olhos de
seus inimigos que formavam expedições para capturá-lo a mando de senhores
escravistas e assim tomar o quilombo. Inúmeras tentativas fracassadas de prendê-
lo criaram esse mito fundador da nossa identidade, ou seja, da identidade dos
descendentes africanos.
A historiadora Silvia Hunold Lara e a especialista Nina Rodrigues, ambas
questionam a grafia do nome do líder dos palmares. Zambi ou Zumbi ? Qual deve

208
ser a grafia mais correta ? A primeira é a mais conhecida, mas não significa que
seja a mais correta. Temos que ter cuidado com as variantes da língua que de tanto
utilizar as formas incorretas, elas passam por transformações e são aceitas como
verdadeiras.
Há questionamentos sobre a procedência de Zumbi. Se nasceu em Palmares,
não foi escravo e não se descarta a possibilidade de ser mestiço, filho de pai
africano e mãe indígena, pois em Palmares havia poucas mulheres africanas.
Alguns historiadores relatam que Zumbi como ficou conhecido, nasceu em
1655 no quilombo de Palmares e era neto da princesa Aqualtune. Outros
mencionam fatos de sua família, como da avó princesa Aqualtune e de seus filhos
Ganga Zumba, Gana Zona e suas filhas, não sendo citado os nomes nem a
quantidade, pois não foram conhecidas, referem-se apenas a uma delas que teria
sido a mãe de Zumbi.
Outra versão dos fatos é que na época do seu nascimento aguardavam o
ataque dos holandeses ao quilombo, sendo neto de Aqualtune muita prece foi
proferida para que crescesse forte e fosse um bravo guerreiro, já que pela lei seria
herdeiro natural de Ganga Zumba. Deram-lhe o nome de Zumbi para agradar o
deus da guerra.
Conta-se que nasceu livre ao lado do irmão Andalaquitude seu companheiro
de folguedos. Outros pesquisadores introduzem em seus relatos os nomes de
Raimunda Conceição e Alfredo da Rocha Vianna, como seus pais.
Ainda tem aqueles que não precisão seu nascimento e contam que o nome
Zumbi, significa guerreiro, foi dado por ele mesmo aos 15 anos quando fugiu da
guarda do Padre Antonio Melo e voltou para Palmares, pois com poucos dias de
vida foi capturado pela expedição de Brás da Rocha Cardoso e levado à cidade
vizinha de Porto Calvo e presenteado para uns e vendido para outros ao Padre
Antônio, o qual o batizou com o nome de Francisco, o educou e criou para ser
coroinha. Ensinou-lhe português, latim e religião.
Com o seu retorno logo assumiu a chefia de um mocambo e o posto de chefe
das forças armadas de Palmares, onde era responsável pelo preparo e
organização das frentes de combate, pois era vigoroso e tinha uma vontade de
ferro, ele era o homem de confiança de Ganga Zumba.

209
Não se tem relato se ele casou, única alusão que se tem notícia encontra-se
na carta de Dom Pedro II, rei de Portugal enviada a Zumbi em 1685, mas não se
sabe se ele recebeu e se recebeu, se foi aceito o convite. Eis o teor da carta:
El-Rei faço saber a vós Capitão Zumbi dos Palmares que hei por bem perdoar-vos de todos os excessos que haveis praticados (...) e que assim o faço por entender quem vossa rebeldia teve razão nas maldades praticadas por alguns maus senhores em desobediência às minhas reais ordens. Convido-vos a assistir em qualquer instância que vos convier, com vossa mulher e vossos filhos, e todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, como meus leais e fiéis súditos, sob minha real proteção. (Lopes, ed.27, 2005, p.29)
Provavelmente se chegou a receber, não deve ter aceito, pois era firme nas
suas convicções e ideais.
Referência Bibliográfica
BARBOSA, K. V d O.; SILVA, M. C. G. da.; GOMES, F. Diáspora Africana e a
agonia do tráfico. Leituras da HISTÓRIA (especial). Escala Educacional: São
Paulo.Ano 1, nº 2, p. 26-29, s/d.
BRASIL. Secretaria de educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/SECAD.
Yoté; O jogo da nossa história. Livro do aluno. Brasília. 2008.
BRASIL, Presidência da República. Lei nº10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a
Lei nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da
temática “Historia e Cultura Afro-brasileira”, e dá outras providências.
COUTO, J. A construção do Brasil. Lisboa, Edições Cosmos, 1998.
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos. Secretaria de Cultura. África que há em mim. Rio Zumbi 2007
em revista. Rio de Janeiro. P.56-60, s/d.
LOPES, G. A. As mãos e os pés do Senhor. Desvendando a HISTÓRIA. Escala
Educacional: São Paulo. Ano 2, nº10, p.34-39. s/d.
LOPES, R. Zumbi, o grito forte de Palmares. Aventuras na HISTÓRIA para viajar no
tempo. Editora. Abril: São Paulo. Edição 27, p.28-35, Nov. 2005.
PINSKY, J. Serviço de Negro. In.PINSK, J.(org.) 12 faces do preconceito. 8ª Ed.
São Paulo: Contexto, 2006.

210
ROCHA,R.M.de C. Almanaque Pedagógico Afro-brasileiro: uma proposta de
intervenção pedagógica na superação do racismo no cotidiano escolar. Belo
Horizonte:Mazza Edições, 2006.
SANTOS, G. A. dos. Símbolo de Resistência. Desvendando a HISTÓRIA (especial).
Escala Educacional: São Paulo. Ano 1.nº4, p.10-14, s/d.
SOUZA, M.de M. África e Brasil Africano. São Paulo: Ática, 2008.
VERDASCA, J. Raízes da Nação Brasileira: os portugueses no Brasil. São Paulo:
IBRASA, 1997.
XAVIER, A. SJ. Cultura, interculturalidade, inculturação. Formação Sociopolítica e
Cultural. Formação de Educadores Populares. Trad. De Ivonne Montoanelli. São
Paulo:Edições Loyola, 2005.

211
Ações pedagógicas e maiuêutica: trabalhando religião ludicamente
Ana Cláudia Diogo da Silva77
O tema religião, enquanto disciplina da escola laica, traz a discussão de
valores e instituições como diversidade religiosa, respeito, família, organização
política e social e diferenças que utilizando-se da liberdade criadora – peculiaridade
do docente das séries iniciais mas que não se distancia de quaisquer educadores -
sugere metodologias e estratégias para seu desenvolvimento. Em função da
carência significativa de transmissão de conhecimentos com as respectivas
explicações , teorias e comprovações durante as experiências que vivenciei, entendi
que a pedagogia poderia cumprir esse papel com literatura, artes, educação física,
entre outras, através do processo multi/inter transdisciplinar na sala de aula ou fora
dela.
Sempre fiz a seguinte comparação: aos adeptos do catolicismo e do
protestantismo, por exemplo, é oferecida a catequese, o candomblecismo como
prática usual e obrigatória, não. Meus vinte e oito anos de iniciação motivaram o
desejo de possibilitar a quem pudesse interessar (praticantes ou não) o acesso à
mitologia africana, no tocante à criação do mundo, suas personagens e arquétipos,
demais valores e patakins, a fim de viabilizar a compreensão da religião ancestral
africana, parte da história de todo ser humano, num formato que suscite a
curiosidade, a quebra de tabus gerados pela ignorância do tema e pela imposição
das religiões eurocêntricas, e a possibilidade de identificação com o candomblé, ou
não, fomentando severamente a compreensão religiosa do ponto de vista
ecumênico, antropológico e filosófico contemplando a diversidade de grupos que se
tem , excluindo o compromisso doutrinário confessional, ou seja propor a reflexão
na direção da reforma aplicada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, a
partir de janeiro de 2003 referente aos artigos 26 A, 79 A e 79 B, onde nos obriga a
trabalhar os conteúdos de história da África e cultura afrobrasileira em todos os
segmentos e esferas educacionais. A intenção é sugerir e refletir sobre o
77 Pedagoga, foi docente da rede privada de educação, trabalhou por onze anos na rede pública de educação como docente, orientadora educacional e supervisora pedagógica da Faetec, possui trabalhos alusivos à Lei 10.639/03 produzidos nesta rede, membro do grupo de pesquisa Linguagens Desenhadas e Educação do Proped/UERJ.

212
pedagogisar desta disciplina em especial que é obrigatória na matriz curricular
mínima e mesmo que um dia deixe de fazer parte do currículo, ainda assim é tema
transversal do ponto de vista de lei 10.639 – e eletiva na prática (?) - num formato
prazeroso, gerador de resultados consistentes, uma vez que
por causa da Paz, o mundo pós-moderno necessita mais do que nunca, de um entendimento religioso global, sem o que o entendimento político não será possível... Deve-se fomentar energicamente o entendimento religioso em nível local, regional, nacional e internacional. Deve-se procurar o entendimento ecumênico com todos os grupos de todos os níveis (ROCHA, 2001).
Entendendo que a escola é um espaço onde é possível se aprender
brincando e criando (ou pelo menos é isso que se pretende nas séries iniciais
principalmente), sugerem-se atividades interdisciplinares (Língua Portuguesa, Artes,
História, Educação Física, Música, Religião, etc) que tornarão a ação educativa
mais cidadã, interessante e motivante através de jogos, construção de murais, feiras
de cultura, teatro de bonecos, documentários, por exemplo a fim de se tratar do
tema com o objetivo de conhecê-lo sem o compromisso de estar doutrinando, aqui
este dado é irrelevante.
Aqui, sugere-se propostas que podem ser desenvolvidas nas séries iniciais
com desdobramento mais aprofundado no segundo segmento, considerando a
fundamentação da maiêutica socrática que vem a ser dar à luz intelectual das
verdades do homem. Conduzindo os sujeitos interlocutores a conceber ideias novas
sobre assuntos já existentes de forma perspicaz, uma vez que o conhecimento é
latente na mente de qualquer aluno, o objetivo passa a ser pensar para fora do
ponto cego preestabelecido pelas culturas sedimentadas de forma criativa (deve
ficar clara a questão: cada unidade escolar define seu planejamento, logo a
continuidade do estudo dos conteúdos ministrados nas séries iniciais estar inserida
no currículo do segundo segmento e ensino médio caso a unidade o tenha, ficará
sob a decisão do pedagógico, não necessariamente poderá ocorrer, aqui faço
sugestões de ações pedagógicas):
Debate e pesquisa
• Discutir a diversidade religiosa: trazer para a sala de aula imagens que se
refiram às religiões; observar o vestuário e montar um mural precedido de
discussão sobre os locais onde são praticadas, usando mapas e vídeos.

213
• Pesquisar a referência musical das religiões: para as aulas de música,
utilizar vídeos disponíveis na internet e entrevistas entre as pessoas da
escola sobre o canto em sua religião, após tê-los assistido e ouvido as
pessoas entrevistadas, cada um dirá o ritmo que mais o agradou
executando-o se a escola tiver instrumentos caso não, poder-se-á até
mesmo construí-los – o que talvez fosse mais interessante e produtivo.
• Identificar as religiões mais comuns no Brasil: com o mapa do Brasil,
cada um da turma poderá falar sobre sua religião – aquele que possuir
orientação religiosa – e marcar no mapa com alfinete colorido onde existe
representatividade mais expressiva.
Jogos
Amarelinha: a cada pulo dado que corresponderá a um número, o aluno
revelará o nome da religião de acordo com a imagem referente ao número da casa.
Material/ procedimento - amarelinha riscada no chão; preparar as imagens de
vestimentas das religiões previamente faladas em sala;
Adoleta: “adoleta, le peti peti polá, le café com chocolá adoleta!”
Conforme cantam em roda, batem na palma da mão do colega ao lado,
quando terminam a música o aluno que recebeu a última palma (toque) diz o nome
de uma religião – o interessante é não haver repetição.
Adedanha: todos silabam juntos em roda “ a-de-da-nha!” e sinalizam com as
mãos um número. Dizem o alfabeto até chegar o último aluno em sentido horário
(ou não). Nesse momento, a professora diz o nome de uma religião e o grupo diz o
lugar de origem ou onde é possível haver a sua prática.
Muitas brincadeiras e atividades podem ser adaptadas à aprendizagem e
reflexão complexa do tema. O que se faz relevante é propor a discussão sobre
diversidade religiosa, na perspectiva da compreensão de que são muitas e
carregam valores diferentes, que existe a liberdade de credo garantida a todo
cidadão pela Constituição, que ao falar sobre todas estar-se-á elevando a auto-
estima daquele aluno que tem orientação religiosa, em função da discussão prever
o ponto de vista inclusivo, ecumênico, antropológico e filosófico e não sob o juízo de

214
valor da discriminação ou daquela ser melhor que a outra, pois em algum momento
se falará sobre a qual pertence, e terá se iniciado o processo de compreensão de
outros tantos valores como diferença, (in)tolerância, igualdade, fraternidade,
respeito, possibilitando o que se define como parir uma nova opinião, uma nova
ideia sobre a questão.
Um período do ano em que se sugere enfatizar mais esse tema, é o quarto
bimestre – aqui não importa a nomenclatura que a unidade escolar utiliza na divisão
temporal - (adequado ao calendário da escola, deve-se trabalhá-lo durante o ano
inteiro), onde poderá se considerar o dia 1º do ano – Confraternização Universal ,
como tema integrador e discutir o natal, por exemplo, como sendo uma data
comemorativa que não se apresenta em todas as religiões, mas que vem sob um
poder midiático muito fortalecido e por isso muito divulgado e consumido.
Sabendo que educar é entre outros um ato de amor e de coragem, faz-se
relevante não temer o debate seja ele de que ponta for. Vindo do aluno, da família
ou da escola é bem-vindo, pois sinaliza que algo tocou nas pessoas... É através da
discussão que se faz cidadania, não se pode fugir à discussão criadora,
transformadora sob pena de ser uma farsa (FREIRE,1986, p.96). Considerando a
pergunta: para quê serve a educação?, na verdade a pergunta é: o que queremos
da educação? Acho que não podemos considerar nenhuma pergunta sobre os
afazeres humanos, no que diz respeito ao seu valor, à sua utilidade ou àquilo que
se pode obter deles, se não se explicita o que é que se quer (...): o que queremos
com a educação? O que é educar? Para que queremos educar? E, em última
instância, a grande pergunta: que país queremos? (MATURANA,1998, p.29),
precisamos de fato saber o que estamos fazendo e para que fim, a fim de darmos
um fundamento à nossa ação de educador. Aqui se sugeriu a disciplina de religião,
mas se aplica a todas as outras. Toda informação passada ao aluno surtirá efeito –
até nenhum efeito é um efeito - cabe aos atores desse processo definirem a sua
fundamentação.
Existe um certo consenso quanto à existência de algumas religiões chamadas “grandes religiões”. São aquelas que atravessarem séculos de história, transpuseram fronteiras e permanecem, de certo modo, sedimentadas na vida de grupos, povos e comunidades. Podem ser destacadas neste âmbito as religiões como o Judaísmo, o Islamismo, o Hinduísmo,o Budismo e o Cristianismo. Existem ainda sedimentadas, mas de um modo marginalizado, as Religiões Tradicionais Africanas e as Religiões Indígenas, que dificilmente entram neste contexto (ROCHA, 2001).

215
Muitas outras questões poderão surgir (e surgirão) durante as aulas como
racismo e condição social, por exemplo. Educadores e educadoras devem persistir
no debate trazendo à reflexão as bases históricas que nortearam a formação do
povo brasileiro, sempre lembrando de que esta história também é sua e para que
sua aula seja de fato real, deve olhar para si de forma que sua ação profissional
transcenda qualquer sensação que possa vir a ter, emoção é inevitável de certa
forma. O texto a seguir construído por mim, afirma que não se faz necessário utilizar
somente textos já editados, o educador(a) também pode e deve criar de acordo
com a sua realidade, no meu caso este compõe-se dos arquétipos do candomblé .
Se observarem as ilustrações deste texto foram feitas por crianças, minhas
sobrinhas de 10, 7 e 14 anos respectivamente, propositalmente. Meu objetivo era
investigar o olhar do leitor e o percurso de sua leitura acerca dos símbolos e
significados apresentados e de que maneira seria transcrito, contudo havia a
intenção de avaliar o processo à posteriori. De início era apenas uma sobrinha a
fazer, a de 10 anos, no decorrer do processo as irmãs se incluíram no projeto que
não teve a minha supervisão direta, indireta,
ou constante, apenas fiz o convite contando
a história resumidamente e este foi o
resultado. Logo é possível sim sair das
amarras pedagógicas tradicionais e realizar o
fazer pedagógico de modo sedutor e
prazeroso para os dois lados.
Nessa vertente incluímos os
quadrinhos... Por que não utilizar as HQs no
cotidiano pedagógico? Se em algum
momento as HQs foram marginalizadas, discriminadas e usadas para fins não tão
pedagogicamente corretos assim, hoje essa mentalidade tem um outro contorno.
Lembro-me de lê-las na infância e adolescência e gostar muito, achar dinâmico,
colorido e cheio de traços e rabiscos que até enfeiavam a ilustração, mas que não
me agredia o olhar e me entretinha, eram MAD, Turma da Mônica, Batman, X-Man
e Cebolinha as mais lidas. Nas provas, às vezes estavam presentes algumas
tirinhas que deixavam-nas mais leves, o que dava uma sensação de felicidade em
fazer o que sempre achei que nada media ou avaliava.

216
Hoje no Brasil e na Europa, já há uma outra classificação para o papel das
HQs, por serem consideradas uma ponte para a saída da zona de conforto em que
alguns se encontram em relação à culturas das mais clássicas até as de cunho
orientador, educacional, etc.
Há registros de que o desenhista do Superman aprendeu a ler com histórias
em quadrinhos. O diálogo pode se estabelecer entre vários interlocutores seja
religião, filosofia, matemática, ciências, africanidade... na escola a partir do
momento em que haja a preocupação com os meios de comunicação e
transmissão do conhecimento, com os sujeitos do processo, com seus objetivos e
fins.
O MISTÉRIO DA PEDRA DO OURO
“A temática da ética religiosa permaneceu sempre como uma questão desafiadora em todos os tempos. Encontramos na história da humanidade, nos mais diversos tipos de sociedade, uma constante sede do sagrado. O ser humano busca compreender e explicar, pelo caminho da religião, três perguntas fundamentais: de onde veio? – a questão da origem; o que faz aqui? – a razão de sua existência terrena; e para onde vai? – o fim último de tudo. Mas afinal, o que se compreende como religião e ética?” (José Geraldo da Rocha)

217
Certa vez minha família e um grupo de amigos planejaram um passeio numa
floresta em Mangaratiba, costa verde do Rio de Janeiro. Seria fazer uma trilha pela
mata até chegar a um quilombo, onde no caminho veríamos uma pequena
cachoeira (hoje pequena, pois com o desmatamento a água foi diminuindo). Era um
grupo de dezesseis pessoas, sendo quatro de nós crianças com idade entre seis e
dez anos.
Para realizar esse passeio precisaríamos de um guia experiente... Quem poderia
ser? Meu pai, que é um professor muito responsável e um ogã muito respeitado –
ogã é aquele homem que nas casas de candomblé toca os atabaques invocando os
orixás e os fazem dançar – logo disse:
- Precisamos pedir permissão aos orixás
da mata para fazermos esse passeio,
além disso, contratar um guia que nos
conte a história do quilombo, do lugar e
que conheça bem o caminho. O que
vocês acham de chamarmos a Oparana?
(que nome estranho, pensei.) - Ela é
experiente, especialista em eco passeios
de matriz africana. O que acham da
sugestão?
Todos concordaram, marcaram a data e
hora e lá fomos nós felizes e curiosos.
Oparana era uma moça linda, falante,
simpática, e muito doce. Assim que nos
encontramos, distribuiu para cada um do
grupo um chapéu daquele modelo balde
de cor amarelo ouro e para as crianças
deu também um saco com frutas. Eram
banana prata, pêssego, mamão papaia e
laranja lima. Ela nos falou assim:

218
- Bom dia a todos! Como vão vocês?
Preparados para a caminhada? Será longa
e agradável com inúmeras surpresas.
Todos deverão permanecer juntos, por isso
dei-lhes o chapéu nessa cor forte assim
será fácil a identificação entre nós, e para as
crianças além do chapéu as frutas, pois aqui
não tem fast food! Ela era muito segura de
si. Todos riram e seguiram com grande
expectativa.
Oparana, porém, antes fez uma proposta:
que todos nós déssemos as mãos e
fizéssemos uma corrente de elevação do
pensamento, independente de sua fé e
crença, e pedíssemos proteção para o
passeio. Aí nesse momento me lembrei das
palavras de meu pai “temos que pedir
permissão para entrar na mata”. Na roda dei
a mão a ela e vou confessar que senti um
arrepio... Uma deliciosa sensação de paz e achei que já conhecia aquele lugar.
Achei estranho, mas não me assustei.
Chegamos à clareira, era hora do primeiro
descanso e de continuar a ouvir as
estórias de Oparana. O lugar fica junto a
um rio calmo de águas geladas e
transparentes, que formavam uma piscina
natural.

219
Mas em certo momento, ouvi ao longe o barulho da cachoeira... Distanciei-me do
grupo e fui em direção ao som com uma imensa curiosidade! Saí e ninguém me viu.
Ainda bem. Passei por um caminho cheio de flores, borboletas, passarinhos
coloridos e vi logo ali bem pertinho uma linda queda d’água que brilhava como prata
por causa do sol. O dia estava lindo, quente e ensolarado.
- Que maravilha, que beleza! Se pudesse atravessava essa água linda!
Mais a minha frente, vi uma menininha negra com trancinhas no cabelo, toda de
branco acenando para mim, parecia me
chamar... Fui até ela sem pestanejar!
- Oi menina! – ela me disse. O que você
faz aqui sozinha? Onde está seu pai e a
sua mãe?
- Olá! Qual é o seu nome? Os meus pais
estão lá na clareira.
- Meu nome é Carê. Posso te mostrar a
minha casa?
- Onde fica a sua casa, Carê?
- É ali atrás da queda d’água.
Quase não acreditei! Ela morava dentro da cachoeira! Que maluco, que legal!
- Vou com você sim, agora mesmo! Meus pais não vão dar falta de mim se eu não
demorar...
- Então venha, será rápido.
Passamos por trás da água e nem me molhei. Fui seguindo de mãos dadas com
Carê bem forte, parecia um mundo mágico, um lugar encantado: tinha um lindo lago
cheio de peixes, uma vegetação muito rica, um delicioso perfume no ar. Tinham
muitas pessoas lá, andando de um lado para o outro apressadas e nervosas.
Perguntei à Carê o que estava acontecendo. Ela me disse que sua mãe estava
furiosa. Por quê? – indaguei.
- Minha mãe é a rainha daqui. Teve que lutar muito na semana passada contra os
Ionis, pois queriam tomar o seu reino. Mas com a ajuda de Orunmilá conseguiu
vencer. Mas hoje está havendo uma reunião só para os homens daqui e ela foi
barrada. Ela está enfurecida! Por causa disso, ela tornou todas as mulheres estéreis

220
e falou que nenhuma decisão nessa reunião terá resultado positivo. Mas Orunmilá,
já ficou sabendo e mandou um mensageiro com a solução.
- Qual é o nome de sua mãe?
- Ela se chama Oxum.
- E quem é o mensageiro, qual é o nome dele, qual foi a solução?(eu fazia uma
pergunta atrás da outra, a curiosidade era imensa!!!)
- O nome dele é Exu, e Orunmilá mandou dizer que seja permitido que ela participe
dessa reunião e de todas as outras.
- Será que vão aceitar?
- Tomara que sim, pois minha mãe é a regente das águas doces que alimentam
todos os vegetais, é protetora das mulheres grávidas e de seus bebês, é dona de
todo o ouro que existe no mundo. Ela propicia o conhecimento aos homens e
mulheres da Terra, estimula o amor, a prosperidade, a caridade e o altruísmo.
Toda mulher que quer se casar e ter filhos e não consegue, vem falar com
ela. Ela é muito inteligente e respeitada por todos os orixás, é protetora de todas as
crianças, mas quando se zanga... Hum! Os rios ficam logo com as águas
tumultuadas e com muita correnteza forte, ninguém consegue atravessar.
Todos aqui a amam, pois divide tudo o que tem, compreende e tolera os
defeitos alheios, aceita as pessoas como são.
- Sua mãe Oxum é muito bela! Ela sempre anda assim arrumada cheia de jóias e
roupa chique? Parece que vai a uma festa! Que “perua”!- falei dando uma
gargalhada.
- A minha mãe é assim o dia todo! Respondeu Carê.
Segui conhecendo o reino, tudo era reluzente como o ouro, colorido como as
flores e perfumado como o colo da minha mãe. Carê me levou até Oxum, fiquei
assustada um pouco, pois se ela estava furiosa poderia não querer receber visitas.
Mas que nada, ela me abraçou forte, me pegou no colo e me falou olhando nos
meus olhos:
- Você é muito bonita, menina! Vejo que será muito feliz, forte e dará muita alegria
aos seus pais. Se algum dia se sentir em apuros, pense em mim e na minha filha
Carê, nós vamos em seu socorro imediatamente!
E por falar em seus pais, volte agora para a clareira, mas antes leve esta
pulseira de ouro. É para te proteger para sempre! Dê-me cá um abraço apertado e
vá embora.

221
Assim fiz e Carê me levou de volta para a saída. Perguntei o nome daquele
reino e ela me disse:
- É o reino da Pedra do Ouro, é a casa de Oxum que fica às margens do rio.
- Carê, adorei conhecer sua casa e sua mãe Oxum, um dia quero te apresentar os
meus pais. Olha só, fique com esse saco de frutas como um presente meu para
você.
- Muito obrigada. Disse Carê.
Passei pela queda d’água, dessa
vez me molhei toda, que gostoso! Mas
lembrei que não havia dito meu nome...
Quando me virei ela já havia sumido. Ouvi
bem longe chamarem meu nome e de
repente, estava deitada no colo de
Oparana, ela me abanava com um leque
de metal dourado muito brilhante...
Estranhei tudo aquilo... Será que eu
sonhei? Será que eu caí no sono na
clareira?
- Acorde meu amor. Vamos caminhar mais duas horas até chegar no quilombo.
Disse Oparana.
- Oparana, então adormeci? Deixe eu te contar... Contei tudo o que se passou e ela
ouviu atentamente, me deu um abraço forte e me falou:
- Acredito em tudo o que me disse. Foi um lindo e maravilhoso sonho, cheio de
bênçãos e de luz! Mas agora vamos prosseguir.
Assim o fiz, levantei-me, meu pai me deu água geladinha e um quindim
delicioso, mas quando olhei para meu braço lá estava a pulseira que Oxum me dera
e estava sem o saco de frutas... Até hoje sinto aquela sensação gostosa de ter
conhecido o reino de Oxum e aquela paz. Mas terá sido um sonho? Olhei mais uma
vez para Oparana e ela me piscou o olho esquerdo. Nossa, mais uma surpresa: ela
tinha o rosto da mãe de Carê!
Até hoje acho que não foi sonho e sim uma realidade encantada.

222
Referências bibliográficas
BRASIL. Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei 10.639/03. Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasília: Ministério da
Educação, 2005.
FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala, quadrinização. Rio de Janeiro, editora
Ebal, 1982.
GADOTTI, Moacyr. Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito. 12ª ed.
São Paulo: Cortez, 2001.
GONÇALVES, Maria Alice Rezende. O candomblé e o lúdico. Rio de Janeiro:
editora Quartet; NEAB-UERJ, 2007.
JERUSE, Romão. Por uma educação que promova a auto-estima da criança negra
– 2ª edição. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos. Série Cadernos CEAP, 2001.
LEMOS, Rosália de Oliveira. O negro na educação e no livro didático: como
trabalhar alternativas – 2ª edição. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos. Série Cadernos CEAP, 2001.
MATURANA, R. Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política;
tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 98p.
Traduzido do espanhol.
MUNANGA, Kabengele, org. Superando o racismo na escola. Brasília: Ministério da
Educação; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e diversidade, 2005.
ROCHA, José Geraldo da. Religião e ética, 2ª edição. Brasília: Ministério da Justiça,
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, 2001.
SALLES, e Ricardo de Carvalho Soares, Mariza. Episódios de história afrobrasileira.
Rio de Janeiro: FASE; editora DP e A, 2005.
TONUCCI, Francesco. Com olhos de criança. Tradução Patrícia Chittoni Ramos.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
http//www.mulhernatural.hpg.ig.com.br/trablux/oxum.htm. Acesso em 10/08/2010.

223
Eu e o outro: o professor como artesão da interculturalidade
Luiz Fernandes de Oliveira78 Mônica Regina Ferreira Lins79
“Amar é quando a gente aprende a morar no outro”
Mário Quintana
Introdução
“Eu não sou chamada para brincadeira de menina bonita.”, essa frase foi dita
por uma menina de 9 anos de idade, moradora de uma região bem pobre e de difícil
acesso no Rio de Janeiro. Espevitada, decidida e alegre, quase sempre fala o que
pensa. Quase sempre ... Aluna do CAp da UERJ, inserida numa turma em que boa
parte das crianças são negras e moradoras do subúrbio, mas há quem já tenha
visitado a Disneylândia e tenha acesso a bens de consumo mais caros. No início, não
falava de questões que a incomodavam no relacionamento com a sua turma e
transmitia certa indiferença. Vítima de um tipo de manifestação que por vezes
teimava em comparecer na turma, foi chamada de “macaca”, enquanto sua
professora a fotografava para um projeto da turma, e toda a sua coragem e força para
dizer o que pensava não conseguiu ser mobilizada na Roda de Conversa chamada
pelas professoras para discutir o ocorrido.
O episódio ocorrido logo no início do ano letivo de 2006, assim como outros de
igual expressão de desrespeito ao outro, motivou uma sucessão de Rodas de
Conversa, que juntamente com as Rodas de Leitura e de Notícias, são atividades que
acontecem durante todo o ano em nossas turmas do CAp da UERJ e contribuem
com o desenvolvimento de procedimentos e atitudes. Segundo Cecília Warschauer
(2001) as rodas são espaços de trabalho coletivo e expressam uma concepção que
dá papel de centralidade à formação de uma comunidade de partilha de saberes
onde circulam idéias no ato de aprender a aprender e de formar-se com o outro. Na
concepção de partilha que as rodas trazem, temos a idéia de retorno à pessoa, onde
78 Doutor em Educação pela PUC – Rio, Mestre em Sociologia pela UERJ e Especialista em História da África e do Negro no Brasil pela UCAM. Professor Adjunto do Instituto de Educação da UFRRJ. 79 Doutoranda pelo Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ, Mestre em Educação Brasileira pela PUC – Rio e Professora Assistente do Departamento de Ensino Fundamental da UERJ.

224
são produzidos significados e aprendizados. A partilha pode ocorrer via dois canais: o
oral, com o conversar, e o escrito, com registros do vivido que podem alargar as
possibilidades do compartilhar, além de oferecer uma condição privilegiada para a
reflexão.
As rodas são ricas experiências daquilo que nos acontece, com narrativas que
se renovam em contatos repetidos. A palavra conversar quer dizer “dar voltas”, as
idéias circulam e cada um dos parceiros pode mudar seu ponto de vista durante a
conversa.
Essa rede de conversas não só desenvolve a capacidade de argumentação lógica,
como implica em capacidades relacionais, em respeito, em saber ouvir, falar e
aguardar a vez. Ao inserir-se na malha da conversa a criança enfrenta as diferenças
e coloca-se diante do ponto de vista do outro. Para Maturana (1997) o conversar
caracteriza o humano, pois se realiza através da linguagem e no entrelaçamento do
emocional e do racional.
E muitas coisas nos aconteceram e foi preciso dar muitas voltas para que
aprendêssemos a morar no outro coletivamente. As experiências transformaram-se
num relato dirigido aos pais de três páginas, intitulado “A turma: aprendendo a morar
no outro”. Num dos trechos diziam as professoras,
Eles precisam gostar de si mesmos, já que enfrentam modelos de comportamento consolidados pela sociedade. Enfrentamos a discussão do preconceito a partir da analogia com a dor, pois é importante fazê-los refletir como dói fundo e “na alma”, como disse um aluno, sentir na pele o preconceito racial, de gênero e de condição social. Encaminhar essas discussões é garantir seres humanos mais felizes e autoconfiantes. Não deixamos passar nada sem discussão e estamos intervindo imediatamente nas situações em que um colega é desrespeitado. O bem-estar e a felicidade dos amigos vêm sendo tratados como uma responsabilidade de todos nós e é como destampar uma panela de pressão, pois várias situações antes silenciadas vêm aparecendo em nossas discussões. Os resultados também começam a aparecer. Algumas crianças reagiam chorando, outras com indiferença... Como professoras, nos colocamos como responsáveis por cada gesto do coletivo. A relação de confiança está crescendo e eles têm trazido tudo para as rodas. Os que mais sofriam estão se fortalecendo e estão rompendo o silêncio. Temos a hipótese que parte dos problemas que a turma enfrenta, inclusive no campo da aprendizagem, podem estar localizados nas relações interpessoais. Esse registro foi entregue antes da reunião acontecer e as professoras
pediram através de uma carta que os pais lessem com e para seus filhos o que havia
sido relatado. A reunião aconteceu com a presença de responsáveis de todas as
crianças e o impacto reflexivo abriu um importante campo de possibilidades para
enfrentar questões que eram delicadas e urgentes para aquele grupo de crianças.

225
Contudo, todo o avanço alcançado nas relações com esse grupo apenas indicou que
o trabalho no campo da identidade e da diferença precisa ser permanente e que não
pode estar restrito a ações fragmentadas, mas deve estar presente no currículo
escolar.
No ano seguinte, após ter guardado em silêncio a inaceitável manifestação do
colega, a mesma criança proferiu a frase “Eu não sou chamada para brincadeira de
menina bonita“. Durante uma Roda em que as crianças se auto-avaliavam e
avaliavam todo o trabalho do bimestre, surgiu uma discussão sobre o desempenho
de uma menina da turma e algumas crianças diziam que ela nunca havia sido
inserida pelo grupo de meninas nas brincadeiras durante o recreio, isso a afastava da
turma e provocava certo desinteresse dela nas aulas também. Um dos meninos
trouxe a hipótese de que existia ali preconceito. Em resposta, uma das meninas
afirmou que não era preconceito e que elas eram, inclusive, amigas de X, a outra
menina negra da turma, e pela primeira vez a pequena quebrou o silêncio e a suposta
indiferença, apresentando, com lágrimas, em seu depoimento a frase já citada. Nesse
dia uma aluna do Curso de Pedagogia que estagiava na turma, surpresa com o
debate e com o que diziam as crianças, disse que havia visto ali uma situação limite.
Naquele momento, o investimento realizado permitiu que todos dissessem o que
estavam sentindo e refletia um crescimento do grupo.
Como já foi afirmado inúmeras vezes, o preconceito e as diferentes formas de
discriminações não nascem com a criança. Ao relatar experiências de uma turma dos
anos iniciais, a nossa pretensão é a de promover uma reflexão que contribua com
intensos debates em torno do processo histórico de exclusão do sistema educacional
brasileiro que tem cor, condição social e lugar de moradia. Consideramos que os
Colégios de Aplicação que atuam no ensino, pesquisa e diretamente na formação
dos futuros mestres, podem cumprir num importante papel nestas discussões.
Outra experiência com crianças desenvolveu-se em 2004 no Colégio de
Aplicação da UERJ com uma turma da então 2ª série. Ano de Olimpíadas em Atenas,
boa oportunidade para um projeto envolvendo a Grécia, suas mitologias e sua
influência histórica em todas as áreas do conhecimento. Os conteúdos específicos da
série e projetos paralelos desenvolveram-se a partir das discussões sobre as nossas
origens enquanto povo brasileiro e enquanto seres humanos. Como parte constitutiva
dessa abordagem, a chamada cosmovisão (lendas e mitologias) dos povos indígenas
e africanos; a origem dos números e das linguagens matemáticas; a alfabetização

226
cartográfica, com o estudo da constituição do espaço geográfico e da história dos
bairros; a história de vida de nossas crianças, através da produção de auto-biografias.
Partindo de leituras como “Bisa Bia, Bisa Bel” de Ana Maria Machado, e
“Histórias de Avô e Avó” de Arthur Nestrovsk, trabalhamos com entrevistas e o
resgate da memória de outras gerações. O sub-projeto “Relíquias de família” com os
objetos, fotos, roupas antigas, contribuiu para desenvolver o conceito de tempo e
memória, mas também para estabelecer laços afetivos como podemos perceber no
dizer de algumas crianças: “Eu ganhei da minha mãe este objeto, que foi da minha
avó e vai ser dos meus filhos”.
Pensamos no lugar que a história de vida cumpre na formação de identidade.
Os objetos, as fotos, os dizeres dos avós materializam a herança de seus
antepassados num tempo histórico próximo, porém, do ponto de vista sócio-cultural
bastante diferente das experiências vividas pelas crianças. Quando a criança
pergunta sobre suas origens busca a compreensão sobre si mesma e na sabedoria
do passado oferecida nas vozes dos mais velhos, ressignifica o presente e reflete
sobre o futuro que brota do passado.
Preocupávamos em contribuir na construção de uma identidade individual e
social pautada no encontro de etnias, sociedades e visões de mundo. Para tanto,
trouxemos a literatura infantil e suas relações com o mundo e com a história,
entendida em sua dimensão formadora e enquanto construção ativa de uma
comunidade de leitores que acessou leituras das mitologias gregas, africanas e
indígenas. A valorização de conteúdos voltados para a história e cultura dos povos
africanos e indígenas contribuiu para que os pequenos leitores estabelecessem
relações, produzissem sentidos, e nessa interação com o texto, construíssem
conhecimento sobre as nossas origens e a formação cultural de nosso povo. Tal
experiência reforça o nosso entendimento de que certas leis podem contribuir no
desenvolvimento de práticas interculturais e de combate as discriminações raciais.
Pensando nossas experiências no contexto das discussões étnico-raciais em
educação
O ano de 2003 traz uma importante novidade para a legislação educacional
brasileira, a Lei 10.639/03, que institui a obrigatoriedade do ensino de História da
África e da Cultura Afro-Brasileira, na forma do artigo 26 - A acrescido a Lei 9394/96

227
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em todo o currículo do
Ensino Básico. No rastro das políticas públicas de reparação e ação afirmativa, trata-
se de um marco na história das leis educacionais no Brasil e dá tratamento no campo
curricular a uma demanda histórica do movimento negro.
Ainda é cedo para avaliarmos a repercussão desta legislação nas práticas
escolares e na formação dos professores, entretanto, esta representa um avanço do
ponto de vista institucional, na direção de uma escola como palco de construção de
identidades individuais e sociais contempladas pela diversidade de contribuições
históricas de uma sociedade multicultural e pluriétnica. Já se reproduzem iniciativas
em território nacional de experiências educacionais voltadas para a ruptura com uma
transmissão da cultura nacional de forma universalizante e homogeneizadora.
Partindo desta perspectiva, o presente texto buscará refletir sobre a Escola como
instituição privilegiada para um outro tipo de sociabilidade de crianças e jovens
constituída à luz da diversidade das experiências humanas.
Em junho de 2004, a Lei foi regulamentada pelo Conselho Nacional de
Educação – CNE, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Essas diretrizes foram fundamentadas a partir do Parecer do Conselho Pleno do
CNE, aprovado por unanimidade em março de 2004.
Este Parecer declara explicitamente que se fazem necessárias políticas de
ações afirmativas e de reparação na Educação Básica, na medida em que a
presença do racismo estrutural no Brasil, através de um sistema meritocrático,
“agrava desigualdades e gera injustiça”. E mais, que há uma demanda da
comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos,
no que diz respeito à educação.
Esse reconhecimento requer estratégias de valorização da diversidade. Esta é
entendida como aquilo que distingue “os negros dos outros grupos que compõem a
população brasileira”. Além disso, este reconhecimento passa pela ressignificação de
termos como negro e raça, pela superação do etnocentrismo e das perspectivas
eurocêntricas de interpretação da realidade brasileira e pela desconstrução de
mentalidades e visões sobre a história da África e dos afro-brasileiros.
As diretrizes formulam explicitamente uma perspectiva de inclusão de políticas
de reconhecimento da diferença, nos aspectos políticos, culturais, sociais e históricos,
mas também propõem – estabelecendo uma obrigatoriedade - conteúdos

228
pedagógicos nos sistemas de ensino, que por sua vez, se caracteriza enquanto uma
perspectiva nada tradicional na educação brasileira.
Por ser uma legislação que aborda uma temática altamente controversa – as
relações étnico-raciais no Brasil -, no campo educacional, vem mobilizando questões
que se referem à desconstrução de noções e concepções apreendidas durante os
anos de formação dos professores e vão enfrentar preconceitos raciais muito além
dos muros escolares.
De fato, numa breve consulta pelas publicações acadêmicas em curso,
Gomes (2003), Oliva (2003), Valente (2004), Rosa (2006) e Gonçalves e Soligo
(2006), se destacam alguns pilares de enfrentamento para a possibilidade, - e não a
garantia – de aplicação efetiva da Lei 10.639 como: a aliança de professores e
escolas com outros espaços educativos para uma afirmação positiva da diferença, o
enfrentamento teórico contra visões eurocêntricas arraigadas no senso comum
acadêmico, o combate à fortaleza do discurso racista hegemônico na sociedade
brasileira e na educação, e a constatação que até uma reinvenção do conhecimento
humano se faz necessário.
A promoção de uma educação que estabelece a conflitualidade de
conhecimentos ou uma “pedagogia das ausências” (Santos, 2006), nos possibilita
experimentar uma reflexão coletiva para enfrentar aspectos conflitivos e tensões que
se apresentam nas relações entre intencionalidade da Lei 10.639/03 e a formação
docente que, por longos anos, apreenderam concepções, visões de mundo e
enfoques eurocêntricos, não somente por meio da escrita, mas também, por meio de
imagens, hipertextos, fotografias, charges, desenhos e áudios-visuais.
O que está em jogo, portanto, não se limita a disputa política no campo
ideológico e pedagógico, mas também, a partir de palavras e imagens, reforçar e
construir novas representações, novas memórias, novas identidades ou como diz
Boaventura, através de “imagens desestabilizadoras”, se tece a esperança e se
alimenta o inconformismo e a indignação para a construção de uma nova teoria da
história.
Por sua vez, o documento da Conferência Mundial contra o Racismo,
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata da ONU, reconhece que a
escravidão e o tráfico de escravos foram crimes contra a humanidade, fontes de
racismo e discriminação e deveriam sempre ter sido considerados assim. Tais
injustiças históricas contribuíram inegavelmente para a pobreza e as desigualdades

229
vividas pelos povos de origem africana. O termo “reparação” é carregado de sentidos
e foi utilizado e discutido nesse evento, realizado entre 31 de agosto e 8 de setembro
de 2001 na cidade de Durban na África do Sul, que motivou a apresentação de
inúmeras políticas compensatórias para os povos de ascendência africana. Algumas
políticas educacionais brasileiras têm levado em conta, em seus textos legais,
questões discutidas e transformadas em documentos pela Conferência de Durban
que indicou que as áreas da Diáspora africana deveriam reconhecer a população de
descendência africana e as suas contribuições culturais, econômicas, políticas e
científicas.
As desigualdades históricas produzidas em termos de acesso à educação, ao
sistema de saúde, à moradia tem sido uma causa profunda das disparidades
socioeconômicas que afeta as populações negras. Ao longo do século passado, os
movimentos negros defenderam o direito à educação com um fator determinante na
promoção, disseminação e proteção dos valores democráticos de justiça e de
igualdade, elementos essenciais de prevenção e chave para a mudança de atitudes e
comportamentos baseados no racismo e na discriminação racial.
A implementação de políticas de discriminação positiva como ação reparadora
por séculos marcados pela desigualdade social, caracterizados pela violação dos
direitos e interdição do povo negro no acesso à educação, traz para a temática da
cidadania e das políticas públicas atuais de inclusão da população afrodescendente,
a questão do acesso e da permanência desta nas instituições educacionais em todos
os níveis.
A noção de identidade nacional e de raça construídas no Brasil permitiu a
naturalização das desigualdades sociais, serviu para a restrição dos direitos de
determinados grupos e interferiu nos modelos discursivos e no sistema escolar do
pósabolição.
A Proclamação da República veio acompanhada de uma série de medidas
governamentais voltadas para a imigração européia, implementadas tanto para a
agricultura quanto para a indústria, que tinham como um de seus principais objetivos
o embranquecimento da população. Nina Rodrigues, citado por Schwarcz (2004),
acreditava que os negros eram oriundos de raça e cultura inferiores e tenderiam a
desaparecer na convivência com os brancos, porém, era necessário um ajustamento
das raças para que superássemos um fator que nos levaria a uma inferioridade como
povo.

230
Schwarcz (2004) apresenta em seu estudo, como as teorias raciais
deterministas e evolucionistas consolidaram uma noção de superioridade racial que
serviria de modelo explicativo acerca das diferenças internas que conduziram o Brasil
para um atraso em relação ao mundo ocidental, pois uma nação de raças mistas
estaria fadada ao fracasso.
Essa concepção constituiu-se vitoriosa por uma larga margem histórica temporal e
norteou os discursos institucionais, os direitos sociais e as políticas públicas que
justificavam um acesso à educação pautado pela desigualdade.
Mattos (2005) ressalta que as teorias do branqueamento surgiram no Brasil
com base na tese de que o branco, “racialmente superior”, predominaria nos
processos de mistura de raças, o que resultou na crescente defesa de que a
imigração européia favoreceria o processo de branqueamento biológico e cultural da
futura população brasileira. A versão mais radical desses determinismos está na obra
do Conde Gobineau, autor do Ensaio sobre as Desigualdades das Raças Humanas,
que defendia a existência de uma hierarquia entre as raças e que as misturas destas
resultaria na degeneração das melhores características de cada uma das raças em
contato. Se por um lado quase todas as versões do “darwinismo social” valorizavam
os tipos puros, de outro, os intelectuais e políticos brasileiros tinham um problema a
resolver tendo em vista a secular mistura étnica que marcou a formação do Brasil.
Houve uma reconfiguração política da noção de “raça” que, segundo a pesquisadora,
interferiu nos modelos discursivos.
A instrução era vista como uma das principais estratégias civilizatórias do povo
brasileiro, para arregimentar pessoas para o projeto da independência. Nas décadas
iniciais do século XIX os governos estabeleciam ou mandavam criar escolas das
primeiras letras, momento inicial da estruturação do Estado imperial. A escola
proposta para as “classes inferiores da sociedade” deveria generalizar os rudimentos
do saber ler, escrever e contar.
Até o final da primeira metade do século XIX a freqüência de crianças negras,
mesmo as livres, é proibida. Porém, essa interdição no acesso às instituições
escolares em nada impedia que tivessem contato com as letras no universo familiar e
comunitário. Muitos escravos se alfabetizavam observando e acompanhando as
práticas de ensino no interior das famílias dos senhores ou aprendiam com os mais
velhos. Após a Lei do Ventre Livre de 1871, o governo imperial passou a exigir que os
senhores de escravos tomassem conta das crianças menores de oito anos de idade.

231
A Constituição de 1824 manteve a escravidão respaldada no direito à
propriedade, embora trouxesse a assertiva liberal de que todos os homens nasciam
livres e iguais. A vida, a liberdade, a propriedade e a segurança são quatro direitos
básicos que compareceram ao texto da Carta de 1924. Entretanto, de pouco adianta
o direito à vida se a liberdade destes “nascidos em outros estados nacionais” era
tratada do ponto de vista da exclusão e os atributos ‘liberdade” e “propriedade”
regulavam as relações entre escravos e senhores.
Os pronunciamentos em favor de uma educação para o povo, entretanto, só
se intensificam a partir de 1870, quando ocorre um surto de progresso na economia
brasileira e aumenta consideravelmente a penetração das idéias liberais. O Decreto
7.031 de 06 de setembro de 1878 criou o ensino noturno. No ano seguinte, eliminou-
se a proibição de escravos de freqüentarem as escolas e instituía-se a
obrigatoriedade do ensino dos 7 aos 14 anos.
A educação sempre ocupou lugar de destaque no ideário de luta dos negros
brasileiros, como estratégia de equiparar negros e brancos, dando-lhes
oportunidades iguais e como veículo de ascensão social e integração. Em 1905, as
primeiras entidades negras em São Paulo organizavam escolas e tinham uma
repercussão imediata na sua qualidade de vida. Entre 1906 e 1940, foram registradas
em São Paulo várias associações de assistência, como: Flor de Maio, em São
Carlos, José do Patrocínio, em Rio Claro, Luiz Gama, em Jundiaí e outras. A Frente
Negra Brasileira surge com um programa de ação estruturado em três eixos: Agrupar,
educar e orientar.
Nos tempos atuais, discute-se e implementam-se políticas de discriminação
positiva como ação reparadora por séculos de discriminação. Quando pensamos no
tema cidadania e nas políticas públicas atuais de inclusão da população
afrodescendente, observamos o acesso e permanência nas instituições educacionais
em todos os níveis como uma questão que vem mobilizando intensos debates. O
campo da educação, enquanto um direito social, representa um espaço privilegiado
na luta pela superação das desigualdades.
O que a conferência de Durban considera uma tragédia do passado,
permanece na ordem do dia nos debates sobre a produção da exclusão da
população negra. As gerações que foram tragadas pelo racismo não representam
apenas um passado a ser lembrado, mas uma marca do presente. A igualdade, a
liberdade e a cidadania são reconhecidas pelo Estado como princípios

232
emancipatórios, porém os processos de produção da desigualdade e da exclusão
permanecem como elementos estruturantes do desenvolvimento capitalista e não
são questionados.
As Declarações Internacionais e Nacionais que estabelecem princípios e
ações no campo da educação, não se pautam mais na interdição do povo negro, mas
disponibiliza para todos, um direito oferecido em parcelas desiguais. Para um setor da
população, a qualidade e a excelência na educação e, para o setor mais pobre, a
gestão controlada da desigualdade.
Entretanto, existem muitos críticos dessas legislações que defendem que tais
políticas romperiam com o direito à igualdade de oportunidades, trilhariam um
caminho de racialização da sociedade brasileira e acabariam por institucionalizar uma
discriminação. Essas reações geraram duas obras, “Não Somos Racistas, uma
reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor” de Ali Kamel (2006) e
“Divisões Perigosas: Políticas Raciais no Brasil Contemporâneo” de Peter Fry e
outros (2007), somado a um manifesto de intelectuais brasileiros contra o sistema de
cotas que ocupou grande espaço na imprensa.
Peter Fry (2007) ao criticar a Lei das Cotas afirma que quando o Estado obriga
a pessoa a se auto classificar racialmente já celebra as divisões raciais,
“O acesso às universidades era legalmente determinado pela capacidade dos candidatos de chegarem a uma certa pontuação numa prova que ignorava o sexo e a cor (ou seja, as características adscritas pela “natureza”) dos candidatos”. (2007: 158) José Roberto de Pinto Góes (Fry e outros, 2007:61) indica a existência de
idealização caricatural e uma desinformação sobre o nosso passado e estaríamos
diante do risco de nos tornarmos um país de brancos e negros e trocando a
valorização da mestiçagem pelo orgulho racial. Já Demétrio Magnoli (Fry e outros,
2007:65) afirma que seria uma boa idéia ter atribuído ao 13 de maio, o Dia da
Consciência Negra, mas que ao contrário ocorreu uma difamação da Abolição que
“foi uma luta popular moderna, compartilhada por brasileiros de todos os tons de
pele”. E vai além,
“Os revisionistas que fingem celebrar a memória de Zumbi praticam um seqüestro intelectual, despindo a narrativa de seu contexto histórico para fazer do quilombo uma metáfora de seu programa atual de separação política e jurídica das “raças”. Esse é o motivo pelo qual decidiram abolir a Abolição.” (Fry, 2007:66) São muitos os intelectuais e os argumentos contra tais políticas. No que diz
respeito à obrigatoriedade do ensino da história e cultura da África e dos

233
afrodescendentes no Ensino Básico brasileiro, as críticas partem de intelectuais e de
professores nas escolas. Algumas questões são levantadas: não seria essa uma
forma autoritária de imposição de conteúdos e de intervenção no currículo como nós
já vimos no período da Ditadura Militar? Os professores estariam diante de mais um
pacote que não construíram? E a história dos italianos, japoneses, árabes, índios e
outros povos que compareceram na nossa formação mestiça? De qual África
estamos falando? Não corremos o risco de perder de vista a heterogeneidade das
histórias e das culturas africanas?
De fato são muitas as Áfricas e os Brasis. A lei 10.639/03, não deve ser
somente um marco de abordagem multicultural e de combate a um tipo de exclusão
que não se faz explicito para todos. Na verdade, o que se espera é que novas visões
e versões sejam experienciadas de forma intercultural, baseadas no diálogo e
respeito mútuo de todas as diferenças étnicas encontradas no Brasil.
O receio da folclorização, da simplificação de abordagens históricas e culturais
acerca do povo africano e de uma racialização da sociedade brasileira, são questões
que precisam ser enfrentadas no debate que está aberto para toda a sociedade.
Porém, alguns intelectuais formam uma frente vigorosa em prol da tese de que “Não
somos racistas”, contestam inclusive as estatísticas que dão conta de uma
desvantagem entre negros e brancos, parecem colocar em segundo plano que a
desigualdade vivida por brancos, índios, negros e outros, reflete o tipo de sociedade
que temos que discrimina por status social, grau de instrução, cor da pele, aparência
física e sexo.
Possibilidades a partir da interculturalidade entre eu e o outro.
Quando um setor da sociedade se organiza e conquista espaços numa
sociedade desigual, alguns antes socialmente alocados podem perder um lugar
anteriormente garantido. Por que alguns brigam para que os “melhores” estejam nos
bancos universitários? Por que estes mesmos não brigam para que todos tenham
oportunidades de freqüentar a universidade? Por que assumir a cor da pele traz
incômodo? Por que não nos perguntamos sobre a necessidade que negros, índios,
portadores de necessidade especiais, homossexuais, mulheres tenham que assumir
uma determinada identidade?

234
Para um professor não é fácil administrar essas delicadas faces da identidade
e da diversidade. Ao longo de muitos anos estamos sendo formados nos marcos das
desigualdades, dentro de uma ideologia que reforça a hierarquização das relações e
das oportunidades. Não é por menos que uma criança reclama que “eu não sou
chamada para brincadeira de menina bonita”. Assim, a não construção de um
repertório nos marcos da diversidade nos impede de tocar nas feridas das falas e das
brincadeiras preconceituosas de nossos alunos e de valorizar as diferentes
contribuições de povos de diferentes origens.
Antony Zabala (1998) certa vez afirmou que um bom profissional consiste em
ser cada vez mais competente em seu ofício e, para o professor alcançar este
objetivo, faz-se essencial o conhecimento das variáveis que intervém na prática e a
experiência para dominá-la. O autor ainda nos informa que, a concepção que se tem
sobre a maneira de realizar os processos de aprendizagem constitui o ponto de
partida para estabelecer os critérios que deverão nos permitir tomar as decisões em
aula. Por trás de qualquer concepção metodológica se encontra uma concepção do
valor que se atribui ao ensino, assim como certas idéias mais ou menos formalizadas
e explícitas em relação aos processos de ensinar e aprender.
Nesta perspectiva, parte-se da compreensão do fenômeno educativo
enquanto prática social que atua na configuração da existência humana individual e
coletiva, para realizar nos sujeitos humanos as características do “ser humano”. A
educação deve ser entendida em sua historicidade, como um produto das relações
sociais, como ação humana que envolve múltiplas dimensões; econômica, social,
ética, estética. Mas não serestringe a isto.
Vera Candau afirma:
“O multiculturalismo é um dado da realidade. (...). Pode haver várias maneiras de se lidar com esse dado, uma das quais é a interculturalidade. Esta acentua a relação entre os diferentes grupos sociais e culturais”. (CANDAU, 2001) Diante de conflitos, falas perturbadoras e angústias identitárias entre crianças,
o exercício da perspectiva intercultural não pode ser ingênuo. Devemos ter a
consciência de que nas relações sociais não existem somente diferenças, mas
também desigualdades, assimetrias de poder e conflitos. No entanto, a
interculturalidade como proposta pedagógica:
“(...) parte do pressuposto de que, para se construir uma sociedade pluralista e democrática, o diálogo com o outro, os confrontos entre os diferentes grupos sociais e culturais são fundamentais e nos enriquecem a todos (...)”. (CANDAU, 2001)

235
Concordando com a autora e percebendo as falas infantis, consideramos que
esta é uma questão difícil, pois, como verificamos, tem-se muita dificuldade em lidar
com as diferenças. A sociedade, os professores e a escola estão informados por uma
visão cultural hegemônica de caráter monocultural. O diferente nos ameaça, nos
confronta, e os professores se situam em relação a ele muitas vezes de modo
hierarquizado.
Mas, conforme Candau:
“A interculturalidade aposta na relação entre grupos sociais e étnicos. Não elude os conflitos. Enfrenta a conflitividade inerente a essas relações. Favorece os processos de negociação cultural, a construção de identidades de ‘fronteira’, ‘híbridas’, plurais e dinâmicas, nas diferentes dimensões da dinâmica social”. (CANDAU, 2001) Não podemos esquecer também da contribuição de Bakhtin. Para este, a
linguagem tem dimensões dialógicas e ideológicas, construídas na história: para
entender o texto (o discurso), é preciso entender o contexto. Quando X chora por não
poder participar “da brincadeira de menina bonita” ela disse tudo que vive na pele. As
palavras contêm valores e forças ideológicas - aqui reside também a dimensão
histórica da linguagem. Além disso, comunicar significados implica em comunidade:
sempre nos dirigimos ao outro (no caso os alunos), e o outro não tem apenas um
papel passivo; o interlocutor participa ao atribuir significado à enunciação. Não é a
experiência que organiza a expressão: a expressão precede e organiza a
experiência, dando-lhe forma e direção.
Esses referenciais, para uma prática educativa intercultural num Colégio de
Aplicação, destinado à aplicação de novas metodologias de ensino e aprendizagem e
à promoção de intercâmbios de conhecimento e prática com os alunos das
licenciaturas de outras unidades da Universidade é vital, principalmente quando seus
objetivos referem se as expectativas que confundem-se com o que desejamos, em
suma, para nós mesmos.
Esperamos que as crianças tenham vontade de conhecer e prazer em
aprender, e que, dessa forma, saibam concordar, discordar, relativizar as questões
formuladas e, ainda, que saibam buscar novas informações em diferentes meios e
que possam trocar, através de fecundas relações interpessoais, o resultado de suas
pesquisas e descobertas.

236
Enfim, desejamos que nossos alunos assumam seu lugar de cidadãos, que
saibam se adaptarem às novas situações e que sejam felizes, se possível. E que
aprendam a morar no outro.
Por outro lado, as questões étnico-raciais que a Lei 10.639/03 suscita na
educação, geram desafios e tensões na dimensão cognitiva e subjetiva dos docentes
e nos espaços escolares. A Lei não é de fácil aplicação, pois trata de questões
curriculares que são conflituais, desconsiderados como relevantes ou questionam e
desconstroem saberes históricos considerados como verdades inabaláveis. A
questão curricular se desdobra também na necessidade de uma nova política
educacional de formação inicial e continuada, para reverter positivamente às novas
gerações, uma nova interpretação da história e uma nova abordagem da construção
de saberes.
Por fim, a aprendizagem que podemos tirar dessas experiências com crianças
negras e brancas, é a necessidade de mobilizar constante e cotidianamente essas
discussões, desconstruir paradigmas e enfrentar inevitáveis conflitos na sala de aula
para articular e promover uma perspectiva intercultural, baseada em negociações
culturais, favorecendo um projeto comum, onde as diferenças sejam patrimônios
comuns da humanidade.
Referências bibliográficas
BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec. 1997.
CANDAU, V. M. Multiculturalismo e Direitos Humanos. In:
www.dhnet.org.br/direitos/militantes/veracandau/multicutaralismo.htm, 2001.
DECLARAÇÃO E PROGRAMA DE AÇÃO da Conferência Mundial contra o
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata da ONU, realizada
entre 31 de agosto e 8 de setembro de 2001 na cidade de Durban, África do Sul.
Mimeo, 2001.
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DAS
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA. Brasília: MEC, 2005.
FRY, P., MAGGIE, Y e outros (Orgs.) Divisões perigosas. Políticas raciais no Brasil
contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

237
GOMES, N. L. Educação, identidade negra e formação de professores/as: um olhar
sobre o corpo negro e o cabelo crespo. In: Educação e Pesquisa, São Paulo, v.29,
n.1, p. 167-182, jan./jun. 2003.
GONÇALVES, L. R. D. e SOLIGO, A. F. Educação das relações étnico-raciais: o
desafio da formação docente. In: 29ª Reunião da ANPED, GT: Afro-brasileiros e
Educação/ n. 21. 2006.
KAMEL, A. Não somos racistas. Uma reação aos que querem nos transforma numa
nação bicolor. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
MATTOS, H. M. e RIOS, A. L. Memórias do cativeiro. Família, trabalho e cidadania no
pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização brasileira. 2005.
MATURANA, H. Ontologia do conversar. In: MAGRO, C. et al. (org.) A ontologia da
realidade. Belo horizonte: Ed. UFMG, pp. 167-81, 1997.
NORA, P. Entre memória e história: a problemática dos lugares. In: Projeto História.
São Paulo: PUC, n. 10, p. 07-28, dezembro de 1993.
OLIVA, A. R. A História da África nos bancos escolares. Representações e
imprecisões na literatura didática. In: Estudos Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro: Ano 25,
n. 3, 2003, pp. 421-461.
ROSA, M. C. Os professores de arte e a inclusão: o caso da lei 10639/2003. In: 29ª
Reunião da ANPED 2006, GT: Afro-brasileiros e Educação/ n. 21. 2006.
SANTOS, B. de S. A gramática do Tempo: para uma nova cultura política. São Paulo:
Cortez Editora, 2006.
SCHWARCZ, L. M. O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial
no Brasil 1870 – 1930. São Paulo: Companhia das letras, 2004.
VALENTE, A. L. Ação afirmativa, relações raciais e educação básica. In: Revista
Brasileira de Educação. Rio de Janeiro: Jan /Fev /Mar /Abr 2005 n. 28
WARSCHAUER, C. Rodas em rede. Oportunidades formativas na escola e fora dela.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.
ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

238
África e as relações étnicorraciais na educação de jovens e adultos.
Luiz Fernandes de Oliveira80.
Mônica Regina Ferreira Lins81
Introdução
Escrever e falar de racismo e de afrodescendentes no Brasil de hoje, parece
modismo acadêmico ou simplesmente manifestação militante da causa negra.
Principalmente quando diversos segmentos da sociedade brasileira entram numa
polêmica quase titânica sobre a aplicação das políticas de cotas nas universidades.
A intenção deste texto é descrever uma experiência de reflexão realizada no
curso de Extensão de Educação de Jovens e Adultos nos Anos iniciais – contexto
histórico cotidiano e currículo, durante os anos de 2008 a 2010, no Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp – UERJ). Essa reflexão, por sua
vez, gerou certos dilemas e desafios quando se apresentaram temáticas e
conhecimentos históricos acerca da implementação da Lei 10.639/03 que
estabelece a obrigatoriedade do ensino de História da África nos currículos da
educação Básica.
As Imagens desestabilizadoras e a pedagogia do conflito
Nos estudos históricos da civilização humana a ideia de um processo
civilizatório africano anterior ao europeu aparece como grotesco ou obtuso (Luz,
1995). É preciso ter coragem ou ter status acadêmico solidamente consolidado para
afirmar que a África, além de ser o berço da civilização humana, conheceu
processos sócio-culturais, econômicos e políticos muito antes do advento da
civilização ocidental europeia. Mas, este mesmo processo foi interrompido pela
80 Doutor em Educação Brasileira pela PUC – Rio. Ex-professor do Departamento dos Anos iniciais do Ensino Fundamental do CAp-UERJ e Professor Adjunto do Departamento de Teoria e Planejamento Educacional do Instituto de Educação da UFRRJ. 81 Doutoranda pelo Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ, Mestre em Educação Brasileira pela PUC – Rio e Professora Assistente do Departamento de Ensino Fundamental da UERJ.

239
chegada dos europeus no continente africano e, a partir daí, inicia-se um extermínio
civilizacional que continua até os dias atuais.
As descrições realizadas neste texto versa sobre a utilização de imagens
que se fundamenta nas abordagens teóricas de Boaventura de Sousa Santos
(1996) sobre a pedagogia do conflito e o seu conceito de imagens
desestabilizadoras.
Este autor no texto, Para uma pedagogia do conflito (1996), defende a idéia de
uma educação que parta da conflitualidade dos conhecimentos, ou seja, um projeto
educativo conflitual e emancipatório, onde o conflito sirva, antes de tudo, para
vulnerabilizar os “modelos epistemológicos dominantes”.
Boaventura fundamenta esta posição política e epistemológica, argumentando
que em tempos de globalização, da sociedade do consumo e da informação, a
burguesia internacional tem na tese do fim da história, seu referencial
epistemológico de celebração do presente e da idéia da repetição, que permite ao
presente se alastrar ao passado e ao futuro, canibalizando-os. Com a derrota do
“socialismo” e a consolidação da vitória da burguesia, para o autor, o espaço do
presente como repetição foi se ampliando e, “Hoje a burguesia sente que sua vitória
histórica está consumada e ao vencedor consumado não interessa senão a
repetição do presente. Daí a teoria do fim da história” (Santos, 1996:16).
O autor afirma ainda que essa mesma teoria “contribuiu para trivializar,
banalizar os conflitos e o sofrimento humano de que é feita a repetição do presente”
(Santos, 1996:16). Este sofrimento, por sua vez, é mediatizado pela sociedade de
informação, se transformando “numa telenovela interminável em que as cenas dos
próximos capítulos são sempre diferentes e sempre iguais às cenas dos capítulos
anteriores” (Santos, 1996:16). E mais: “Essa trivialização traduz-se na morte do
espanto e da indignação. E esta, na morte do inconformismo e da rebeldia” (Santos,
1996:16).
Entretanto, Boaventura informa um outro aspecto dessa questão, ou seja,
atualmente as energias do futuro parecem desvanecer-se, pelo menos enquanto o
futuro continuar “a ser pensado nos termos em que foi pensado pela modernidade
ocidental, ou seja, o futuro como progresso” (Santos, 1996:16). Ele nos diz, que os
vencidos da história “descrêem hoje do progresso porque foi em nome dele que
viram degradar-se as suas condições de vida e as suas perspectivas de libertação”
(Santos, 1996:16).

240
Neste sentido, nas discussões sobre relações raciais e educação, em muitos
espaços educacionais, a questão do conflito é evitada, promovendo o silenciamento
dos que sofrem discriminações e racismo no espaço escolar. Em vários momentos
em seminários e debates, ficam evidentes os relatos de docentes e alunos, que
evitam as discussões sobre racismo e discriminações, ora negando sua existência,
ora reafirmando o mito da democracia racial: “uma vez um aluno disse uma frase
em sala de aula: seu pai, aquele preto! E a professora calou-se” ou “as crianças
negras são chamadas de faveladas e o professor não intervém”.
Para nós, estas situações parecem revelar o que Boaventura (1996) diz sobre
a morte da indignação, do espanto, a trivialização das conseqüências perversas da
sutilidade das discriminações raciais no Brasil.
O enfoque teórico defendido nos debates do curso de extensão, com a
utilização de imagens, foi de um convite à reflexão sobre a necessidade de uma
pedagogia que promova a conflitualidade dos conhecimentos, ou seja,
questionando a idéia do fim da história, afirma a possibilidade de uma outra teoria
da história, que devolva ao passado “sua capacidade de revelação”, isto é, um
passado reanimador que, através de “imagens desestabilizadoras” e da
conflitualidade, nos faça potencializar e recuperar nossa capacidade de espanto e
indignação perante o “apartheid global” e os sofrimentos humanos.
Ou seja, um projeto educativo emancipatório enunciado pelo autor significa,
produzir imagens desestabilizadoras a partir de um passado do povo negro
concebido não como fatalidade, mas como produto da iniciativa humana. Para
Boaventura, a sala de aula teria que se transformar em campo de possibilidades de
conhecimentos dentro do qual há que se optar. Ele esclarece melhor está
formulação afirmando:
“As opções não assentam exclusivamente em idéias, já que as idéias deixaram de ser desestabilizadoras no nosso tempo. Assentam igualmente em emoções, sentimentos e paixões que conferem aos conteúdos curriculares sentidos inesgotáveis.” (Santos, 1996:18) Assim, através de imagens desestabilizadoras, se tece a esperança e se
alimenta o inconformismo e a indignação, mas sem renunciar a proposição de
estabelecer a conflitualidade de conhecimentos, isto é, professores e alunos
discutindo duas ou mais concepções de mundo, suas diferenças e semelhanças e
suas possibilidades de experimentação social.

241
Imagens da África
Nos debates do curso de extensão com professores e estudantes, iniciamos
com o que já se tem de conhecimento na história oficial: o berço da civilização
ocidental nas suas manifestações artística, cultural, filosófica e política que se
encontra na Grécia Clássica. Mas, um aspecto é ressaltado: a manifestação
religiosa dos antigos gregos.
Esses possuíam uma religiosidade politeísta, onde vários deuses
representavam ou forças da natureza, sentimentos humanos ou heróis mitológicos.
Em muitas iconografias que chegaram até os dias atuais, vemos que na Grécia
clássica se realizavam diversos ritos para venerar os deuses. Dentre esses ritos,
encontramos sacrifícios de animais aos deuses, oferecimentos simbólicos de
comidas e outros objetos.
Porém, um elemento escapa a atenção de diversos estudiosos: um dos
símbolos de Zeus – deus da justiça, do trovão, deus dos deuses - tem como um de
seus símbolos um machado de duas pontas. Além disso, a pólis grega era, no seu
cotidiano, repleta de ritos, cerimônias e, digamos, vivenciada nos homens a
presença dos deuses. Os estudos históricos, já comprovadamente, dataram essas
manifestações em torno de 700 a 500 a.C.
Mas o que isso tem a ver com a África? Aparentemente nada, pois não
temos conhecimentos de que na África foram inventados os jogos olímpicos, a
filosofia, o termo democracia etc. Entretanto, num dos complexos civilizatórios mais
antigos do continente africano, chamado de yorubás, existia e existe, no aspecto
religioso, um entre os diversos deuses que tinha como símbolo um machado de
duas pontas, assim como Zeus. Seu nome é Xangô, deus do trovão e da justiça.
Nos estudos recentes de historiografia não encontramos registros de uma data
precisa da origem das práticas religiosas africanas, mas é majoritariamente datado
aproximadamente em 1000 a.C.
Não é uma coincidência. Diversos estudos, ricos em documentação
arqueológica, lingüística e histórica, divulgados por estudiosos como Ivan Van
Sertima (1985) e Cheikh Anta Diop (1959), registram a presença africana na Europa
antiga. Outro estudioso, Martin Bernal (1987), lingüista e cientista social, professor
da universidade de Cambridge, registrou a existência de raízes africanas e asiáticas
na civilização greco-romana.

242
Poderíamos citar vários elementos dessa influência e de aspectos históricos
negados, como os três papas negros que a história oficial do Vaticano omite e
dissimula82, a presença do metal estanho no norte da Europa, levado pelos
egípcios, as escavações de Schliemann em Tirins e Micena (Grécia) que o levou a
uma conclusão relatada aos seus colegas: “Parece-me que esta civilização
pertencia a um povo africano”. Enfim, a presença africana na Europa antiga é cada
vez mais difícil de ser negada.
Mas e a religiosidade? Será que poderíamos considerar os gregos como
autênticos “macumbeiros”? Eles praticavam ritos “diabólicos” também? Ou seja,
faziam oferendas aos deuses e sacrifícios de animais em plena pólis junto ao
espírito da democracia e da racionalidade filosófica?
Entretanto, a negação escandalosa da história oficial não se refere somente
a influência africana na Europa, mas ao fato histórico relacionado aos povos que
obtiveram os primeiros contatos com os nativos americanos.
Não é possível! Afinal de contas desde que o mundo é mundo, para nossos
estudantes, do ensino médio e fundamental, sempre se afirmou que os primeiros
homens a chegarem nas chamadas “índias ocidentais” foram os europeus. E
mesmo os mais críticos dos historiadores, que após tantas baterias de argumentos
contra o termo “descobrimento”, conclui que, toda a América, incluindo o Brasil, não
foi descoberta pelo europeu. Ela foi, isso sim, conquistada, invadida por ele.
Feita a crítica, segue-se, na maioria dos livros didáticos as diversas viagens
sucessivas de Vicente Pinzón, Vasco Nunez de Balboa, Fernão de Magalhães, etc.
Jamais ocorreu a curiosidade de investigar se outros homens não europeus tiveram
contatos com os nativos de nosso continente. E é um “pouco arriscado” reescrever
a história por causa das novas evidências científicas que afirmam que não foi
Cristóvão Colombo nem Pedro Álvares Cabral quem primeiro tiveram contatos com
os nativos das Américas.
Então vamos falar das identidades entre técnicas de engenharia e
arquitetura das pirâmides egípcias e mexicanas? Não. Com a palavra Elisa Larkin
Nascimento:
Talvez o testemunho mais eloqüente dessa presença africana nas Américas se encontre nas gigantescas cabeças da cultura olmeca, primordial entre as culturas mexicanas. Localizadas no centro do território sagrado desse povo, em La Venta, San Lorenzo e Três Zapotes, as esculturas pesam quarenta toneladas cada, feitas
82 Citado em Nascimento (1996).

243
de um só pedaço de basalto. Reproduzem com exatidão o tipo étnico africano, a ponto de constituírem retratos perfeitos de guerreiros ou reis nubas. Van Sertima coloca lado a lado fotografias das esculturas e desses africanos, deixando clara a identidade entre ambos. Da mesma forma, justapõe retratos de reis mandingas com esculturas de barro pré-colombianas, representando deuses mexicanos de Vera Cruz e Oaxaca, mostrando a identidade não só dos traços físicos, mas de detalhes, como brincos e penteados. Esses "testemunhos visíveis" reunidos por Von Wuthenau e Van Sertima constituem retratos altamente sofisticados dos africanos nas Américas, imortalizados na finíssima escultura indígena da época. As cabeças africanas aparecem dentro de complexos arquitetônicos que constituem praças cerimoniais-religiosas ladeadas por pirâmides. Essas pirâmides mexicanas são construídas no estilo núbio, com as laterais em forma de escada. Surgem no México sem vestígios de precedente ou antecessor, enquanto na África o milenar processo de desenvolvimento dessa engenharia encontra-se concretamente manifestada nas formas predecessoras encontradas em sítios arqueológicos. Uma série de outras marcas rituais, arquitetônicas, simbólicas, artísticas, mitológicas e tecnológicas dessas praças cerimoniais constituem complexos de fenómenos culturais tão detalhados e específicos que sua comunalidade à África e Américas ultrapassa as possibilidades da mera coincidência. A partir do período de elaboração das gigantescas esculturas olmecas, entre 900 e 500 a.C., Van Sertima identifica os africanos retratados como possíveis integrantes da poderosa marinha mercante e bélica núbia, e propõe esse período de contato como sendo o mais importante entre uma série de visitas africanas às Américas. (NASCIMENTO, 1996:70)
O desconhecimento e a omissão de que os africanos conheciam as técnicas
de navegação resulta do preconceito eurocêntrico da existência de grandes
civilizações africanas anteriores às européias. A experiência de navegação, por
exemplo, em alto mar de algumas civilizações africanas, eram superiores à dos
europeus do século XV. Nascimento ainda cita:
Tecnicamente, os navios africanos eram sensivelmente superiores às caravelas européias de dois milênios mais tarde. Suas estruturas, em papiro ou madeira costurada, eram flexíveis e portanto agüentavam melhor o impacto das águas em tempestades. Utilizavam, ao mesmo tempo, o remo e a vela, o que permitia a propulsão do navio nas calmarias. Colombo e seus colegas, ao contrário, dependiam unicamente da vela, ficando dias ou semanas parados no meio do mar. (NASCIMENTO, 1996:70)
Outros registros da presença africana nas Américas vêm de tradições orais
dos Maias no México e do Império do Mali, no século XIV, este último relatando as
histórias de Abubakari II, conhecedor das correntes marítimas do oceano atlântico,
que os africanos chamavam de “rios dentro do mar” (Cunha Jr., 2000).
Um dos últimos registros históricos acerca da capacidade civilizacional de
algumas sociedades africanas foi divulgado por Alberto Costa e Silva (1996) em seu
livro – A Enxada e a Lança: a África antes dos portugueses, onde relata que várias

244
civilizações, além do império do Mali, reino da Núbia e civilizações da costa oriental
da África, tiveram contatos com a Índia e a China, através do comércio marítimo.
Costa e Silva cita, por exemplo, os reinos e impérios de Gana (século VI ao
XIII), Napata e Méroe (sul do Egito na época dos Faraós) que conheciam as
técnicas de metalurgia, as armas de ferro, espadas de bronze, criação de gado, a
enxada, pequenas indústrias têxteis, comercializavam bijuterias, perfumes e panos
de algodão, fundição do ferro, plantação do arroz, etc. O império do Mali, por
exemplo, conhecia as estruturas de Estado com reis ou governantes. Existiam
grandes cidades-estados como Pemba, Zamzibar, Quiloa, todas na África oriental.
Tal idéia para uma visão histórica eurocêntrica é uma quimera, pois foi, e é mais
fácil afirmar que os africanos são uma “raça menor e carente de lei”, faltando-lhes
instituições de governo. Mesma idéia que tiveram quando do contato com os
nativos das Américas.
Nossa juventude em idade escolar, assim como grande parte de nossa
geração de historiadores e sociólogos, jamais soube desta outra história, pelo
contrário, o que é relatado, por exemplo, é que o mundo que era conhecido até
1490 se restringia a Europa, parte da Ásia, o Egito e o deserto do Saara. Expresso
em diversos Atlas geográficos, essas regiões são iluminadas em cores claras e o
resto do mundo na escuridão, desconhecida, sem história, sem homens de carne e
osso e quando foram “descobertas” eram “animistas”, “sem lei e sem governo”,
“sem fé”, muito semelhante aos macacos.
Nos debates do curso de extensão não nos limitamos somente à histórias
desconhecidas. A negação da história (que no nosso caso demonstra uma das
dimensões do racismo) se revela até mesmo no que há de mais evidente: a
iconografia do Egito antigo. Talvez com a exceção de alguns poucos livros
didáticos, o Egito não é descrito como uma grande civilização negra-africana. Mas
muitos docentes, mesmo os progressistas, não racistas, de esquerda, continuam a
divulgar o filme Cleópatra, estrelado por Elisabeth Taylor, no caso branca, para seus
alunos. Não é necessário citar também, por exemplo, outras dezenas de filmes
americanos ou a pintura do inglês Edwin Long, de 1885, onde retrata ao centro uma
mulher branca da nobreza egípcia e uma mulher negra à esquerda que é a escrava.
Na contramão do senso comum histórico poucos se arriscam a dizer que a
maioria dos egípcios era africana e tinha a pele negra ou “escura”, fato que fica
evidente em qualquer ilustração, figura ou desenho do Egito antigo.

245
Alguns professores no decorrer dos debates afirmam: “Mas não é verdade
que a África não aparece na história!” Correto, mas seu aparecimento, quase que
por um milagre, ocorre somente no século XIX, sob o titulo “a partilha da África
pelas nações européias” e só retorna no capítulo da descolonização, resultado da
crise do colonialismo e do início da guerra fria. Ou seja, graças a processos
históricos eurocêntricos e norte-americanos a África toma seu posto na história de
forma subordinada.
Em livros didáticos de geografia e história, o continente africano sempre
apareceu como uma tragédia e território devastado por guerras interétnicas83.
Porém, mais uma vez se omite um processo histórico que afirmamos antes: o
extermínio deliberado da África que se inicia com a chegada dos europeus.
Conseqüência deste processo histórico, nunca na história da humanidade a
sobrevivência do povo negro esteve tão ameaçada quanto agora, tanto na África
como fora dela. Os índices abaixo explicitam esse extermínio:
No continente africano, quatro milhões de crianças morrem anualmente
vítimas de doenças endêmicas (sarampo, malária, cólera, etc.). Dois terços dos
portadores do vírus HIV de todo o planeta encontram-se na África (cerca de 34
milhões de pessoas). Estima-se que no decorrer da primeira década do terceiro
milênio dois milhões de homens, mulheres e crianças irão morrer vítimas da
doença. Somente em 1998, a AIDS vitimou os mesmos dois milhões de pessoas,
com a média de 5.500 mortes por dia.
Por imposição de séculos de dominação e do imperialismo a África negra
está na contramão da história. Enquanto nos países centrais a expectativa de vida
aumentou, em média, vinte anos, desde o início do século XX, na África a
expectativa de vida vem caindo de forma alarmante. Segundo projeção realizada
pela divisão de população da ONU, na primeira década do novo milênio, a
expectativa de vida no Zimbabwe vai cair em mais de um terço, de sessenta para
algo em torno de quarenta e um anos. Em Botswana a situação é ainda mais
dramática, com uma queda que atingirá a faixa dos vinte e nove anos. Este quadro
nos coloca diante de uma dura realidade: viver, para uma parcela significativa da
população do planeta, não passa de um pequeno lapso de tempo entre nascer e
morrer.
83 Esta prática vem paulatinamente mudando com as pressões dos movimentos negros e dos agentes que tentam interferir nas políticas públicas de promoção da igualdade racial na educação (Oliveira, 2010).

246
No Brasil a realidade não é diferente. Estudos recentes apontam que o
Índice de Desenvolvimento (IDH) da população branca situa-se entre as populações
dos países de médio desenvolvimento; em contrapartida o IDH da população negra
situa-se atrás de muitos países africanos. Nem nos USA a realidade do povo negro
é diferente. O relatório da ONU de 1998, que mede o Índice de Pobreza Humana
(IPH) colocou os Estados Unidos na última posição entre os países de alto
desenvolvimento com um grau de pobreza entre afro-americanos semelhante ao
verificado na África e no Brasil.
Portanto, discutir racismo nas escolas de ensino fundamental e médio com
nossos estudantes é também reescrever a história mundial, é afirmar que a riqueza
das nações desenvolvidas, a chamada acumulação primitiva de capital, foi feita
graças ao extermínio de populações inteiras do continente africano. É também
perceber que a negação dos afrodescendentes, de sua identidade é a negação de
nossa história milenar.
Em um dos debates no curso de extensão, uma professora afirmou: “então
nós devemos estudar a história novamente.” A resposta era obvia: sim, porque se
aprendermos que nossos ancestrais estavam construindo grandes civilizações, que
dominavam técnicas de navegação, agricultura e de metalurgia, que tinham uma
relação com a natureza não predatória, que expressavam uma cultura
extremamente rica etc., talvez teríamos o orgulho de sermos a segunda maior
nação negra do planeta, e não estaríamos nos questionando quem é e quem não é
negro no Brasil. Enfim, teríamos nossa autoestima no posto que ela deveria estar, e
de consequência, talvez não brigaríamos por meras cotas que no fundo não nos
tornam totalmente visíveis na sociedade. Nossos estudantes teriam orgulho de
afirmar que também são filhos de nossos ancestrais africanos.
Concluindo
O problema da invisibilidade da história africana no ensino médio e
fundamental é mais de fundo. A Lei 10.639/2003 que institucionaliza o ensino
obrigatório de história e cultura afro-brasileira corre o risco de se tornar letra morta
se o currículo escolar não for efetivamente reescrito e repensado. Por sua vez, as
licenciaturas ainda não formam plenamente os professores para o conhecimento da

247
história e das culturas africanas, que existe em poucos cursos na grade curricular
do ensino superior.
É comum o ensino sobre a “influência” africana na formação da população e
da cultura brasileira, pois para alguns se trata de fazer justiça para essa população
afrodescendente e, para outros, significa mostrar o sofrimento do povo negro, que
apesar de tudo, foram “capazes” de “contribuir com nossa cultura”. Mas o
sofrimento não é profissão de fé dos descendentes de africanos em nossas terras.
Como se sabe, em diversos estudos sócio-antropológicos, aqui no Brasil, culturas,
histórias, conhecimentos e resistências foram produzidas.
A proposta de inclusão do ensino de História e Cultura da África e dos
afrodescendentes nos currículos de ensino fundamental e médio, além da
Educação de Jovens e Adultos, acrescidos de livros, indicará uma necessária
mudança na formação dos professores e uma real concretização dos debates sobre
a aplicação do enfoque intercultural no campo educacional brasileiro.
Referências bibliográficas
BERNAL, M. Black Athena: the afroasiatic Roots of Classical civilization, 1º DE 3
VS. New brunswick (EUA): Rutgers University Press, 1987.
COSTA E SILVA, A. A Enxada e a Lança: a África antes dos portugueses. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1996.
CUNHA JR, H. O ensino de História Africana nas escolas. Mimeo. 2000.
DIOP, C. A. Anteriorité des civilisations negres: mythe ou verité historique? Paris:
Présence Africaine, 1959.
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DAS
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA. Brasília: MEC, 2004.
LIMA, Augusto Cesar Gonçalves e, OLIVEIRA, Luiz Fernandes de e LINS, Mônica
Regina Ferreira. (Orgs.). Diálogos interculturais, currículo e educação. Experiências
e pesquisas antirracistas com crianças na educação básica. Rio de Janeiros:
Quartet, 2009.
LUZ, M. Aurélio. Agadá, Dinâmica da Civilização africano-brasileira, Salvador-BA,
SECNEB, 1995

248
NASCIMENTO, E. L. (ORG) Sankofa, Matrizes Africanas da Cultura Brasileira. Rio
de Janeiro: Eduerj, 1996.
OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. Histórias da África e dos africanos na escola. As
perspectivas para a formação dos professores de história quando a diferença se
torna obrigatoriedade curricular. Rio de Janeiro: Tese de Doutorado - Departamento
de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2010.
SANTOS, B. de S. Para uma pedagogia do conflito. In: SILVA, L. H. et. al. Novos
mapas culturais, novas perspectivas educacionais. Porto Alegre: Sulina, 1996.
SERTIMA, I VAN. African presense in Early Europe. New Brunswick (EUA) e Oxford
(RU): transaction BooKs, 1985.
WIENER, Leo. África and the Discovery of América, 3 vs Philadelphia: Innes &
sons, 1922.
WUTHENAU, Alexander Von. Unexpected Faces in ancient América. New York:
Crown Publischers, 1975.