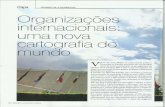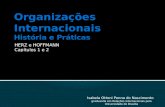Relações Internacionais - cooperação e organizações internacionais em análise
-
Upload
alina-isabela -
Category
Documents
-
view
616 -
download
0
Transcript of Relações Internacionais - cooperação e organizações internacionais em análise
1
Relações Internacionais: cooperação e organizações internacionais em análise
Ronaldo J. Souza Ramos
Professor de Teorias das Relações e Comércio Exterior: Universidade Paulista – UNIP, Centro Salesiano do Estado de São Paulo - UNISAL e Faculdade de Tecnologia FATEC-
Americana.
1. Introdução As relações internacionais contemporâneas, especialmente no século XX, podem ser
entendidas pela transnacionalização das relações econômicas, sociais, políticas e
culturais que ocorreram no mundo e que conseqüentemente acabou por tornar
indefinidas as fronteiras das políticas interna e externa dos Estados.
Em plano equivalente, adquire grande relevo, sobretudo a partir da Segunda Guerra
Mundial, o fenômeno da diversidade de Organizações Internacionais em função de
agora existir necessidade dos Estados dimensionar coletivamente certas
competências que antes pertenciam ao absoluto domínio nacional. Baseados no
multilateralismo e na diplomacia parlamentar, estes organismos representam “um
esforço civilizatório significativo no contexto das relações internacionais”1 com
objetivo dirimir as relações conflituosas oriundas do maior grau de interdependência
das relações entre os Estados.
Esse quadro retrata a evolução jurídica que acompanhou as transformações da
sociedade internacional e as interações nela estabelecidas. Isso significa dizer que
as relações internacionais tal como se estabelece atualmente pode ser considerada
eminentemente moderna.
Nesse sentido, o objetivo deste capitulo será, então, num primeiro momento analisar
sucintamente, a partir de uma abordagem história, as bases sob a quais distintos
indivíduos, comunidades, cidades, cidades-estados e Estados interagiam e
2
estabeleciam suas relações em um período anterior ao desenvolvimento da Teoria
das Relações Internacionais.
Em seguida, e a partir da consolidação da relações internacionais como campo de
estudo científico, veremos dentro de que contextos alguns dos principais discursos
teóricos dessa nova ciência se desenvolveram e da mesma forma observar como
estes abordam as possibilidades de cooperação e o papel das organizações
internacionais nas relações internacionais contemporânea.
2. As Relações Internacionais Contemporâneas
A veiculação e tratamento empreendido a expressão relações internacionais, tal
como pode se observar nos veículos de comunicação, na sociedade em geral ou até
mesmo em meios acadêmicos, nem sempre produz um sentido claro ao que tal
expressão deseja conferir.
A dificuldade em empregar um melhor significado a expressão é inerente, em parte,
ao próprio termo inter-nacional que perdeu, na evolução do modo de organização
social, seu significado entendendo que, atualmente Relações Internacionais não
significa ‘interações’ entre ‘nações’, mas entre Estados, governos e outros atores
internacionais. 2
Em Relações Internacionais como Campo de Estudos, Lytton Guimarães atribuiu
pelo menos a duas dimensões o emprego sensato da expressão relações
internacionais.
Em uma primeira análise, conferindo-lhe um sentido mais amplo, Guimarães vincula
a expressão ao que “...se refere à gama de contatos e interações de natureza
diplomática, política, econômica, militar, social, cultural, étnica, humanitária, que se
processam entre atores internacionais, estatais e não-estatais”. 3
3
Em uma abordagem mais específica, o mesmo autor atribui sentido à expressão
Relações Internacionais quando:
”...refere-se ao campo de estudos acadêmicos que enfoca as
diversas formas de interações anteriormente descritas, assim como
outras questões e fenômenos considerados relevantes para se
compreender e explicar a complexidade do cenário internacional”.4
Esta ultima atribuição diz respeito à ciência das relações internacionais que “a
exemplo de outros campos do conhecimento”, como a Ciência Política, a Sociologia
e a Economia, “refere-se a um determinado conjunto de agentes (Estados,
organizações internacionais, organizações não-governamentais, transnacionais, etc.)
instituições e processos específicos”. 5
Ignorando o que aparentemente já está obvio essa gama de contatos e interações de
diversas naturezas na qual envolve tal conjunto de agentes, instituições e processos
específicos, pode ser considerada de maneira mais simplista de “questões
transnacionais”. Portanto, são as “questões transnacionais” que compõem a ampla
agenda internacional, que, por sua vez, é o alvo das ocupações dos estudiosos de
Relações Internacionais.
Entretanto, não temos aqui a pretensão de analisar as relações internacionais em
sua totalidade, dada sua tamanha complexidade, interações e abrangência
mencionadas acima. Fez-se necessário, tão somente, esclarecer para o leitor: o que
se pode entender, ou, o que se pretende explicar quanto ao emprego da expressão
Relações Internacionais dentro de diferentes contextos ou abordagem.
É recente consolidação das relações internacionais como Ciência Social. Muito
embora traços na história da humanidade apontarem que desde a antiguidade existia
preocupação com o fundamento político de uma ordem social pacífica no mundo,6 o
estudo das Relações Internacionais é relativamente recente se comparado a outros
campos das Ciências Sociais.7
4
Numa perspectiva histórica dos fatos antecedentes a política internacional e sua
teoria, Marcus Faro de Castro8 argumenta que o estudo acadêmico das relações
internacionais ganhou corpo e identidade própria somente no século XX, a partir do
período entre guerras, com o desenvolvimento da Teoria das Relações
Internacionais (TRI).
Podemos admitir desse modo que o surgimento dessa ciência, tem em sua origem
as preocupações, cada uma a seu tempo, de como se estabelecer os modos de
interação das diferentes sociedades ao longo dos séculos. Isso significar dizer que
tais interações geravam e geram situações conflituosas ou de cooperação dados os
interesses particulares de cada parte. Assim, será importante entendermos aqui
como ao longo de alguns séculos se organizava as interações entre diferentes
sociedades.
3. Precedentes Históricos das Teorias das Relações Internacionais: o Direito das Gentes e o Direito Internacional
Na história da civilização ocidental se observa que as relações entre comunidades
distintas, envolvendo o uso da força, existem desde os primórdios entre os diferentes
povos e estão nas origens política e econômica da sociedade moderna.
Entretanto, referente às relações entre comunidades distintas tem-se que “até o
século XVII não havia um sistema de entidades políticas (estados) exercendo
autoridade suprema sobre territórios e detentoras do monopólio sobre assuntos de
guerra, o exercício da diplomacia e a celebração de tratados”9.
Anterior ao surgimento do Estado nacional, em diferentes épocas as unidades
governamentais existiam sob forma de comunas, cidades-Estados e feudos, ao
5
passo que “as unidades econômicas formaram nesta ordem: a família, o feudo, a
comunidade da vila, a cidade e liga das cidades”10.
A política até então se estruturava por meios totalmente independentes do território
tais como laço sangüíneo e comunhão de valores religiosos ao passo que na Idade
Média a presença de uma comunidade em um dado território não representava a
existência de uma autoridade exercida sobre uma área geograficamente circunscrita,
ou mesmo destingüia as dimensões entre autoridade interna e externa ou entre o
público e o privado. Nesse sentido Spruyt pondera:
“Ocupantes de um território espacial específico estavam sujeitos a um a multiplicidade de autoridades superiores. Dada esta lógica ou organização, é impossível distinguir entre atores conduzindo relações internacionais daqueles envolvidos na política domésticas operando sob forma hierárquica. Bispos reis, senhores feudais e cidades assinam tratados e faziam guerra. Não havia um ator ainda com sobre os meios de coerção pela força. A distinção entre atores privados e públicos estava ainda por ser articulada.” 11
Assim as relações entre imperadores, papas, reis, barões, cidades e outros agentes
das diferentes comunidades embora aparentassem, não caracterizavam relações
‘internacionais’ no sentido moderno, pois elas não se davam entre estados
soberanos territoriais, se tratava apenas de relações entre pessoas e instituições.
Com efeito, o que antecedeu ao estudo das Relações internacionais – como
disciplina orientada para determinar o fundamento político das relações entre
pessoas de comunidades distintas – foi o “direto das gentes” (jus gentium).
Os relacionamentos entre os povos, desde a Roma antiga e até o século XVII eram
estabelecidos a partir “direito das gentes” ou “direito das nações” que se desenvolveu
neste mesmo período, e se constituía em um conjunto de práticas e métodos
intelectuais que se ocupou em gerar materiais constitutivos do exercício da
autoridade referente a tais relações.
6
Conforme Castro12, em Roma o chamado jus civile (direito civil) aplicava-se somente
aos romanos, e não a estrangeiros. Na medida em que o Império Romano expandiu
comercial e geograficamente entrou em questão os problemas em solucionar
disputas entre estrangeiros e entre estes e cidadão romanos.
Com finalidade de estabelecer parâmetros de mediação nas regiões sob o auspício
de Roma, em 242 a.C. foi instituído o praetor peregrinus, que em sua atuação
lançava mão de partes do direito romano misturado com normas estrangeiras
(principalmente gregas), sendo essa fusão baseada nos princípios de eqüidade.
Esse modelo ficou conhecido como jus gentium ou direito das gentes, pois, em todo
esse período, em que “o direito romano que é apropriado e adaptado, e que se torna
dominante, adquire caráter universalista, de vocação ‘supranacional’ e associado a
valores cristãos, sendo aplicável a toda cristandade”13, esteve voltado tão somente
para relações entre pessoas, uma vez que não se tratava ainda de relações entre
estados soberanos.
A partir do direito das gentes se desenvolveu materiais normativos que regulavam
os relacionamentos estabelecidos entre os distintos povos e sociedades tais como o
uso da força, as relações comerciais, entre outros. A respeito do uso da força, Castro
salienta que tais normas:
“...tratavam das formas de violências legitima e ilegítima; da isenção da violência (formas de iniciar guerras, casos de guerra justa, técnicas de combate, isenção de estrangeiros políticos ou comerciantes com relação à violência, prisioneiros de guerra, etc.); das delegações de autoridade para a conquista e dominação (autorizações papais); dos procedimentos para o estabelecimento de isenções da violência (formas dos tratados, juramentos, etc.); e de procedimentos arbitrais (negociação de isenções da violência).”14
Outros mais, Holzgrefe acrescenta que:
“O direito mercantil e marítimo medieval, por exemplo, regulava o comportamento de mercadores marítimos individuais, enquanto
7
costumes feudais relativos ao desafio formal, ao tratamento de arautos e prisioneiros, à captura e resgate de reféns, à intimação de cidades e à observação de tréguas aplicavam-se a cavaleiros individuais. O direito eclesiástico sobre a santidade dos contratos, a imunidade de agentes diplomáticos, a proibição de armas perigosas, o tratamento de prisioneiros cristãos, a guerra justa e a ‘trégua de Deus’ aplicava-se a cristãos individuais. As normas baseadas nos preceitos do direito romano aplicavam-se aos membros individuais das comunidades que as aceitavam.”15
Dentro dessa de organização social não era possível a existência das organizações
internacionais pelo fato da sua existência pressupor um acordo entre Estados iguais
dispostos a renunciar a alguns de seus diretos em prol da organização. E isso,
segundo Araújo, “era impossível naquela época em que as guerras de conquista se
sucediam e impérios se formavam e desapareciam na voragem do tempo e ao
entrechoque das ambições”16
Já nos séculos XVI e XVII começa a tomar corpo uma nova configuração institucional
resultado de dinâmicas políticas e econômicas estabelecidas entre grupos sociais na
Europa a partir do renascimento do comércio no século XI, e da competição política e
econômica que desde então se estabelece entre diversas possíveis trajetórias de
desenvolvimento institucional, tais como ligas urbanas, as cidades-estados e os
estados soberanos.
Dessa competição política e econômica das tendências de desenvolvimento
institucional, consolidou-se a organização em torno de governos capazes de garantir
a vida dos indivíduos, de uma forma específica: a do Estado territorial soberano
como responsável por organizar, regular e constituir a vida social entre o conjunto de
instituições (sociedade) que habitasse determinado território, sendo parte de uma
mesma nação.
A política agora passa a ser determinada pelo território e institucionalizada de forma
a ser possível distinguir entre direito interno às unidades políticas em que os
8
príncipes adquiriram autonomia política para adotar leis, princípios religiosos,etc.; e o
direito vigente entre unidades políticas distintas.
A exemplo disso “Francisco Suárez (1548-1617) já distingue entre dois significados
de jus gentium: (a) o direito que as diversas cidades ou reinos (civitates vel regna)
observam em si mesmo (intra se); e (b) o direito que todos os povos e nações
observam em suas relações recíprocas (inter se)”17.
Na segunda metade do século XVII, com a chamada paz de Westphalia, portanto, o
direito das gentes se modifica para atender as novas realidades correspondentes ao
surgimento dos estados territoriais soberanos, e assume a condição de direito
internacional.
A paz de Westphalia é resultado de um conjunto de tratados diplomáticos firmados
em 1648 entre as principais potências européias, que colocaram fim à Guerra dos
Trinta Anos (1618-48). Esta última consistiu num conflito generalizado entre os
paises europeus (católicos vs. protestantes) no qual razões de ordem religiosas se
misturavam com motivações políticas.
Nas palavras de Vizentin:
“As potências católicas, especialmente a Espanha e a Áustria, governadas pela dinastia Habsburgo, apoiavam o Sacro Império (também pertencente à dinastia) e tentavam estabelecer uma hegemonia na Europa, criando um Império Supranacional. De outro lado, as potências protestantes escandinavas apoiavam as cidades comerciais e principados protestantes. Na iminência da vitória do campo católico, a França, também católica mas ferrenha inimiga dos Habsburgos, entrou no conflito em apoio aos protestantes, salvando-os” 18.
Como resultado, os tratados assinados em Westphalia legitimaram o statu quo
anterior ao conflito, reconhecendo ainda uma sociedade de Estados fundada no
princípio da soberania territorial em que todas as formas de governo passaram a ser
9
legitimas; a não intervenção em assuntos internos dos demais respeitando o
princípio de tolerância e liberdade religiosa escolhida pelo príncipe (cuius régio, eius
religio : quem tem a região tem a religião); e a independência dos Estados,
detentores de diretos jurídicos iguais a ser respeitados pelos demais membros uma
vez que, partes com direitos iguais não têm capacidade para julgar seus
semelhantes.
O modelo estabelecido em Westphalia, como se vê, estabeleceu condições de
autonomia ao Estados sem, no entanto, criar obrigações mútuas entre eles, o que
motivou, a partir de então, preocupações no sentido de gerar “estruturas de
cooperação internacional capazes de constituir a base de processos políticos
mundiais para se atingir a paz duradoura: chamados projetos de paz perpétua”19.
Entre os projetos mais conhecidos está o de abbé de Saint-Pierre (1658-1743) que
afirmava apenas acordos firmados entre os Estados não seriam capazes de
estabelecer a paz. Para isso era necessário que os Estados se unissem em uma
confederação, cujo órgão principal seria em Senado formado por representantes de
todos os Estados. Os conflitos seriam solucionados pela arbitragem e sua decisão
deveria ser acatada pelos envolvidos sem recorrerem à guerra, pois estariam sujeitos
a sanções decretadas pela organização, que para este fim possuiria um exército
próprio.
A política internacional, apoiada sobre um direito internacional adaptado do jus
gentium, agora balizava os relacionamentos interestatais e, por conseguinte
possibilitou que um conjunto de práticas diplomáticas “governado por um consenso
das elites aristocráticas européias, em cujas mãos haviam permanecido os assuntos
de política internacional, e, portanto as decisões e sobre os objetivos e
oportunidades do uso da capacidade militar e diplomática das grandes potências”20
resultasse no que ficou conhecido como “concerto europeu” que pressupunha a
“igualdade” entre estados cooperando sob o direito internacional.
10
O instrumento principal dessa aparente solidariedade política entre os Estado
soberanos se dava pela noção de “equilíbrio de poder” ou “balança de poder”
regendo as relações internacionais com objetivo de manter a co-relação de forças
históricas entre as potências européias observando a possibilidade de um ou outro
Estado se reforçar mais rapidamente ou mesmo fazer anexações territoriais,
causando, assim, uma percepção de instabilidade de poder aos demais.
A política tal como se estabelecia refletia os aspectos descritos por pensadores como
Maquiavel (1469-1527) e Hobbes (1588-1679). O primeiro é realista e pragmático ao
relatar o caos e a instabilidade política então existentes nos conflitos entre as
diferentes cidades-estados da Itália, apontando para as questões sobre poder,
balança de poder, formação de alianças, mas sobretudo para segurança nacional
razão pela qual o Príncipe poderia perder seu estado caso não se preocupasse com
as forças e ameaças interna e externa. O ápice de suas teses está na defesa do uso
de quaisquer recursos ou métodos afim de que sejam preservados os interesses e a
segurança do Estado.
O segundo, não menos pessimista com relação à natureza humana, em seu livro
Leviatã, deixa transparecer que na ausência de uma autoridade central haveria uma
situação permanente de guerra em que todos lutariam contra todos num estado de
anarquia total, em que, seriam inevitáveis a suspeita, a desconfiança, o conflito e
guerra.
Nesse sentido a característica essencial da política internacional do “modelo
westphaliano”, do período que se compreende da segunda metade do século XVII
até o início do século XX, pode-se atribuir a “um programa selvagem de exploração
colonial e formação de alianças secretas e acirradas rivalidades, num complexo jogo
de interesses políticos e econômicos, freqüentemente destrutivo das sociedades
colonizadas e instigador de tensões políticas entre os países europeus”21.
11
Mesmo gozando de uma relativa paz durante nesse período, a forma institucional da
política internacional eminentemente moderna apoiada no direito internacional, que
fora obtida a partir de Westphalia, não foi capaz de evitar a eclosão da Primeira
Guerra Mundial em 1914.
O desastre da Primeira Grande Guerra Mundial, o conflito mais destruidor até a
época, esboçou mudanças na condução da política internacional. Um conjunto de
propostas para adoção de várias iniciativas e medidas cooperativas, destinadas a
prevenir a guerra e manter a paz, que foram apresentadas em 1918 pelo então
presidente americano Woodrom Wilson.
O conjunto de proposta de Wilson emerge como uma provável saída para as
conflituosas e obscuras relações dos países europeus, quando tenta estabelecer
novas bases para política internacional em busca de mundo ideal. Nascia ali o
idealismo, que mais tarde viria a compor o primeiro grande debate das relações
internacionais como campo científico, cabendo neste momento, portanto, somente
mencionar a sua importância para a evolução das Relações Internacionais.
3.1. O Mundo do século XX e a Teorias das Relações Internacionais O século XX foi marcado pelas duas maiores conflagrações mundiais, pelo conflito
ideológico (capitalismo x socialismos), por revoluções e crises de todas as ordens,
pela extraordinária expansão econômica, por profundas transformações sociais, por
impérios e hegemonias, entre outros relevantes acontecimentos como o vultuoso
desenvolvimento tecnológico percebido desde a I Guerra Mundial, que somado ao
encurtamento das distâncias22, abriu as portas para uma crescente
transnacionalização das relações econômicas, sociais, políticas e culturais que
ocorreram no mundo e acabou por tornar indefinidas as fronteiras das políticas
interna e externa dos Estados.
12
Esses acontecimentos, cada um a seu tempo, começaram a imprimir, já a partir da
primeira Guerra Mundial, uma nova configuração ao sistema internacional que fora
moldado no século XVII. Mas o século XX é também marcado pela evolução da
Teoria das Relações Internacionais que se ocupa em analisar com mais clareza esse
emaranhado conjunto de relações que se processa no mundo atual.
O conhecimento acumulado das relações internacionais até o início do século XX,
deu sustentação para que novas proposições, agora com um caráter científico,
fossem elaboradas na medida que a política internacional dava rumos ao mundo
mediante a velhos e novos acontecimentos, e se exigia, portanto, explicações mais
consistentes da realidade.
A Teoria das Relações Internacionais se consolida tendo a política internacional
como objeto de estudo. A política internacional, por sua vez, se caracteriza assim,
num conjunto de práticas, freqüentemente envolvendo o uso da força efetiva ou
ameaçada, através das quais os Estados se relacionam.
A Teoria das Relações Internacionais então, na definição de Castro, caracteriza-se
em agrupar as proposições pela qual os Estados regulam tais práticas.
Relativamente ao que podemos considerar política internacional através da história,
Castro acrescenta que:
“...é preciso considerar que esta expressão se refere a uma forma
específica de institucionalização da política, que se tornou
preponderante a partir do século XVII na Europa, propagando-se para
praticamente todo o mundo subseqüentemente, e que hoje passa por
transformações importantes”23.
Guimarães observa que, em sua fase inicial, os estudos acadêmicos de Teoria das
Relações Internacionais se ocupavam em questões de “natureza substantiva, como
diplomacia, política do poder ou problemas da paz e da guerra, alianças e
13
intervenções militar, e refletiam freqüentemente preocupações prescritivas ou
normativas” 24.
Contudo, a sofisticação teórica e metodológica que se foi empreendendo na
construção dos estudos permitiu a apreciação de problemas mais analíticos, assim
como, das relações entre dois ou mais fenômenos de ordens diferentes, tais como:
relação entre poder e segurança, entre poder econômico e militar, entre
organizações internacionais e estratégias de governos, entre outros.
Como resultado desta evolução acadêmica, podemos perceber a definição de
algumas sub-áreas de estudo dentro das Relações Internacionais, como por
exemplo: a política externa dos Estados, a economia política internacional, a
segurança internacional, a proliferação e controle de armamentos, os regimes e
organizações internacionais, a integração regional, entre outros.
De modo mais abrangente é perceptível que essas questões, agora compondo de
forma segmentada à Agenda internacional, extrapolam, transcendem o âmbito
interno e mesmo o controle de um único Estado. Nesse sentido, Guimarães pondera
que para essas questões.
“...o estudo e tratamento exigem cooperação internacional e
freqüentemente multidisciplinar, como é o caso do narcotráfico, da
poluição e degradação do meio-ambiente, questões amplamente
debatidas na Rio –92, dos direitos humanos, objetos da Convenção
de Viena de 1993, do papel da mulher (ou questão do gênero) no
novo cenário internacional, debatido em Pequim em 1994, dos
problemas relacionados com a população, examinados no Cairo em
1995, da questão da habitação, analisada em Copenhague em
1996, e outros”25
Contudo, somente o conjunto agentes e as questões que compõem a estrutura do
estudo de Relações Internacionais até aqui abordados, não dão conta de explicar a
14
evolução das Teorias das Relações Internacionais. É necessário considerar também
que a análise do conjunto agentes e suas interações se processam por meios de
teorias.
Teorias, no pensar de Rocha, resultam dos esforços intelectuais em produzir
interpretações científicas da realidade a partir da reflexão sistemática sobre agentes
e processos no contexto das relações internacionais.
Considerando a complexidade inerente ao sistema internacional, nenhuma teoria,
individualmente, interpreta de forma cabal a realidade internacional, podendo,
portanto, serem consideradas “imperfeitas no sentido de que raramente são
consideradas, mesmo por seus autores, feitas, completas e acabadas”26.
Na medida em que reforça um entendimento óbvio, nem por isso às vezes lembrado,
de que as “teorias são construções humanas”, Rocha pontua que o exercício mental
de analistas para produzir conhecimento sobre um mesmo fenômeno observável na
realidade internacional, acabou por engedrar diferentes discursos teóricos no campo
de estudo das Relações Internacionais.
Dito isso, podemos acrescentar que o campo de estudo das Relações Internacionais
se caracteriza por um pluralismo teórico, o que significa dizer, que este, aceita a
coexistência de vários discursos teóricos nem sempre antagônicos, mas em sua
grande maioria complementares, nos permitindo assim, conferir análises mais
inteligíveis da realidade internacional.
4. A cooperação e as organizações internacionais a luz de alguns dos principais Discursos no Campo das Relações Internacionais Como abordado anteriormente, o pluralismo teórico inerente Relações Internacionais
possibilitou, desde a sua consolidação como campo de estudo, o desenvolvimento
15
de diferentes estudos e interpretações da realidade internacional, dada à percepção
dos fatos para cada analista e a dinâmica das relações entre os agentes.
Mas não vamos discutir aqui a validade lógica dos muitos discursos dos quais
analistas, desde da primeira metade do século passado, lançaram mão para conferir
sentido a realidade. Desse modo, nos ateremos aqui tão somente a identificar a
visão de cooperação e organizações internacionais, a partir do prisma de dois
importantes debates das Teorias das Relações Internacionais: idealismo e realismo e
realismo e interdependência.
4.1. A visão da cooperação e as organizações internacionais nos prismas Idealista e Realista O resultado destruidor da Primeira Guerra Mundial como o número de vitimas civis e
militares, o nível de violência e a extensão do conflito impulsionaram o
desenvolvimento das Relações Internacionais como campo de estudo científico a
partir de uma percepção de um mundo ideal da qual se pretendeu pautar as relações
internacionais desde então, percepção esta que ficou denominada de idealismo.
Os famosos 14 pontos de Wilson, como ficou conhecido, marca o surgimento do
idealismo contemporâneo que vislumbrava a possibilidade de superação do “estado
de natureza” em que se encontravam os Estados - conflito armado e hostilidades - e
a construção de uma nova ordem jurídica internacional através de uma espécie de
pacto social mundial.
Essa nova ordem, segundo a visão idealista, deveria se regimentada por
organizações internacionais capazes de fazer prevalecer os princípios éticos e
preceitos morais refreando assim os nacionalismos exacerbados e a desconfiança
generalizada. Por conseguinte, “assegurar-se-iam a ordem e a paz entre as nações
com a utilização de instrumentos jurídicos para dirimir os conflitos de interesses”27.
16
Em linhas gerais as principais preocupações condensadas nos 14 pontos de Wilson
passavam pela “supressão da diplomacia secreta, liberdade dos mares, limitação dos
armamentos, remoção das barreiras comerciais, reajustamento dos territórios, fim da
exploração colonial e criação de uma Sociedade das Nações”28.
Dando realidade a algumas das idéias veiculadas nos “projetos de paz perpétua” dos
séculos anteriores, foi criada a “Liga das Nações” uma organização política
interestatal permanente a fim de oferecer garantias mútuas de independência
política, integridade territorial e preservação da paz. Nas palavras de Castro29 “a
esperança de Wilson era que a cooperação internacional através do direito
internacional repassado de um moralismo idealista pudesse oferecer os meios pra a
manutenção de uma paz duradoura”.
O idealismo encontra seu momento de maior aceitação no período entre-guerras.
Importantes publicações de autores e estudos contribuíram para o desenvolvimento
inicial da Relações Internacionais como campo de estudos. Identificar as causas da
guerra e buscar caminhos para a paz eram preocupações iniciais que, depois
estiveram voltadas também para questões como os problemas de segurança,
desarmamentos, imperialismo e suas conseqüências, negociação diplomática,
balança de poder, geopolítica, etc30.
Mas os fatos que se sucederam pareciam contradizer as esperanças idealistas. No
entender de Belli31, tem se que “...a história conturbada [da Liga das Nações] não
demonstrou outra coisa senão o triunfo da desconfiança recíproca e dos
nacionalismos exacerbados sobre o idealismo wilsoniano.” Mesmo dominando os
discursos políticos e acadêmicos nesse período, as propostas idealistas não vieram
a se concretizar, sendo a evidência fática disso o novo conflito mundial.
O fracasso eminente do idealismo na política internacional veio com a conflagração
de uma Segunda Guerra Mundial em 1939, esta de proporções ainda maiores que a
17
Primeira. O idealismo perdia ali sua capacidade de persuasão e ficou exposto diante
às críticas de intelectuais realistas que “atingiu o que se considerou o caráter
ingênuo e normativo do idealismo”32, sobretudo a partir do momento em que foi
publicado o livro The Twenty Years´ Crisis, 1919 – 1939, de Edward Carr.
A partir dessa publicação, a visão teórica realista da política internacional ganha
força. A obra de Carr tornou-se a referência e inicia o debate entre idealista e
realista. Conforme ressalta Castro33 é esta obra que emblematiza o começo do
estudo “científico” das Relações Internacionais, marcando assim o início da tradição
da Teoria das Relações Internacionais.
A deflagração da Segunda Guerra Mundial contrapôs o argumento realista às
propostas idealistas de cooperação através de instituições calcadas em princípios
éticos e morais como base do convívio internacional pacífico. O debate entre o
idealismo e realismo ocorreu entre o final da Segunda Guerra Mundial e meado dos
anos 1950.
Observa-se nas raízes remotas do pensamento realista as obras já citadas de
Maquiavel (O Príncipe) e T. Hobbe (Leviatã). No entanto, além de Carr, outros
autores realistas se destacaram e constituem peças fundamentais para a
consolidação do realismo nos anos que se seguiram à guerra como Hans J.
Morgenthau (1904 – 1980) 34.
A visão realista de mundo postula os Estados como os principais agentes do sistema
internacional e a sua interação consistem no mais importante processo em curso nas
relações internacionais, entendendo, por conseguinte, que “todos os outros
processos, assim como o comportamento de todos os outros agentes, são
influenciados, direta ou indiretamente, em maior ou menor grau, pelas relações de
poder existentes entre os Estados soberanos no plano internacional”35.
18
Dessa forma as Organizações Internacionais, no contexto realista, é menor de
importância, em virtude de estarem limitados aos poderes dos Estados e à
supremacia da força militar. O sistema internacional, por sua vez, é entendido como
sendo anárquico e conflitivo em que nenhum Estado reconhece em outro a
capacidade de estabelecer regras e de faze-las cumprir no plano internacional.
Ademais, o processo político era visto como uma luta pelo poder e pelo recorrente
uso da forças.
Nesse sentido, se atribuiu aos Estados um comportamento racional, capaz de
estabelecer uma hierarquia de objetivos coerentemente com os interesses nacionais,
que era segundo essa visão, uma preocupação constantes com a preservação de
sua soberania e de sua segurança em detrimento das relações econômicas, ações
de cooperação.
Dessa maneira, o realismo político compreende as relações internacionais como
sendo determinadas por elementos de segurança e militarização. No entender de
para Castro36 a característica preponderante dessa visão é a justificação do uso da
força, seja como condição inevitável da vida em sociedade, seja como meio de se
atingir a paz no mundo.
Em ascensão, o realismo passa a influenciar formuladores de política externa,
sobretudo os da política externa americana nos anos 50, à medida que segundo
Belli37 “...parecia refletir não uma conjuntura passageira ou um momento de tensão,
mas toda a história da humanidade marcada por conflitos armados e disputas
variadas”.
Embora como se pode verificar que os primeiro pressupostos do realismo (clássicos)
fossem flexibilizado a partir de pesadores com Waltz e depois com Gilpin, ambos
autores de uma linhagem neo-realista38 da década de 70, com o decorrer do tempo,
as características principais da política internacional defendidas pelo realismo –
Estado como agente principal; sistema internacional anárquico; processo político:
19
uma luta pelo poder; o uso sistemático da força como meio de solução de conflito –
começam a serem questionadas, dando margem para que a partir de então, as
relações internacionais fossem analisadas como um conjunto mais complexo de
novos atores e processos.
O realismo se revela realmente frágil quando manifesta uma vaga noção de uma
natureza humana essencialmente egoísta e imutável, que na condição de crença não
se presta à comprovação científica. Nesse sentido, refletindo as características
fundamentais dos dois debates discutidos até aqui, Belli ressalta que:
“Se é verdade que o idealismo enfatizou a possibilidade de
cooperação e a convergência em detrimento da dimensão do
conflito, não é menos verdade que os teóricos realistas clássicos
desprezaram em suas análises a questão da cooperação, deixando
de lado uma dimensão igualmente importante das relações
internacionais” 39.
Além disso, as transformações no cenário internacional do século XX como vimos a
pouco, tornaram inegável a importância das grandes corporações transnacionais
para as economias domésticas e a influência das organizações internacionais de
fórum multilateral e das organizações não-governamentais na política internacional.
Agora, os Estados estavam deixando a condição de únicos e mais importantes
atores da cena internacional e passaram a dividir espaço no cenário internacional
com novos atores.
Da mesma forma, questões de segurança e militarização que encabeçavam a
agenda da política internacional aos poucos foram perdendo lugar na pauta para
questões que ganharam papel de maior elevo no cenário internacional
contemporâneo como relações econômicas, financeiras, sociais e culturais.
20
4.2. A Interdependência: cooperação e organizações internacionais
A teoria da interdependência surge como uma tentativa de dar respostas mais
satisfatórias a uma realidade internacional em acelerado processo de transformação.
Sem descartar a contribuição realista, os precursores da teoria da interdependência
Robert O. Keohane e Joseph S. Nye, no início dos anos 70, com livro Poder e
Interdependência40, constroem um programa de pesquisa mais abrangente, em que
há espaço para o desenvolvimento de análises que focalizam agentes distintos do
Estado nacional e processos outros, complementares ao problema da segurança,
estabelecendo um contraste com a abordagem realista.
Para essa análise os autores partem do que eles percebiam como transformações
reais da política internacional. Tais transformações, nesse sentido, seriam as
conseqüências de medidas adotadas pela política internacional desde o período
entre guerras. Mesmo antes do fim da Segunda Guerra Mundial, as potências
vencedoras imbuídas de esforços de institucionalização da política internacional
desenvolveram uma rede de organizações internacionais com vistas a promover a
cooperação multilateral em diferentes áreas.
Entre as mais importantes, figurava a Organizações das Nações Unidas (ONU) e
outras a ela relacionada como a FAO, a OIT e OMS e as agências do chamada
“sistema Bretton Woods”, quais sejam: o Fundo Monetário Internacional (FMI) o
Banco Mundial (BIRD) e por fim, também em instância multilateral de cooperação
comercial, o Acordo Geral sobre tarifas Comércio (GATT- General Agreement on
Tariffs and Trade), substituído em 1995 pela Organização Mundial do Comércio41.
Outros complexos acordos foram sendo estabelecidos a partir de então em áreas
específicas de cooperação internacional como parcerias para administração de alta
tecnologia e cooperação para uso de diversos recursos naturais42.
O efeito desse processo se traduziu em um intenso fluxo de conhecimentos e
informações que no entender de Castro43 “passaram em grande parte a balizar e
21
distribuir autoridade e estruturar instâncias de negociação, de maneira a influenciar
extensamente o jogo da política e da economia internacionais”.
Da mesma maneira o gigantesco aumento das transações transfronteiriças (fluxo de
capitais, bens, pessoas, etc.), e a presença de atores não estatais como as
transnacionais, igrejas e organizações não-governamentais (ONGs) participando nos
processos da política e da economia internacionais, também alterava a realidade
internacional.
Desta forma, as sociedades criaram canais múltiplos de contato fazendo com que
alguns importantes processos em curso nas relações internacionais contemporânea
nem sempre passassem pelo controle estatal.
Os pressupostos realistas se revelaram insuficiente para explicar os complexos
eventos que agora dominavam a agenda política internacional contemporânea.
Reconhecendo tal insuficiência do modelo realista, mas não o descartando
totalmente, Keohane e Nye concebem uma agenda internacional aberta, complexa e
composta de uma ampla variedade de objetivos, sem estar no entanto, subordinada
uma hierarquia temática no sentido de que a segurança militar seja vista, a princípio,
como tema mais relevante.
A agenda internacional é considerada aberta por admitir temas de diversas ordens e
interesses; e complexa ao estabelecer conexões variáveis, como por exemplo, entre
questões de segurança nacional e questões econômicas ou tecnológicas e entre
questões de política interna e política externa podendo ocorrer diferentes coalizões
entre, dentro e fora de governos ou instituições.
Observaram também a existência de múltiplos canais de comunicação e influência
entre sociedades cujas interações vão desde a informalidade entre autoridade e
entre atores privados até relações interestatais formais.
22
Desse modo existe a necessidade de analisar o papel desempenhado por outros
agentes, que não o Estado, por os considerarem determinantes em alguns processos
em curso nas relações internacionais, sendo que em determinados casos,
“dependendo da tecnicidade associada às decisões, tais agentes desempenham
papel tão relevante quanto o dos Estados”44
Ao mesmo tempo em que admite uma nova e agenda e novos agentes, a nova teoria
tem por base o ‘conceito de interdependência’ como resultado das transações entre
estes. A interdependência não se refere simplesmente a uma interconexão, mas sim,
a uma “dependência mútua”, ou “uma situação em que atores são afetados, de
formas potencialmente custosas, pelas ações de outros”45.
Dentro dos argumentos de Keohane e Nye, existem duas dimensões da
interdependência: a “sensibilidade” e a “vulnerabilidade” a qual ficam sujeitos
agentes à mudanças entre si. A “sensibilidade” à mudança são os ajustes realizados
em políticas locais, em reflexos de alterações de fatores externo. A “vulnerabilidade”
corresponde a custos impostos por eventos externos na qual estão sujeitos os
agentes mesmo depois de ter alterado políticas.
Isso significa dizer, segundo os autores dessa teoria, que nas relações
interdependentes entre dois ou mais agentes, não necessariamente, resultará em
vantagens a todos os envolvidos, uma vez que nada assegura que as relações
consideradas interdependentes sejam caracterizadas por benefícios mútuos, “isso
dependerá do peso dos atores e também da natureza da relação”46.
Os diferentes agentes não possuem igual capacidade de influenciar a evolução dos
acontecimentos no plano internacional. Desse modo, a interdependência se
caracteriza por ser essencialmente assimétrica à medida que afeta os agentes de
formas diferentes, exatamente por não gozarem, estes, do “mesmo grau de
desenvolvimento socioeconômico e não controlarem os mesmos recursos naturais,
geográficos, financeiros e militares”47.
23
Tais assimetrias geram disputas entre os agentes nos diferentes processos em curso
nas relações internacionais, cujos resultados não são determinados pelo poder
militar e o emprego da força da visão realista, mas pela manipulação dos próprios
fatores de interdependência.
É a partir dessas assimetrias, ou seja, das sensíveis diferenças entre os agentes nas
áreas militar, econômica, industrial, entre outras que Keohane e Nye opõem o
conceito de interdependência ao conceito realista de “poder”, essencialmente
relacionado ao uso da força, ao afirmarem que:
“São ‘assimetrias’ de dependência que mais provavelmente
oferecerão fontes de influência para os atores nas relações que
estabelecem entre si. Atores menos dependentes podem muitas
vezes utilizar as relações de interdependência como uma fonte de
poder na negociação relativa a uma questão e talvez para exercer
influência em outros problemas...Concluímos que um início
promissor nas análises políticas da interdependência internacional
pode ser o de conceber as interdependências assimétricas como
fontes de poder para os atores”48.
O quadro mais complexo de agentes assimétricos e as novas fontes de poder
percebidas pela interdependência fazem com que diferentes agentes sejam capazes
de controlar a evolução e o resultado dos principais processos em curso no plano
das relações internacionais.
Assim, em alguns casos conforme o tema que se estiver negociando, as
organizações internacionais (governamentais ou não), agentes sociais e mesmo
representantes do setor privado terão maior ou menor capacidade de inserir temas
na agenda internacional, interferir na formulação de política exterior dos Estados,
controlar processos, etc. Em outros casos, as decisões mais importantes ficam por
conta dos Estados.
24
Esse quadro fortaleceu a atuação de outros agentes nos processos em cursos no
plano internacional, sobretudo dos Estados mais fracos, e principalmente no âmbito
das organizações internacionais. Para os interdependêntistas as organizações
internacionais estabelecem agendas, induzem a formação de coalizões e funcionam
como facilitadores da ação política dos Estados fracos.
A capacidade para eleger o foro adequado para um problema e para mobiliar votos é
importante resultado político. As regras são negociadas sob a apreciação dos
membros e, no processo de aprovação e implementação destas, os Estados mais
fracos, através de colisões, tentam fazer prevalecer seus objetivos ou mesmo obter
resultados menos custosos.
A teoria da interdependência, por assim dizer, passa então dar melhores explicações
à nova realidade internacional e aos processos nela observado, nutrindo-se da
“valorização das organizações internacionais, de atores privados participantes em
processo de cooperação econômica, técnica ou política e de processos políticos
domésticos, que passaram a ser vistos como relevantes para explicar as mudanças
na política internacional”49.
O estudo dessa teoria não se limita aos argumentos aqui apresentados. Haja vista
que a apreciação desta teoria que valoriza os atores não estatais, instituições
(governamentais ou não), a cooperação entre agentes e uma ampla agenda de
relações internacionais desembocam em uma outra agenda de pesquisa a dos
“regimes internacionais” na qual não nos ocupamos aqui.
25
Considerações Finais
As mudanças na organização social observadas ao longo dos séculos determinou,
dentro de cada contexto histórico, o modo pela qual se processavam as interações
entre diferentes indivíduos, comunidades, cidades e Estados.
As Relações Internacionais, então, tal como a compreendemos hoje é resultado
evolução dessas interações, que aqui foram analisadas, a partir do surgimento do
direito das gentes (jus gentium) que desenvolveu materiais normativos para regular
os relacionamentos estabelecidos entre os distintos povos e sociedades tais como o
uso da força, as relações comerciais, entre outros.
A nova configuração institucional das sociedades, a Estado territorial soberano,
consolidada em Wetphalia tem na política internacional apoiada no direto
internacional a base de suas interações.
Ao analisar as características e o desenvolvimento da política internacional, teóricos
do século XX, concebem interpretações científicas da realidade internacional
emergindo assim um novo campo de estudo das ciências sociais: o da Relações
Internacionais.
Desenvolvido através de proposições teóricas, o campo de estudo das relações
internacionais é marcado pela complexidade inerente ao sistema internacional, ao
passo que, nenhuma teoria, individualmente, interpreta de forma cabal a realidade
internacional. Assim, o exercício mental de analistas para produzir conhecimento
sobre um mesmo fenômeno observável na realidade internacional, acabou por
engedrar diferentes discursos teóricos no campo de estudo das Relações
Internacionais.
Nesse sentido, a realidade internacional é entendida de diferentes maneiras pelos
discursos teóricos, portanto, a possibilidade de cooperação e as organizações
26
internacionais são também interpretadas desse modo. O modelo idealista enfatiza a
possibilidade de uma sociedade perfeita em que a cooperação internacional fundada
no direto e instituição internacional pudessem oferecer meios para a manutenção da
paz duradoura.
A Segunda Guerra Mundial expôs o que o modelo realista considerou de caráter
ingênuo e normativo do Idealismo e ao mesmo tempo ressaltava a anarquia e o
conflito inerente ao sistema internacional. Ainda no modelo realista, a questão central
da política reside na guerra e no uso da força pelos Estado, os únicos atores da
política internacional. Sendo assim, as organizações internacionais, as ações de
cooperação e outras relações, como as econômicas, só são possivelmente
alcançadas, no modelo realista, quando os Estados tiverem com a sua segurança e
soberania preservada.
Sem descartá-lo totalmente, mas opondo-se ao realismo, o modelo da
interdependência observa que no decorrer do século XX a crescente complexidade
das relações internacionais contemporâneas passou a exigir análises que incluíssem
outros agentes e processos, visto a impossibilidade de lhes negar a capacidade de
interferir nos processos em curso nas relações internacionais. Este modelo admite
novos agentes e processos, assim como uma interdependência assimétrica entre
eles, possibilitando que o controle, a evolução e o resultado de processos em curso
no plano internacional possam feitos por agentes diferentes.
Assim sendo, o modelo da interdependência valoriza a atuação de atores não
estatais como organizações internacionais, as ONGs, as empresas transnacionais e
sobretudo a cooperação entre todos eles, inclusive os Estados, dentro de uma ampla
agenda das Relações Internacionais.
Finalmente, convém assinalar que esses e outros diferentes discursos coexistem no
campo das Relações Internacionais, sendo que, em determinado momento um ou
outro discurso explica melhor aquela realidade. Nem sempre são antagônicos, mas
27
em sua grande maioria complementares, permitindo aos analistas, conferirem
análises mais inteligíveis de diferentes aspectos da realidade internacional.
29
NOTAS 1 Seitenfus, 1997, p. 21. 2 Guimarães, 2001, p. 9. 3 Id., p. 9. 4 Id. p. 10. 5 Rocha, 2002, p.28. 6 A obra de TÚCIDES (471 – 400 a.C.) A Guerra do Pelopeneso, “é freqüentemente citada como
exemplo de um dos primeiros esforços no sentido de analisar as relações conflituosas entre duas
cidades-nação então poderosas”. Guimarães, 2001, p.20. 7 Castro, 2001, p. 6. 8 Id., cap. 2. 9 Id., p. 7. 10 Dias, 2004, p. 25. 11 Spruyt, 1994, apud Castro, 2001, p. 8. 12 Castro, 2001, p. 9-10. 13 Id., ibid. 14 Id., ibid. 15 Holzgreffe, 1989, apud Castro, 2001, p.10. 16 Araújo, 2002, p.5. 17 Castro, 2001, p.11. 18 Vizentin, 2002 19 Castro, 2001, p. 12. 20 Id. p.13. 21 Id. p.14. 22 “qualquer lugar do mundo, atualmente, está a menos de dois dias de distância de qualquer outro,
por avião a jato, e um míssil teleguiado vence qualquer distância a menos de quarenta minutos”.
Deutsch, 1982, p.10. 23 Castro, 2001, p.10. 24 Guimarães, 2001, p. 10. 25 Id., ibid.. 26 Rocha, 2002, p. 40. 27 Belli, 1994, p.14. 28 Id., ibid. 29 Castro, 2001, p.14. 30 Guimarães, 2001, p. 24. 31 Belli, 1994, p.15. 32 Id. p. 15.
30
33 Castro, 2001, p. 15. 34 Guimarães, 2001, p. 44. 35 Rocha, 2002, p. 266. 36 Castro, 2001, p.16. 37 Belli, 1994, p.17. 38 Para discussão sobre um aperfeiçoamento da abordagem realista, ver Belli, 1994, cap. 1. 39 Belli, 1994, p.18. 40 Keohane & NYE, 1988 [1977] 41 O GATT foi instituído no momento em que o Congresso Americano não ratificou a Carta de Havana
que estabeleceria a Organização Internacional do comércio (ITO). Para uma melhor discussão
sobre o GATT e OMC ver Ramos, 2004 pp.147-178. 42 Castro, 2001, p. 23. 43 Id., ibid. 44 Rocha, 2002, p. 273. 45 Keohane, 1992, p.167. 46 Id., ibid.. 47 Junior, 2001, p. 25. 48 Keohane, Robert O.;NYE, Joseph S,1977 apud Keohane, 1992, p.167. 49 Castro, 2001, p. 24 - 25.
31
Referências Bibliográficas
ARAÚJO, Luis I. A. Das organizações internacionais. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002. BELLI, Benoni. Interdependência assimétrica e negociações multilaterais: o Brasil e o regime internacional de comércio (1985 a 1989). Campinas, 1994. 142p. (Dissertação de Mestrado) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. CASTRO, Marcus F. De Westphalia a Seatle: a teoria das relações internacionais em transição. Cadernos do Rel. nº 20, 2º SEM. Brasília, 2001. DEUTSCH, Karl W. Análise das relações internacionais. 2ª Ed. Brasília: UnB, 1982. 343 p. (Coleção Pensamento Político) DIAS, Reinaldo. As primeiras teorias de comércio exterior: o mercantilismo. In Reinaldo Dias e Waldemar Rodrigues (orgs.), Comercio exterior: teoria e gestão. São Paulo: Atlas, 2004. pp.15-64. GUIMARÃES, Lytton L. Relações internacionais como campo de estudo: discurso, raízes e desenvolvimento, estado da arte. Cadernos do Rel. nº 17, 2º SEM. Brasília, 2001. HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: O breve século XX 1914-1991. 2ª Ed. São Paulo. Companhia das Letras. 1995. HOBBES, Thomas. Levitã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. 4ª Ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 317 p. (Coleção os Pensadores). JUNIOR, Roberto DS., 2002, Poder e interdependência: novas perspectivas de análises das relações internacionais, Cena Internacional, Ano 4, Nº 2, Dezembro. KEOHANE, Robert O. Soberania estatal e instituições multilaterais: resposta à interdependência assimétrica. Trad. Álvaro de Vita. In José Álvaro Moisés (org), Rio de janeiro: Paz e Terra, 1992. pp.165 – 191. KEOHANE, Robert O.; NYE, Joseph S.. Poder e interdependencia: la política mundial em transición. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1988. 317 p. (colección Estúdios Internacionales). MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Comentários de Napoleão Bonaparte. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. 156 p. (Coleção a Obra-Prima de Cada Autor)
32
ROCHA, Antonio J. R. da. Relações internacionais: teorias e agenda. Brasília:Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, 2002. 336 p. (Coleção Relações Internacionais) RAMOS, Ronaldo J. S. A estrutura do comércio internacional . In Reinaldo Dias e Waldemar Rodrigues (orgs.), Comercio exterior: teoria e gestão. São Paulo: Atlas, 2004. pp.15-64. SATO, Eiiti., 2003, Conflito e cooperação nas relações internacionais: as organizações internacionais no século XXI. Revista Brasileira de Política Internacional, ano 46, Nº 1, Junho. SEITENFUS, Ricardo A. S. Manual das organizações internacionais, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. VIZENTIN, Paulo F. O sistema de westphalia.Disponível em: <http:// educaterra.terra.com.br/vizentini/artigos/artigo_75.htm.> Acesso em: 15 jul. 2004.
33
1.Textos complementares
1. A Guerra Fria e seu Fim: Conseqüências para a Teoria das Relações Internacionais (HALLIDAY, Fred. Contexto Internacional no. 1, mês 1-6, ano
1994)
2. Diversificação das relações internacionais e teoria da interdependência. (SANTOS JUNIOR, Raimundo B. Paradigmas das relações internacionais. 2.
ed. rev. Ijuí:Unijuí, 2004. pp.207–254. Coleção relações internacionais e
globalização 1).
3. O Ideário da paz em um mundo conflituoso. (MIYAMOTO,
Shiguenoli.Paradigmas das relações internacionais. 2. ed. rev. Ijuí:Unijuí,
2004. pp.15 – 56. Coleção relações internacionais e globalização 1).
2. Sites relacionados http://www.relnet.com.br
3. Grupos de estudos relacionados
Centro de Estudos de Cultura Contemporânea – CEDEC Líder do grupo: Tullo Vigevani
Lattes:http://www.cnpq.br/pls/dwdiretorio2002/p
Relações Internacionais Contemporâneas - Universidade de Brasília - UnB Líder do grupo: Amado Luiz Cervo
Lattes:http://www.cnpq.br/pls/dwdiretorio2002/p
Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais e Comparada Líder do grupo: Henrique Altemani de Oliveira
Lattes:http://www.cnpq.br/pls/dwdiretorio2002/p