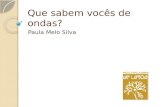Amigos sabem quando serão amigos!!!. Pois compartilham momentos...
Relatório final de pesquisa desenvolvido no Programa de ... · demonstrar ao professor que sabem...
Transcript of Relatório final de pesquisa desenvolvido no Programa de ... · demonstrar ao professor que sabem...
Relatório final de pesquisa desenvolvido no Programa de Iniciação Científica da Universidade Estadual de Maringá, no período de agosto de 2005 a julho de 2006, sob orientação do Prof. Dr. Renilson José Menegassi. A FINALIDADE DA PRODUÇÃO ESCRITA NO LIVRO DIDÁTICO: ANÁLISE DOS
COMANDOS DE ESCRITA
Ângela Francine Fuza (G-PIBIC/CNPq–UEM) Renilson José Menegassi (UEM)
RESUMO
Esta pesquisa, vinculada ao projeto maior “A escrita e o professor: interações no ensino e aprendizagem de línguas” (Processo 0408/04-UEM) e ao Grupo de Pesquisa Interação e escrita no ensino e aprendizagem (UEM/CNPq-www.escrita.uem.br), na perspectiva sócio-histórica de estudos sobre a linguagem, subsidiada principalmente nos pressupostos de Bakhtin e Vygotsky, teve o objetivo de analisar duas coleções de livros didáticos, de 5ª a 8ª séries, de língua materna, adotadas atualmente na região de Maringá-PR, verificando, na seção de produção textual, se os comandos apresentam finalidades para a escrita. A partir da análise do material didático, sistematizou-se uma taxionomia das finalidades de escrita: a) finalidade não marcada no comando; b) finalidade marcada na seção posterior; c) finalidade marcada pelo comando; d) finalidade marcada no interlocutor; e) finalidade marcada no gênero discursivo; f) finalidade para produções futuras. Os resultados demonstram que poucas são as finalidades de escrita apresentadas pelos comandos, embora os livros didáticos considerem-nas um elemento essencial no momento da produção. Em relação às duas coleções analisadas, somente em Terra & Cavallete (2004) há a ausência de uma finalidade para a escrita. Todavia, o problema detectado nas coleções não se refere à falta de uma finalidade, mas sim, à ausência de uma finalidade real de escrita que conduza à produção de um texto na escola e não para a escola. As duas coleções apresentaram problemas em relação à questão da finalidade da escrita e apresentaram poucos comandos com uma finalidade real, que propiciam a exposição das idéias, a funcionalidade para a produção e o crescimento do estudante como sujeitor-autor. Diante da análise, é possível afirmar que enquanto, a coleção de Terra & Cavallete (2004) propôs quatro comandos com uma finalidade real, que valoriza a realidade do estudante de modo que ele veja e tenha um porque produzir textos escritos, a coleção de Magda Soares (2002) apresentou somente um, fazendo com que os textos continuem sendo produzidos na escola.
Palavras-chave: finalidade, produção textual, livro didático.
INTRODUÇÃO
Marinho (1997, p. 87) e Britto (1997, p.117) afirmam que o fracasso da escola e do
ensino de língua portuguesa são os responsáveis pela péssima qualidade dos textos escritos
que apresentam problemas tanto em sua forma (regras gramaticais, organização), quanto em
seu conteúdo. Sabe-se que o ensino de português nas escolas prioriza o estudo da teoria
gramatical que é vista como “um conjunto de regras que devem ser seguidas para se falar e
escrever corretamente” (MARINHO,1997, p. 87). No momento da produção textual, o aluno
continua escrevendo redações para a escola para que o professor ou o colega avaliem e não
identificam uma finalidade para escrever o que foi solicitado.
Para que o estudante consiga produzir efetivamente uma produção textual na escola, é
necessário que o educador utilize metodologias e materias didáticos que propiciem esse
trabalho e que despertem a consciência sobre a importância de se ter uma finalidade para
escrever, assim como expõe Bakhtin (1997), que é retomado, no Brasil, por Geraldi (1993).
Diante do fato de que todo enunciado deve possuir uma razão para ser produzido, espera-se
que os materiais didáticos também evidenciem uma finalidade real de produção que leve a
produção textual na escola e que permita o desenvolvimento do estudante como sujeito de seu
discurso.
Em virtude do fato de demarcar esses problemas e mostrar que, para atingir uma
produção textual, é necessária a presença de finalidades para a escrita, este projeto de
pesquisa, vinculado ao projeto maior “A escrita e o professor: interações no ensino e
aprendizagem de línguas” (Processo 0408/04-UEM), e ao Grupo de Pesquisa Interação e
escrita no ensino e aprendizagem (UEM/CNPq-www.escrita.uem.br), ambos sob a
coordenação do Prof. Dr. Renilson José Menegassi (DLE/PLE), tem o objetivo de analisar as
propostas de produção textual presentes em livros didáticos de língua portuguesa,
identificando as finalidades de escrita apresentadas e refletindo de que modo influenciam na
escrita do aluno, uma vez que podem promover a escrita de uma redação ou de uma produção
de texto na escola.
Com o intuito de atingir esses objetivos e contribuir para a melhoria do ensino-
aprendizagem da língua materna, primeiramente, a pesquisa fez a escolha das coleções dos
autores Magda Soares e Ernani Terra & Floriana Cavallete, Português: uma proposta para o
letramento, São Paulo: Moderna, 2002, e Português para todos, São Paulo: Scipione, 2004.
Em seguida, têm-se os pressupostos teóricos que norteiam a pesquisa baseados na perspectiva
sócio-histórica de ensino e aprendizagem, subsidiada nos pressupostos de Bakhtin e Vygotsky
e na concepção sociointeracionista de linguagem. Em seguida, tem-se o procedimento de
análise que inicia com o mapeamento, por volume, de todas as atividades de produção textual
de cada coleção, constando volume, unidade, capítulo e conteúdo. Depois, ocorre o
levantamento das propostas encontradas em cada coleção, destacando o número de seções
com produção textual e o total de produções por volume. Posteriormente, indicaram-se as
finalidades presentes nos comandos de produção textual, por volume, das coleções analisadas
e sistematizou-se uma taxionomia para as finalidades presentes no material didático. Por fim,
tem-se a escolha de comandos representativos com o objetivo de realizar a análise da
finalidade da escrita marcada ou ausente em cada proposta de escrita, atentando para sua
influência no momento da produção textual do estudante.
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1.1 AS CONCEPCÕES DE ESCRITA NA ESCOLA
Esta seção tem como objetivo analisar e destacar as diferentes concepções de escrita. A
partir delas, torna-se possível observar a definição atribuída a texto, os papéis do produtor e
do receptor, os tipos de sujeito, entre outros fatores. Esta análise será baseada nos estudos de
Geraldi (1997), Sercundes (1997), Kleiman (2000), Britto (1997) e nos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL,1997-98).
Segundo os PCN (BRASIL,1997, p. 35-37), “o ensino de Língua Portuguesa tem sido
marcado por uma seqüenciação de conteúdos que poderia chamar de aditiva: ensina-se a
juntar sílabas (...) juntar frases para formar textos” , isto é, a criança inicia seu processo de
alfabetização aprendendo a unir elementos com o intuito de construir outros, por exemplo, são
escritas várias frases que unidas formam um texto, no caso, sem coerência.
O problema que surge, a partir disso, é o fato de que, se o professor deseja que seu
aluno aprenda a produzir e a entender diferentes textos, ele não pode tomar como unidade
básica de ensino nem a letra e nem a palavra descontextualizadas. No momento em que o
aluno se deparar com uma atividade de produção de texto, ele não conseguirá ordenar as
frases para a construção de um texto com conteúdo e coerência, porque aprendeu a escrever
orações de maneira isolada. Os PCN (BRASIL, 1997, p. 35) afirmam que “a unidade básica
de ensino só pode ser o texto” , pois é a partir dele que o aluno tanto pode aprender a escrever
palavras e frases, como ordená-las de modo a produzir algo com conteúdo e qualidade.
Os PCN (BRASIL, 1997, p. 36) também observam os textos que são dados aos
estudantes iniciantes, afirmando que há uma “confusão entre a capacidade de interpretar e
produzir discurso e a capacidade de ler sozinho e escrever do próprio punho. Ao aluno são
oferecidos textos curtos e simplificados” . Acredita-se que o aluno irá entender e interpretar
com maior facilidade um texto que seja pequeno e simples, porém esses textos apresentam
uma pobreza de conteúdo e de palavras e, como se sabe, as crianças acabam sendo
influenciadas por eles, passando a escrever de modo semelhante.
Diante do fato de que o texto é um elemento indispensável na aprendizagem da
escrita e da interpretação em leitura, faz-se necessário observar as várias maneiras de
concebê-lo, ou seja, verificar os diferentes modos de escrita dos textos.
Geraldi (1993, p. 135) propõe existir duas concepções distintas de escrita: uma que
determina que se escreve “para a escola” e outra, “na escola” . Quando um aluno escreve “para
a escola” , ele produz uma redação, pois está escrevendo apenas para o professor ler e atribuir
nota. O estudante não traz para o texto o seu ponto de vista. No momento em que há a escrita
“na escola” , tem-se a produção de texto, na qual o aluno atribui-lhe o seu ponto de vista, que
pode contribuir na construção de novas produções ou até mesmo no trabalho da reescrita .
Segundo Geraldi (1993) e os PCN (BRASIL, 1997), existem questões centrais no
momento de produção de texto. O primeiro fator é que “se tenha o que dizer” , isto é, o
emissor deve possuir um conteúdo para ser desenvolvido e explicado; a segunda questão: “se
tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer” , ou seja, deve haver uma intenção para se
escrever; o terceiro elemento: “se tenha para quem dizer” , o texto deve possuir um
interlocutor que irá lê-lo. Com base nessas questões: como escrever, o que pretende dizer e a
quem o texto se destina, Geraldi (1993) demonstra dois exemplos muito interessantes de uma
atividade dada às crianças: “Solicita-se às crianças que inventem uma história a partir da
gravura existente na cartilha...” . A expectativa do professor, ao aplicar essa atividade, era de
que os alunos relacionassem as gravuras e construíssem uma história, utilizando-as.
Entretanto, o objetivo da atividade não foi alcançado, como se pode ver no exemplo a seguir,
que se refere a uma produção textual de um aluno da 1a série:
O macaco e vovô Vovô é o macaco de boneca. A boneca menina: -Vovô, menina a boneca O macaco vovô a boneca. Menina dá boneca a vovô.
(GERALDI, 1993, p. 138)
O objetivo da produção textual era fazer com que o aluno escrevesse uma história a
partir das gravuras, mas o que se percebe é que ele apenas realizou uma mera descrição das
ilustrações (boneca-vovô-macaco). Logo, o estudante escreveu uma redação, visto que seu
texto foi realizado com o intuito de atender o pedido da professora e para demonstrar que sabe
escrever. A maioria dos textos produzidos pelos alunos, estejam eles em um nível mais
adiantado de estudo, como na 5a série ou na 1a série, possuem a mesma finalidade da escrita:
demonstrar ao professor que sabem escrever e cumprir a atividade. Baseando-se no fato de
quem escreveu o texto: “ O macaco e vovô” foi uma criança da 1a série, os fatores relevantes
a serem observados, principalmente nos textos das crianças, são os exemplos e a influência
que os textos de livros didáticos exercem sobre os estudantes. Demonstrou-se, anteriormente,
a visão dos PCN (BRASIL, 1997) a respeito dos textos dados aos alunos iniciantes: “Ao aluno
são oferecidos textos curtos e simplificados que apresentam uma pobreza de conteúdo e de
palavras” . Desse modo, a criança, ao se deparar com palavras e frases isoladas, isto é, sem um
contexto, inicia seu processo de escrita utilizando como modelo de melhor escrita esses
exercícios que lhe foram apresentados, como resultado, constrói o texto aqui exemplificado.
No texto exemplo, observou-se que o aluno escreveu as palavras corretamente (pelo
padrão ortográfico) e até utilizou elementos de textos narrativos, como o travessão e os dois
pontos, por exemplo: “– Vovô, menina a boneca.” Embora a criança tenha feito uso desses
recursos, sua escrita não deixa de ser artificial, pois ela somente expôs alguns recursos que
não atribuem sentido de diálogo ao texto (provavelmente esses elementos foram vistos em
outro texto e reportados pelo aluno) e preencheu o espaço em branco com palavras isoladas
que não se relacionam para a construção de um texto com sentido e coerência. O estudante
poderia ter relacionado o desenho/ilustração com sua experiência, isto é, lembrar-se de seu
avô e de seus brinquedos. Na verdade, o aluno escreveu “para a escola” , produzindo uma
redação.
Além desse texto, Geraldi (1993, p. 140) apresenta outro e afirma: “penso que aqui
estamos, de fato, diante de um texto embora se constatem de imediato as dificuldades de seu
autor no manuseio de estratégias para realizar seus intentos.” Eis o texto:
A escola
A secola é bonita e lipa e não pede trazechiclete e não pede traze ovo naora do lache tem mutascoza no lache e não pode repiti e tem mutajeteque repétenoloche e trazemateriau na secola e senão a profesora da chigo.
O aluno articulou suas idéias mesmo demonstrando dificuldade na escrita. Percebe-se
que ele mostrou ter conteúdo para dizer (o estudante relaciona sua visão da escola e
experiências vividas nela), sendo um fator muito importante, pois, nas redações, seja de
vestibulares ou dos colégios, o que se percebe é que os alunos possuem uma grande
dificuldade para expor e articular suas idéias, além dos problemas que surgem, em razão do
desconhecimento da gramática. O ensino de língua portuguesa estuda apenas a estrutura da
frase, observando somente a função do vocábulo dentro do período. Caso o ensino das normas
fosse aplicado, a partir da produção de texto, talvez o aluno guardasse melhor as regras e
conseguisse construir um texto coerente e rico em informações, pois o estudante poderia
expor e discutir várias idéias antes da produção e, posteriormente, teria a chance de reescrever
sua produção com o intuito de corrigir seus erros e aprender novas estruturas. Entretanto, essa
dificuldade, ou desconhecimento da gramática, pode ser resolvida com o passar dos anos de
estudo do aluno e seu amadurecimento, porém, aquele que não consegue construir um texto
coerente, com conteúdo e que desde pequeno não é incentivado pelo mestre a escrever textos,
que tem algo a dizer ou transmitir, terá dificuldades no futuro.
Pode-se afirmar que o texto “A escola” é considerado uma produção de texto visto
que foi produzido na escola e tem o que dizer: “o aluno articula sua visão de escola e
experiências nela vividas...” ; o texto tem uma razão para ser realizado: “...a razão primeira do
aluno é executar uma tarefa...[esta] não é assumida como mero preenchimento de espaço em
branco porque o aluno tem a dizer se sobrepõe à razão artificial, criando outras razões (...)” ;
se tenha para quem dizer: “o professor” (GERALDI, 1993, p. 141).
Algo muito interessante que Geraldi (1993, p. 143) conclui, após comparar os dois
textos, é que “num deles, há apenas uma experiência escolar, com conseqüências para o
aluno; noutro, uma experiência escolar, com conseqüências para o sujeito do texto” . O texto:
“O macaco e vovô” foi classificado como um texto “para a escola,” pois é uma redação que
será lida possivelmente por apenas um professor, quando é lida; a criança escreve segundo a
metodologia dominante e não relaciona sua experiência com as figuras. Assim, tem-se um
texto para o aluno, porque a escrita fica restrita à sala de aula e ao professor, não modificando
e nem demonstrando o ponto de vista de quem escreve. Já no segundo texto, “A escola” , tem-
se um sujeito, pois ele articula sua experiência escolar com o texto e parece expor seus
conceitos sobre o lugar em que estuda.
Dessa forma, as duas concepções de escrita apresentas por Geraldi (1993) são a
escrita para a escola (redação) e a escrita na escola (produção de texto).
Outro autor que trabalha com a questão da escrita é Kleiman (2000), visto que o
objetivo de seu texto é apresentar “as concepções de escrita do professor e seus reflexos na
prática de alfabetizacão”.
Com base em Kleiman (2000, p. 70), é possível encontrar duas maneiras distintas
de conceber a escrita. A primeira é a “concepção escolar” , que vê a escrita “como um
conjunto de atividades para o domínio do código” . Busca-se o domínio do código escrito para
se produzir o que é pedido na escola; essa concepção escolar enquadra-se na idéia de Geraldi
(1993) de escrita para a escola, pois o texto é produzido para que o professor leia e atribua a
nota (redação), não há a preocupação do aluno em expor o seu ponto de vista. Segundo Britto
(1997, p. 120), “na situação escolar existem relações muito rígidas e bem definidas. O aluno é
obrigado a escrever dentro de padrões previamente estipulados e, além disso, o seu texto será
julgado e avaliado” . Logo, o aluno vê a escrita como um meio de adquirir um código e seu
texto acaba sendo visto como um material que valerá nota (há a escrita para a escola e,
conseqüentemente, a produção de uma redação).
Outras duas concepções podem se inter-relacionar com a escolar: a primeira é a
“concepção de linguagem que assume a transparência dos sentidos na comunicação, que está
relacionada a concepção de linguagem como expressão do pensamento. O indivíduo tem as
idéias em mente, mesmo que estas sejam do discurso do professor e ele tenta expressá-las da
maneira mais clara possível. A autora afirma que “em vez de co-construídos e negociados, os
sentidos estariam dados universalmente e a clareza e objetividade estariam garantidas no
discurso institucional” (KLEIMAN, 2000, p. 73). Logo, o entendimento do sentido do assunto
é dado de acordo com o discurso do professor ou da escola .
A segunda concepção que pode se relacionar com a escolar é a “ justificativa moral de
leitura” . Isto é, o aluno deve escrever seguindo a idéia do professor que é enfocar uma moral
ou lição certa no final de um texto.
Outra concepção destacada por Kleiman (2000, p. 70) é a “acadêmica de aquisição da
escrita” . Esta vê a “escrita como prática” ,escreve-se para alcançar um status social
(direcionada para o social) e pode haver nesse texto opiniões do emissor. De acordo com
Britto (1997, p. 125), “a escrita achou-se e acha-se profundamente marcada pela sua
assimilação por parte de camadas sociais que, por condições de privilégio, mais a manipulam
(...) escrever é assim, ascender socialmente. Dá status.” Desse modo, o aluno, no momento da
escrita, faz uso de termos que acredita estar enquadrado na modalidade mais formal da língua,
com o intuito de agradar o professor. Entretanto, muitas vezes, os elementos utilizados não
correspondem à idéia que o aluno quer transmitir na frase. Veja o exemplo exposto por Britto
(1997, p. 119): “Nesse momento as incertezas se tornaram a aumentar, pois tentei assimilar a
pessoa que a qual teria uma fotografia minha” . Ao ler essa frase, algumas pessoas poderiam
pensar qual foi o motivo que levou o aluno a utilizar as palavras, “se tornaram” e “assimilar” ,
que provavelmente não fazem parte de seu vocabulário. Talvez a razão seja a vontade de
tornar o texto mais “culto” , visto que o professor irá lê-lo (o aluno poderia ter escolhido
outros para construção da frase, por exemplo, “voltaram” e “descobrir” , ao invés das palavras
apontadas).
No texto “Ensinando a escrever” , Sercundes (1997) buscou verificar a
metodologia escolar que leva os alunos à produção de texto. Destacaram-se dois grandes tipos
de práticas, que correspondem a diferentes concepções sobre o ato de escrever. São elas: a
escrita “sem atividade prévia” e “com atividade prévia” . No primeiro caso, a produção do
texto aparece desvinculada e sem nenhuma ligação com trabalhos anteriores e posteriores, ou
seja, não há nenhuma atividade antes da escrita. Entretanto, quando há uma produção com
atividade prévia, o professor traz para sala de aula outros textos que podem se relacionar com
o tema discutido.
A primeira concepção de escrita exposta pela autora é “a escrita vista como
dom” . Um exemplo para ilustrar essa idéia é quando um professor atribui como tarefa aos
seus alunos a produção de um texto sobre um determinado tema, mas ele não traz para a sala
nenhuma discussão ou outro material para consulta, demonstrando que acredita que o aluno já
tenha conhecimento sobre o assunto estudado. Assim, o mestre só informa o tema da redação
e o máximo de linhas a ser produzidas.
No momento da escrita, o aluno nem sabe o que escrever, passando apenas a
preencher a folha de papel em branco, com o objetivo de ganhar uma boa nota, logo, ela é
produzida “para a escola - redação” (GERALDI, 1993). A partir da dificuldade que o
estudante sente para escrever, ele passa a pensar que o ato da escrita é simplesmente articular
informações e mostrar para o professor que sabe escrever. Mas, a escrita é um processo que
auxilia tanto na aprendizagem do vocabulário como na organização e coerência entre as idéias
do autor. O aluno que possui em sua mente o conceito de escrita como dom, considera aqueles
que conseguem realizar um bom texto como pessoas que têm dom e inspiração para a escrita.
A “concepção de escrita como dom” pode se relacionar com a “concepção
escolar” proposta por Kleiman (2000), visto que esta busca apenas o domínio do código e
apresenta as idéias idealizadas pelo professor ou pela escola.
A atividade prévia que ocorre antes da produção do texto refere-se a um estudo,
uma pesquisa, uma leitura ou até mesmo uma brincadeira sobre o assunto que será
desenvolvido. O professor que realiza um trabalho prévio antes da produção consegue, na
maioria das vezes, ampliar o arcabouço de conhecimentos do aluno e despertar o seu lado
crítico. Segundo Sercundes (1997, p. 77), a partir dessa atividade podem aparecer duas linhas
metodológicas de produção: “escrita como conseqüência” e “escrita como trabalho” .
Sercundes (1997, p. 78) propõe que a “escrita como conseqüência são produções
resultantes de uma leitura, uma pesquisa de campo, uma palestra (...), enfim cada um desses
itens será um pretexto para se realizar um trabalho escrito” , isto é, a escrita será a
conseqüência de um emaranhado de atividades que ao se realizarem poderão ajudar na
produção do texto. Outro tipo de atividade prévia são as discussões de questões abertas em
sala de aula, que podem se relacionar ao tema do texto e a experiência dos estudantes, além de
proporcionar uma discussão entre eles, provocando, assim, uma enorme troca de informações
entre os estudantes e até mesmo com o professor. A partir disso, o que é possível se observar
é uma heterogeneidade de vozes que são necessárias para a execução de um texto, pois os
indivíduos constroem seus discursos utilizando a fala do outro.
Embora a concepção de escrita como conseqüência apresente a atividade prévia, um
problema que surge é fato de que mesmo havendo a troca de idéias entre as pessoas, o
professor acaba na maioria das vezes impondo o seu ponto de vista, provocando, assim, a
desestruturação das informações construídas no momento da interação entre os alunos (a
heterogeneidade de vozes é mascarada, pois a idéia ou leitura que se sobrepõe as outras é a do
professor). Com base nisso Sercundes (1997, p. 86) afirma “porém em alguns casos, a
heterogeneidade de vozes passa por uma triagem, ou seja, há uma homogeneização e
higienização das “ falas” , já que o professor acaba sendo o único detentor do saber e da
oralidade.” A característica principal dessa concepção é que o texto é visto como um registro
que valerá nota e como um produto que leva à premiação, por exemplo, um bom texto pode
garantir ao aluno uma ótima nota e proporcionar sua aprovação.
A terceira concepção de escrita apresentada por Sercundes (1997, p. 83) é a “escrita
como trabalho” . Nesta, “o trabalho escrito é reconhecido, trabalhado pelo professor, já que a
produção escrita é tida como uma contínua construção do conhecimento (...) porque cada
trabalho escrito serve de ponto de partida para novas produções, que adquirem a possibilidade
de serem reescritas.” A partir disso, observa-se que o aluno produz seu texto e tem a
possibilidade de interagir com seu professor para tirar dúvidas, para continuar escrevendo
outros textos que se relacionem com o anterior e até mesmo de reescrever sua produção.
Quando o aluno escreve seu texto para a escola, há uma produção de redação, visto
que ele segue a metodologia e as idéias do professor e da escola, de maneira tradicional. A
redação é lida pelo mestre que atribui a nota, faz a correção e realiza alguns apontamentos. O
que é muito comum acontecer no momento em que o professor entrega os textos é o estudante
“ jogá-lo” de lado e não observar as anotações dadas pelo professor. Se um aluno age desta
forma, ele não vê os erros que cometeu e pode continuar realizando-os. Mas, se o professor ao
devolver os textos faz com que seus alunos o reescrevam, observando os apontamentos
realizados por ele, o estudante acaba refletindo e amadurecendo suas idéias e,
conseqüentemente, produzindo um texto muito melhor.
Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 77-78):
a refacção faz parte do processo de escrita [ela] é a profunda reestruturação do texto(...) os procedimentos de refacção começam de maneira externa, pela mediação do professor que elabora os instrumentos e organiza as atividades que permitem aos alunos sair do complexo (o texto), ir ao simples (questões a serem estudadas) e retornar ao complexo (...).Por meio dessas práticas mediadas, os alunos se apropriam das habilidades necessárias à autocorreção.
Desse modo, o professor atua como um mediador entre o texto e o aluno. Ele busca
encaminhar o indivíduo, através de apontamentos, a uma escrita mais elaborada e, ao mesmo
tempo em que o estudante realiza a autocorreção de seu texto, ele está ampliando e
melhorando a construção de seu material e amadurecendo como produtor do texto.
A partir do arcabouço teórico, que até o momento foi mencionado, faz-se necessário
destacar as duas concepções de escrita abordadas por Geraldi (1993). No primeiro caso,
escrevesse “para a escola” e, no segundo caso, “na escola.” Entretanto, uma questão
interessante que surge a partir disso é saber quais são os sujeitos que as realizam.
Segundo Geraldi (1997), existem dois tipos de sujeitos: o sujeitado/agente e o
assujeitado. O sujeito agente é “aquele que enuncia o que diz e tem consciência absoluta de
seu dizer, pois sabe o que diz. Trata-se de um sujeito pronto que, apropriando-se da língua,
atualiza-a no seu dizer...” (p.19). Logo, observa-se que esse sujeito é aquele que produz na
escola, pois transmite o seu ponto de vista e tem consciência do que diz. O sujeito assujeitado
é aquele que está “assujeitado às condições e limitações históricas, produto do meio (...)
fazem dele mero preenchimento de um lugar social reservado pela estrutura ideológico...”.
Assim, há a presença de um sujeito que escreve para a escola porque segue a ideologia
dominante e está sujeito às limitações realizadas pela escola ou pelo professor. O estudante
segue uma concepção tradicional de ensino na qual há um lugar para o professor e outro para
o aluno, que está disposto a realizar o que o mestre impõe.
No texto “Concepções de língua, sujeito, texto e sentido” , Koch (2002) afirma que “a
concepção de sujeito varia de acordo com a concepção de língua que se adote” . É a partir das
três concepções de linguagem: “ linguagem com expressão do pensamento” , “ linguagem como
instrumento de comunicação” e “ linguagem com forma de interação”, que Koch desenvolve e
demonstra as concepções de sujeito, texto e escrita.
Quando um indivíduo escreve um texto adotando a concepção de linguagem como
expressão do pensamento, é possível se deparar com o seguinte tipo de sujeito e texto:
na concepção de língua como representação do pensamento e de sujeito como senhor absoluto de suas ações e de seu dizer, o texto é visto como um produto – lógico – do pensamento ( representação mental ) do autor, nada mais cabendo ao leitor/ouvinte se não captar essa representação mental [...]. (KOCH, 2002, p. 16)
Nesse caso, o texto é constituído da representação do pensamento do produtor e é visto
como um produto. A partir disso, não cabe ao ouvinte questioná-lo, mas sim, exercer um
papel passivo diante dele (texto � receptor). É possível relacionar essa concepção de
linguagem como expressão do pensamento com a “concepção escolar” (Kleiman, 2000), pois,
ela tem como objetivo o domínio individual do código e vê a escrita como um conjunto de
atividades para se apoderar da escrita; também pode ser vista como um dom e como uma
conseqüência (SERCUNDES, 1997), porque o professor de produção de texto impõe um tema
e o aluno obriga-se a escrever sem ter, muitas vezes, conhecimento do assunto e sem realizar
uma atividade prévia. O único objetivo desse aluno é escrever o texto para conseguir boa nota.
O tipo de texto que se produz ao adotar a concepção de linguagem como expressão
do pensamento é a redação, isto é, uma produção para a escola e que terá como provável e
único leitor o professor. A concepção de sujeito presente nesse processo é de assujeitado, pois
segue os princípios da ideologia dominante (professor / escola).
Segundo Koch (2002, p. 16), quando há o uso da linguagem como instrumento de
comunicação, o texto é visto “como simples produto da codificação de um emissor a ser
decodificado pelo eleitor, bastando, a este, o conhecimento do código, já que o texto, uma vez
codificado, é totalmente explícito (...) o papel de “decodificar é passivo”” .
Nesse caso, a língua é vista como um código, ou seja, signos que se combinam
segundo regras e que obedecem a uma convenção, possibilitando a transmissão de
informações através do texto. Ela permite a um emissor a transmissão de uma determinada
mensagem a um receptor, desde que ambos tenham domínio do código.
Para a construção do texto há uma combinação de regras regidas pela convenção (o
texto é visto como simples produto da codificação), assim o autor escreve seguindo a
ideologia dominante. O leitor desse texto é passivo, pois não pode questionar o texto lido.
Essa concepção segue as mesmas características da anterior: ela relaciona-se com a concepção
escolar (KLEIMAN, 2000), em razão do emissor desejar possuir apenas o domínio do código;
a escrita é vista como um dom e como uma conseqüência, isto é, o professor solicita a
produção e o aluno escreve com o objetivo de tirar uma boa nota. A escrita realizada é uma
redação, visto que é produzida para a escola e tem como único leitor o professor e o indivíduo
que escreve é assujeitado, pois escreve seguindo os padrões convencionados pela escola e
pelo professor.
Tem-se como última concepção a linguagem como forma de interação, na qual os
sujeitos são visto como construtores sociais, pois é através da interação de diálogos entre os
indivíduos que ocorrem as trocas de experiências e conhecimentos. Segundo Koch (2002, p.
17), “o texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, como
sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem e são construídos ...” . O texto é visto
como lugar de interação porque é a partir dele que professor e aluno interagem e trocam
informações. Enquanto estudante e mestre lêem o texto e tentam melhorá-lo, dialogam e
constróem novos conhecimentos (professor e aluno ou texto e leitor são vistos como
participantes de um jogo interlocutivo, o que significa que são sujeitos construindo
conhecimentos).
O leitor desse texto tem um papel ativo, visto que dialoga e questiona o seu autor. Essa
concepção interacionista relaciona-se com a “escrita como trabalho” (SERCUNDES, 1997),
porque o texto é reconhecido e trabalhado pelo professor, já que a produção escrita é vista
como uma contínua construção de conhecimento, ponto de interação entre professor e aluno,
pois cada trabalho escrito serve de ponto de partida para novas produções, que sempre
adquirem a possibilidade de serem reescritas. Nesse processo de revisão e reescrita do texto, o
professor é visto como mediador, pela razão de que tem a chance de encaminhar e conduzir
seus alunos para a melhor construção do texto, para a aprendizagem e prática da produção.
O texto que é produzido, a partir da interação entre professor e aluno ou texto e aluno, é
realizado na escola e, conseqüentemente, é classificado como uma produção de texto, porque
o aluno tem liberdade para realizar apontamentos individuais e sua produção não fica restrita
apenas à leitura do professor, como também pode ser lida por outros colegas de sala de aula e,
até mesmo, ser exposto na escola. O produtor desse texto é um sujeito ativo/agente, pois tem
consciência e sabe o que diz, além de ter conhecimento de como organizar e transmitir seus
pensamentos e suas idéias para outros sujeitos.
A partir dos conceitos e conhecimentos dos diferentes autores mencionados, percebe-se o
quanto é importante pesquisar e analisar as concepções de escrita, pois, com isso, podemos
verificar quais os principais efeitos que causam no momento da produção de texto em
situação de ensino.
1.2 A ESCRITA NA ESCOLA Segundo Marinho (1997, p. 87) e Britto (1997, p. 117), o fracasso da escola e do
ensino de língua portuguesa são os responsáveis pela péssima qualidade dos textos escritos
que apresentam problemas tanto em sua forma (organização, regras gramaticais), quanto em
seu conteúdo. Sabe-se que o ensino de português nas escolas dá prioridade ao estudo da teoria
gramatical que é vista como “um conjunto de regras que devem ser seguidas para se falar e
escrever corretamente. Muito tempo e esforço eram gastos com o ensino da metalinguagem e
não com o ensino da língua” (MARINHO, 1997, p. 87). O que se ensina na escola é a
estrutura da língua e não como ela deve ser utilizada. Uma pessoa, no momento de um
diálogo, não pensa na estrutura gramatical para formular seu enunciado, ela apenas utiliza
conscientemente os conhecimentos que possui da língua, como o vocabulário.
Segundo os PCN (BRASIL, 1997, p. 87), a criança inicia seu processo de
alfabetização aprendendo a unir elementos, por exemplo, ao juntar as palavras formam-se
frases. Entretanto, uma pessoa que aprendeu apenas a escrever frases terá dificuldades, no
momento em que precisar utilizar a escrita, para formar um texto e acaba construindo um
texto sem coerência. A partir das inúmeras críticas realizadas contra esse ensino do português
“normativo” , começaram a surgir novos caminhos para um melhor aproveitamento do ensino
da língua portuguesa. Os professores, em muitas escolas, não estão mais atribuindo tanta
ênfase ao ensino de metalinguagens (estudo da língua através da língua), mas, nas práticas de
produção de texto.
Geraldi (1993, p. 135) considera a produção de textos “como ponto de partida de todo
o processo de ensino/aprendizagem da língua [pois] é no texto que a língua se revela em sua
totalidade quer enquanto conjunto de formas (...) quer enquanto discurso que remete a uma
relação intersubjetiva...” . Isso acontece porque, ao usar o texto para o ensino, o indivíduo
pode aprender as regras gramaticais de forma contextualizada, observar a coerência entre as
frases, as informações e as marcas/idéias pessoais do autor (subjetividade).
Em Portos de Passagem (1993), Geraldi destaca duas concepções de escrita: a
primeira define uma escrita “para a escola” e a outra, “na escola” . Quando se escreve “para a
escola” , o aluno produz uma redação com o intuito de atender o pedido do professor,
demonstrar que sabe escrever e que, por isso, merece uma boa nota. No caso da redação, o
mestre propõe um tema que, provavelmente, o aluno não discutiu e nem pensou antes, com o
intuito, apenas, de verificar se o estudante aprendeu, realmente, o conteúdo exposto. Segundo
Marinho (1997, p. 88), o “exercício da redação se dá numa situação artificial” , pois o aluno é
praticamente obrigado a escrever algo que não pensou antes e é forçado a utilizar as estruturas
da língua que aprendeu. Existem professores que realizam uma discussão sobre o tema antes
de solicitar a produção, ou seja, o mestre e seus alunos conversam e trocam informações,
porém, no final da aula, a idéia que permanece não é a que surgiu a partir do diálogo
(interação) entre os jovens, mas sim, a do professor. Desse modo, o aluno deve colocar em
sua redação os conceitos do professor (a subjetividade do professor é marcada; é ele que
ordena e dá a última palavra aos alunos) e não traz para o texto o seu ponto de vista
(subjetividade do aluno).
Tem-se uma produção de texto quando há a escrita “na escola” . Nesta concepção, o
objetivo do aluno é demonstrar suas idéias e relacioná-las com outras informações, que são
trocadas no momento da interação entre os colegas de sala. Segundo Marinho (1997, p. 89),
no caso da produção do texto, o professor deve realizar com seus alunos um trabalho para
levantamento de idéias que estejam relacionadas ao tema (atividade prévia), que irão motivar
os estudantes a escrever, pois estará “ fertilizando” suas mentes com novas informações e
idéias. Segundo Geraldi (1993, p. 64), o mestre deve agir como um interlocutor de seus
alunos, que questiona, sugere e testa o texto do aluno, como leitor. Ele “constrói-se como “co-
autor”que aponta caminhos possíveis para o aluno dizer o que quer dizer na forma que
escolheu” (GERALDI, 1993, p. 64). Assim, o professor, no momento da leitura da produção,
não despreza as idéias do autor (estudante), completando e sugerindo novos caminhos para o
aluno. Caso a escrita não fosse destinada para o contexto escolar, mas para uma revista, por
exemplo, o possível leitor do texto, ao perceber espaços vazios de sentido, deveria agir como
um co-autor do material, isto é, preenchendo as lacunas com o seu conhecimento sobre o
assunto. Entretanto, se o leitor desejasse criticar ou sugerir algo de novo para o texto, ele teria
que utilizar recursos como as cartas ou o e-mail para se comunicar com o autor, visto que o
receptor não possui um contato direto com o emissor. No caso da sala de aula, sabe-se que o
contato entre aluno e professor é grande, proporcionando, assim, uma maior facilidade para
uma conversa sobre o texto entre autor e leitor.
O professor ao ler o texto do estudante realiza diversas marcações que podem
tanto melhorar e fazer com que o indivíduo amadureça como autor ou apenas ser visto como
“rabiscos” pelo aluno. O mestre pode realizar correções no aspecto formal do texto e no
conceitual. A partir das anotações do professor, o aluno deve tentar reescrever o material com
o objetivo de melhorá-lo e enriquecê-lo ainda mais. Desse modo, aquele que corrige o texto
não deve censurar as idéias e conceitos que se encontram nele porque foram escolhas
pessoais do autor.
Segundo Evangelista (1998, p. 47-48), a subjetividade na escrita de uma pessoa
está sempre presente, seja através de um tipo de linguagem, de vocabulário, do modo de se
expressar etc., embora, muitas vezes, ela seja limitada por condicionantes sociais, como a
escola. Se, por exemplo, o professor solicitar aos alunos que escrevam sobre o tema a
amizade, eles devem seguir os parâmetros e métodos de escrita desejados pelo professor e, na
maioria dos casos, se vêem obrigados a escrever segundo o ponto de vista dele e não os seus.
Um indivíduo, ao produzir um texto, expressa nele os seus conceitos, seus valores, suas
idéias; entretanto, o que muitas pessoas não sabem é que a atitude de escolher um vocábulo ou
uma determinada frase no contexto de produção são os elementos que marcam a subjetividade
do sujeito em seu texto.
É importante ressaltar que, em qualquer situação de escrita, o indivíduo é
influenciado pelo contexto de produção, como o lugar onde o material é escrito e para quem o
texto irá ser destinado. De acordo com esse contexto, o sujeito poderá expor com mais
facilidade o que ele pensa (subjetividade). Por exemplo, se a pessoa pretende escrever uma
carta para um familiar, ela sabe que sua linguagem não precisa seguir rigorosamente as
normas e padrões gramaticais e tem consciência de que, por se tratar de alguém conhecido, ela
pode expor seus problemas e seus pontos de vista sem medo de ser censurada, seja em razão
de erros gramaticais ou falhas na estrutura da carta. Porém, se a pessoa deve produzir um
texto acadêmico, ela tem a necessidade de seguir regras e padrões estabelecidos pela
instituição e sua escrita provavelmente será corrigida pelo professor que concordará ou não
com o que leu. Desse modo, observa-se que, para o indivíduo expor um ponto de vista ou
demonstrar o que realmente sente, deverá verificar o seu contexto de produção, pois é a partir
dele que se determinam as idéias, os pensamentos e o modelo de escrita que poderão ser
utilizados.
Diante do fato que todo texto é constituído por escolhas do autor, “muitos
professores sentem-se incomodados na posição de avaliadores das redações dos alunos, por
saberem que qualquer leitura ou avaliação estará marcada pela subjetividade ou por decisões
pessoais” (EVANGELISTA, 1998, p. 48). Assim, do mesmo modo que o aluno realiza as suas
escolhas em um texto, um professor ao lê-lo pode interpretá-lo de outro modo e, no momento
da avaliação, ele estará utilizando sua posição pessoal para criticar ou elogiar o texto.
Segundo Evangelista (1998, p. 48), existem dois tipos de correções, uma relaciona-se à forma
do texto e a outra ao seu conteúdo. Muitos professores ao lerem as redações “optam por fazer
uma leitura detalhada, assinalando os erros para que os alunos não errem mais” . Esta primeira
posição defende a interferência do professor nos aspectos formais do texto, isto é, como é a
sua organização, verifica os erros gramaticais e de pontuação. Outros professores “acreditam
que bastaria uma leitura globalizante para captar o sentido geral da redação e valorizar o que o
aluno tem a dizer” (EVANGELISTA, 1998, p. 48). Nesse caso, ressalta-se o “respeito” à
produção do aluno, ou seja, o mestre considera o conteúdo do texto o aspecto mais
importante, ao invés de se incomodar com os erros gramaticais.
Geraldi (1993) acredita que o verdadeiro e melhor texto é aquele que tem algo a
dizer, isto é, que possui conteúdo. Para ele, um aluno pode escrever um texto seguindo regras
gramaticais e grafia correta, mas se não possuir um conteúdo que norteie todo o
desenvolvimento do texto, ele não considerará como sendo um bom texto, mas sim, mera
demonstração de que o indivíduo sabe escrever segundo padrões. Assim, observa-se que
Geraldi (1993) enfatiza o aspecto conceitual da produção, pois um estudante que desde
pequeno é motivado a desenvolver um texto com coerência e informações (conteúdo), não
apresentará dificuldades no momento de escrever o seu texto. Como se percebe, o texto é
construído a partir da junção de dois fatores: o primeiro é a forma, o outro é o conteúdo. É
evidente que não se pode desconsiderar um dos elementos, pois um aluno deve ter
conhecimentos da gramática e de como construir um texto, tanto para uma prática escrita
como para uma oral. O conteúdo é algo que é desenvolvido no decorrer do crescimento do
indivíduo porque ele amplia seu vocabulário e a quantidade de informações, a partir das
leituras que faz e de sua convivência social.
Segundo Geraldi (1993), Marinho (1997) e Evangelista (1998), para se produzir
um texto é preciso que se tenha “o que dizer” , ou seja, um conteúdo a ser demonstrado e
discutido; “uma razão para dizer o que se tem a dizer” , isto é, há a necessidade de existir uma
intenção para escrever; o terceiro elemento é que “se tenha para quem dizer” , o texto deve
possuir um receptor que irá lê-lo. Segundo Evangelista (1998, p. 123), o leitor para quem o
aluno escreve é o professor, logo o objetivo da escrita é somente agradar o mestre e alcançar
uma boa recompensa. Afirma ainda que o aluno não precisa ter claro em sua mente todos os
passos para a produção. Em muitos casos, ele produz uma fala ou escrita, mas não sabe que
para realizar isso teve que efetuar várias escolhas. A idéia de que o sujeito faz escolhas num
momento de sua produção é algo não muito definido em sua mente, entretanto, ao refletir
sobre qual é o recurso que utiliza para a realização de um enunciado, verá que, de acordo com
o meio social em que está, faz diversas escolhas antes de expor a sua idéia.
Para explicar e exemplificar as questões centrais do momento da produção, é possível
utilizar o exemplo de um professor que, através da mediação, consegue interagir com seus
alunos e produzir textos que possuam a subjetividade de cada indivíduo e promova a
aprendizagem, sem descartar as regras de produção escolar/social, como notas e avaliações.
Se, por exemplo, um professor propor aos alunos a produção de textos informativos, sobre
algum problema social, como a fome e estes forem expostos apenas no mural no colégio e
tenham como principal leitor o professor, essa atividade será vista como mais uma avaliação
que vale nota e não como algo que promova a aprendizagem. Porém, se o mestre recolher
essas produções, montar um jornal e enviar para outros colégios, talvez a escrita fosse vista de
outra forma. Os alunos que terão seus trabalhos expostos em outras escolas têm uma maior
preocupação com o conteúdo a ser apresentado e, por isso, buscam novas fontes de pesquisas
que promoverão a construção de trabalhos muito mais elaborados e com um bom conteúdo.
No caso dessa atividade, a razão para dizer o que vai ser dito ultrapassa a necessidade de nota
e passa a ser um momento de preocupação e apreensão com o conteúdo do trabalho, pois o
objetivo dessa escrita é informar e alertar as pessoas sobre os problemas da fome. Esses textos
terão diversos leitores e, por isso, no momento da produção, o aluno deve ter em mente os
possíveis receptores de seus textos, pois cada um deles tem um nível de conhecimento
diferente. A partir de atividades que promovam a interação entre professor e aluno, que
incentivem a busca e as pesquisas de novos materiais e que rompam as barreiras socias da
escola (a produção escolar permanece restrita dentro da sala de aula junto com o professor) é
que se consegue a verdadeira aprendizagem, pois a escrita passa a ser algo interessante e que
traz para o aluno um crescimento muito grande, visto que ele deixa de ser um assujeitado
(aquele que faz a paráfrase do que o professor diz e não discute o assunto) e passa a ser um
sujeito que produz, critica, pensa e amadurece intelectualmente através das atividades que
produz.
O conteúdo com sua ordenação e organização é definido por “condições de produção”
do texto, como autor e leitor. Por exemplo, caso um indivíduo fosse escrever uma carta para
um familiar, nela estariam retratados os pensamentos do autor e suas idéias, pois, dependendo
do contexto de produção, a pessoa tenta enquadrar sua escrita. Como se trata de uma carta, ela
poderá ter uma linguagem menos elaborada, visto que o texto será enviado a um familiar com
o qual o autor possui uma intimidade maior ou, às vezes, o leitor dessa carta é de origem
simples e não compreenderia uma linguagem composta de regras, normas da variedade padrão
e um vocabulário complexo. Observa-se que o contexto de produção do texto exerce
influência no objetivo da escrita. Bronckart (1999, p. 93) afirma que o “contexto de produção”
é definido como o conjunto dos parâmetros que podem exercer uma influência sobre a forma
como o texto é organizado e construído. Por exemplo, se o aluno produz uma redação, seu
principal objetivo é demonstrar ao professor sua produção e adquirir uma boa pontuação; se o
estudante escreve um texto após uma discussão com seus amigos sobre o tema, ele pode
demonstrar ao mestre o que pensa a respeito do tema escolhido.
Segundo Bronckart (1999, p. 93), existem fatores que exercem uma influência
sobre a organização do texto. Esses elementos estão agrupados em dois conjuntos: o
“mundo/contexto físico” e o “mundo social” e ao “subjetivo” . O mundo físico é definido por
quatro parâmetros “ lugar de produção”(onde o texto é produzido); “momento da produção”(o
tempo durante o qual o texto é realizado); “emissor” (a pessoa que produz o texto) e o
“receptor” (quem recebe o texto). O “mundo social” é constituído pelas normas e valores que a
sociedade possui e o “mundo subjetivo” é a imagem que o agente dá de si ao agir e a
expressão do seu ponto de vista no texto.
Além de haver o “contexto de produção”, há também o “conteúdo temático que
é definido como o conjunto das informações que no texto são apresentadas, isto é, que são
traduzidas no texto pelas unidades declarativas da língua” (BRONCKART, 1997, p. 97). Esse
conteúdo é constituído pelas experiências e informações do agente.
Desse modo, os parâmetros de contexto de produção e o conteúdo temático são
determinados pelo agente que os mobiliza quando está em uma interação verbal. É a partir da
junção desses fatores que a linguagem entra em ação, visto que ela será o veículo de
transmissão das informações que foram enquadradas nas regras e normas do contexto de
produção.
Em nossa sociedade, a necessidade de escrita é muito grande e é, por isso, que ela
está tão presente na sala de aula. Segundo Marinho (1997, p. 91), as aulas de português nas
escolas possuem como um dos seus objetivos oferecer aos alunos o domínio da modalidade
padrão e da língua escrita, visto que é um dos requisitos para a inclusão na vida social. Por
exemplo, se uma pessoa está em uma entrevista de trabalho, um dos primeiros testes a ser
realizado é o escrito, pois é a partir dele que se observam o vocabulário, as idéias e os
pensamentos do indivíduo. É evidente que a escrita do sujeito é realizada de acordo com a
situação social na qual ele está e a linguagem utilizada é aquela referente apenas à modalidade
escrita, que apresenta e requer um maior cuidado e formalidade, ao contrário da linguagem
oral, que, dependendo da situação comunicativa, não exige grandes formalidades.
Na sala de aula, trabalha-se mais com a linguagem escrita do que com a oral. É
por essa razão que existem conceitos bem marcados que definem a questão da textualidade,
ou seja, a maneira como se estuda e se elabora o texto. No momento em que o professor lê o
texto do aluno, ele considera todos os elementos que compõem a questão da textualidade.
Segundo Marinho (1997, p. 93), a correção pode se dividir em dois planos: o “semântico-
conceitual” , que se relaciona ao conteúdo ao conteúdo do texto (observa-se a pertinência ao
tema, a coerência, entre outros fatores) e “plano formal” que se refere a forma textual
(verifica-se a coesão, a estrutura sintática etc).
Landsmann (1995) busca em seu texto verificar e retomar algumas posturas
pedagógicas do professor, além de discutir a atividade e a produção da escrita. Segundo
Landsmann (1995, p. 37), escrever é considerada uma atividade motora que consiste no
procedimento de traçar as letras e é visto como um conhecimento complexo. Os professores,
quando ensinam a escrita aos alunos, não pensam somente nas letras, mas nas múltiplas
situações nas quais o escrever é necessário, recomendável e adequado. Pensa-se no como
escrever e não só na forma de colocar as letras. Os mestres se preocupam “com o conteúdo e
com o interesse das informações transmitidas ou produzidas por escrito, não com as
combinações de letras ou sons que são mais fáceis para as crianças” (LANDSMANN, 1995,
p. 37).
Landsmann (1995, p. 38) propõe uma série de etapas que auxiliam no processo de
produção da escrita, dependendo dos objetivos, da situação etc.; os passos demonstrados por
ele são: gerar idéias, planejar o que vai ser escrito, escrever o que foi pensado em um
rascunho, revisar o rascunho e preparar o texto. Segundo Serafini (1998, p. 23), a fase de
planejamento de um texto não é muito utilizada, pois planejar poderia parecer uma maneira de
adiar o momento de escrever o texto, ou seja, perder tempo. Entretanto, planejar serve para
“economizar e distribuir o tempo disponível. Distribuir o tempo é indispensável para escrever
a redação no prazo que se tem” (SERAFINI, 1998, p. 23). O momento de planejamento do
que vai ser dito no texto é interessante e necessário porque é a partir do esquema realizado
antes da escrita que o indivíduo poderá se guiar e desenvolver cada tópico em seu devido
tempo.
Após todo esse esquema de preparação do texto escrito, torna-se possível observar
os apontamentos que Landsmann (1995, p. 39) afirma ocorrer na maioria das escolas. No
momento da escrita: “na organização tradicional de classe, cada criança escreve ou lê
individualmente, porém geralmente todas escrevem ou lêem a mesma coisa (...) a escola
propicia a produção paralela: as crianças têm de escrever cada uma consigo mesma, porém
todas sobre a mesma coisa.” Quando o professor está na sala de aula, ele comanda o social e
demonstra qual é a sua leitura sobre um texto ou tema proposto. Com isso, a voz que
determina a produção é a do professor (homogeneização), que faz com que os alunos sigam
seu ponto de vista e acabem produzindo textos iguais, embora a produção seja individual.
Assim, os alunos não agem como sujeitos em uma produção, mas como assujeitados que não
criticam e nem expõem suas idéias sobre o texto ou tema discutido. A melhor atitude de um
professor é seu posicionamento como um mediador, no momento da produção de texto dos
seus alunos, pois, agindo desse modo, ele estará auxiliando-os a adquirir novas informações,
despertando o lado crítico de cada indivíduo e aceitando e respeitando o ponto de vista de
cada estudante.
A escrita é uma atividade que requer estudo e prática porque ela pode variar
dependendo da situação de produção. Atualmente, observa-se que a prática da escrita está
muito presente nas escolas e é vista como um meio de agradar o professor e adquirir uma
recompensa (nota), visto que os alunos não buscam expor seu ponto de vista nos textos sobre
o tema discutido, mas sim, reportar para a produção aquilo que o professor afirmou que é o
correto, ou seja, sua leitura e interpretação subjetiva sobre o assunto. Porém, não se deve
esquecer que a escrita é utilizada nas mais diversas situações como em cartas, bilhetes,
propagandas, entre outros. Quando uma pessoa escreve uma carta para um familiar, a sua
linguagem, o seu modo de estruturar o texto e o conteúdo visto são diferentes do que quando
ela produz um texto para ser enviado para ser publicado em uma revista da universidade. Isso
ocorre porque o contexto de produção da escrita é diferente, enquanto, no primeiro caso, o
indivíduo escreve para alguém conhecido (receptor) e com mais intimidade, no segundo
exemplo, o texto é construído com maiores cuidados, existe rigor em relação às regras
regentes e o leitor é visto como virtual, pois o autor escreve para um grande público, por
exemplo, os alunos e professores da instituição e não há um leitor/receptor determinado.
1.3 A INTERAÇÃO NA PRODUÇÃO ESCRITA
Esta seção objetiva analisar e discutir o conceito de linguagem e escrita como produto
direto da interação, a partir dos estudos de Bakhtin (1992), Garcez (1998), Geraldi (1993),
Koch (2002), Sercundes (1997), Britto (1997) e os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN
(BRASIL, 1997-98).
Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 20), é possível entender linguagem como uma
ação entre indivíduos orientada para uma finalidade, um processo de interlocução que
acontece nas práticas sociais que se diferenciam historicamente e dependem das condições da
situação comunicativa. Entretanto, durante muitos anos, a linguagem não foi vista como
produto da interação, mas sim, como expressão do pensamento e como instrumento de
comunicação. Koch (2002, p. 16) afirma que, na concepção de linguagem como expressão do
pensamento e na linguagem como instrumento de comunicação, o texto é visto como um
produto que não pode ser questionado por seu leitor. É possível relacionar esses modelos de
conceber a linguagem com a “concepção escolar” (KLEIMAN, 2000), porque ela acredita que
a escrita é um conjunto de atividades que possibilitam o domínio individual do código. Além
disso, a escrita também pode ser vista como “um dom”e como “uma conseqüência”
(SERCUNDES, 1997), pois o mestre impõe um tema para a produção textual e o aluno se vê
obrigado a escrever sem ter, muitas vezes, conhecimento suficiente sobre o assunto e sem
realizar uma atividade prévia. O aluno que se depara com uma produção desse tipo só a
realiza para conseguir nota e agradar ao professor, produzindo, assim, uma redação (um texto
para a escola, Geraldi, 1993) e se posicionando como um assujeitado, pois segue os princípios
da ideologia dominante, sem questioná-la. Há, ainda, na concepção de linguagem como
instrumento de comunicação, a idéia de que o texto é visto como simples produto da
codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor (KOCH, 2002), isto é, signos que se
combinam segundo regras e que obedecem a uma convenção, possibilitando a transmissão de
informação através do texto.
As concepções de linguagem como expressão do pensamento e instrumento de
comunicação foram utilizadas durante muito tempo. Porém, atualmente, os estudos
lingüísticos criticam as duas visões e partem para a concepção que vê a linguagem como
forma de interação, na qual os sujeitos são vistos como construtores sociais, pois é através da
interação de diálogos entre os indivíduos que ocorrem as trocas de experiências e
conhecimentos.
Segundo Garcez (1998, p. 45), a teoria bakhtiniana conceitua a linguagem como um
produto sócio-histórico e como forma de interação social realizada por meio de enunciações.
A língua se modifica de acordo com as necessidades de comunicação e essas mudanças
acontecem sobretudo por leis externas, de natureza social. Além disso, pode-se dizer que a
linguagem é uma forma de interação porque promove a interação entre um locutor e um
interlocutor. No momento em que se tem um diálogo, entre duas pessoas ou de uma pessoa
com o texto, há uma troca de informações e enunciação das idéias dos indivíduos. A
expressão transmitida pelos interlocutores, segundo Bakhtin (1992, p. 112), não é organizada
pela atividade mental e transmitida pelo indivíduo para o meio social. Na verdade, o que
ocorre é que as situações ou idéias do meio social são responsáveis por determinar como será
produzido o enunciado/discurso. Desse modo, a formação da expressão depende das
condições sociais, pois são elas que irão interferir em sua formação (o social interfere no
individual para formar a expressão).
Segundo Bakhtin (1992, p. 111), a expressão, que pode ser um texto escrito, é
constituída de dois fatores que devem dialogar um com o outro: o conteúdo e a forma. É
importante ressaltar que os dois elementos destacados devem caminhar juntos, pois é
necessário que em um texto haja tanto um aspecto formal quanto conceitual, não havendo,
assim, a desconsideração de um dos fatores. Geraldi (1993) é um exemplo de autor que
enfatiza a necessidade do conteúdo da produção, não se importando exclusivamente com a
forma do texto porque não há a preocupação com regras gramaticais e grafias corretas, visto
que esses fatores o aluno aprende com o passar dos anos, mas há maior atenção com o que o
estudante quer passar em seu texto (conteúdo).
Em Portos de Passagem (1993, p. 137), Geraldi destaca algumas questões que são
fundamentais no momento da escrita, como: “ter o que dizer” (conteúdo); “uma razão para
dizer o que se tem a dizer” ; “se tenha para quem dizer o que se tem a dizer” . Entretanto, é
preciso ressaltar que esses fatores foram baseados na teoria de Bakhtin (1992, p. 112), que
afirma:
Qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação [por exemplo, a escrita] será determinado pela situação social mais imediata (...) [sendo a enunciação produto da interação entre indivíduos] a palavra dirige-se a um interlocutor, [ela] variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não (...) é preciso supor além disso um certo horizonte social definido e estabelecido que determina a criação ideológica do grupo social. [Grifos nossos]
Observa-se que a produção escrita, por exemplo, é determina pela situação social, pelo
contexto histórico e valores ideológicos da sociedade. Quando um aluno produz um texto
“para a escola” (GERALDI, 1993), ou seja, uma redação, ele está utilizando e cumprindo as
regras da escrita impostas por padrões sociais, como uso de normas gramaticais. Além disso,
o estudante demonstra os conhecimentos adquiridos com o passar dos anos, visto que as
informações que o homem obtém no decorrer de sua vida são ampliadas e não ignoradas.
Segundo Garcez (1998, p. 52), a língua é um produto do trabalho coletivo e histórico, sendo
assim, um meio de interação entre os indivíduos, pois eles trocam idéias e as utilizam
coletivamente, mas sempre colocando o seu ponto de vista.
Diante do fato de a língua promover a interação entre os indivíduos, Bakhtin (1992, p.
113) afirma que a responsável em lançar a “ponte” entre o emissor e o interlocutor é a palavra
que comporta duas faces, pois está determinada tanto pelo fato de que procede de alguém,
como pela razão de que se dirige para alguém. Logo, a palavra é o produto de interação entre
dois interlocutores. A palavra também variará de acordo com o tipo de interlocutor, pois,
dependendo do receptor, as escolhas vocabulares, o uso de informações e o objetivo da escrita
serão diferentes porque a situação que exige a produção, como uma aula, tem papel
fundamental no objetivo da escrita.
Ao partir da noção de que o centro organizador de toda enunciação está situado no
contexto social do indivíduo, é possível se pensar que o representante oficial da sociedade
dentro da escola é o professor. No momento da produção escrita, o mestre pode agir como um
mediador que conduz a situação da escrita, respeita o ponto de vista do aluno e desperta a sua
criticidade através de discussões e trocas de idéias (atividades prévias antes da produção,
gerando a interação). Entretanto, muitos professores, no momento da escrita, trazem para a
sala de aula o seu subjetivismo individualista, fazendo com que os alunos produzam textos de
acordo com a sua imposição social, seu ponto de vista.
Pode-se perceber que a palavra chave da teoria bakhtiana é o diálogo, pois é através
dele que se consegue a interação entre os indivíduos, com o uso da palavra (mediador).
Segundo Garcez (1998, p. 60), a orientação da palavra em função do interlocutor e da cadeia
dialógica sócio-histórica faz com que a questão do destinatário seja destacada. Garcez (1998)
afirma que Bahktin não se recusou a estudar o destinatário que tem tanto a função de quem
recebe a mensagem como também a de quem permite ao locutor perceber seu próprio
enunciado. Sendo o discurso produto direto da enunciação, Bakhtin (1993, p. 115) distingue
dois pólos na relação com um ouvinte/interlocutor: “atividade mental do eu” , que se refere às
decisões que o indivíduo realiza para corresponder às “atividades mentais do nós” , que são
idéias e ideologias sociais que a pessoa deve preencher no momento da escrita. Garcez (1998,
p. 61) buscou explicar e exemplificar da melhor maneira possível as noções de interlocutores
expostas por Bahktin (1993), chegando à seguinte conclusão: o diálogo é uma interação social
entre um locutor (eu/sujeito) e um interlocutor (outra pessoa) que podem trocar idéias,
sugestões e criticarem atitudes, através de um mediador, que pode ser um texto. O “outro”
sobre quem Bahktin (1993) se refere pode ser três diferentes interlocutores: o real, o ideal e o
supraindividual. Para se entender essas classificações, faz-se necessário exemplificar, por
exemplo, se um aluno (locutor/sujeito) produzir um artigo acadêmico, certamente, ele terá que
enquadrá-lo dentro dos padrões estabelecidos pelos interlocutores. No caso do interlocutor
real, esse aluno teria um professor mediador, com o qual tem contato e que o apóia nas
tomadas de decisões e encaminhamentos para novos conhecimentos. O aluno também pode se
deparar com um interlocutor virtual ou “ ideal” (GARCEZ, 1998) que seria a academia que
impõe as regras de produção. Há, também, o interlocutor supraindividual ou “superior”
(GARCEZ, 1998) que se refere ao sistema ideológico brasileiro, ou seja, uma instituição
ideologicamente muito maior que rege as idéias que estarão no texto e possibilitam dizer se o
texto é bom ou não.
Segundo Britto (1997, p. 119), “a presença desse interlocutor no discurso de um
indivíduo não é algo, sem valor. Ao contrário em alguma medida está sempre interferindo no
discurso do locutor (...) um eu não define, por si só, a ação a ser empreendida, é preciso que
ele tenha sua imagem do tu ou que o tu forneça essa imagem”. Bakhtin (1993, p. 113) afirma
que a escrita se dirige para alguém e, por isso, o indivíduo ao escrever deve ter em mente que
seu texto será lido por diferentes sujeitos que podem apresentar níveis de conhecimentos
maiores e menores. Na escola, o aluno escreve sabendo que o seu leitor/interlocutor real será
o professor e, por essa razão, ele tenta preparar o texto de acordo com o que o mestre quer,
para conseguir boa nota, não expressando, assim, o seu próprio ponto de vista e produzindo
uma redação “para a escola” (GERALDI, 1993).
No momento da produção de um texto, por exemplo, o professor pode ser um
mediador, que mostra e aponta as principais informações ou o melhor modo de
desenvolvimento do tema, através de discussões entre os alunos da sala. O que se percebe
nessa atividade é que, em primeiro momento, houve a relação de interação entre os indivíduos
(interpessoal) para que ocorresse a troca de informações e experiências. Após esse momento
de interação, cada aluno produz seu texto (processo intrapessoal), colocando nele seu ponto de
vista pessoal e as informações discutidas com os colegas. Desse modo, observa-se que houve
a transformação de um processo interpessoal (entre pessoas) em um processo intrapessoal
(dentro da pessoa), visto que o indivíduo adquire informações do contexto social e depois as
internaliza em sua mente. Para Vygotsky (1988:63), esse processo de reconstrução interna de
uma operação externa é chamado “ internalização”. Bakhtin (1992, p. 112) permite uma
releitura das concepções de Vygotsky sobre a internalização e fala interna, “a atividade
mental para si” /monologização (GARCEZ, 1998) com orientação voltada para a organização
da ação mental individual, pois ele acredita que não é do interior que se tira a confiança
individualista, mas do exterior. Segundo Garcez (1998, p. 58), Bakhtin crê que mesmo a fala
monologizada preserva um caráter dialógico porque “o mundo interior de cada indivíduo tem
um auditório social próprio bem estabelecido” , pois esse auditório é constituído por idéias,
noções e conceitos que cercam a pessoa externamente, ou seja, a sociedade.
Vygotsky (1988, p. 64) busca explicar como acontece o processo de internalização das
funções superiores, ou seja, atividades mentais que o homem aprende e internaliza com o
tempo, como a escrita. Para que um indivíduo internalize os seus conhecimentos e as
informações adquiridas através da interação, ele deve passar por três processos: pela
reconstrução, pela incorporação das idéias e pela transformação. Vygotsky (1988, p. 64)
afirma sobre a reconstrução: “uma operação que inicialmente representa uma atividade
externa é reconstruída e começa a ocorrer internamente” . A reconstrução pode ser observada,
por exemplo, quando um grupo de estudos discute e troca idéias sobre um texto e,
posteriormente, cada indivíduo reconstrói em sua mente as informações vindas dos colegas,
demonstrando o seu ponto de vista sobre o assunto. Na escola, é possível encontrar um
momento tradicional e um interacionista. Quando há uma atividade tradicional, observa-se,
por exemplo, a leitura de um texto, uma discussão dirigida e a produção logo em seguida; na
atividade interacionista, tem-se a leitura, a discussão interacionista entre os alunos e a
produção não é realizada de imediato.
Quando um estudante é conduzido a atividades que promovam a interação, ele inicia
uma reconstrução de seu modo de pensar, visto que ele é convidado a dar sua opinião ou
criticar. A interação social é um dos fatores que promove a reconstrução interna do indivíduo
e esse amadurecimento do aluno como sujeito é observada na escrita, pois ele passa a ter uma
inteligência prática, isto é, a ter um resultado rápido em suas atividades. Além disso, ele
desenvolve sua atenção voluntária e sua memória porque o aluno é conduzido a fazer seus
trabalhos e refletir sobre a atividade (discute o assunto) e, com isso, ele aprende a parar para
pensar (reflexão) no que irá escrever (uso do conhecimento) de forma voluntária, sem
necessidade de ter alguém para ajudar, construindo um processo interno de interação.
O segundo elemento da internalização é a “ incorporação das idéias” que se refere a
“um processo interpessoal [relação social] que é transformado num processo intrapessoal
[ idiossincrático]” (VYGOTSKY, 1988, p. 64). É possível observar que as funções no
desenvolvimento da criança passam, em um primeiro momento, por um nível social, pois é o
momento no qual há a relação social entre os indivíduos (interpessoal) para depois haver o
desenvolvimento do nível individual (intrapessoal), no qual a criança incorpora o que
aprendeu no social. Um exemplo de incorporação de idéias ocorre com as crianças, porque as
atitudes sociais de interação, como uma conversa familiar, são imitadas por elas que, com
isso, crescem e se desenvolvem de acordo com padrões sociais de discurso.
O modo como são divididos os processos da internalização: reconstrução,
incorporação de idéias e transformação faz com que se pense que essas partes ocorram de
forma rápida. Entretanto, a transformação que diz respeito a conversão da expressão social
para algo individual demonstra que esse processo não ocorre de uma hora para outra, mas que
precisa de tempo de sedimentção antes dos conhecimentos serem internalizados
definitivamente e promoverem o desenvolvimento do sujeito. Na escola, por exemplo, o
professor propõe um tema e promove uma discussão, para depois, solicitar imediatamente a
escrita de um texto. O que se observa é que a produção foi pedida logo após a atividade de
interação e, com isso, não houve tempo de o aluno incorporar as novas idéias e pensar sobre
elas. A atividade de produção deve ser realizada após um período de tempo suficiente para
que os alunos sedimentem as informações adquiridas durante o processo de interação.
Para que se tenha a internalização, é preciso passar pelos estágios de reconstrução,
incorporação das idéias e transformação, pois, no momento em que são atingidos, promovem
o desenvolvimento do indivíduo. Existem muitas pessoas que pensam que a criança só
aprende quando está desenvolvida sua linguagem, entretanto, Vygotsky (1988, p. 95) afirma
que é através da aprendizagem que o indivíduo se desenvolve. Segundo Vygotsky (1988, p.
95-96), existem diferentes níveis de desenvolvimento, como “desenvolvimento potencial”
(individual), “zona de desenvolvimento proximal” (social) e “desenvolvimento real” . O
desenvolvimento potencial é aquele em que a criança consegue realizar atividades sozinha,
como ler um texto. Para Vygotsky (1988, p. 97), “a zona desenvolvimento proximal define
aquelas funções que ainda não amadureceram, mas quem estão em processo de maturação,
funções que amadurecerão [com ajuda do mediador]” . Esse nível de desenvolvimento é
aquele que tem o professor como mediador e que encaminha o aluno ao ensino. O professor
mediador tem seus objetivos de ensino bem definidos e agem de modo a promover a interação
entre seus alunos, fazendo com que haja a aprendizagem do conteúdo e desenvolvimento dos
estudantes. Logo, a zona de desenvolvimento proximal é caracterizada pela presença do
mediador que ensina e promove a interação sala de aula para que ocorra a aprendizagem do
assunto e, conseqüentemente, o desenvolvimento do sujeito. Caso o aluno tenha realmente
aprendido os conceitos passados pelo professor e consiga realizar suas atividades, produzindo
algo que mostre o seu desenvolvimento, ele estará no estágio de desenvolvimento real.
Segundo Vygotsky (1988, p. 101), “o aprendizado organizado resulta em desenvolvimento
mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento” . Quando se tem realmente
um ensino organizado e que propicia a aprendizagem do aluno, observa-se o seu
desenvolvimento; se, por exemplo, o mestre faz uma atividade bem organizada e interessante
para os alunos sobre a confecção de cartões e os ajuda a prepará-los, com certeza as crianças
irão gostar e produzirão os cartões com vontade e demonstrarão o que gostam e pensam na
mensagem que será escrita neles. Após essa atividade, o aluno terá aprendido como se faz um
cartão e, quando for preciso, ele será o primeiro a confeccionar um.
A partir dos conceitos principais vistos nas obras de Bakhtin (1992) e Vygotsky
(1988), é possível retirar como noção central dos autores a idéia de que a internalização de
informações e conhecimentos se dá através de processos como a reconstrução, incorporação
das idéias e transformação. Além disso, Vygotsky (1988) demonstrou que o verdadeiro
desenvolvimento do indivíduo é adquirido através do ensino e do aprendizado de forma
interativa entre professor e aluno.
1.4 A FINALIDADE DA PRODUÇÃO ESCRITA
Bakhtin (1992) conceitua a linguagem como um produto sócio-histórico e
como forma de interação social realizada por meio de enunciações. A língua se modifica de
acordo com as necessidades de comunicação e essas mudanças ocorrem sobretudo por leis
externas, de natureza social. Além disso, pode-se dizer que a linguagem é uma forma de
interação porque promove um diálogo interativo entre um locutor e um interlocutor. Segundo
Bakhtin (1992), a expressão, que é produzida através do diálogo interativo, é organizada pela
atividade mental e transmitida pelo indivíduo para o meio social. Ele acredita que o homem
sofre a influência do meio social em que está e, a partir dos conceitos e regras da sociedade,
produz seu enunciado.
Quando o processo interativo ocorre no contexto escolar, têm como participantes do
diálogo aluno e professor e como resultado desta interação um texto escrito, deve-se observar
se a produção corresponde às questões de escrita elaboradas por Bakhtin (1992) e retomadas,
no Brasil, por Geraldi (1993). Geraldi (1993, p. 137) afirma que para produzir um texto é
preciso que se atente para as seguintes questões: “ter o que dizer” (conteúdo); “uma razão
para dizer o que se tem a dizer” ; “se tenha para quem dizer o que se tem a dizer” . Embora as
três questões influenciem muito na escrita do aluno, esta seção teórica objetiva analisar a
questão da finalidade da escrita, pois muitos estudantes ao escreverem não vêem um objetivo
para a atividade, produzindo, assim, um texto para a escola e tendo como único interlocutor o
professor.
Ao se estudar a teoria de Bakhtin (1997, p. 289), um ponto de interesse são as
variantes das funções comunicativas da linguagem. É comum na escola o aluno aprender o
esquema da comunicação que se constitui do papel do locutor, do receptor, da mensagem, do
canal etc., porém, para Bakhtin, esse esquema pertence à lingüística tradicional, na qual o
locutor é visto isoladamente, sem uma relação com os outros parceiros da comunicação
verbal. O destinatário/receptor, em uma visão tradicional, é passivo, ou seja, não responde as
“questões” do locutor e busca somente compreendê-lo. Este esquema não representa “o todo
real da comunicação verbal” (BAKHTIN, 1997, p. 290), pois não há um diálogo entre os
interlocutores e somente o locutor fala. A partir disso, Bakhtin (1997) busca um novo nome
para a função do destinatário, porque acredita que a nomenclatura “receptor” relaciona-se
apenas com a questão da interlocução, isto é, o interlocutor fica atento somente em produzir o
material falado para o outro responder, não observando, assim, o seu “outro interno” , com o
qual deve conversar antes de expressar o que pensa. Logo, vê-se que Bakhtin (1997) deseja
que aquele que recebe o enunciado do locutor tenha a denominação de “outro” , pois será
responsável em ter tanto um processo interpessoal, quanto intrapessoal e conseguirá responder
ativamente ao locutor.
Segundo Bakhtin (1992, p. 60), o “outro” pode ser externo ou interno. O “outro
externo” refere-se a interlocutores pertencentes ao contexto social do indivíduo (interlocução)
e podem apresentar-se sob três formas. O primeiro tipo de interlocutor é o “real” , ou seja, ele
tem uma imagem física e está presente durante o processo dialógico; em uma situação escolar,
é possível dizer que esse interlocutor é o professor, com o qual o aluno tem um contato face a
face. O segundo interlocutor é o “ ideal/virtual” , que tem sua imagem construída pelo aluno.
Por exemplo, em um contexto de concurso vestibular, o interlocutor virtual do aluno é a banca
examinadora que é responsável por ler o que foi produzido e atribuir uma avaliação. Desse
modo, o aluno escreve um texto para alguém que não conhece, mas tem consciência de que
esse interlocutor já traçou algumas regras de produção que devem ser seguidas para que se
tenha um bom texto. Logo, observa-se que mesmo não havendo a presença física desse
interlocutor, ele interfere diretamente na escrita do aluno, pois os estudantes escrevem com o
intuito de agradar a banca e, conseqüentemente, serem aprovados. A terceira forma de
interlocutor é o “supraindividual/superior” , que se refere a um representante oficial
responsável por constituir padrões e regras que serão respeitados no meio social. No exemplo
do concurso vestibular, o interlocutor superior é a universidade que impõe seus padrões e faz
com que o aluno os siga ao escrever seu texto. Segundo Bakhtin (1992, p. 112), o indivíduo
possui dentro de si um “auditório social” definido que rege todo o momento de sua escrita,
fazendo com que o aluno escreva seguindo os parâmetros sociais. É necessário atentar para os
padrões da instituição para a qual se escreve para que o texto seja aceito, porém, o aluno não
pode deixar de expor o seu pensamento e sua posição sobre o assunto, permanecendo preso às
idéias do texto-apoio e produzindo apenas a cópia do proposto pela instituição. O estudante
pode utilizar as informações da prova do vestibular, mas também, deve se posicionar e
demonstrar o que pensa sobre o assunto. Sobre esta questão, Garcez (1998, p. 77) afirma que
a noção de autoria, nos textos dos alunos, é difusa, porque ao escrever o estudante realiza uma
imitação dos textos lidos e dos comandos, não demonstrando, assim, sua opinião sobre o
assunto e não produzindo um texto com sua autoria.
A questão da autoria é estudada por Oliveira (2004, p. 12) que afirma: “a função-autor
se instaura na medida em que o produtor de linguagem assume a origem daquilo que
diz/escreve e estabelece subjetiva e ilusoriamente a unidade, coerência e fim de um texto” . O
produtor de um enunciado demonstra sua autoria no instante em que assume aquilo que
expõe, demonstrando sua subjetividade e seu modo de perceber o assunto abordado. Para
Evangelista (1998, p. 47-48), atividades como ler, falar e escrever apresentam de algum modo
a subjetividade do autor, demonstrando as marcas de sua história de vida, seus gostos pessoais
e as representações de cada sujeito sobre a situação de interlocução. Embora haja essa idéia de
que ao escrever o individuo expõe seu modo de ver os fatos, Garcez (1998, p. 52), ao estudar
Bakhtin, afirma que “nossa fala, isto é, nossos enunciados, está repleto de palavras dos
outros” , tudo que é produzido não nasce no momento em que se escreve, mas sim, das
relações entre textos e discursos já ditos. É por esse motivo que Oliveira (2004) acredita que o
autor assume o que escreve ou diz,estabelecendo ilusoriamente a unidade daquilo que produz,
uma vez que faz uso da palavra do outro. Bakhtin (1992, p. 112) expõe que “qualquer aspecto
da expressão, enunciação, ele será determinado pelas condições reais da enunciação em
questão, isto é, antes de tudo pela situação social” , vê-se que os enunciados produzidos
refletem e são marcados pelos discursos dos outros, fazendo com que, muitas vezes, não haja
a presença da opinião do autor. Além disso, é a situação social que determina a expressão e a
ideologia do grupo social, promovendo, assim, a escrita de algo que se molda de acordo com a
situação social do período, com os interlocutores envolvidos nesse contexto, com os objetivos
da atividade etc. Diante desse quadro, Oliveira (2004, p. 44) afirma que há um
“assujeitamento à própria linguagem”, pois os indivíduos têm de aceitar as possibilidades
históricas e simbólicas da língua. Para o autor é do assujeitamento que surgem as
oportunidades de subjetivação, “é do repetível (já dito) que advém o deslocamento para o
inesperado” (OLIVEIRA, 2004) e para a transformação. Tem-se nas práticas de textualização
o “ já dito” , todavia pode haver a ruptura dessas idéias, na medida em que o individuo
encontra no texto termos que promovam novas interpretações adicionando, ainda, o uso de
exemplos da vida do autor que auxiliam na explicação dos assuntos, rompendo com as
formações discursivas já expostas, evidenciando a sua autoria.
Ao se considerar as noções de interlocutor e de autoria, é possível remetê-las à questão
da finalidade da escrita, visto que estão relacionadas. Quando o aluno recebe uma proposta de
produção de texto, tenta observar e identificar no enunciado qual é a finalidade de sua escrita
e para quem irá escrever; no momento em que ele não encontra um motivo para realizar a
atividade e tem como único interlocutor, já marcado, o professor, provavelmente, tentará
seguir os comentários e idéias estabelecidos pelo mestre a respeito do assunto, com o intuito
de ganhar nota. Desse modo, o texto do aluno tem uma finalidade artificial, uma vez que
produz para atender ao solicitado e para alcançar uma pontuação. Constatou-se que os textos
produzidos são compostos por idéias já ditas, porém para que se tenha a autoria, espera-se que
o individuo vá além do que já foi exposto, trazendo para sua escrita marcas pessoais e relação
das idéias do texto com sua realidade. Quando o estudante escreve expondo no papel o
discurso do professor sem nenhuma contribuição para que surja algo inesperado, diz-se que
não há autoria, visto que esta refere-se aos sinais visíveis do autor na produção. Garcez (1998,
p. 111-113) demonstra algumas atividades de produção com bons conteúdos e tendo como
interlocutor do aluno não só o professor, mas, também, o colega de classe. Quando a criança
produz, sabendo que seu companheiro de sala irá ler, a escrita flui naturalmente, pois não está
pressionado a escrever segundo o que o professor deseja e pode expor o que pensa. No
momento em que os alunos conversam sobre a produção, o texto é o mediador dessa
interação, responsável em proporcionar aos estudantes o seu crescimento como indivíduos
críticos, visto que o autor se desloca dessa posição, tornando-se um leitor crítico de seu texto
junto com o companheiro de classe. Assim, a escrita deixa de ser algo destinado apenas para a
escola e começa a ser vista como um meio de crescimento e amadurecimento do aluno dentro
do contexto escolar.
O “outro interno” é aquele que vê não só a questão da interlocução (diálogo externos),
mas também, o indivíduo que se preocupa com a interlocução, ou seja, dialoga consigo
mesmo. O que ocorre é uma “atividade mental para si” (BAKHTIN, 1992, p. 116), a
“ internalização” (VYGOTSKY, 1988) dos assuntos externos (sociais) para o interior do
indivíduo. Desse modo, pode-se afirmar que o outro, seja interno ou externo, comporta os três
elementos da internalização vistos na teoria de Vygotsky (1988, p. 64), pois, quando recebe a
fala de seu locutor, ele a retém para si, constrói seu enunciado e o expressa. Assim, há a
transformação de um processo interpessoal em intrapessoal. No processo de internalização
ocorrem três fatores: a reconstrução acontece após o processo interativo, quando o aluno
inicia a reelaboração das suas idéias; posteriormente, há a incorporação das informações, ou
seja, o aluno transforma um processo interpessoal em intrapessoal e o último fator é a
transformação, quando ele incorpora os conhecimentos adquiridos pela interação, observando
e alterando a sua opinião sobre algo, para manifestá-la a um interlocutor, externo.
Para esclarecer a questão do “outro externo” e do “outro interno” , é possível fazer uso
de um exemplo simples. Um aluno que recebe sua redação com vários apontamentos do
professor e se interessa em saber quais foram os problemas cometidos, dialogando consigo
mesmo, verificando que seu texto poderia melhorar, é um indivíduo que conseguiu
desenvolver o “outro de si mesmo”/ “outro interno” , pois reflete consigo sobre sua escrita. No
entanto, o estudante que não possui o amadurecimento como autor, provavelmente, ao
analisar seu texto, não o olha e não se preocupa com as informações do professor, visto que
este aluno preocupa-se apenas com o “outro externo” , que pode ser o professor ou a escola,
dos quais deseja ganhar nota pelo trabalho. No momento em que o aluno consegue ver-se
como sujeito de seu próprio texto, reflete sobre o que irá escrever e demonstra em sua
produção as informações adquiridas durante o processo interativo, é possível afirmar que se
tem um sujeito que amadureceu em sua escrita. Entretanto, é difícil um professor se deparar
com esse tipo de aluno porque, geralmente, nas escolas, não se promove o desenvolvimento
de um sujeito ativo, mas sim, de um aluno passivo que concorda com o discurso do professor.
Por esse motivo, a escola deve promover aos alunos momentos de interação, nos quais o
sujeito possa expor seus pensamentos e idéias como resposta ao seu interlocutor e não apenas
agir como um mero ouvinte do enunciado do mestre e dos outros indivíduos.
Ao se dizer que o aluno deve responder ativamente ao que o interlocutor diz, remete-se
à teoria de Bakhtin (1997, p. 290) que afirma: “o ouvinte que recebe e compreende a
significação de um discurso adota para com este discurso uma atitude responsiva ativa: ele
concorda ou discorda, completa, adapta etc.. A compreensão de uma fala, de um enunciado, é
sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa” . O locutor, ao falar algo para o
ouvinte, deve saber que o outro, primeiramente, irá compreender o enunciado para depois
realizar sua atitude responsiva ativa que é a resposta dada ao enunciado do locutor. O aluno
que se depara com um comando de escrita no livro didático deve primeiro compreendê-lo e,
posteriormente, expor seu texto, demonstrando se entendeu ou não o que foi pedido. O que se
observa é que antes de se ter a resposta ativa do outro é preciso que haja uma compreensão
responsiva (prepara-se para dar a resposta). Esta pode realizar-se de três modos: o primeiro é
a “compreensão responsiva ativa” (BAKHTIN, 1997, p. 291), que se refere ao momento em
que, o sujeito compreende o enunciado do locutor e responde ativamente, segundo as
expectativas dele, pois o locutor, ao produzir, já pensa na resposta do outro e espera que ele
haja ativamente, “não desejando reduplicação do pensamento já expresso” (BAKHTIN, 1997,
p. 291). Quando o professor prepara um comando de escrita, após discussão do tema com os
estudantes, já tem em mente o que deseja ver na produção, esperando que o aluno o
compreenda e responda ativamente. Assim, o aluno que identifica e compreende a finalidade
do enunciado consegue responder ativamente ao pedido, expondo seus pensamentos no texto
e se posicionando como sujeito.
O segundo modo de compreensão é a “passiva” (BAKHTIN, 1997, p. 291), na qual o
aluno não compreende o enunciado e, conseqüentemente, não responde ativamente ao que foi
solicitado. O estudante que não compreende o comando também não vê uma finalidade para
escrever e, com isso, produz um texto que reduplica a opinião do professor ou as informações
que estão no livro didático, sem qualquer marca de autoria. Logo, esse aluno não está se
constituindo como um leitor crítico diante do que lê, mas sim, como reprodutor do que é dito
em sala. Em O texto na sala de aula, Geraldi (1997, p. 129) expõe um texto-exemplo que
retrata esta questão da compreensão responsiva passiva. Eis o texto:
A casa é bonita. A casa é do menino. A casa é do pai. A casa tem uma sala A casa é amarela.
Geraldi não demonstra o comando de produção da redação do aluno, mas é possível
pensar que ele solicitaria a escrita de um texto sobre sua casa ou de alguma gravura
correspondente. O interlocutor desta atividade – o professor – possivelmente, tinha um
objetivo para essa produção e esperava que o aluno respondesse ativamente ao que foi pedido,
ou seja, ele poderia ter exposto no texto sua convivência em sua casa, dizer se gostava dela e
quem morava com ele, demonstrando, assim, suas marcas pessoais, isto em uma visão
sociointeracionista. Entretanto, vê-se que o aluno não soube articular as idéias e não
conseguiu expor suas marcas pessoais e seus gostos (subjetividade), realizando, apenas, a
descrição de sua casa, numa nítida visão tradicional de produção de texto. Nessa redação, a
criança mostrou ao mestre que sabe escrever as palavras corretamente, usou pontuação e não
apresentou erros gramaticais, todavia não expôs um conteúdo de resposta ao comando e não
demonstrou uma atitude compreensiva ativa. Provavelmente, o aluno iniciou seu processo de
escrita, baseando-se em vocábulos e frases isoladas, como ficou evidente no texto e teve como
mediador dessa aprendizagem estrutural um livro didático que segue essa concepção
tradicional de ensino. Logo, o aluno não trabalhou com questões relacionadas a textos com
bom conteúdo e que fizesse a criança refletir sobre determinado assunto. A pergunta que
surge em mente, ao se verificar a teoria sobre a compreensão responsiva, refere-se ao fato de
que a escola deseja formar alunos críticos, que tenham uma compreensão e uma resposta
ativa, que sejam sujeitos ativos e não assujeitados. Porém, possui como subsídio para a
formação desses indivíduos livros didáticos que trabalham com exercícios estruturais e com
atividades de compreensão de texto elementares, nas quais a criança só deve extrair do
enunciado a resposta, de maneira passiva. Será possível formar alunos pensantes, utilizando-
se tais materiais de ensino? Acredito que não, mas enquanto os livros didáticos não são
desenvolvidos e melhorados, cabe ao professor/mediador trabalhá-los da melhor forma para
que haja um crescimento e amadurecimento do indivíduo dentro da sala de aula. Além disso,
para que ocorra um melhor aproveitamento dos exercícios do livro didático, é preciso que o
professor tenha uma boa formação acadêmica, pois, assim, poderá alterá-los e adaptá-los, em
função dos alunos com quem trabalha.
O último modo de compreensão é a “muda” (BAKHTIN, 1997, p. 291), muito
diferente da passiva. Neste caso, o aluno compreende o enunciado, mas guarda para si as
idéias e opiniões que poderão ser expressas posteriormente em um texto. A compreensão
responsiva muda é essencial para a escrita, pois deve haver um tempo de sedimentação/
“ internalização” (VYGOTSKY, 1988) do assunto para que depois o aluno consiga escrever e
expor seus pensamentos. Na compreensão responsiva muda, o aluno interage com o
professor, com os colegas e inicialmente reconstrói suas idéias a respeito do assunto; com o
passar do tempo, o indivíduo transforma o processo interpessoal em intrapessoal, pois começa
a refletir sobre o que ouviu e sobre o que pensa e, por último, transforma seu ponto de vista,
utilizando o discurso dos outros e demonstrando o que pensa em uma produção escrita,
exteriorizando as vozes do seu discurso no texto produzido. Ao se pensar em compreensão
responsiva, remete-se, logo, às questões relacionadas à língua portuguesa, porque é muito
comum nos exercícios a presença da palavra compreensão, por exemplo, “compreensão de
texto” . Porém, é possível se verificar o estudo da compreensão responsiva em todas as áreas
de estudos escolares. Ao se observar um aluno de Ensino Médio realizando um exercício da
disciplina, vê-se que o grande problema para se chegar à resposta não é a elaboração do
cálculo, mas sim, a leitura e a compreensão do enunciado. Neste caso, o aluno não irá
apresentar uma compreensão responsiva ativa porque não apresenta de imediato uma resposta
ativa, visto que, primeiro, deverá refletir sobre o que leu e só depois realizará o cálculo.
Também, não há uma compreensão responsiva passiva, pois o aluno irá buscar entender o
problema para resolvê-lo. Diante disso, é possível dizer que haverá a compreensão responsiva
muda, uma vez que o aluno deve ler, refletir consigo mesmo e depois expor o que pensa sobre
o que leu. Entretanto, o que se vê, normalmente, nos alunos, é a falta de reflexão sobre o que é
lido, não havendo uma leitura reflexiva do exercício, visto que ela ocorre de forma rápida,
fazendo com que não haja a compreensão. O professor, ao se deparar com alunos que não
conseguem compreender o que lêem, deve se posicionar como um mediador que auxilia na
leitura e na compreensão, possibilitando ao aluno responder ativamente o exercício. Caso o
mediador demonstre o caminho da aprendizagem e da compreensão para o estudante, aos
poucos ele irá apresentar um amadurecimento em sua formação como leitor, conseguindo
compreender o enunciado e tendo uma resposta para o problema.
A partir do exposto até aqui, viu-se que a comunicação humana advém do processo
interativo/dialógico entre o locutor e o outro que produzem seus enunciados. Para Bakhtin
(1997, p. 293), os enunciados possuem fronteiras determinadas pela alternância dos sujeitos
falantes, pois o locutor produz e expressa seu enunciado e o outro responde e passa a palavra
novamente. Além disso, “todo enunciado comporta um começo absoluto e um fim absoluto”
(BAKHTIN, 1997, p. 294), porque ao passar a palavra ao outro é o fim do enunciado do
indivíduo e o início do enunciado do outro (há uma transferência da palavra).
Segundo Bakhtin (1997), outro elemento que caracteriza o enunciado é o seu
acabamento. Para ele, “o primeiro e mais importante dos critérios de acabamento do
enunciado é a possibilidade de responder – mais exatamente de adotar uma atitude responsiva
com ele” (p. 299). Logo, em um processo interativo, a atitude responsiva pode ser externa,
quando se escreve para que as pessoas vejam as idéias do autor e possam apresentar uma
compreensão e uma resposta e, também, pode haver uma atitude responsiva interna, quando a
pessoa conversa consigo mesma sobre o texto que produziu. Segundo Bakhtin (1997, p. 299),
essa totalidade acabada do enunciado, que permite a possibilidade de responder, é
determinada por três fatores, a saber: “tratamento exaustivo do objeto do sentido” ; “o intuito,
o querer-dizer do locutor” e as “ formas estáveis do gênero do enunciado” .
O primeiro fator é o tratamento exaustivo do tema do enunciado, isto é, ter o que dizer
sobre um determinado tema (um conteúdo a ser expresso). Segundo Bakhtin (1997, p. 300),
“quando o objeto se torna tema de um enunciado, recebe um acabamento relativo, em
condições determinadas, em função de uma dada abordagem do problema, do material, dos
objetivos por atingir” . Quando o objeto se torna o tema de um texto, ele recebe um
acabamento relativo porque o material escrito que será produzido é determinado por vários
fatores, como contexto de produção, abordagem do assunto etc., fazendo com que o tema, que
poderia ser bem mais trabalhado e discutido, ficasse restrito. Por exemplo, em uma redação de
concurso vestibular, a situação de produção é definida, o modo como o texto deve ser
realizado é descrito pelo texto-apoio e o aluno já tem um objetivo para sua produção que é
escrever o enunciado e ser aprovado através dele. Segundo Sercundes (1997, p. 78), o aluno
que concebe a escrita como um registro que valerá nota e como um produto de correção que
leva à premiação faz com que ela seja vista apenas como conseqüência, ou seja, o estudante é
aprovado porque fez um bom texto escrito. A partir do momento em que o indivíduo deseja
escrever seu texto, tratando exaustivamente do tema, traz para a produção outros discursos,
realizando, assim, uma dialogia com outros enunciados e não ficando preso, ao conteúdo do
texto de apoio, deixando marcas, inclusive, de sua autoria.
A presença da finalidade em um exercício de produção é fundamental, uma vez que é
a partir dela que se tem a escrita de um texto formador de sujeitos (produção de texto) ou de
assujeitados (redação). Quando se tem um enunciado que somente solicita a produção textual
sem fornecer novas idéias sobre o assunto a ser abordado, sem promover a reflexão do aluno
sobre o tema e sem uma finalidade marcada para que o aluno tenha um “por que escrever” ,
diz-se que essa finalidade é artificial. Esta não promove a interação do aluno com o texto e,
geralmente, faz com que o estudante reporte para o seu texto as palavras do professor sobre o
assunto, uma vez que não encontrou uma finalidade para a escrita. Assim, o aluno utiliza um
discurso já-dito, mas não expõe em nenhum momento sua opinião e não se posiciona durante
a escrita, marcando uma nulidade de autoria. O interlocutor real, nessa produção, é o
professor que influencia a escrita, pois como o indivíduo não tem uma finalidade definida,
acredita que deve escrever para o professor ler e para adquirir uma boa pontuação, escrevendo
uma redação para a escola, que se aproxime ao máximo do discurso do mestre que é
considerado “culto e certo”. A finalidade artificial faz com que o aluno negue suas idéias seja
influenciado pela imagem do interlocutor, fazendo com que escreva um texto repleto de
palavras já-ditas, não expondo sua autoria e se posicionando como um assujeitado que não
escreve pensando em seu desenvolvimento, mas apenas para cumprir o solicitado pela escola.
O problema com a finalidade artificial ultrapassa os alunos e chega ao professor, que
também pode ter dificuldades no momento de trabalhar com os exercícios do livro didático.
Embora haja a presença marcada de um objetivo para a escrita no material didático do
professor, vê-se que fica restrito, geralmente, ao contexto escolar e ao papel do professor,
demonstrando, assim, uma finalidade artificial, contudo ainda é uma finalidade . O professor,
antes de trabalhar com o exercício deve lê-lo e refletir sobre o que solicitado, pois, caso veja
que o aluo não irá encontrar uma finalidade para escrever, pode tentar melhorá-lo para que o
estudante não tenha a idéia de que escreve somente como uma obrigação da escola, mas que
através da escrita há o seu desenvolvimento, já que ao escrever o aluno expõe o que pensa,
reflete e pode discutir com os companheiros de sala os seus pontos de vista.
A finalidade que realmente pode auxiliar na escrita do aluno está marcada no texto e é
responsável por incentivar o indivíduo a refletir e a questionar o que será exposto no papel. A
partir dela, o estudante acredita ter um motivo para escrever, pois consegue desenvolver novas
idéias e pensar sobre os princípios em que acreditava, construindo, assim, um texto baseado
naquilo que ouviu, uma vez que o discurso é repleto de outras, porém trazendo para o papel
seu posicionamento a respeito do assunto, utilizando exemplos demonstrando suas marcas
pessoais. Neste caso, tem-se um texto na escola e há a produção de texto, já que tanto o
professor quanto o aluno conseguem observar um porquê de escrever, promovendo, assim, a
interação entre eles e entre o contexto social que é trazido para a sala de aula pelo aluno. A
partir do momento a partir do momento em que o indivíduo se vê diante de um enunciado de
produção e se pergunta “por que escrever?” , tem-se a ação do exercício/do outro sob o aluno
que constrói seus pensamentos e idéias sobre o assunto que irá abordar. É esta ação entre os
interlocutores que constrói o sujeito que sabe por que escreve e busca argumentos para
demonstrar sua opinião. Sabe-se que a produção de texto é marcada em condições escolares
como algo artificial, pois, dificilmente, o aluno tem a possibilidade de expor o que acredita, o
interlocutor é marcado, a finalidade é sempre ocupar o espaço em branco do papel, todavia é
preciso amenizar esses traços, promovendo ao aluno atividades escritas que se desvinculem
ou amenizem esses fatores, para que o aluno não veja a produção de texto como uma
obrigação e como um recurso de avaliação, mas sim, como um espaço no qual possa se
posicionar, defender suas opiniões e se desenvolver como um sujeito ativo no mundo social
em que vive.
O segundo elemento responsável pela totalidade acabada do enunciado é o “ intuito
definido pelo autor” (BAKHTIN, 1997, p. 300), isto é, a finalidade da escrita. Segundo
Bakhtin (1997, p. 300), independente do tipo de enunciado, o interlocutor capta, compreende
e sente o intuito discursivo ou o querer dizer do locutor. O intuito do autor deve ser
reconhecido pelo leitor externo durante a leitura e caso não haja marca de finalidade,
evidencia-se que o autor não tinha um objetivo de escrita definido. Nos livros didáticos, a
finalidade do exercício, muitas vezes, não vem marcada, fazendo com que o aluno não saiba
porque escreve. Porém, há casos em que a finalidade da escrita está presente nos enunciados,
mas de uma forma superficial, isto é, o assunto e a proposta não são expostos de maneira clara
e nem são explicados detalhadamente de forma que o aluno não veja uma função
comunicativa para seu texto, a não ser cumprir o solicitado. A produção resultante desse tipo
de exercício apresenta um tratamento superficial do tema e falta de posicionamento do autor,
pois não há uma finalidade para cumprir o objetivo presente no comando que, é a produção. O
intuito de um texto deve ser reconhecido tanto pelo leitor externo como também pelo leitor de
si próprio, ou seja, o indivíduo se desloca da posição de autor e se constitui como leitor de seu
próprio texto, observando se conseguiu transmitir o assunto, segundo o que desejava e
atentando para a finalidade de sua escrita. Ao produzir seu texto, o indivíduo apresenta suas
idéias a respeito de uma temática, que devem estar de acordo com o objetivo traçado antes do
início da produção. É muito comum, o estudante não ter um objetivo para escrever,
produzindo, assim, uma redação que será avaliada pelo professor. Segundo Charolles (apud
Val, 1991), um texto coerente deve progredir pela soma de novas idéias, todavia o que ocorre
em muitas produções, é a repetição de idéias e retomada de elementos já apresentados. Isto se
deve principalmente a não presença de uma finalidade para a escrita, pois, quando não se sabe
para que se escreve, as idéias não surgem e o texto apresenta informações superficiais, ou
seja, copiadas do comando de produção ou das palavras do professor, sem nenhum
posicionamento do estudante.
Segundo Bakhtin (1997, p. 300), “esse intuito determina a escolha do objeto [tema]
com suas fronteiras, vai determinar a escolha da forma do gênero em que o enunciado será
estruturado” . Logo, observa-se que, o objetivo que o aluno possui para a produção de um
texto, torna-se um elemento essencial para como o tema será trabalhado e ampliado no
decorrer da escrita. Quando o aluno tem um exercício de produção textual com o tema
violência, por exemplo, deverá restringir o assunto, isto é, falar sobre violência no lar ou nas
ruas e selecionar informações vinculadas a essa situação para que alcance seu objetivo e
consiga persuadir o leitor sobre o que está escrevendo. O autor, antes de produzir seu texto,
escolhe um gênero; embora, existam diversas formas de gênero como: revista, televisão etc., a
escola considera como sendo gênero os textos narrativos e dissertativos, fazendo com que o
aluno escreva dentro de padrões. O maior problema em relação ao gênero é a questão da
incompatibilidade com o intuito desejado. Nos comandos de produção escrita do livro
didático, o gênero é escolhido pelo autor do livro e, muitas vezes, não é compatível com a
finalidade atribuída para a escrita. Por exemplo, quando um exercício solicita ao aluno um
texto dissertativo sobre acontecimentos de sua vida, vê-se que o gênero não é adequado
necessariamente, pois o aluno, ao montar seu texto, está narrando fatos e não dissertando.
Logo, é importante que o professor veja o intuito do exercício e qual o gênero escolhido,
porque ele deve agir como um mediador que auxilia na aprendizagem e no desenvolvimento
da escrita do aluno.
Segundo Bakhtin (1997, p. 300), “os parceiros de uma comunicação, conhecedores da
situação e dos enunciados anteriores, captam com facilidade e prontidão o intuito discursivo,
o querer dizer do locutor” . A enunciação ocorre em um contexto, no qual os parceiros dessa
comunicação são conhecedores da situação, das intervenções e dos conhecimentos anteriores.
Quando, em um diálogo, uma pessoa diz para a outra “Vamos lá!” e esta responde, é porque
os interlocutores já se conheciam e já tinham uma finalidade marcada. A finalidade considera
esse momento de enunciação e o professor, ao trabalhar a escrita com o aluno, deve mostrar
que, enquanto em uma conversa o outro sabe a finalidade do que é dito, em um texto escrito
isto não ocorre com transparência, pois a produção é realizada para leitores que o aluno nem
sempre tem contato. Assim, a finalidade no texto escrito deve ser bem marcada para que o
leitor a perceba, na situação escolar, já que no cotidiano da sociedade isto é naturalmente
realizado.
Para Bahktin (1997, p. 300), o intuito (elemento subjetivo) entra em combinação com
o objeto do sentido (objetivo) para formar uma unidade indissolúvel. Logo, a partir da junção
do subjetivismo do indivíduo com o objetivo geral da escrita, forma-se o enunciado (unidade
indissolúvel). Embora, o intuito deva apresentar as marcas individuais do indivíduo, o que se
constata nos textos dos alunos é a falta de posicionamento e expressão de seus pontos de vista.
Talvez, a falta de presença da opinião do estudante ocorra em razão do não reconhecimento
do objetivo e da finalidade do exercício, fazendo com que escreva algo que reporte às idéias
vistas na escola somente para ganhar nota.
Para se constituir uma unidade indissolúvel (texto/enunciado), são necessários alguns
fatores. O primeiro deles é a relação do texto com a situação concreta da escrita, ou seja, o
aluno escreve segundo a realidade em que está. Por exemplo, em uma situação de concurso
vestibular, a pessoa considera o momento de sua escrita, podendo expor elementos do
comando de produção e demonstrar sua opinião sobre o tema ao escrever seu texto. Outro
fator importante é a marca de circunstância individual, isto é, a idiossincracia. O aluno pode
expressar na escrita os seus próprios sentimentos, como raiva, indignação, aceitação do que é
exposto, sua visão e posicionamento sobre o assunto. Se, por exemplo, ele escreve num dia
que está bem, isto se refletirá no texto. Esse fator pode se relacionar com as intervenções
anteriores que o produtor presenciou antes de produzir, pois, no momento da escrita, levam-se
para o texto os fatos que aconteceram na vida do autor e as vozes dos outros indivíduos. Logo,
percebe-se que entre a palavra do outro e a palavra do eu não há separação, pois tudo que se
fala surge nos enunciados dos outros indivíduos em formas diversas. Durante a escrita, tem-se
a intervenção do outro externo, mas é preciso haver também a presença do outro de si mesmo,
porque o indivíduo deve ler o seu texto e perceber se há a presença do objetivo desejado e as
informações necessárias sobre o tema.
Nesta seção, viu-se que para construir um enunciado é preciso de fatores como:
situação concreta, circunstâncias individuais, parceiros individualizados; intervenções
anteriores. Porém, para que haja esses fatores no momento da escrita são necessários: a
compreensão do aluno sobre o objetivo do enunciado e a explicação do que a atividade deseja.
Com o intuito de exemplificar e apresentar as questões destacadas, pode-se criar um
enunciado de produção textual que, imaginariamente, está num livro didático de língua
portuguesa. O exercício de escrita tem como solicitação a produção de um texto sobre “As
férias na praia” . Porém, na região geográfica de produção do texto, no caso de Maringá-Pr,
não existem praias; a partir disto, o aluno que nunca conheceu o lugar marcado pelo
enunciado não identifica uma finalidade real para escrever e não sabe aonde chegar,pelo
menos em relação à viagem à praia. O aluno não conhece uma praia em razão do espaço
geográfico onde vive, ele apenas aprendeu algo em sala e, por isso, provavelmente, irá
relembrar algumas histórias para tentar concluir o texto. Desse modo, verifica-se que a
“situação concreta” (BAKHTIN, 1997, p. 300) da produção é a sala de aula; o “parceiro
individualizado” desse texto é o outro externo (professor), pois o aluno faz de tudo para
construir seu enunciado e mostrar que sabe ler e escrever, não produzindo algo que será lido e
avaliado pelo outro interno (por si mesmo). Na escola, o aluno não é incentivado e ensinado a
ser o leitor crítico de seu texto porque, na maioria das vezes, os professores não trabalham
com uma concepção interacionista de ensino que promova o desenvolvimento e o
amadurecimento do aluno como autor e leitor crítico de suas produções. O que pode tornar
esse texto interessante é a presença do discurso do professor na escrita do estudante,
mostrando que um enunciado é constituído por vozes. Todavia, a voz do professor pode ser
empregada de formas diferentes, sendo vista como uma fonte para a escrita de um texto
imaginário que demonstre as idéias do aluno e seu posicionamento, ou para a plena
reprodução do discurso do mestre. Desse modo, é muito difícil trabalhar com um exercício
que não apresente correspondência real com o indivíduo, pois ele não encontra um objetivo
para sua escrita e produz uma redação “para a escola” (GERALDI, 1997).
Segundo Bakhtin (1997, p. 301), o intuito discursivo do locutor, que é marcado por
sua individualidade e subjetividade, adapta-se e ajusta-se a um gênero escolhido (“ formas
estáveis do gênero do enunciado”- BAKHTIN, 1997). Tudo que o locutor vai expressar será
adaptado em razão do outro, por isso, dentro da sala de aula, o professor deveria verificar qual
será o gênero escolhido para o seu discurso, dependendo do grau de formação do aluno. O
meio social e o outro interferem na construção do enunciado do indivíduo, já que dependendo
dos conhecimentos e da intimidade existentes entre eles, o diálogo se constituirá.
Ao se estudar a teoria bakhtiniana, verifica-se a importância atribuída à concepção
interacionista de linguagem responsável pela formação de alunos com comportamentos de
sujeitos ativos diante de seus textos, porque aprendem a refletir sobre o que será dito. Embora
essa abordagem de produção seja a mais produtiva para o amadurecimento dos alunos como
escritores, existem materiais de ensino que ainda seguem os princípios tradicionais. O livro
didático é o objeto de estudo utilizado para o ensino de língua portuguesa nas escolas,
entretanto, ele segue os padrões normativos da linguagem, deixando de propiciar a interação e
a aprendizagem por parte do aluno.
Com base nos estudos de Bakhtin (1997), Val (2003, p. 133) realizou a análise de
exercícios de produção de textos em livros didáticos do Ensino Fundamental, demonstrando
que “em mais da metade das coleções, as propostas não indicam objetivos [para que se
escreve] para a elaboração textual” . A partir disso, o aluno passa a ver a escrita como um
meio, apenas, de atender o professor e alcançar uma boa nota, produzindo, assim, um texto
“para a escola” , ou seja, “uma redação” (GERALDI, 1993). Outro ponto, destacado por Val
(2003, p. 113), é que os exercícios de produção textual não contemplam um destinatário e
projetos de exposição das atividades. O estudante tem como interlocutor de seus textos o
professor que, na maioria das vezes, apenas corrige o texto, não incentivando a reelaboração
da escrita e sua melhor construção. Além disso, o aluno parece não ter um incentivo para
escrever, pois sua escrita fica restrita ao ambiente escolar, não chegando à sociedade. Caso o
texto do aluno fosse exposto em uma semana cultural, por exemplo, provavelmente, ele
tentaria produzir algo com mais qualidade. Segundo a autora (2003, p. 142), na escrita
“raramente se menciona a possibilidade de uso de qualquer variedade, adota-se a modalidade
padrão formal” . O livro didático e o professor se preocupam com a estrutura formal do texto,
como letra, parágrafo e pontuação, não se preocupando com o conteúdo a ser expresso.
A partir do exposto, verifica-se que a questão da finalidade é de extrema importância
no momento da produção, pois, dependendo de qual o objetivo que o aluno demarca para sua
escrita, poderá produzir algo para a escola ou na escola, promovendo a formação de um
sujeito que sabe o que pensa e defende sua posição ou apenas aquele reporta as palavras do
professor.
2. OS LIVROS DIDÁTICOS
2.1 OS MATERIAIS DIDÁTICOS ANALISADOS
Esta seção propõe descrever os livros didáticos selecionados para a análise, com o
objetivo, neste primeiro momento, somente de descrever como se constituem e se organizam
os materiais didáticos, atentando para a seção de produção textual, pois, posteriormente,
verifica-se se os comandos de produção possuem uma finalidade para a escrita dos textos ou
se apresentam como única finalidade, a entrega da produção para a avaliação do professor,
proporcionando a escrita de uma redação para a escola (GERALDI, 1993).
As coleções escolhidas para análise são as dos autores Magda Soares, Português: uma
proposta para o letramento, São Paulo: Moderna, 2002, e Ernani Terra & Floriana Cavallete,
Português para todos, São Paulo: Scipione, 2004. Estas coleções são adotadas de 5ª a 8ª
séries do Ensino Fundamental na região Noroeste do Paraná.
A coleção da autora Magda Soares foi selecionada pelo fato de ser uma das coleções
mais adotadas pelas escolas da região de Maringá-Pr e por apresentar uma proposta
pedagógica considerada pelo PNLD/ 20051 como “ inovadora e adequada à tendência atual do
ensino de Língua Portuguesa” (BRASIL, 2005, p. 224). Entre vários fatores positivos da
coleção estão a qualidade, a funcionalidade, a diversidade do material textual; além da
preocupação em orientar um trabalho que veja a língua como um discurso, isto é, “considera-
se que os sentidos e as formas lingüísticas são construídos num processo de interação social”
(PNLD/ 2005, p.226). Para Magda Soares (2002), não basta aprender a ler e a escrever, ou
seja, tornar-se alfabetizado, é preciso alcançar o letramento: “Letramento é o estado ou
condição de quem não só sabe ler e escrever, MAS exerce as práticas sociais de leitura e de
escrita que circulam na sociedade em que vive, conjugando-as com as práticas sociais de
interação oral” (SOARES, 2002, p. 05- grifos da autora).
A coleção é composta por 4 volumes, que se organizam em quatro unidades,
construídas a partir de temáticas específicas e de estudo de diferentes gêneros. As unidades
não são organizadas em capítulos, mas sim, por uma questão de “estratégia de organização
didática do processo de ensino aprendizagem” (SOARES, 2002, p. 11), em unidades
temáticas, formadas por textos de diferentes gêneros, mas com o mesmo tema que abrange a
unidade. 1 Dados retirados do site: http://www.fnde.gov.br/home/livro_didatico/pnld2005_portugues.pdf
A seção de produção de texto, em todos os volumes, é apresentada após a realização
de várias atividades, como leitura e interpretação de texto, pois a partir das discussões
realizadas previamente à produção, o aluno terá um maior número de informações para
transmitir no momento da escrita do texto. A seção de produção textual não está presente em
todas as unidades, uma vez que Soares (2002, p.11) afirma que as atividades de Linguagem
oral, Interpretação escrita e oral, atividades de leitura e exercício do vocabulário, já são uma
forma de produção de texto.
O Quadro 1 apresenta o número de produções de textos solicitadas em cada volume:
Quadro 1: Seções com produções textuais na coleção de Magda Soares
VOLUME NÚMERO DE SEÇÕES COM PRODUÇÃO DE TEXTO
TOTAL DE PRODUÇÕES POR VOLUME
5ª série 14 14
6ª série 14 14
7ª série 16 16
8ª série 17 18
A coleção dos autores Ernani Terra & Floriana Cavallete, Português para todos, São
Paulo, 2004, foi selecionada em razão de ser o material didático também adotado pelas
escolas da região de Maringá-Pr e pela curiosidade em confirmar ou refutar, através da análise
dos comandos de produção textual, a opinião do PNLD/ 2005, a respeito da coleção. Segundo
o PNLD (2005, p.212), o professor que adotar esta coleção “terá ao seu dispor uma coleção
complexa” , sendo preciso cuidado ao trabalhar com seções tão fragmentadas que promovem a
criatividade, porém podem causar dispersão. Quanto à seção de produção de textos, há a
seguinte descrição: as seções de produção de texto “têm pouco espaço e estão no final do
capítulo. Mesmo enriquecidas pela seção A linguagem dos textos, as propostas restringem-se a
poucos caminhos para a elaboração temática; apenas insinuam a relevância da coerência e as
sutilezas da forma composicional” (BRASIL, 2005, p. 212). O PNLD (p.206-214) afirma que
a coleção é interessante, possui uma seleção textual diversificada, de variados tipos, gêneros e
linguagens. Tem como objetivo geral desenvolver a competência discursiva do aluno-cidadão
e, embora, apresente um trabalho com conteúdos de Língua Portuguesa (leitura, produção
textual, linguagem oral, conhecimento lingüísticos), o ensino de gramática é privilegiado. Os
pressupostos teóricos-metodológicos postulam “como metas para o aluno, a construção do
conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades que favoreçam a
compreensão da realidade e a participação na vida social, política e cultural” (BRASIL, 2005,
p. 210).
A coleção é composta por 4 volumes, que se organizam em três unidades temáticas,
formadas por quatro capítulos que apresentam diferentes aspectos do tema em foco. Para abrir
cada unidade, há uma introdução com textos verbais ou não-verbais, com algumas questões.
Ao final de cada unidade temática, há a seção Grupo de Criação, que propõe algum trabalho
sobre a unidade estudada.
Ao observar os quatro volumes, verifica-se que a seção de produção textual está
presente sempre depois de atividades de leitura e compreensão do texto, que podem ser
consideradas como atividades prévias à produção, nas quais o aluno discute o tema que será
abordado, posteriormente, na produção textual. O Quadro 2 apresenta o número de produções
de textos solicitadas em cada volume:
Quadro 2: Seções com produções textuais na coleção Ernani Terra e Floriana Cavallete
VOLUME NÚMERO DE SEÇÕES COM PRODUÇÃO DE TEXTO
TOTAL DE PRODUÇÕES POR VOLUME
5ª Série 12 12
6ª Série 12 12
7ª Série 12 12
8ª Série 12 12
2.2 AS FINALIDADES VERIFICADAS NOS MATERIAS DIDÁTICOS
As coleções propõem um ensino aprendizagem baseados em uma perspectiva
interacionista de linguagem, que vê na interação o caminho para a construção do enunciado e
tem o texto como um espaço no qual o aluno expõe o que pensa e traz sua realidade para o
papel, como uma forma de atribuir funcionalidade àquilo que produziu. Para que haja
realmente a escrita de um texto na escola, é preciso que o aluno saiba porque está escrevendo,
pois ter uma finalidade para escrever é um elemento essencial para a produção textual. Desse
modo, torna-se fundamental atentar para os comandos de produção textual, observando se há
a presença de uma finalidade para sua produção e que tipo de finalidade os materiais didáticos
propõem aos alunos. Logo, são expostos nos Quadros 3 e 4 os tipos de finalidades presentes
nos comandos de produção de texto das coleções selecionadas. O Quadro 3 diz respeito à
coleção de Magda Soares (2002) e o Quadro 4 à coleção de Ernani Terra & Floriana Cavallete
(2004).
Quadro 3: Os tipos de finalidades da escrita na coleção de Magda Soares
VOLUME UNIDADE TEXTO FINALIDADES DA ESCRITA
5ª Série 1 1 Apresentação do texto ao professor e à turma
3 Exposição do texto em um painel
5 Exposição do texto em um painel
2 2 O texto poderá ser: guardado pelo aluno; lido oralmente; lido pelo colega; entregue ao professor
4 Leitura do texto para o professor e para a turma na atividade de Linguagem Oral
6 Organização de um livro com os textos dos alunos
10 O texto poderá ser: guardado pelo aluno; lido oralmente; lido pelo colega; entregue ao professor
3 2 Exposição do texto em um painel
6 Exposição do texto na escola
8 O texto poderá ser: guardado pelo aluno; lido oralmente; lido pelo colega; entregue ao professor
4 2 Apresentação do texto para a turma
3 Entrega do texto a um colega
4 Discussão do texto na atividade de Linguagem Oral
6 Exposição do texto na escola
6ª Série 1 2 Exposição do texto na escola
4 Apresentação do texto para a turma
5 Apresentação do texto para a turma; organização de um livro com os textos dos alunos
2 3 Exposição do cartaz em sala de aula
4 Apresentação do texto a turma
5 Leitura do texto para o professor e a turma
7 Finalidade marcada na atividade posterior (Linguagem Oral): leitura do texto para os colegas e para o professor
3 1 Apresentação do texto para o professor e para a turma na atividade de Linguagem Oral
4 Leitura do texto para a turma
6 Exposição do texto na escola
7 Exposição do texto para o professor e para a turma
4 2 Anotação de idéias para uma produção futura
3 Anotação de idéias para uma produção futura
4 Reunião das idéias em um texto; apresentação para a turma
7ª Série 1 1 Discussão do texto na atividade de Linguagem Oral
2 Leitura do texto para a turma
4 Finalidade marcada na atividade posterior (Interpretação Oral): apresentar a turma
6 Apresentação do texto para a turma e para o professor
7 Exposição do texto em um painel
2 1 Exposição do texto em um mural da sala
2 Montagem de uma pasta com os textos dos alunos
3 Apresentar o texto para a turma e para o professor
4 Expor o texto em um painel
3 1 Apresentação do texto para a turma e para o professor
3 Apresentação do texto para a turma e para o professor
4 Apresentação do texto para a turma e para o professor
7 Exposição do cartaz em sala
4 2 Leitura em voz alta para o professor e para a turma
4 Apresentar o texto para o professor e para a turma
5 Expor o texto em um painel
8ª série 1 1 Anotação de idéias para uma produção futura
2 Anotação de idéias para uma produção futura
3 Anotação de idéias para uma produção futura
4 Anotação de idéias para uma produção futura
5 Retomada das idéias em um texto; apresentação para a turma
2 1 Discussão do texto na atividade de Linguagem Oral
2 Exposição do texto em um painel
3 Apresentação do texto para o professor e para a turma na atividade de Linguagem Oral; reunir os textos em uma pasta
4 Apresentação o texto para o professor e para a turma
3 1 Leitura oral do texto
2 Exposição do texto em um painel
3 Apresentação o texto para o professor e para a turma
6 Apresentação o texto para o professor e para a turma
4 1 Apresentação o texto para o professor e para a turma
3 Exposição do texto em um painel da sala
4 Apresentação o texto para o professor e para a turma
6 Exposição do texto em um painel
Após o levantamento das finalidades da escrita na coleção de Magda Soares (2002), é
possível afirmar que todos os comandos possuem finalidades marcadas para a produção
textual, seja na própria seção de produção ou na atividade posterior a ela (Linguagem oral;
Interpretação oral), como pode ser visto em alguns casos analisados. Eis as finalidades
apresentadas na coleção “ Português: uma proposta para o letramento” :: apresentação do
texto para o professor e para a turma; permanência do texto com o aluno; exposição do texto
em um painel; leitura do texto oralmente; entrega do texto para o professor; apresentação,
leitura e discussão do texto na atividade posterior; anotação de idéias para uma futura
produção; organização de um livro ou uma pasta; escolha de um colega para ler e trocar o
texto.
Quadro 4: Os tipos de finalidades da escrita na coleção de Ernani Terra e Floriana Cavallete VOLUME UNIDADE CAPÍTULO FINALIDADES DA ESCRITA
5ª Série 1 1 Envio do texto a um familiar 2 A finalidade não está marcada 3 A finalidade não está marcada 4 Apresentação do texto para a turma; exposição do texto em
um painel 2 5 Finalidade marcada na seção posterior (Exercitando a
critica): organização de um livro 6 Criação de um livro com os textos dos alunos 7 Exposição do texto em um painel 8 Finalidade marcada na seção posterior (Exercitando a
crítica): apresentação a turma 3 9 Envio do texto a uma autoridade 10 Publicação do texto 11 Envio do texto para os pais 12 Exposição do texto em murais ou distribuí-los aos
moradores da cidade 6ª série 1 1 Finalidade marcada na seção posterior (Exercitando a
crítica): leitura em voz alta 2 Finalidade marcada na seção posterior (Exercitando a
crítica): exposição em mural da sala 3 Exposição do texto em um jornal mural 4 A finalidade não está marcada 2 5 Exposição do texto para a turma ler e avaliar 6 Divulgação do texto aos colegas e à comunidade 7 Entrega do texto para o colega ler 8 Exposição dos textos para os colegas e à comunidade 3 9 Apresentação do texto para os colegas 10 Promoção da reflexão do colega através do texto 11 A finalidade não está marcada 12 A finalidade não está marcada
7ª Série 1 1 Exposição do texto em um painel 2 A finalidade não está marcada 3 Exposição do texto em um painel 4 Permanência do texto no caderno 2 5 Troca do texto com o colega 6 Entregar o texto para o colega ler 7 O aluno deve expressar sua opinião própria sobre o assunto 8 O aluno deve expressar sua opinião própria sobre o assunto 3 9 Exposição do texto em um mural 10 Troca do texto com o colega 11 Exposição do texto em um painel 12 A finalidade não está marcada
8ª Série 1 1 Criação de uma campanha sobre o consumo de água 2 Escrita de um texto para um jornal ou revista 3 O aluno deve expressar sua opinião própria sobre o assunto 4 Troca do texto com um colega 2 5 Troca do texto com os colegas de classe 6 Troca do texto com os colegas de classe 7 Exposição do texto no mural
8 Exposição do texto no mural 3 9 Exposição do texto no mural 10 A finalidade não está marcada 11 Apresentação do texto aos colegas 12 Retrato de uma situação da realidade através do texto
Nesta coleção de TERRA & CAVALLETE (2004), verifica-se que, enquanto
alguns comandos de produção textual não possuem uma finalidade marcada para serem
realizados, outros apresentam a finalidade na seção posterior (Exercitando a crítica). As
finalidades identificadas/marcadas na coleção foram: apresentação do texto para o
professor e para a turma; divulgação e exposição do texto para a comunidade; envio do
texto a uma autoridade; publicação do texto; envio do texto a um jornal ou a uma
revista; permanência do texto no caderno; retrato de uma situação da realidade; criação
uma campanha; expressão da própria opinião; promoção da reflexão do colega; escolha
um colega para ler e trocar o texto; envio do texto a um familiar.
Viu-se que as coleções apresentadas têm algo em comum, uma vez que ambas
possuem a seção de produção textual como elemento finalizador da unidade estudada.
Verifica-se, então, que a produção escrita é realizada após todo um trabalho de interpretação e
compreensão do assunto estudado, fazendo com que o aluno sempre a veja como algo para o
futuro ou elemento finalizador de um assunto. Diante disso, será que as coleções, em seus
comandos de produção textual, consideram a finalidade da escrita como um elemento
essencial para elaboração de um texto escrito? Este fator será analisado na próxima seção.
3. ANÁLISE DOS COMANDOS DE PRODUÇÃO DE TEXTO
3.1 CRITÉRIOS DE ANÁLISE
Viu-se, na seção anterior, diferentes finalidades da escrita presentes nas coleções
“ Português: uma proposta para o letramento” (2002), de Magda Soares e “ Português para
todos” (2004), de Ernani Terra e Floriana Cavallete. A partir desse levantamento, torna-se
possível realizar a análise das finalidades em cada atividade de produção textual, verificando
sua influência no momento da elaboração e produção do texto escrito do aluno.
Utilizar-se-á as letras MS para referir-se à coleção de Magda Soares (2002) e as letras
TC para a coleção de Ernani Terra & Floriana Cavalette (2004).
3.2 DEFINIÇÃO DA FINALIDADE DA ESCRITA
Diante das análises das coleções selecionadas, pode-se afirmar que há um total de 112
comandos de produções textuais, que apresentam 5 tipos de finalidades da escrita. No quadro
5, é possível verificar os tipos de finalidades encontradas e em quais coleções e séries eles são
apresentados, juntamente com o número de ocorrências.
Quadro 5: Definição da finalidade da escrita
TIPOS DE FINALIDADES COLEÇÃO/ SÉRIE NÚMERO DE OCORRÊNCIAS Não está marcada TC - 5ª série
TC- 6ª série TC- 7ª série TC- 8ª série MS- 5ª série MS- 6ª série MS- 7ª série MS- 8ª série
3 2 5 3 3 1 2 1
Marcada na seção posterior MS- 6ª série MS- 7ª série TC- 5ª série TC- 6ª série
1 1 2 2
Marcada no interlocutor MS- 5ª série MS- 6ª série MS- 7ª série MS- 8ª série TC- 5ª série TC- 6ª série TC- 7ª série TC- 8ª série
12 3 6 5 5 7 3 3
Marcada no gênero discursivo
MS- 5ª série MS- 6ª série MS- 7ª série
6 4 6
MS- 8ª série TC- 5ª série TC- 6ª série TC- 7ª série TC- 8ª série
5 3 1 4 5
Finalidade para produção futura MS- 5ª série MS- 6ª série MS- 7ª série MS- 8ª série
2 4 1 7
Ao comparar as duas coleções, vê-se que a coleção de Terra & Cavallete possui maior
ocorrências de comandos com ausência de finalidade e finalidade marcada na seção posterior,
enquanto que a coleção de Magda Soares possui finalidades marcadas no interlocutor, no
gênero e finalidade para produção futura.
Ao observar os manuais do professor das coleções de Magda Soares e Ernani Terra &
Floriana Cavallete, verifica-se que a finalidade da escrita, o porquê escrever, é um elemento
fundamental para a produção de um texto. Terra & Cavallete (2004, p. 11) afirmam que: “O
aluno tem de saber o que, por que, em que situação e para quem está escrevendo” e Soares
(2002, p. 6) acredita que os textos escritos dependem de condições de produção: “quem fala
ou escreve; o que fala ou escreve; para quem fala ou escreve; para que fala ou escreve –
com que objetivo” . No momento de expor suas idéias sobre a seção de Produção de Texto,
Soares (2002, p. 18) retoma as questões de produção escrita: “Escrever é comunicar-se, é
interagir; comunica-se, interage quem tem o que dizer, a quem dizer, e um objetivo que
pretende alcançar através da interlocução”. Embora haja esta preocupação com a finalidade da
escrita, vê-se que alguns dos comandos de produção textual apresentam problemas com a
delimitação de uma finalidade para escrever: alguns não apresentam uma finalidade para o
texto que deve ser produzido e os outros promovem uma escrita somente para a escola, como
expõe a seção seguinte.
3.3 ANÁLISE DOS TIPOS DE FINALIDADE DA ESCRITA
Nesta seção, é realizada a análise dos comandos de produção textual dos livros
didáticos selecionados, verificando se há a presença de uma finalidade para a escrita e de que
modo isto pode influenciar na escrita do estudante.
3.3.1 Finalidade não marcada pelo comando: ar tificial
A partir do levantamento da finalidade da escrita nos comandos de produção textual
das coleções selecionadas, verificou-se que as coleção de Ernani Terra & Floriana Cavallete
(2004) e Magda Soares (2002) não apresentam comandos com uma finalidade marcada para a
escrita do texto, ou seja, o aluno, ao realizar as produções solicitadas, não sabe para que
escreve.
Diante da ausência de uma finalidade para a escrita nos comandos de produção, pode-se
afirmar que os textos resultantes serão redações escolares, realizadas para a escola, somente
como um meio de demonstrar ao professor que sabe escrever e de realizar a tarefa proposta. É
possível ilustrar este fato com o comando:
“ Utilizando as informações coletadas sobre o assunto (propostas na seção “ Para além do texto” ) escreva um texto predominantemente objetivo sobre gravidez na adolescência. Escolha um aspecto ligado a esse assunto, organize dados e depoimentos e monte seu texto. Não se esqueça de criar um título sucinto e objetivo” (TC, 2004, 8ª série, p. 175)
Este comando está presente no capítulo 10 da coleção de Ernani Terra &
Floriana Cavallte (2004), que se refere à gravidez na adolescência. O aluno, antes da
produção textual, lê alguns textos a respeito dessa temática e na atividade “Para além
do texto” (p. 165), é sugerido que ele obtenha informações sobre gravidez e produza
uma resenha desses dados. Na seção de produção textual, retomam-se as informações
coletadas, expondo no papel uma síntese de tudo o que o aluno leu e pesquisou. Vê-se
que o aluno não possui uma finalidade para realizar seu texto, pois deve apenas escrever
algo objetivo: “ escreva um texto predominantemente objetivo” , que provavelmente será
avaliado pelo professor. Assim, tem-se uma redação, escrita para a escola, pois o aluno
não é incentivado a escrever algo que demonstre sua posição diante do assunto
abordado, produzindo somente um texto que reporte idéias já vistas anteriormente nas
atividades prévias.
A atividade posterior à produção textual é “Exercitando a crítica” , segundo os
autores da coleção, a seção é um prolongamento da produção textual, responsável por
levar o aluno “a analisar o seu texto ou o do colega e refletir sobre ele, a fim de
aperfeiçoá-lo posteriormente” (TC, 2004, p. 22). No caso do comando analisado, a
seção “Exercitando a crítica” afirma que o principal critério para a avaliação do texto é
a objetividade, assim, consideram que a produção resultante deve “ apresentar
construção simples e clara, discurso direto entre aspas, pontuação adequada e
obediência à ortografia” (TC, 2204, p. 175). Observa-se que há uma grande
preocupação com o aspecto formal do texto produzido, não havendo, assim, referência
ao aspecto do conteúdo. Segundo Bakhtin (1992), todo enunciado é constituído de
forma e de conteúdo, sendo esses fatores um conjunto necessário ao texto. O comando
solicita a escrita de algo objetivo, deixando de proporcionar e incentivar a produção de
um texto que demonstre a opinião do estudante, detendo-se aos fatores formais da
produção: “ construção simples e clara” .
Segundo Bakhtin (1997, p.300), o intuito é constituído da união de um elemento
subjetivo com o objeto do sentido (objetivo da escrita). Quando há uma finalidade real
para a escrita do texto, que promova o posicionamento do aluno a respeito do tema
discutido, o estudante sente-se motivado em demonstrar no papel sua opinião,
realizando, no momento da escrita, a união das informações já marcadas no comando
com seu próprio ponto de vista a respeito do tema discutido, deixando marcada sua
autoria. Para Bakhtin (1997, p.300), um enunciado é composto de alguns fatores como:
situação concreta, circunstâncias individuais, parceiros individualizados e intervenções
anteriores. Todavia, para que hajam esses fatores no momento da escrita são
necessárias: a compreensão do aluno sobre o objetivo do comando e a explicação do que
a atividade deseja. Quando o comando não apresenta uma finalidade marcada para ser
produzido, esses aspectos podem não ser explorados e a autoria do aluno torna-se algo
superficial, uma vez que não reflete a respeito do assunto que será exposto no texto. Eis
um comando que apresenta essa problemática:
“ Você foi encarregado de elaborar o cardápio da cantina da escola. Antes de elaborá-lo, faça uma pesquisa entre seus colegas procurando saber o que eles gostariam de ver incluído nele. Leve em conta também as informações sobre o que seria uma dieta ideal, fornecidas pelo texto abaixo” (TC, 2004, 5ª série, p. 36) Este comando, presente no capítulo 2, da 5ª série, possui a temática da unidade,
referente às questões de alimentação. O texto sobre o qual o comando informa
“ fornecidas pelo texto abaixo” é da Folha de S.Paulo, que apresenta alguns tipos de
alimentos que auxiliam em uma boa dieta alimentar. Vê-se que o comando solicita que
o aluno considere as informações fornecidas pelo texto, pois, assim, terá um bom
cardápio. Neste comando, há um objetivo marcado “ elaborar o cardápio” , ou seja, o
aluno escreve para atingir este objetivo. Contudo, mais uma vez, não é marcada a
finalidade para a produção, o aluno, ao ler o comando de escrita não tem uma
finalidade, uma razão para cumprir o objetivo proposto, fazendo com que escreva sem
saber para que e para quem escreve. A ausência da finalidade pode prejudicar o trabalho
tanto do aluno, no momento da escrita, pois, ao escrever, não constata nenhuma razão
para realizar a atividade, produzindo apenas para cumprir o objetivo marcado. Além
disso, não há uma funcionalidade para esta produção, pois não fica determinado se o
texto será somente lido pelo professor ou poderá ser um meio de a escola observar
aquilo que os alunos desejam em sua cantina.
Os fatores destacados por Bakhtin (1997): situação concreta, circunstâncias
individuais, parceiros individualizados e intervenções anteriores não podem ser
observados no comando, pois não há uma finalidade real para a produção, uma vez que
a escrita é tida como um meio de avaliação. Em nenhum momento ficou marcado o
porquê dessa escrita, ficando, assim, evidente a incoerência do comando com o Manual
do professor que afirma que “ O aluno tem de saber o que, por que, em que situação e
para quem está escrevendo” (TC, 2004, p. 11). Como o aluno vai produzir um texto
sem saber para que ele escreve? Com isso, o estudante opta por uma finalidade artificial
de escrita, ou seja, escreve para cumprir a tarefa, não refletindo sobre o processo de sua
escrita e não observando o que poderia melhorar.
Embora o gênero discursivo dessa atividade seja o cardápio, poderia haver uma
reflexão sobre a questão alimentar e sobre os tipos de alimentos escolhidos pelos alunos,
durante a atividade “Exercitando a crítica” , porém, tem-se apenas a preocupação com a
forma do texto: “ a) o cardápio está organizado em seções; b) o preço e a quantidade
dos produtos estão indicados; c) não há erros de ortografia...” (TC, 2004, p. 36), não
havendo, assim, um questionamento sobre a importância do cardápio ou qual a função
dele para uma vida melhor, por exemplo, sua função social.
Garcez (1998, p. 77) afirma que a noção de autoria nos textos dos alunos é difusa,
pois ao escrever realizam uma cópia dos textos lidos e dos comandos. Quando não há
uma finalidade para a escrita, o estudante tem como único intuito demonstrar uma
competência de escrita para o professor que será seu único leitor. Como o aluno irá
construir uma produção textual na escola se não há um interlocutor e nem uma
finalidade para escrever? Será possível proporcionar ao aluno a consciência de que ele
deve interagir com o enunciado de produção e com seu texto no momento da escrita, se
não há uma finalidade marcada para isso? Diante de comandos com finalidades
artificiais de produção, será que o aluno é capaz de demonstrar sua autoria em
plenitude?
Essas questões são realizadas diante de comandos que não apresentam uma
finalidade para a escrita. Os comandos que não definem uma finalidade para a produção
não apresentam respostas a essas questões e o maior prejudicado é o aluno, pois escreve
pensando apenas em entregar o material escrito, não expondo seu posicionamento no
texto, uma vez que o comando não propicia essa atitude, escrevendo somente para
gravar na mente e, quem sabe, no futuro aplicar o que viu em sala de aula.
Na colação de Magda Soares (2002), nos volumes da 5ª.; 6ª.; 7ª. e 8ª séries, foi
possível verificar comandos sem uma finalidade para a escrita. Estes apresentavam como
objetivo a leitura oral do texto:
“ Escreva um texto apresentando seu ponto de vista sobre o problema de recém-nascidos abandonados pelos pais. Siga o plano proposto: Introdução: Apresente o problema e a persistência dele ao longo do tempo. As causas: Cite as que são, em sua opinião, as principais causas do abondono de recém-nascidos. As soluções: apresente as medidas que, em sua opinião, deveriam ser tomadas para que recém-nascidos não fossem abandonados. Conclusão: resuma seu ponto de vista a respeito da questão. O professor vai dividir a turma em grupos. Cada grupo lê para a turma o seu texto” (MS, 2002, 6ª série, p. 171-173).
Este comando solicita a escrita de um texto dissertativo que exponha a opinião do
aluno sobre o abandono de crianças: “ O que você pensa sobre esse problema?” , segundo um
roteiro de escrita: “ introdução; causas; soluções; conclusões” . Soares (2002, p.172) afirma,
na sugestão exposta ao lado do exercício para o professor: “ Embora, como resultado do
roteiro, os textos possam apresentar-se com estruturas bastante semelhantes, a orientação,
neste nível de escolaridade, é necessária para desenvolver habilidades de compor textos
dissertativos com coerência e coesão” . Diante disso, observa-se a preocupação com a
organização textual, não há questões, referentes ao assunto que será abordado no texto, que
levam a uma reflexão maior sobre o assunto, fazendo com que o aluno tenha como finalidade
para a escrita a construção de um texto baseado em regras e que será lido para a turma: “ cada
grupo lê para a turma o seu texto” .
Algo que merece destaque, no comando, é o item 4: “ Com a orientação do professor,
confrontem os textos (...) e concluam: qual é, em síntese, o ponto de vista da turma sobre o
problema do abandono de crianças recém-nascidas?” , pois, vê-se que todas as opiniões,
expressas nos textos durante a leitura, serão sintetizadas em uma única forma de conceber o
assunto. O professor, para encerrar a atividade, conclui com uma única opinião dos
estudantes, fazendo com que haja a homogeneidade das idéias. Segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 26):
Vale considerar que a inclusão da heterogeneidade textual não pode ficar refém de uma prática estrangulada na homogeneidade de tratamento didático, que submete a um mesmo roteiro cristalizado de abordagem uma notícia, um artigo, [um texto] (...) o tratamento, didático, portanto, precisa orientar-se de maneira heterogênea.
O aluno, diante de um comando que objetiva a leitura da produção e uma síntese do
ponto de vista da turma, não vê uma finalidade para a produção, concebendo a escrita como
um recurso que leva à premiação, pois produz para a escola e para o professor e a turma
avaliarem.
Segundo Geraldi (1993, p. 164), uma das finalidades da leitura do texto em sala é
trazer o individual do aluno para o coletivo da sala de aula. Contudo, observa-se que os
comandos com esta finalidade não proporcionam a escrita espontânea do aluno, na qual expõe
o que pensa sem seguir um roteiro de escrita, mas sim, uma produção dirigida aos moldes
escolares.
Outro comando:
“ Escreva, em uma folha de papel, uma mensagem que você gostaria de levar a outras pessoas e acha que elas gostariam de receber. Assine seu texto e guarde-o num envelope. Coloquem, em algum lugar da sala de aula, uma caixa que possa receber os textos (...) terminado o período fixado para que os textos sejam jogados na caixa, cada um de vocês vai retirar um envelope. Depois de ler silenciosamente a mensagem recebida, cada um de vocês vai lê-la em voz alta para o professor e a turma. Com a orientação do professor, avaliem: como cada um de vocês se sentiu ao receber a mensagem? Que tipos de mensagens predominam? Qual ou quais são as mensagens mais bonitas? Mais interessantes? Mais engraçadas? Mais originais?” (MS, 2002, 7ª série, p. 189).
O comando solicita a escrita de mensagens que serão lidas e classificadas em: “ textos
poéticos, conselhos, reflexões otimistas” etc. O interlocutor do texto é um colega de classe,
porém, a mensagem será avaliada com a orientação do professor: “ Que tipos de mensagens
predominam? Qual ou quais são as mensagens mais bonitas?” , fazendo com que a produção
tenha mais uma vez a finalidade de ser lida e avaliada pelos interlocutores, assim como no
comando anterior.
Diante de uma finalidade artificial de escrita, o aluno escreve para a escola, e por não
ser motivado a expor seu ponto de vista sobre o tema estudado, desenvolve-se como um
assujeitado “que aprende a escrever por imitação, por repetição, por associação, copiando e
reproduzindo letras, sílabas, palavras, frases [e esquemas]” (SOARES, 2001, p. 52).
Na coleção de Terra & Cavallete (2004), no volume da 5ª série, há um comando que
solicita a escrita do texto com o objetivo de publicá-lo:
“ A sugestão de trabalho é a seguinte: faça uma entrevista com alguém que tenha vivenciado o problema das secas, ou o estudado (professor de geografia, por exemplo). Antes de iniciar a entrevista, procure informar-se sobre o entrevistado e elabore previamente as perguntas que irá fazer; assim, seu trabalho ficará mais fácil. Você poderá gravar a entrevista. Terminada a entrevista, faça uma transcrição dela, adequando as falas do entrevistado para a modalidade escrita a fim de publicá-la” (TC, 2004, 5ª série, p. 166)
Vê-se que o aluno escreve seu texto, mas não sabe onde será publicado e nem quem lerá
o enunciado, fazendo com que não tenha um porquê escrever. A questão da seca no Nordeste
é algo interessante para ser discutido, pois o aluno conhece uma realidade que talvez nunca
tenha visto, todavia a simples transcrição da entrevista para o papel não promove a reflexão
do aluno diante da situação descrita. Diante disso, o estudante escreve com a finalidade de
demonstrar que cumpriu o objetivo do comando: ele entrevistou e escreveu o texto para ser
publicado. O aluno dialoga com o outro externo a respeito da seca, contudo em nenhum
momento durante a escrita, haverá o diálogo do aluno consigo mesmo, uma vez que seu texto
será apenas a transcrição das palavras do outro.
Segundo Evangelista (1998, p. 48), “a subjetividade é um elemento inerente às
atividades lingüísticas de falar, ouvir, ler e escrever” . O indivíduo ao escrever expõe suas
marcas pessoais e opiniões a respeito do assunto, mas essas escolhas são limitadas por
condicionantes sociais, uma vez que a situação concreta de produção interfere na escrita.
Embora muitos comandos não promovam a exposição da opinião do estudante, existem
alguns que auxiliam na aproximação da realidade do aluno para o contexto escolar:
“ Contribua, você também, para contar essa nossa história de todo o dia. Afinal, ela se compõe de pequenos atos das pessoas, dos fatos corriqueiros. Pense em algum aspecto da realidade que o(a) deixa indignado(a) ou em algum aspecto que se deseja destacar por ver, nele, a marca de nossos dias. Escreva no caderno uma crônica que seja poética, mas que contenha obrigatoriamente suas reflexões sobre o assunto” (TC, 2004, 7ª série, p. 76)
Segundo Terra & Cavallete (2004, p. 74), “a crônica registra o tempo das coisas banais,
dos fatos do cotidiano, da notícia de menor importância. Ou maior, dependendo do ponto de
vista” . Esta definição está na seção que antecede a produção textual “A linguagem dos textos”
e expõe a importância da opinião do autor na produção da crônica. A partir disso, o aluno
deve produzir um texto, destacando um aspecto da realidade. Contudo, o estudante diante do
comando pode questionar: qual a finalidade de demonstrar a minha opinião em um texto?
Qual a finalidade de trazer a minha realidade para o contexto escolar? Neste comando, o texto
será realizado e deixado no caderno, pois não há nenhuma atividade além disso. Como o
aluno escreverá um texto “que contenha obrigatoriamente suas reflexões sobre o assunto” , se
ele não é conduzido a isso? Como responder ativamente a um comando, se o indivíduo não o
compreendeu?
Outro comando com o objetivo de demonstrar uma realidade:
“ Crie um texto narrativo em 3ª pessoa com o objetivo de mostrar uma face da realidade. Seu texto deverá ter personagens e um ambiente devidamente caracterizado, um conflito e um narrador onisciente. O tempo é o atual. Busque a concisão: empregue apenas os adjetivos necessários, escolha palavras que caracterizem de modo preciso seus personagens e o ambiente onde se desenrola a narração” (TC, 2004, 8ª série, p. 208).
Solicita-se a escrita de um texto com “ o objetivo de mostrar uma face da realidade” ,
todavia qual a finalidade de se retratar uma situação real? Entregar o texto para o professor?
Este comando, em razão de não marcar uma finalidade, faz com que o aluno tenha uma
finalidade artificial de produção, uma vez que o escreverá para comprovar ao professor que
realizou a tarefa. Ao observar as questões que Bakhtin (1992) afirma serem formadoras do
verdadeiro enunciado, ver-se-á que o destinatário do texto não está marcado, podendo ser
considerado o próprio professor e o conteúdo será definido pelo aluno e enquadrado em uma
narração.
Na coleção de Terra & Cavallete (2004), nos volumes da 7ª. e 8ª. séries, observam-se
comandos com o objetivo de fazer com que o aluno expresse sua opinião sobre o assunto.
Veja um exemplo:
“ Os versos abaixo são da autoria de Luiz Gonzaga e foram extraídos da música “ Vozes da seca” : “ Doutor, uma esmola a um homem que é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão” . Escreva um texto dissertativo em prosa em que você exponha o seu ponto de vista a respeito dos versos acima. Procure fundamentá-lo com argumentos convincentes. Lembre-se de que o ponto de vista deve ser exposto claramente em um parágrafo de introdução; depois, deve-se desenvolver a argumentação que sustenta o ponto de vista e, finalmente, concluir o pensamento, a linha de raciocínio” (TC, 2004, 8ª série, p. 86).
Neste comando, o aluno ira interpretar os versos da música “Vozes da seca” , expondo
seu ponto de vista a respeito da seca. Segundo Bakhtin (1997, p. 301), “o querer-dizer do
locutor se realiza acima de tudo na escolha de um gênero do discurso” . Vê-se que o gênero
dessa produção é o dissertativo que deve apresentar: introdução, desenvolvimento e
conclusão. O aluno irá expor o que pensa, adaptando seu pensamento ao gênero marcado pelo
comando para formar uma unidade indissolúvel. O estudante, ao pensar sobre os argumentos
que devem compor seu texto, recorrerá aos textos lidos durante a unidade, fazendo com que
reporte para o papel informações vistas nas atividades prévias, não desenvolvendo, assim, sua
autoria no texto. No comando analisado, não há questões que favorecem a discussão e a
reflexão do aluno sobre o assunto, fazendo com que haja uma finalidade utópica de escrita,
pois, deseja-se que o aluno defenda seu ponto de vista, mas o comando não proporciona a
reflexão do aluno sobro o tema.
Outro exemplo:
“ Neste capítulo, você aprendeu um pouco a respeito da contribuição do negro para nossa cultura e para nossa étnica. Escreva um texto em prosa dando a sua opinião sobre a importância do negro na formação de nossa nacionalidade. Procure apresentar exemplos concretos que fundamentem suas afirmações. Não se esqueça de dar um titulo ao texto” (TC, 2004, 7ª série, p. 120).
Este comando solicita que o aluno expresse sua opinião a respeito da “ contribuição do
negro para nossa cultura e para nossa formação étnica” . Todavia, assim como o comando
anterior, o aluno não é levado a questionar o assunto durante a seção de produção, tendo que
retomar as informações e os exemplos estudados durante a unidade. O aluno, diante desse
comando, irá produzir para demonstrar ao professor que realizou a atividade, trazendo para o
texto informações vistas nas atividades prévias. O simples fato de haver a finalidade de o
aluno expor o que pensa, não promove a escrita de um texto na escola, uma vez que ele deve
ser instigado a refletir sobre o assunto e a desenvolver sua própria opinião diante do tema
durante a seção de produção para que não veja a escrita como um momento de retomar tudo
que leu e transportar para o papel.
3.3.2 Finalidade marcada na seção posterior
Segundo a teoria bakhtiana, o enunciado se constitui da interação entre os
interlocutores, que trocam informações e produzem seus discursos. Para que isso ocorra, é
necessário que o locutor possua uma finalidade para produzir seu enunciado, logo, na
interação entre aluno e comando de produção, é preciso a existência de uma razão que leve à
produção de um texto escrito. Viu-se, na seção anterior, que alguns comandos não deixam
marcadas as finalidades para a escrita, fazendo com que o estudante escreva para a escola,
com o intuito apenas de comprovar que sabe escrever e de ter seu texto avaliado pelo
professor.
Garcez (1998, p. 77) afirma que os estudantes e os professores apresentam
dificuldades com a produção textual, devido ao “caráter artificial da atividade”. Geralmente,
não há um interlocutor para quem a escrita é destinada, além do professor e dos colegas, e a
finalidade do enunciado é muito insipiente, uma vez que a escrita é vista, na maioria das
vezes, como uma atividade real futura. O estudante produz pensando nos resultados futuros, a
escrita, na escola, é abordada como um momento de “treinamento” , onde o aluno produz
pensando no concurso que irá realizar e segue um modelo de escrita que promoverá sua
aprovação, não apresentando, muitas vezes, sua opinião sobre o assunto.
As coleções analisadas apresentam comandos na seção de produção textual que não
marcam uma finalidade para a escrita na seção de produção textual, sendo expostas, somente,
na seção posterior. Em razão da finalidade da escrita ser apresentada na seção posterior, pode-
se afirmar que a produção textual acaba sendo realizada, em um primeiro momento, sem um
intuito marcado pelo comando, fazendo com que o aluno produza apenas para demonstrar que
realizou a atividade. Eis um exemplo:
“ Produzindo Texto: Escolha uma das sugestões seguintes e elabore um texto com a descrição de: • Como fazer uma pipa; • Como fazer um exercício de educação física; • Como fazer um bolo ou doce de sua preferência; • Como se arrumar para ir a uma festa; • Como escovar os dentes corretamente.
Faça desenhos para acompanhar sua descrição.” (TC, 2004, 6ª série, p. 49)
Está evidente, no comando, a ausência de uma finalidade marcada para a produção,
promovendo a escrita de algo que contém um caráter artificial, pois o estudante não sabe para
que escreve e nem para quem, uma vez que o interlocutor também não está marcado. Esta
atividade parece ser apenas um meio de avaliar todo o conteúdo estudado durante a unidade:
“ Jogos e brincadeiras” , um recurso que demonstra que, realmente, o aluno aprendeu a
descrever atividades e poderá fazer uso do gênero discursivo: descrição, quando for preciso.
Após a escrita do texto, o professor segue a atividade partindo para a seção posterior
“Exercitando a crítica” , na qual está marcada a finalidade da produção proposta:
“ Exercitando a crítica: Troque seu texto com vários colegas a fim de que todos leiam e avaliem pelo menos uma descrição. Para avaliar o texto é preciso considerar os seguintes critérios: clareza na descrição do processo; obediência à seqüência lógica dos passos do processo; presença de todas as informações necessárias à execução dos procedimentos; correção das informações; correção da linguagem. Os textos considerados muito bons podem ser lidos para a classe e comentadas pela turma. Aqueles que apresentarem problemas devem ser reelaborados, a fim de que as falhas sejam corrigidas. Quando os textos estiverem prontos, a turma poderá afixá-los no mural da sala.” (TC, 2004, 6ª série, p. 49)
Observa-se que a finalidade da escrita dos textos é: “ afixá-los no mural da sala” ,
demonstrando, assim, um intuito meramente escolar, pois toda a produção ficará restrita à sala
de aula, não sendo lida por outros interlocutores. O comando é estruturado de modo que o
aluno só tenha conhecimento da finalidade de sua produção no final de toda a atividade.
Como uma pessoa pode elaborar seu enunciado sem ter um motivo? Esse comando
proporciona uma escrita para a escola e o caráter artificial da escrita é mantido, pois, tem-se
apenas a descrição de uma atividade: “ como fazer uma pipa, um exercício de educação física,
um bolo” , promovendo a escrita de algo restrito ao gênero instrucional, tão estudado no meio
escolar. O aluno não é levado a expor em seu texto o que pensa sobre as atividades propostas,
tendo apenas que considerar como critérios para a avaliação do texto do colega: “ clareza na
descrição; correção das informações; correção da linguagem (...)” , não havendo a
preocupação com a questão do conteúdo da produção. O comando deixa claro que somente os
textos “ muito bons podem ser lidos para a classe e comentados pela turma” , todavia quais os
critérios que possibilitam a escolha de um texto muito bom? Será que somente os aspectos
relacionados à estrutura formal da produção, promovem a escrita de textos muito bons? Não
seria mais interessante o aluno descrever a atividade e expor sua opinião sobre ela ou contar
um fato que ocorreu ao realizá-la? Esta análise não tem o objetivo de afirmar que o gênero
instrucional não deve ser trabalhado em sala de aula, na verdade, o que se deseja é que o
aluno veja no comando uma finalidade que esteja além daquela exposta na atividade: expor
em um painel, misturando-se com o meio de circulação do texto. É necessário haver uma
finalidade para a produção que faça o aluno refletir e trazer para o contexto escolar sua
realidade, não deixando que sua produção seja algo que terminará no mural da sala de aula. É
preciso se pensar nas novas propostas de escrita que podem surgir a partir dos textos do
mural, fazendo com que as atividades se desenvolvam de modo contínuo e auxiliem no
desenvolvimento de uma concepção que tem a escrita com a finalidade de construir o
conhecimento de forma contínua e não somente como algo que deve ser exposto e avaliado
pelos colegas e pelo professor.
A escola é responsável por promover o contato do aluno com os diferentes tipos de
gêneros da escrita, como carta, dissertação, narração, jornal etc., fazendo com que o estudante
os conheça e os utilize no momento da escrita. A aprendizagem de diferentes tipos textuais
faz com que o aluno veja a escrita como um recurso que não é utilizado somente em textos
lingüisticamente grafados, mas que também pode constituir textos em forma de desenho,
propaganda, gráfico, tabelas etc., como é possível ver no comando:
“ Produção do texto:
Leia as informações sobre Os limites pelo mundo apresentadas em volta do globo terrestre e: a) Faça a lista dos comportamentos mencionados: dirigir carro sozinho, dirigir carro
acompanhado, consumir bebida alcoólica. b) Faça a lista dos 11 países sobre os quais são dadas informações Organize as informações em uma tabela – você vai precisar dela na atividade de Interpretação Oral, a seguir. (MS, 2002, 7ª série, p. 40)
No primeiro momento da atividade de produção escrita, solicita-se a escrita de uma tabela,
promovendo, assim, o contato do aluno com um modelo de escrita totalmente diferente do
padrão: texto gráfico. Todavia, o primeiro problema a ser destacado no comando é a ausência
de uma finalidade real para a produção. Há apenas a referência de que a tabela será utilizada
na próxima seção, promovendo a escrita de algo para a escola, pois o estudante não sabe para
que escreverá. A finalidade só está marcada na seção de Interpretação Oral:
“ Interpretação Oral: Você vai analisar, junto com seus colegas, sob a orientação do professor, os dados sobre Os limites pelo mundo, utilizando a tabela que construiu. O professor vai ler em voz alta cada uma das perguntas abaixo. Depois de ouvir a pergunta, procure a resposta que na tabela que construiu e ofereça-se para responder, quando a encontrar.” (MS, 2002, 7ª série, p. 40)
A finalidade para a escrita da tabela é responder às questões que o professor realizar,
promovendo, assim, a produção de um texto para a escola. O objetivo marcado ao lado direito
do comando, destinado ao professor, deixa claro que se deseja, primeiramente, a organização
dos dados para utilizá-los na atividade posterior, além de afirmar que: “ A atividade pretende
levar o aluno à apropriação ou à revisão de termos técnicos referentes a tabelas: coluna,
linha, casa.” (MS, 2002, 7ª série, p. 40). Desse modo, verifica-se que o comando busca
preparar o aluno para uma futura produção, isto é, o aluno escreve tabelas com o único intuito
de revisar e de gravar as suas estruturas, promovendo a escrita de algo com um aspecto
meramente mecânico.
Garcez (1998, p. 77) afirma que a intenção discursiva, nos textos dos aluno, está em
segundo plano, pois há o interesse em mostrar competência de enunciação. Além disso, o
trabalho com a motivação para escrever é extremamente importante, uma vez que o professor
pode fazer com que seu aluno traga para a sala de aula situações de sua realidade. Quando há
uma finalidade marcada que motiva o estudante a produzir um texto que demonstre sua
autoria, suas marcas pessoais, promove-se o desenvolvimento do aluno, já que, por meio de
suas próprias experiências, desenvolve um texto que estará bem próximo de sua realidade.
O comando a seguir possui a finalidade da escrita marcada na seção posterior, logo,
tem-se uma finalidade futura:
“ Produção de Texto: • Recorde: a reportagem informa que a empresa que importa a boneca
Barbie “ não tem programas específicos de combate à pirataria” . • Crie uma carta dirigida à empresa que importa a boneca Barbie,
sugerindo o que ela deveria fazer em relação a bonecas Barbie falsificadas [ ...]
Não deixe de incluir em sua carta estes temas: • Seu ponto de vista em relação a produtos falsificados. • As razões que, em sua opinião, levam pessoas a falsificar bonecas Barbie. • As razões que, em sua opinião, levam pessoas a comprar bonecas Barbie
falsificadas. • Sua sugestão sobre o destino que a empresa deveria dar a bonecas Barbie
falsificadas.” (MS, 2002, 6ª série, p. 126)
Não há uma finalidade no comando de produção proposto, estando presente na seção posterior
de “Linguagem Oral” :
“ Linguagem Oral:
• No grupo, cada um vai ler em voz alta a sua carta para os colegas. Comparem e discutam os pontos de vista e opiniões dos membros do grupo, anotando os resultados a respeito de cada um dos temas da carta.
[ ...] • Preparem, para o professor e a turma, uma exposição dos pontos de vista e
opiniões do grupo sobre cada um dos temas [ ...] • Cada grupo expõe, para o professor e a turma, os resultados de sua
discussão. (MS, 2002, 6ª série, p. 126-127)
A finalidade futura, vista na seção “Linguagem Oral” , é artificial, uma vez que
promove a escrita de um texto para ser apresentado para o professor e para a turma,
restringindo-se ao ambiente escolar. Embora, o aluno produza apenas para mostrar que
realizou a atividade, viu-se que os temas propostos para a construção da carta possibilitam a
escrita de um texto que retrata a opinião do estudante a respeito do assunto pirataria, uma vez
que sugere que o aluno dê seu ponto de vista em relação aos produtos falsificados. O
estudante é motivado, em um primeiro momento, a expor sua reflexão sobre o tema, pois sua
carta será enviada “ à empresa que importa a boneca Barbie” . Todavia na seção de
“Linguagem Oral” , esta finalidade é descartada, estando marcada a finalidade de apresentar o
texto à turma e ao professor. Este fato pode desestimular o aluno, já que, novamente, ele se
depara com a finalidade de natureza escolar: escrever para o professor e a turma, produziu
uma redação.
Outro comando que apresenta uma finalidade futura está presente na coleção de Ernani
Terra & Floriana Cavallete:
“ Produzindo Texto: (...) pensem nos temas da realidade que mais tocam sua sensibilidade. Pensem em sua cidade, no bairro, na rua, nas pessoas. Escolham o assunto sobre o qual pretendem falar e criem um verso inicial – um verso forte, que sintetize bem o que vocês sentem ou pensam. Sintam o ritmo desse verso e procurem mantê-lo no desenvolvimento do poema. Um bom recurso para conseguir ritmo é a repetição. Agrupem esses versos em estrofes, procurando dar um sentido completo a cada uma.” (TC, 2004, 5ª série, p. 132)
Como um aluno produz seu texto sem ter uma razão para isso? Será possível responder
a um enunciado sem saber o por quê? Vê-se que esse comando não apresenta uma finalidade
para a produção, fazendo com que o estudante escreva sem ter um motivo real. A finalidade
só é descrita na seção posterior “Exercitando a crítica” : “ Assim que sua dupla tiver
terminado seu poema, é interessante realizar uma rodada de leituras com o objetivo de
apreciar as produções dos colegas” (EF, 2004, 5ª série, p. 134). Novamente, há uma escrita
para a escola, escreve-se somente para apresentar a atividade para o professor e para a turma,
que são sempre os interlocutores nas atividades de produção textual.
Os comandos analisados de produção textual não apresentam uma finalidade marcada
para a escrita, sendo exposta somente na seção posterior. Assim, o aluno produz sua redação
para a escola, sem saber o porquê de sua escrita e imagina uma finalidade futura para sua
produção. O estudante, ao ler o comando de produção textual, espera que esteja marcado um
objetivo para sua escrita, todavia, muitas propostas não apresentam uma finalidade e o aluno,
ao pressupor que o destinatário do texto será o professor, “pensa em objetivos de natureza
escolar: escrever para aprender, para atender o professor, para ter nota” (VAL, 2003, p. 133).
Quando a finalidade está marcada na seção posterior podem surgir grandes problemas, pois o
aluno, caso não tenha lido a seção seguinte, já terá realizado o texto, mesmo sem saber para
que e poderá ter respondido ao comando de forma inadequada, tendo que reelaborar sua
escrita.
Como um aluno irá compreender e responder a um comando que não explicita de
imediato sua finalidade? Embora existam problemas com a finalidade futura da escrita, será
que os comandos que apresentam a finalidade marcada na própria seção de produção
promovem a escrita de textos na escola que preparam o aluno para responder ativamente ao
solicitado? É o que será analisado na próxima seção.
3.3.3 Finalidade marcada pelo comando
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 35-36), se a escola
deseja que seus alunos produzam e interpretem textos, não pode ter como unidade básica de
ensino nem a letra, nem a frase, que descontextualizadas, pouco auxiliam na capacidade de
produzir discurso. A unidade básica de ensino deve ser o texto, pois, por meio dele estudam-
se tanto os aspectos formais como os aspectos do conteúdo dentro do discurso. Ao trabalhar
com a produção textual, deve-se considerar as questões de escrita discutidas por Bakhtin
(1997): ter o que dizer; ter para quem dizer e ter razão para dizer, uma vez que juntas
constituem o verdadeiro enunciado. Na sala de aula, o professor tem como material de apoio
os livros didáticos que devem apresentar em seus comandos de produção textual esses
elementos. A finalidade da escrita deve estar presente nos comandos, já que por meio dela o
aluno sabe porque escreve, não produzindo redações que possuem o único objetivo de provar
que escreveu algo.
A partir da análise das coleções, foi possível demarcar os tipos de finalidades
presentes nos comandos de produções de textos, que se constituem em: com base no
interlocutor: 44 comandos; com base no gênero do discurso: 34; produções futuras: 14
comandos.
Vê-se que a finalidade está presente em grande número nos comandos de escrita,
porém, é preciso verificar se a intenção da produção textual promove a escrita na escola e
auxilia na formação de um aluno sujeito “que enuncia o que diz e tem consciência absoluta de
seus dizer, pois sabe o que diz” (GERALDI, 1997, p. 19). O fato de a finalidade estar marcada
no enunciado é de grande importância, contudo é preciso observar sua influência sob o
estudante durante a produção do texto.
3.3.3.1 Finalidade marcada no interlocutor
O aluno, ao se deparar com um exercício de produção textual que tem como única
finalidade a apresentação do enunciado para o professor e para os colegas de classe, irá definir
os recursos lingüísticos, segundo os gostos desses, pois são seus únicos interlocutores reais.
Este fato pode ser observado nos comandos em que a finalidade da escrita foi definida:
“apresentação do texto para o professor e para a turma”, presentes nas coleções de Magda
Soares (2002): 5ª.; 6ª.; 7ª. e 8ª séries e de Ernani Terra e Floriana Cavallete (2004): 5ª. e 6ª
séries. Eis alguns exemplos que demonstram essa finalidade:
“ Você e seus colegas vão produzir em grupo, textos imitando Carlos Drummond de Andrade: vão escrever crônicas sobre palavras que ninguém diz:
1. Prepare-se para o trabalho em grupo: • Consulte um dicionário: procure quatro ou cinco palavras que você desconhece e que
julga que a maioria das pessoas também desconhece. • Escreva frases com as palavras escolhidas, reúna-as em um parágrafo, como faz o
autor na crônica. 2. O professor vai dividir a turma em grupos. No grupo: • Cada um lê para os colegas de grupo o parágrafo que escreveu, explicando o
significado das palavras usadas. • Reúnam os parágrafos, organizando-os em um texto, imitando a crônica:
- dirijam-se a um ouvinte, como na crônica ou, se preferirem, a um leitor; - usem linguagem coloquial, como se estivessem conversando com o ouvinte ou leitor; - acusem o ouvinte ou leitor de ser ignorante, mas num tom que revela que vocês não estão falando sério.
3. Cada grupo apresenta, para o professor e a turma, o texto produzido: • Primeiro, um dos membros do grupo lê em voz alta todo o texto. • Em seguida, cada membro do grupo relê seu parágrafo, explicando as palavras que
escolheu. 4. Após a apresentação e explicação dos textos de todos os grupos, avaliem com a
orientação do professor : • Que palavras, entre as citadas nos vários textos, são as mais estranhas? • Há palavras que vocês poderiam passar a usar? • Que textos são os mais interessantes? Os mais engraçados? (MS, 2002, 8ª série, p. 166) Neste comando, é possível verificar que o objetivo marcado é produzir um texto
semelhante ao de Carlos Drummond de Andrade para apresentá-lo ao professor e à turma.
Diante desse objetivo “controlador” de escrita, uma vez que deseja a imitação de algo que já
existe para a apresentação, o aluno buscará escrever segundo o que leu anteriormente, ficando
atento ao que diz, com o intuito de agradar ao professor e aos colegas e cumprir o objetivo
solicitado, pois seu texto será julgado: “ Que textos são os mais interessantes? Os mais
engraçados?” . Assim,
O aluno é obrigado a escrever dentro de padrões previamente estipulados e, além disso, o seu texto será julgado, avaliado. O professor [e o colega], a quem o texto é remetido, [serão os principais - talvez os únicos – leitores] da redação. Consciente disso, o estudante procurará escrever a partir do que acredita que o professor [e o colega] gostará (BRITTO, 1997, p. 120).
O objetivo da produção do texto, marcada ao lado direito do exercício, destinado ao
professor é: “ produzir texto semelhante ao do cronista para apresentá-lo ao professor e a
turma” (SOARES, 2002, p. 166), deixando nítida uma finalidade de natureza escolar –
artificial. Isso ocorre, uma vez que o professor não é estimulado a agir como um mediador
“colocando questões ao estudante que orientam, dirigem, provocam sua reflexão sobre um
determinado aspecto” (GARCEZ, 1998, p. 136). Não há questões e sugestões que auxiliem o
educador em um trabalho mais reflexivo de seus estudantes.
A forte presença dos interlocutores professor e alunos e de uma finalidade voltada a
eles próprios, interfere na escrita do texto, uma vez que o estudante segue um padrão de
escrita: “ Consulte o dicionário (...) escreva frases com as palavras escolhidas, reúna-as em
um parágrafo, como faz o autor da crônica” , para demonstrar sua competência como escritor
do texto. Diante disso, o questionamento que surge é: como será exposta a autoria do aluno no
texto, sendo que ele imita algo que já foi produzido, expondo apenas novas palavras
escolhidas no dicionário? Qual será a funcionalidade dessa escrita? Descobrir novas palavras
que poderão ser utilizadas em uma escrita futura?
Outro exemplo que demonstra o objetivo de apresentar o texto para o professor e à
turma é:
“ Criação de um jornal falado Com dois colegas, faça esta atividade. Com base nas informações fornecidas pelos textos deste capítulo, criem um jornal falado (como os de televisão), no qual serão dadas as seguintes notícias: Notícia 1: uma empresa alterou o conteúdo de um de seus produtos e, por causa da queixa feita por uma consumidora, foi multada. Notícia 2: usando os dados da pesquisa, informem a variação de preço de um mesmo produto em estabelecimentos diferentes. Dois alunos, alterando as falas, irão se encarregar de dar as notícias. O terceiro aluno será chamado para comentá-las” . (TC, 2004, 5ª série, p. 57)
Vê-se que o comando sugere a escrita de duas notícias: a) “ uma empresa alterou ...” ;
b) “ usando os dados da pesquisa ...” . Observa-se que não há um roteiro de escrita da notícia,
fazendo com que os alunos escrevam seus textos sem se prenderem a uma estrutura. Neste
caso, o professor deverá agir como um mediador, auxiliando na escrita das notícias para que
não seja um texto superficial que transmita a notícia sem haver nenhuma opinião dos alunos a
respeito do que foi falado e escrito.
Em razão da situação de produção ser um jornal falado, o material didático demonstra
alguns passos a serem seguidos pelos alunos:
“ Nos jornais falados, apresentados por emissoras de rádio e de televisão, os locutores não improvisam suas falas; as notícias e os comentários são escritos previamente. Quando são apresentados por duplas, seus integrantes combinam com antecedência quem falará o quê; quando alguém vai comentar a notícia, também combina com os apresentadores o momento de fazê-lo.” (TC, 2004, 5ª série, p. 57)
Este fato pode influenciar durante a escrita do texto, pois o aluno percebe que a situação
é formal, exige um bom vocabulário e treino, fazendo com que produzam enunciados para
agradar seus interlocutores e para copiar os jornalistas que vêem nos meios de comunicação.
O tipo de texto produzido pelo aluno é o jornalístico que tem o objetivo de transmitir
informações e não de expor a opinião dos locutores. Por este motivo, o estudante poderá
expor a informação sem demonstrar o que pensa a respeito do fato, não promovendo, assim, a
reflexão do aluno e seu posicionamento diante da informação. Dessa forma, a finalidade da
escrita é artificial, restringe-se a apresentar o texto para a turma a e ao professor, promovendo
a escrita de um texto somente para ser transmitido aos interlocutores, não havendo nenhuma
sugestão para que os alunos interajam e discutam o tema apresentado.
Segundo Garcez (1998, p. 77), “a noção de autoria [nos textos dos alunos] é difusa,
como também o seu exercício, e a imitação ou cópia de clichês é uma estratégia freqüente” .
Muitos comandos de produção auxiliam na escrita dessas produções:
“ Reflita sobre a sua posição em relação a essas questões:
“ Você acha importante fazer parte de uma tribo? Você faz parte de alguma tribo ou gostaria de pertencer a alguma? Ou Você não concorda com tribos, acha desnecessário ou prejudicial pertencer a tribos, não pertence nem quer pertencer a nenhuma? 1. Escreva um texto apresentando seu ponto de vista e argumentando em defesa dele. Siga o plano seguinte, usando, como transição entre uma parte e outra, as expressões apresentadas: Introdução: Apresente o tema de seu texto: a tendência dos jovens atuais de reunirem-se em tribos. Esclareça o que são tribos de jovens, cite algumas: ´Eu, pessoalmente, considero... Na minha opinião´
Desenvolvimento: Declare seu ponto de vista e defenda-o, apresentando argumentos, exemplos: `Portanto...Por isso é que...´ Conclusão: Declare sua posição. 2. Reúna-se com colegas que tenham expressado, no texto, ponto de vistas semelhantes ao seu. 3. Cada grupo vai ler para a turma seu texto. A turma e o professor comparam os textos, identificando o ponto de vista de cada grupo e avaliando a força da argumentação, a estrutura dos textos, a linguagem” (MS, 2002, 6ª série, p. 50-51-grifos do autor).
Neste comando, o objetivo da escrita é apresentar o texto para o professor e para a
turma para que seja avaliado, fazendo com que o estudante escreva com o único objetivo de
mostrar que sabe escrever e ser aprovado pelos interlocutores. No início da atividade solicita-
se que o estudante exponha o que pensa: “ Você acha importante fazer parte de uma tribo?
Você faz parte de alguma tribo ou gostaria de pertencer a alguma? Ou Você não concorda
com tribos, acha desnecessário ou prejudicial pertencer a tribos, não pertence nem quer
pertencer a nenhuma?” , porém, vê-se que a argumentação do aluno deve ser enquadrada no
esquema proposto: “ introdução, desenvolvimento e conclusão” . No final do comando, o
aluno lê seu texto em um grupo que escolherá a melhor produção para ser apresentada ao
professor e aos colegas. A finalidade da escrita é artificial, pois em todo momento, o
estudante enquadra seu texto em um esquema e os melhores textos são escolhidos segundo:
“ a argumentação mais convincente; a estruturação mais adequada; a linguagem mais de
acordo com os objetivos” .
A questão da finalidade da escrita está interligada com a imagem do interlocutor que o
aluno possui no momento de sua escrita. Quando o estudante visualiza somente seus
interlocutores reais: professor e colega, a finalidade fica restrita ao fato de atender ao que foi
solicitado e de apresentar algum resultado a eles. Com isso, o estudante não considera o
“destinatário superior” (BAKHTIN, 1992, p. 60), não escrevendo para o meio social, mas
somente, para os destinatários marcados em sala, fazendo com que o estudante tenha o único
intuito de demonstra sua competência de escrita.
No exemplo seguinte, afirma-se que a produção escrita será divulgada, todavia o que
acontece, na verdade, é a avaliação da produção pelos colegas e pelo professor:
“ Sua cidade (ou região) possui algum parque, jardim, monumento, construção histórica ou paisagem natural que você considera importante preservar e divulgar? Por que não começar o trabalho de valorização das obras da natureza ou do homem pelo que está próximo de nós? Forme dupla com um colega e escolham um local para ser divulgado. Elaborem um material de divulgação sobre esse local interessante de sua cidade ou
região. Ele deve conter duas partes: uma descritiva (...) outra informativa. Durante a aula preparem um roteiro do que pretendem realizar e façam algumas anotações sobre os aspectos que desejam explorar. Depois disso, o encaminhamento da atividade pode ser decidido entre a turma e o professor: é possível levar o material para a sala de aula, para redigir os textos e montar o trabalho, ou fazer tudo em casa e depois levar para a turma ver e avaliar” (TC, 2004, 6ª série, p. 99-100).
Vê-se que a produção tem como interlocutores reais o colega e o professor, que
apresentam uma imagem de avaliadores textuais: “ levar o texto para a turma ver e avaliar” .
Diante disso, a finalidade que se verifica é que se produz o texto para que o professor e o
colega corrijam, não havendo uma interação entre os enunciadores, pois os critérios para a
avaliação do texto, presentes na seção: “ Exercitando a crítica” (EF, 2004, 6ª série, p.100),
não propiciam o diálogo dos interlocutores: “ Avalie a precisão das informações e a
expressividade das descrições. Elas ressaltam a importância do lugar descrito? Motivam as
pessoas a desejar visitá-lo? O texto está escrito corretamente (pontuação, grafia das
palavras, concordância)?” .
Assim,
Compreendemos que a preocupação em atender unicamente aos requisitos escolares ocupa um espaço significativo no delineamento do destinatário terceiro do aluno; a representação do que é um bom texto escolar, uma redação digna de boa nota, a redação que o professor espera, conduz a produção do estudante, mais que o “querer dizer” . (GARCEZ, 1998, p. 79)
A finalidade da produção, voltada apenas para a apresentação do texto para o professor
e para os colegas, faz com que o aluno escreva segundo o que acredita que seus interlocutores
irão gostar, produzindo um texto para a escola, com um intuito artificial de escrita, não
havendo marcas de sua autoria. O estudante não traz para o ambiente escolar a sua realidade,
como também, não escreve para interlocutores presentes no contexto social extraclasse, pois
sua finalidade é atender aos únicos destinatários que consegue visualizar: professor e colegas.
No contexto escolar, os comandos de produção textual, na maioria das vezes,
apresentam uma finalidade marcada para a escrita, seja pelo livro didático ou pelo professor.
Antes de acontecer a escrita do texto, espera-se que o estudante discuta com o professor e com
os colegas as idéias que serão expostas em seu texto, promovendo, assim, a interação do aluno
com o “outro externo” (BAKHTIN, 1992, p. 60). Além disso, espera-se que após a interação,
o estudante inicie sua escrita, dialogando consigo mesmo, promovendo uma “atividade mental
para si” (BAKHTIN, 1992, p. 116), a “ internalização” (VYGOTSKY, 1988) dos assuntos
externos (sociais) para o interior do indivíduo. Desse modo, ao escrever, o aluno não verá
somente a finalidade artificial de escrever para que o professor avalie, desenvolvendo em si a
finalidade própria de escrever para promover seu crescimento como produtor de seus próprios
textos, sendo, assim, interlocutor de si mesmo por meio da compreensão responsiva ativa,
uma vez que compreende o porquê de sua enunciação.
Observa-se que o outro exerce papel fundamental para a escrita do texto, já que a
partir dele pode-se determinar uma finalidade para a produção textual. Verificou-se que
alguns comandos consideram como “outros” o professor e o colega de sala, fazendo com que
a finalidade seja a apresentação do texto para que esses interlocutores avaliem e demonstrem
que sabem escrever. Todavia, existem comandos que ressaltam a questão do locutor ser
“outro” de si mesmo. Eis o exemplo:
“ 1. Se a pesquisa do extraterrestre fosse feita na sua casa, como ele descreveria você e sua família? Que reclamações ele ouviria sobre você? (recorde suas respostas à questão 2 do segundo texto). Escreva seu texto como se você fosse o extraterrestre que se intrometeu em sua casa. 2. Em geral, não queremos que todos leiam nosso texto, quando ele trata de
assuntos pessoais, como é o caso deste texto. Sendo assim, você pode: • ler oralmente seu texto para a turma, se não se importar que todos
conheçam o que o extraterrestre escreveria sobre você, sua casa, sua família;
• Escolher um ou alguns colegas para ler e comentar com você o seu texto; • Dar seu texto só para o professor ler; • Guardar seu texto só para você: produzir este texto deve ter ajudado a se
conhecer melhor!” (MS, 2002, 5ª série, p. 64-65).
O comando solicita a escrita de um texto descritivo: “ Escreva seu texto como se você
fosse o extraterrestre que se intrometeu em sua casa” , que poderá ser lido oralmente, poderá
ser entregue a um colega ou ao professor, demonstrando que se continua com a finalidade
artificial de escrever para cumprir a tarefa e para que os outros leiam. Contudo, é proposto
outro interlocutor: “ guarde o texto para você” , ou seja, o aluno escreve e guarda o texto
consigo, demarcando, assim, uma finalidade diferente das outras já expostas, pois o estudante
não é obrigado a mostrar ao “outro externo” , professor e colega, sua capacidade de escrita.
Será que o fato de guardar o texto para si propicia a escrita de uma auto-análise assim
como é desejado pelo livro didático? Será que os alunos, sabendo que ninguém irá ler o texto,
produzirão um enunciado que demonstre suas reflexões? O aluno consegue se ver como
sujeito ao escrever para si mesmo?
Os alunos estão habituados a um modelo tradicional de escrita que prevê a leitura de
um texto, a discussão dirigida e a produção para finalizar. Este esquema é exposto na unidade
do comando analisado: o aluno lê dois textos – “ O filho e A filha” – discute algumas questões
sobre a família e a produção textual surge como um espaço para expor tudo o que fora
discutido: “ Recorde: suas respostas às questões de Interpretação Escrita: à questão 7 do
primeiro texto e à questão 2 do segundo texto” . Assim, a escrita é uma conseqüência das
atividades prévias realizadas antes da produção, pois o estudante expõe tudo que ouviu no
papel e guarda o texto para si.
O livro didático deseja que a escrita tenha como finalidade a auto-reflexão, expondo
uma orientação na lateral da página para o professor:
“ Sugestão: Após a realização da atividade discuti-la com os alunos, levando-os a reconhecer a escrita como forma de se analisar, de se conhecer fazendo-se personagem e a explicar a opção de o texto ser lido por outros: conforme a natureza do texto, não se escreve para outros, escreve-se para si mesmo” . (MS, 2002, 5ª série, p. 65)
O professor para promover a auto-reflexão de seus alunos deve fazê-los refletir, porém
em nenhum momento no comando, evidenciam-se questões que auxiliam o estudante a se
tornar o sujeito de sua escrita. A reflexão e o diálogo do aluno consigo mesmo não podem
acontecer apenas em uma atividade, uma vez que este é um processo que requer tempo para
que o aluno desenvolva e amadureça suas opiniões para, posteriormente, expô-las em um
texto escrito. Além disso, durante e após a escrita do texto, é necessário a presença do
professor mediador que faz seus apontamentos, com o intuito de auxiliar o aluno em seu
desenvolvimento e amadurecimento como produtor. Como responder ativamente a um
comando que não auxilia na construção de um texto com a autoria do aluno? Antes de desejar
que o aluno tenha um posicionamento crítico exposto em seu texto, é preciso que tanto o livro
didático como o professor apresentem esta atitude, pois só é possível ensinar com eficiência
quando se tem domínio do assunto.
Logo, para que realmente o comando analisado apresente a finalidade de produção de
uma auto-análise, deve propor atividades de reescrita e de releitura do texto produzido após a
realização dos apontamentos do professor mediador, pois,
Na atividade de releitura, os participantes do evento, em graus e perspectivas, exercem um esforço em busca da compreensão responsiva ativa de que fala Bakhtin (...) O comentarista tenta colocar-se no lugar do produtor para compreender suas intenções e propósitos, e o produtor do texto
procura relê-lo, colocando-se numa outra posição, a de interlocutor do seu próprio discurso. (GARCEZ, 1998, p. 113)
Assim, o estudante ao ler os apontamentos, transporta-se da posição de produtor do
texto para a posição de leitor de seu texto, questionando os apontamentos e transformando sua
produção a partir da reflexão que faz com o auxílio do professor. Com isso, tem-se uma
finalidade real de produção que promove a escrita da auto-análise, fazendo com que o aluno
não tenha como única finalidade a transcrição de idéias que não propiciaram nenhuma
reflexão, mas que só comprovam que ele produziu algo.
Ao analisar esses comandos, que solicitam a escrita de uma auto-reflexão para guardá-
la consigo, verifica-se uma finalidade utópica de escrita, pois o livro didático acredita que a
simples produção desse texto propicia um diálogo do aluno consigo mesmo, todavia não há
questões que contribuam para que isso ocorra, fazendo com que a auto-reflexão não seja
realizada.
No contexto escolar, geralmente, o estudante tem como interlocutor de seus textos o
professor, que é visto, muitas vezes, como um avaliador das produções. No comando
analisado anteriormente, viu-se que o aluno possui diferentes interlocutores para a produção
textual, fato que interfere diretamente na finalidade da escrita. Um dos objetivos da produção
é “Dar seu texto só para o professor ler” , fazendo com que o aluno tenha como interlocutor
o professor. Diante disso, o aluno irá produzir segundo aquilo que o professor já expôs em
sala, com a finalidade de demonstrar que realizou a atividade e de agradar o professor: “É
lícito supor que a opção do estudante por uma forma específica estranha à sua experiência
cotidiana de linguagem deva estar vinculada a uma determinada imagem, que faz de seu
eventual interlocutor” (BRITTO, 1997, p. 119). Ao escolher o professor como interlocutor, o
aluno utilizará estruturas e um vocabulário que não correspondem ao seu, fazendo com que
sua produção tenha a finalidade artificial de atender ao professor.
A finalidade de entregar o texto para o professor ler, mesmo correspondendo a uma
finalidade de natureza escolar, não significa que se terá uma produção mal elaborada. O
problema está no fato de que os comandos não expõem aos professores questões que
propiciam a reflexão dos estudantes diante da produção. Observou-se que o comando
analisado em nenhum momento incentivou o papel de mediador que o professor pode exercer,
uma vez que ao realizar a leitura do texto do aluno pode encaminhar o estudante para a
reflexão e para o desenvolvimento de novas informações, não sendo visto como um avaliador
de textos. A partir dos apontamentos do professor mediador, o aluno inicia um “processo de
internalização” (VYGOTSKY, 1988, p. 64): a) reconstrução: após os apontamentos, o
estudante reconstrói suas opiniões; b) incorporação das idéias: o processo interpessoal com o
professor é transformado em um processo intrapessoal, pois reflete sobre tudo que recebeu do
outro externo; c) transformação: o aluno transforma seu enunciado, expondo novas idéias e
seu ponto de vista. Este é um processo que requer tempo e um posicionamento de mediador
do professor que deve ser desenvolvido com o auxilio dos materiais didáticos. Entretanto,
verificou-se nos comandos que não há nenhuma informação que promova esse
posicionamento do professor, fazendo com que os alunos produzam com o intuito de
demonstrar sua competência escrita ao professor. Assim, como os alunos desenvolverão a
interação com o outro de si mesmo, se o professor não propicia o momento de reflexão na
escrita? Será que o aluno consegue desenvolver, sem o auxilio de um mediador, um
posicionamento crítico diante de suas produções? Será que os alunos vêem uma finalidade
real de escrita que não está restrita ao fato de entregar algo ao professor que não age como um
mediador?
Na coleção de Ernani Terra & Floriana Cavallete (2004), verificaram-se comandos
com o objetivo de divulgar os textos para os colegas e para a comunidade. Veja o comando:
“ Você pesquisou a história de animais que correm riscos de extinção, isto é, de desaparecer da natureza. Forme dupla com um colega e criem com as várias informações que reuniram sobre esses animais, histórias em quadrinhos para divulgar o drama deles aos colegas da escola e à comunidade” (TC, 2004, 6ª série, p. 114).
Há, neste comando, dois tipos de interlocutores; o primeiro é o “real” (BAKHTIN,
1992, p. 60), pois tem uma imagem física, referente aos colegas da escola, o segundo
interlocutor é o “ ideal/virtual” , que tem sua imagem construída pelo aluno, referente aos
leitores da comunidade. O objetivo é divulgar o texto para esses destinatários, todavia não há,
no enunciado, nenhuma informação a respeito da divulgação do texto para a comunidade,
fazendo com que o aluno escreva somente para o colega, desenvolvendo a escrita para a
escola com a finalidade de demonstrar que produziu segundo o objetivo proposto. Além disso,
na seção posterior, “ Exercitando a crítica” , há questões para a avaliação do texto que
promovem a construção de um interlocutor – avaliador e a presença de uma finalidade
artificial para a escrita:
“ Exercitando a crítica
No momento de avaliar o trabalho dos colegas, leve em consideração o texto escolhido: ele é informativo ou narrativo? No primeiro caso, observe a correção das informações e as ilustrações feitas para mostrá-las. No segundo, avalie a engenhosidade do enredo, o suspense criado, o desfecho e a coerência da história. Observe também se não ocorreram repetições desnecessárias de palavras nos dois tipos de texto.” (TC, 2004, 6ª série, p. 114)
A proposta sugere a avaliação do texto segundo os aspectos formais de escrita, não
destacando questões referentes ao assunto abordado no texto. Será que a troca de textos entre
os colegas promove um diálogo do produtor com seu leitor e, posteriormente, consigo
mesmo? Como o aluno irá refletir sobre o que escreveu e sobre o que leu, sendo que o
material didático não propicia esta atitude? Vê-se também que em nenhum momento
solicitou-se a reescrita do texto, demonstrando a incoerência existente entre o que os autores
expõem na “ Assesoria Pedagógica” - suporte teórico que auxilia o desenvolvimento das
atividades propostas nos volumes e que oferece informações sobre a coleção:
“ Essa seção [Exercitando a crítica] pode ser considerada um prolongamento da anterior, Produzindo texto. Nela o aluno é levado a analisar criticamente o seu texto ou o do colega e refletir sobre ele, a fim de aperfeiçoá-lo posteriormente. (...) Mas é importante lembrar que essa prática de “ leitura crítica” da produção escrita não se esgota em si mesma. Ela deve levar à refacção dos textos, quando forem identificados problemas formais ou relativos a sua estrutura. É fundamental que o aluno se dê conta, ao longo de sua vida escolar, de que escrever é reecrever.” (TERRA & CAVALLETE, 2002, p. 23)
Observou-se que o comando de produção escrita tem marcado o interlocutor e a
finalidade, mas qual a funcionalidade desse texto que o aluno escreve para os colegas e para
um destinatário que não sabe se alcançará e que, provavelmente, não terá a oportunidade de
fazer com que a enunciação seja compreendida? Para quê escrever o texto? Será que a
atividade deseja que o aluno demonstre sua competência escrita?
Segundo os princípios bakhtinianos, todo enunciado é constituído da interação entre
um locutor e um ouvinte que, ao compreender “a significação de um discurso, adota para com
este discurso uma atitude responsiva ativa” (BAKHTIN, 1997, p. 290). Todavia, muitos
comandos de escrita apresentam o interlocutor de maneira artificial, fazendo com que a
finalidade também seja vista dessa forma. Eis um exemplo:
“ Escreva dois textos em prosa. No primeiro, você relatará, com suas palavras, os acontecimentos narrados no texto “ Saudosa maloca” a um colega que não conhece a letra da música.
No segundo, escreverá uma carta endereçada a uma autoridade do poder público(presidente, ministro, governador), apontando a causa da violência nas cidades e propondo soluções para esse problema. A carta deverá ser enviada pelo correio, por isso é muito importante que você preencha corretamente o envelope, indicando nome, endereço e CEP do destinatário e do remetente” (TC, 2004, 5ª série, p. 153).
Neste comando, o outro para quem a carta é destinada é apresentado de maneira
artificial, pois o aluno deve preencher o envelope, “ indicando nome, endereço e CEP do
destinatário” , contudo não há a definição de quem seja a pessoa. Diante disso, será que o
aluno acredita que sua carta irá ser encaminhada a uma autoridade? Há, nesse caso, uma
finalidade artificial de escrita, pois, provavelmente, a carta ficará com o professor que irá
avaliá-la, fazendo com que o aluno escreva para demonstrar sua competência.
Diante desse caráter artificial de escrita, que visa à escrita de textos para a escola,
muitos comandos buscam promover exercícios que tenham uma finalidade real de produção
que propiciam aos alunos uma situação de escrita, na qual se tornam sujeitos do seu
enunciado. Observe o exemplo:
“ Se por um lado se afirma que todo homem tem direito ao trabalho, por outro são cada vez mais freqüentes notícias sobre o aumento de pessoas desempregadas (...) Inicialmente, discuta com seus colegas as opiniões apresentadas nos textos anteriores. Em seguida, escreva um texto dissertativo tecendo considerações sobre o problema do desemprego. O texto produzido deverá circular entre seus colegas de classe lembre-se, portanto, de que para eles que você está escrevendo. Procure responder as seguintes questões: • Por que as pessoas ficam desempregadas? • Que conseqüências a perda do trabalho traz para a vida das pessoas? • Por que, para muitas pessoas, é tão difícil arranjar um emprego? • Estar desempregado pode humilhar as pessoas? • O desemprego é um problema que só ocorre no Brasil? • A informatização contribui para o aumento do desemprego?” (TC, 2004, 8ª série, p. 95).
Este comando traz para o contexto escolar um fato da realidade que muitos alunos
podem se identificar: o desemprego. Este assunto será discutido entre os colegas e cada um
deverá produzir seu texto, expondo seu posicionamento. O enunciado não é produzido pelo
professor, para a escola, mas sim, para o colega de classe. Quando a criança produz, sabendo
que seu companheiro de sala irá ler, a escrita flui mais natural, pois não está pressionado a
escrever segundo o que o professor deseja e pode expor o que pensa. No momento em que os
alunos conversam sobre a produção: “Observe se sua opinião é a mesma que a deles. Se
houver divergência, discuta com eles as opiniões divergentes” , o texto é o mediador dessa
interação responsável em proporcionar aos estudantes o seu crescimento como indivíduos
críticos, visto que o autor se desloca dessa posição, tornando-se um leitor crítico de seu texto
junto com o companheiro de classe. Assim, a escrita deixa de ter a finalidade apenas de ser
destinada para a escola e começa a ser vista como um meio de crescimento e amadurecimento
do aluno dentro do contexto escolar, isto é, tem uma finalidade real.
Segundo Bakhtin (1997, p. 300), para se constituir uma unidade indissolúvel
(texto/enunciado) são necessários fatores como: a compreensão do aluno sobre o objetivo do
enunciado, a explicação do que a atividade deseja e a junção de alguns fatores. O primeiro
deles é a relação do texto com a situação concreta de escrita, isto é, o aluno escreve segundo a
realidade em que está. O comando analisado será desenvolvido em sala, logo, o aluno pode
fazer uso de elementos do comando de produção e demonstrar sua opinião sobre o tema
segundo as questões expostas no comando, como: “ Que conseqüências a perda do trabalho
traz para a vida das pessoas? Estar desempregado pode humilhar as pessoas?” . Estas
questões estimulam o aluno a pensar sobre a temática estudada, além de promover a
exposição das marcas de circunstâncias individuais do aluno, ou seja, a idiossincracia. O
aluno pode expressar na escrita os seus próprios sentimentos, como raiva, indignação, sua
visão e posicionamento sobre o assunto, uma vez que o estudante já pode ter presenciado e
sentido as conseqüências do desemprego dentro do contexto familiar. Esse fator pode se
relacionar com as intervenções anteriores que o produtor presenciou antes de produzir, pois
no momento da escrita, leva-se para o texto os fatos que aconteceram na vida do autor e as
vozes dos outros indivíduos. Desse modo, observa-se que entre a palavra do outro e a palavra
do eu não há separação, porque tudo que se fala surge nos enunciados dos outros indivíduos
em formas diversas.
Este comando apresenta uma correspondência com o indivíduo, fazendo com que o
aluno encontre uma finalidade real de escrita, uma vez que pode trazer para a sala de aula suas
experiências e seu posicionamento como um modo de promover seu crescimento como
sujeito-autor de seu enunciado, não se preocupando em produzir para que o outro externo
avalie. O outro com quem o aluno interage, colega de classe, não assume um papel de
avaliador da produção, mas age como um auxiliador na construção do enunciado, pois discute
com o aluno sobre sua produção: “ discuta com eles as opiniões divergentes. Ouça com
atenção o ponto de vista de seus colegas” .
No comando analisado, constatou-se que o objetivo da escrita era trocar o texto com o
colega, fato que propiciou uma finalidade real de produção, pois o aluno escreve e se constitui
como sujeito, descartando a artificialidade da escrita na escola. Embora este objetivo tenha
conduzido o estudante a escrever na escola, existem comandos com o mesmo objetivo que
não promovem essa escrita, mas sim, para a escola. Na coleção de Soares (2002), no volume
da 5ª série, há um comando de produção textual com o objetivo de “ interagir com o colega
por meio de escrita em código” :
“ Vocês vão escrever textos inventando um sistema de escrita! 1. O professor vai dividir a turma em duplas. 2. Pense: o que é que você gostaria de dizer ou perguntar, numa mensagem secreta, ao seu par, na dupla? - Invente um código, uma cifra: com letras, com pictogramas, com ideogramas... Seja criativo! -Criptografe sua mensagem para seu par, usando o código que você inventou. 3. Entregue sua mensagem e seu código a seu par, receba a mensagem e o código dele. Usando o código inventado pelo colega, decifre a mensagem que ele criptografou para você. 4. Criptografe sua resposta à mensagem do colega, usando agora o código que ele inventou. Entregue sua resposta a seu par, criptografada no código dele, receba a resposta dele, criptografada no seu código. 5. Decifre a resposta de seu colega.” (MS, 2002, 5ª série, p. 232-234).
Neste comando, o aluno irá criptografar uma mensagem para o colega ler:
“ Criptografe sua mensagem para seu par, usando o código que você inventou” . Diante dessa
atividade, o aluno pode questionar qual a finalidade de realizá-la, pois dificilmente utilizará
esse tipo de escrita em uma situação da realidade, podendo escrevê-la somente para
demonstrar que produziu e receber uma nota.
Em uma unidade do volume da 5ª série, dos autores Terra & Cavallete (2004), um
comando de produção textual apresenta como objetivo de escrita: “ enviar o texto a um
familiar” . Veja o comando:
“ Como você viu neste capítulo, podemos mandar uma mensagem a alguém utilizando linguagem verbal, linguagem não-verbal ou linguagem mista. Vamos supor que o dia do aniversário de sua mãe ou de alguém que considera especial está chegando e você gostaria de mandar para esta pessoa um cartão de felicitações. Mas você não quer usar um desses cartões que já vêm prontos e que normalmente são vendidos em papelarias. Enfim, como você está sem dinheiro para comprar um presente, o cartão será a única lembrança que poderá ser dada a ela e, por isso, você quer que ele seja muito bonito e original. Crie um cartão para dar a quem você escolheu, felicitando esta pessoa pelo dia do aniversário. Utilize, além da linguagem verbal, linguagem não verbal, ou seja, além do texto escrito você deverá fazer um desenho ou colar alguma ilustração que você pode
recortar de alguma revista. Faça primeiro um rascunho do texto para depois o escrever no cartão. Assim, você pode evitar que ele saia com algum erro” (TC, 2004, 5ª série, p. 25).
No comando, vê-se que o aluno tem marcado seu interlocutor, ou seja, sabe para quem
escreve, o seu enunciado tem um destinatário real e não artificial: “ sua mãe ou alguém que
considera especial” , fazendo com que a escrita não seja concebida como uma atividade de
demonstração de competência, mas por meio da imagem do outro, há um processo de
construção textual real: “ o dia do aniversário da sua mãe ou de alguém que considera
especial está chegando e você gostaria de mandar um cartão de felicitações” , isto significa
que o texto realizado pelo aluno tem uma funcionalidade, pois poderá produzir em diferentes
momentos e “presentear” seus interlocutores. Assim, a finalidade da escrita também é real,
uma vez que o aluno sabe porque escreve e traz para a sala de aula suas marcas pessoais que
serão expostas no cartão destinado a um familiar.
Segundo Bakhtin (1997, p. 300), “o intuito [elemento subjetivo] entra em combinação
com o objeto do sentido [tema] para formar uma unidade indissolúvel” . No comando
analisado, o aluno deve produzir um cartão para um familiar e para isso traz para o contexto
escolar suas marcas pessoais, faz uso de palavras e de imagens que deseja: “ além do texto
escrito, você deverá fazer um desenho” . Ao unir o subjetivismo do aluno com a temática da
atividade, produzir um cartão, tem-se uma finalidade real de produção que promove a
exposição do ponto de vista do aluno, constituindo sua autoria, segundo o objetivo que o
comando solicita: escrita do cartão.
Os estudantes muito antes de freqüentar a escola “têm sua própria aritmética pré-
escolar” (VYGOTSKY, 1988, p. 95), ou seja, a criança traz para o ambiente escolar seus
próprios conhecimentos adquiridos a partir da interação com outros indivíduos. Viu-se na
seção teórica que Vygotsky (1988) afirma que a criança passa por diversos estágios de
desenvolvimento, como o potencial, o proximal e o real. É possível exemplificar esses
estágios com base no comando analisado. A atividade solicita a escrita de um cartão para um
familiar, cada aluno tem em mente o que seja um cartão e já aprendeu que a linguagem pode
ser verbal ou não-verbal durante a unidade estudada no livro didático. Estes conhecimentos
individuais de cada aluno constituem “o nível de desenvolvimento potencial” (VYGOTSKY,
1988, p. 97). Neste estágio, o aluno ainda não é capaz de produzir um cartão sozinho,
necessitando de um mediador para auxiliá-lo. Será na “zona de desenvolvimento proximal”
(VYGOTSKY, 1988, p. 97) que o professor mediador conduzirá e ensinará o aluno, a partir
da interação. É neste processo compartilhado de elaboração do cartão que o professor ensina,
o aluno aprende e se desenvolve. Quando o estudante produz seu cartão independentemente,
diz-se que atingiu “o nível de desenvolvimento real” (VYGOTSKY, 1988, p. 97) e há a
“ internalização” (VYGOTSKY, 1988) do processo de escrita do cartão, fazendo com que o
indivíduo se desenvolva como sujeito de seu texto. Todo esse processo de aprendizagem e
desenvolvimento do aluno como sujeito escritor de seu próprio texto ocorre porque há uma
finalidade real de escrita, o aluno sabe porque escreve e ao internalizar todo o processo de
produção do cartão, o aluno, sempre que for preciso, saberá produzir seu enunciado, expondo
sua autoria.
3.3.3.2 Finalidade marcada no gênero discursivo
Bakhtin (1997, p. 301) afirma que “o querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo
na escolha de um gênero discursivo” , ou seja, no momento de produzir o enunciado, o
indivíduo adapta sua finalidade à temática que desenvolverá com base no gênero discursivo,
sem renunciar à sua individualidade e subjetividade. Bakhtin aborda o gênero como um modo
de organização do acontecimento enunciativo, não o definindo somente pela estrutura interna
do texto. Existem dois tipos de gêneros: os primários e os secundários (BAKHTIN, 1997) que
se relacionam para gerar a escrita. O gênero primário se constitui em circunstâncias de uma
comunicação verbal espontânea, enquanto que o gênero secundário deve ser ensinado e
aprendido. Em uma discussão em sala de aula, tem-se um gênero primário composto das
vozes dos interlocutores, mas ao transpor esse discurso oral para o papel por meio da escrita,
surge o gênero secundário que aparece “em circunstâncias de uma comunicação cultural, mais
complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita: artística, científica”
(BAKHTIN, 1997, p. 281). Durante o processo de formação do gênero secundário há a
absorção e a transmutação do gênero primário, que se constitui em circunstâncias de uma
comunicação verbal espontânea. Os gêneros discursivos, como: poesia, narrativa, histórias em
quadrinhos, carta etc. circulam na sociedade e no contexto escolar através de diferentes meios,
jornais, revistas e painéis escolares, como pode ser visto no exemplo:
“ Agora, é a sua vez de escrever sobre a sua infância, recordando aquilo que você fez, aquilo que aconteceu com você. Depois, você vai expor seu poema, ao lado dos poemas de seus colegas, em um painel que a turma vai organizar. 1. Faça o seu poema: escreva uma série de frases curtas, enumerando fatos, acontecimentos da sua infância. [ ...]
Para que todos possam ler os poemas da turma, organizem um painel na sala de aula” (MS, 2002, 5ª série, p. 46-47).
Este comando solicita a produção de um poema sobre a infância, assim como o poema
“ Infância” , de Lalau, que foi apresentado na unidade estudada, como pode ser confirmado na
atividade de escrita: “ Invente um último verso para seu poema. Recorde: o menino ou a
menina do poema sentiu sua infância como sendo uma história em quadrinhos (...) E sua
infância, o que foi?” . O comando expõe ao aluno que é preciso produzir o texto, pois: “ seu
poema vai ser exposto num painel!” . Este objetivo da produção, que propõe apenas a
exposição do texto em mural, faz com que se tenha uma finalidade artificial de escrita, uma
vez que o texto não tem uma função social dentro da escola, não se constituindo como ponto
de partida para outra proposta de escrita ou discussão. É importante ressaltar que o fato de
expor o texto em um painel não pode exercer função de objetivo ou de finalidade da escrita,
pois a exposição da produção é um meio de circulação do enunciado e não um motivo que
impulsione o aluno a escrever. O trabalho com a escrita é finalizado com a exposição dos
textos que terminam em um painel da escola, fazendo com que muitos alunos não se sintam
motivados a compartilhar suas experiências de infância com outros interlocutores.
Outro exemplo:
“ Escreva um texto com este titulo: Nós somos assim? - na primeira parte, explique o “ assim” da pergunta. Exponha como o adolescente é hoje visto pelos outros: pelos adultos, pelas leis. Se necessário, reveja os textos lidos nesta unidade e as atividades de Produção de Texto e de Linguagem Oral. - na segunda parte, exponha como você vê o adolescente atual. - respondendo à pergunta do título você pode concluir que: “ Sim, nós somos assim, ou que não, nós não somos assim, ou que alguns adolescentes são assim, outros não são, ou que os “ outros” têm razão apenas em alguns aspectos” . Para que todos possam ler o que os colegas escreveram, organizem um painel na sala de aula, pregando nele todos os textos” (MS, 2002, 7ª série, p. 73-74).
Observa-se que objetivo da escrita é produzir textos argumentativos sobre a
adolescência que terão como meio de circulação o painel da sala de aula, promovendo uma
produção artificial de escrita, uma vez que o aluno escreve para cumprir o solicitado:
“ Escreva um texto com este título: Nós somos assim?” . Este comando finaliza a Unidade 1:
“ Nós somos assim?” , fazendo com que a produção seja vista como uma retomada das idéias e
dos textos lidos pelos estudantes no decorrer da unidade, como pode ser observado na
afirmação: “ Exponha como o adolescente é hoje visto pelos outros: pelos adultos, pelas leis.
Se necessário, reveja os textos lidos nesta unidade e as atividades de Produção de Texto e de
Linguagem Oral” . Não parece que o texto será uma síntese de tudo que o aluno estudou
durante a unidade? Este fato pode fazer com que o estudante veja a escrita como um momento
de exposição de tudo que ele já viu, fazendo com que produza, muitas vezes, um texto sem
coerência, pois não consegue expor de maneira coerente as idéias e também não as articula
com sua própria opinião. Além disso, há um esquema para a produção do texto: “ na primeira
parte, explique o “ assim” da pergunta (...) na segunda parte, exponha como você vê o
adolescente atual (...) respondendo à pergunta do título você pode concluir que...” , que
conduz toda a escrita. Diante disso, o aluno escreve segundo o roteiro exposto, apresenta as
idéias já discutidas em sala e finaliza o texto com uma das sugestões apresentadas pelo
comando, uma vez que é mais prático copiar opiniões prontas do que produzi-las: “ Sim, nós
somos assim, ou que não, nós não somos assim, ou que alguns adolescentes são assim, outros
não são, ou que os “ outros” têm razão apenas em alguns aspectos” . A partir desse esquema,
é possível questionar: será que o roteiro exposto no comando é a finalidade que leva, por
conseqüência, à produção textual? Vê-se que o aluno escreve somente com o intuito de seguir
esse roteiro para demonstrar sua competência escrita, não expondo suas idéias, mas sim,
reproduzindo as opiniões já vistas em sala no seu texto, escrevendo uma redação para a
escola, que será divulgada apenas no painel, não sabendo se este ficará restrito à sala de aula
ou ao pátio da escola.
Além da finalidade artificial, alcançada por meio do objetivo de seguir o roteiro, há,
ainda, uma finalidade de produção futura, pois o roteiro apresentado prepara o aluno para
futuras produções, uma vez que o texto é composto por três partes: introdução (com a opinião
dos adultos e das leis sobre o adolescente); desenvolvimento (o aluno expõe o que pensa de
acordo com o que estudou) e conclusão (há alguns recursos para responder a questão: “ Nós
somos assim?” , presentes na introdução). Vê-se que o aluno não está livre para produzir o
texto do seu modo, ele deve enquadrar-se nos moldes escolares. Assim, o estudante produz
somente com o intuito de escrever algo para cumprir o solicitado, ter seu texto fixado e
esquecido no mural e memorizar o esquema para “ uma estruturação adequada do texto”
(SOARES, 2002, p. 73).
Existem comandos que trazem a realidade do aluno para a sala de aula, fazendo com
que veja uma funcionalidade maior para produzir seu texto:
“ Organize, com os colegas da classe, uma campanha alertando os moradores de sua cidade para que não joguem lixo nas ruas.
Escolham, inicialmente, um bom nome para a campanha. A seguir, redijam folhetos explicativos informando às pessoas por que não se deve jogar lixo nas ruas. Os folhetos poderão ser afixados em murais ou distribuídos diretamente aos moradores” (TC, 2004, 5ª série, p. 191).
O comando tem como finalidade a produção de folhetos e a organização de uma
campanha contra o lixo nas ruas. Os folhetos serão fixados em murais ou entregues aos
moradores da comunidade. Vê-se que a finalidade de produzir uma campanha não é restrita ao
contexto escolar, uma vez que os textos circularão entre os moradores da comunidade,
fazendo com que os alunos tenham uma finalidade real para produzir: conscientizar os
moradores para que não joguem lixo nas ruas. Não há no comando nenhuma indicação ao
professor sobre como realizar a distribuição dos folhetos, todavia isso pode ser realizado pelos
próprios estudantes que estarão motivados, em razão de produzir m texto com um gênero que
difere dos outros normalmente estudados na escola e que serão expostos em um mural.
Segundo Bakhtin (1997, p. 300), para se constituir um enunciado são necessários
alguns fatores. O primeiro deles é a relação do texto com a situação concreta de escrita, isto é,
o estudante escreve segundo a realidade em que está. No comando analisado, o estudante traz
para o contexto escolar informações que já possui sobre a questão ambiental (“marca de
circunstância individual” –BAKHTIN, 1997), dividindo-as e relacionando-as com as
informações de seus colegas (“vozes dos outros indivíduos”) até que consigam elaborar um
texto: “É precisamente este movimento que importa: do vivido particular, somado a outros
vividos particulares revelados por seus colegas, a reflexão e a construção de categorias para
compreender o particular no geral em que se inserem” (GERALDI, 1993, p. 164). Para que
haja esses fatores no momento da escrita, é necessário que o aluno compreenda o objetivo do
comando, pois, assim, conseguirá responder ativamente ao solicitado.
Nas coleções analisadas, verificaram-se comandos com a finalidade de produzir o
texto para organizar um livro ou uma pasta:
“ Você e cada um de seus colegas também têm um caso para contar: alguma coisa que aconteceu com vocês mesmos, ou com um irmão ou irmã... Seria bom ouvir as historinhas que vocês têm para contar, mas seriam muitas! Como fazer, para que todos possam contar a sua? Só escrevendo! Depois, vocês vão organizar um livro com as historinhas, para que todos possam lê-las. (...) O livro pode ficar na sala de aula para que todos possam lê-lo. Ou pode ser levado para casa, cada dia por um de vocês, para ler, mostrar à família, ler algumas historinhas para alguém. Depois o livro pode ser emprestado para outras turmas ou ir para a biblioteca da escola” (MS, 2002, 5ª série, p. 101-102).
Vê-se que o aluno irá produzir com o intuito de construir um livro que ultrapassará o
contexto escolar, podendo chegar até a família do aluno ou ser colocado na biblioteca da
escola. O enunciado não é produzido para o professor, para a escola, mas sim, para os colegas,
os familiares e os outros leitores, fazendo com que não se produza para demonstrar apenas
uma competência escrita. Assim, o enunciado construído tem uma funcionalidade: contar um
caso que será exposto em um livro e lido por diferentes leitores. Observa-se que o objetivo do
comando é a formação de um livro que também será o meio de circulação dos textos dos
alunos em diferentes contextos enunciativos, com isso, a finalidade presente é real, pois o
estudante é incentivado a escrever para que outros interlocutores leiam, promovendo uma
produção além do contexto escolar. O aluno percebe que pode existir outros interlocutores
para seu texto, não escrevendo somente para o professor e para o colega.
Outro comando:
“ Converse com pessoas mais velhas- avós, bisavós, tios, vizinhos- e peça a elas que contem historinhas antigas, de outros tempos. Antes de serem escritas, essas histórias deverão ser relatadas oralmente para a turma. Em seguida, você e seus colegas deverão eleger as mais interessantes, que serão redigidas em grupo. Depois, todos vocês podem criar o Livro de Memórias Ancestrais da turma, em que essas histórias serão cuidadosamente escritas” (TC, 2004, 5ª série, p. 96).
Neste comando, verifica-se que o texto fará parte de um livro, todavia não há nenhuma
funcionalidade para a atividade, como na proposta anterior, pois não se sabe o que será feito
com o livro. Em razão de não haver um destino para a produção, acredita-se que,
provavelmente, ficará restrita à sala de aula para o colega e o professor lerem e avaliarem.
Esta hipótese pode ser confirmada na seção “ Exercitando a crítica” , apresentada logo após a
produção textual:
“ Leia e comente os textos produzidos tendo em vista alguns critérios: coerência da história (Ela convence? Não há contradições?), clareza, uso do vocabulário adequado, caracterização de personagens. Observe também que em toda a história interessante há um conflito entre personagens, que pode ser representado por uma briga, um desacordo, um problema... Esse conflito tem conseqüências, ele se complica, e chega a um momento em que precisa ser resolvido” (TC, 2004, 5ª série, p. 96).
O texto será avaliado segundo o aspecto formal da língua, não sendo questionado o
conteúdo das histórias contadas pelos alunos. Diante disso, o estudante escreve já sabendo que
seu texto será avaliado pelo professor e pelo colega, não apresentando uma motivação para
escrever, pois seu único intuito será produzir para receber a premiação: a nota. Neste caso, o
gênero livro não promove uma escrita na escola, mas sim, uma escrita para a escola que não
promove o desenvolvimento social do aluno como produtor de textos.
O objetivo de um dos comandos analisados é enviar o texto a um jornal ou a uma
revista:
“ Escreva a um jornal ou a uma revista uma carta em que você apresenta a sua opinião a respeito da ação do homem sobre o meio ambiente, alertando os leitores desse jornal ou revista sobre as possíveis conseqüências caso os seres humanos continuem interferindo de maneira irresponsável na natureza” (TC, 2004, 8ª série, p. 42).
O aluno apresentará seu posicionamento no texto a respeito da natureza para enviá-lo a
um jornal ou revista que será um meio de circulação da escrita Entretanto não há informações
no comando que comprovem que o texto terá esse destino, fazendo com que, muitas vezes, o
aluno escreva para demonstrar sua competência, pois sabe que seu texto ficará restrito ao
contexto escolar, sendo lido apenas pelo professor. Ao ter em mente que seu destinatário é o
professor, o estudante escreve para a escola, produzindo uma redação.
Observa-se que o comando faz menção às atividades realizadas antes da produção do
texto, afirmando que a partir delas o aluno conseguirá produzir seu enunciado. Para Sercundes
(1997, p. 83), neste caso “as atividades prévias funcionam como um ponto de partida [e como
um pretexto] para desencadear uma proposta de escrita” . Desse modo, a finalidade da escrita é
artificial, pois visa somente à produção de algo que retrate as informações adquiridas no
capítulo.
Segundo Evangelista (1998, p. 122), é necessário haver objetivos para se produzir um
texto, pois “em qualquer enunciado, captamos, compreendemos, sentimos o intuito discursivo
ou o querer dizer do locutor” (BAKHTIN, 1997, p. 300). Durante a leitura do texto ocorre
uma relação intersubjetiva do leitor com o enunciado, uma vez que “quem lê reinterpreta o
caminho que o texto sugere, podendo, portanto, enxergar objetivos até diferentes dos
pretendidos pelo autor” (EVANGELISTA, 1998, p. 123). Vê-se, então, a importância de
haver uma finalidade para a escrita e um leitor que a recebe. Na escola, geralmente, a
produção é realizada com o intuito de ser entregue ao professor que atribuirá nota. Entretanto,
existem comandos que propõem outros tipos de leitores e de objetivos para escrita:
“ Você deverá criar junto com seus colegas uma campanha para chamar a atenção da comunidade para o risco de ingerir água de má qualidade. Caso necessite de mais informações sobre o tema, você poderá consultar seu professor de ciências. Criem cartazes ou um texto expositivo para informar as pessoas a respeito dos cuidados que se devem ter com o consumo de água e sobre como obter água de boa qualidade” (TC, 2004, 8ª série, p. 27).
Este comando solicita a criação de uma campanha com o objetivo de “ informar as
pessoas a respeito com os cuidados que se devem ter com o consumo de água e como obter
água de boa qualidade” . Vê-se que a atividade traz uma situação da realidade do aluno para a
sala de aula, favorecendo a escrita de um enunciado completo, pois, para constituir uma
“unidade indissolúvel” (BAKHTIN, 1997), é necessário intuito e fatores como a situação
concreta de escrita que, no caso do comando, refere-se ao contexto escolar. É neste local que
será discutido um assunto do conhecimento de todos, fazendo com que cada um demonstre o
que pensa: “ releia o texto e discuta com seus colegas” . Os leitores dos textos da campanha
não são somente o professor e o colega, mas também outros indivíduos, promovendo, assim, a
escrita de um texto que demonstre o posicionamento do aluno. A finalidade da produção é
real, pois promove a escrita de um texto que ultrapassa o ambiente escolar e que favorece a
discussão dos alunos a respeito do assunto.
3.3.3.3 Finalidade para produções futuras
Na coleção de Magda Soares (2002), verificou-se, em alguns comandos, uma
finalidade de escrita futura, pois, o texto é produzido com o intuito de ser apresentado e lido
na atividade posterior ou de ser apresentado e discutido na atividade posterior. Eis um
exemplo:
“ 1. O texto enumera frases típicas de mãe para filho. Escreva frases típicas de filho para mãe. Você pode: pedir ajuda ao texto; usar sua memória; observar o que falam à sua volta; fazer entrevistas. 2. O professor vai organizar a turma em grupos (...) Na atividade de Linguagem Oral, o grupo vai ler seu texto para o professor e a turma. Distribua frases pelos membros do grupo, para que todos tenham a oportunidade de ler” (MS, 2002, 5ª série, p. 83).
Neste comando, a finalidade marcada é produzir o texto para ser apresentado e lido
somente na atividade posterior: “Linguagem Oral” . Vê-se que o intuito do estudante será
apenas escolher frases e lê-las “ com a entonação adequada” , não havendo um trabalho que
propicie a reflexão e a interação dos alunos diante dos textos produzidos. Verificou-se, assim,
que a finalidade futura de escrita propicia uma produção artificial, para a escola, pois há
somente a leitura do enunciado e as questões, que segundo o comando propõe a discussão, são
voltadas para o aspecto formal do texto, não incentivando a reflexão sobre o assunto: “ que
grupo produziu a melhor coletânea de frases; qual foi a melhor leitura oral do texto” .
Segundo a orientação exposta na lateral da página, a atividade de “ Linguagem Oral” :
“ pretende desenvolver as habilidades de ler oralmente em situação formal (diante de um
grande grupo), com expressividade, adequada entonação e inflexão de voz” (SOARES, 2002,
p.83). Observa-se que o texto produzido pelos alunos são frases que as mães utilizam com
seus filhos, todavia, é importante destacar que essas frases foram vistas durante toda a
unidade em atividades como “Leitura Oral” e “ Interpretação Escrita” , fazendo com que
muitos alunos possam ver a escrita como uma retomada de idéias vistas nas atividades
prévias.
No comando analisado, vê-se que há a apresentação e a leitura do texto, não havendo a
discussão dos alunos sobre o assunto. Porém, existem comandos com a finalidade futura de
escrita que propõem a discussão dos alunos sobre o que foi estudado:
“ Certamente a crônica ´Os comícios dos adolescentes não deixou você e seus colegas indiferentes: afinal, a crônica é sobre vocês, os adolescentes. Na atividade de Linguagem Oral, você vai discutir com o professor e seus colegas sua opinião sobre a crônica. Antes, porém, prepare-se individualmente para essa discussão. 2. Escreva as reflexões que a crônica despertou em você; vá registrando livremente suas idéias, oriente-se por estas questões: - O cronista tem razão? - Nós, os adolescentes, somos todos assim?ou não? Se há os que não são assim, por que não são? -Se somos assim, estamos certos em agir como descreve o cronista? Ou não? -Os adultos estão certos quando nos vêem assim? Estão errados? 3. Reveja o registro de suas idéias e opiniões e, se for necessário, reescreva-as, organizando-as, de modo que o texto possa auxiliá-lo na atividade de Linguagem Oral.” (MS, 2002, 7ª série, p. 14-15).
Na atividade de “Produção de Texto” , o aluno escreve seu enunciado, expondo seu
posicionamento a respeito do texto “ Os comícios dos adolescentes” , de Moacyr Scliar. O
estudante, neste primeiro momento, irá refletir com o auxílio das questões expostas no
comando: “ O cronista tem razão?; Nós, os adolescentes, somos todos assim?” etc., para
posteriormente utilizar seu ponto de vista no momento do debate que apresentará a questão:
“ Vocês concordam com o retrato que Moacyr Scliar faz dos adolescentes em sua crônica?” .
A partir da questão, o aluno vai expor o que pensa a respeito do assunto, interagindo com seus
colegas e trocando informações.
O momento da produção do texto promove ao aluno uma conversa consigo mesmo,
por meio das questões que orientam a escrita. Com isso, há a possibilidade de o aluno
conversar com o “outro de si mesmo” (BAKHTIN, 1997), fazendo com que a escrita seja uma
resposta ativa ao comando. Assim, pode-se dizer que o aluno interage com seu texto, expondo
seu posicionamento e que o livro didático é o mediador que traz questões que auxiliam no
processo de reflexão do aluno a respeito da adolescência. O objetivo para a escrita, exposto ao
professor na lateral da página, é preparar o aluno para a atividade de “Linguagem Oral” , não
expondo a possibilidade de que, neste momento inicial, o aluno conversará consigo mesmo
para que posteriormente exponha o seu posicionamento na atividade de “Linguagem Oral” .
Neste comando de escrita, observa-se que a finalidade futura de produção promove a reflexão
do aluno, fazendo com que no momento da discussão, ele já tenha suas idéias em mente.
Assim, o aluno não possui a finalidade de demonstrar sua competência escrita, mas sim, de
refletir, em um primeiro momento, para depois expor o que pensa, construindo com o auxílio
de seu colega o enunciado que é constituído de diferentes vozes (BAKHTIN, 1997).
Viu-se, nesse último comando, que a finalidade futura de produzir o texto para que
posteriormente houvesse a discussão promoveu a reflexão do estudante a respeito do assunto,
uma vez que as questões auxiliam nesse processo. Todavia existem comandos com uma
finalidade futura que não propiciam o desenvolvimento do aluno como sujeito, fazendo com
que ele escreva para a escola. Na coleção de Magda Soares (2002), nos volumes da 6ª. e 8ª.
séries, há comandos com a mesma estrutura que solicitam a anotação de idéias durante vários
capítulos, pois no futuro as informações coletadas auxiliarão na escrita do texto.
A unidade 4: “ Publicidade: modos de olhar” , do volume da 6ª série é composta por 5
textos sobre a publicidade, todos eles são acompanhados por uma seção de produção textual
que somente solicita a anotação de idéias para uma futura produção:
“ Mais adiante, nesta unidade, você vai escrever um texto expondo o que você pensa da publicidade. Para facilitar essa futura produção de texto, comece a anotar as idéias que os textos e as discussões com o professor e os colegas vão sugerindo. (p. 219) (...) Retome as anotações que você começou a fazer, na atividade de Produção de Texto da p. 219, e continue preparando-se para escrever um texto sobre a publicidade, mais adiante, nesta unidade. (p. 233)
(...) Retome, mais uma vez, as anotações que você vem fazendo sobre aspectos positivos e negativos da publicidade, como preparação para escrver, mais adiante, o seu texto sobre o tema. (p. 237) (...) Retome as anotações que você vem fazendo, como preparação para escrever um texto sobre a publicidade, e acrescente, na ficha ou página de anotações a favor, os aspectos positivos apontados no texto lido. (p. 242)” (MS, 2002, 6ª série, p. 219-242).
Neste primeiro momento, antes da escrita do texto, há o levantamento de informações
que constituirão o texto do aluno. Soares (2002, p. 219) afirma, na sugestão presente na lateral
da página destinada ao professor, que o objetivo dessas anotações é “ Apoio à memória, em
processo de preparação para produção futura do texto” , evidenciando que o texto será
escrito somente no futuro, fazendo com que o aluno veja como finalidade para a escrita a
cópia de frases dos textos que leu nas atividades anteriores. O aluno, durante algum tempo, irá
registrar em seu caderno várias opiniões a favor e contra a publicidade, todavia em nenhum
momento o comando sugere a reflexão do aluno a respeito do assunto. A escrita é uma
atividade complexa que exige reflexão, seria interessante que o próprio exercício fosse
encaminhando o aluno a pensar sobre as opiniões que ele coletou, fazendo com que ele veja a
coleta das informações como um momento de exposição de suas idéias diante de outras
opiniões e de amadurecimento para a produção de um texto com suas marcas e sua autoria.
Contudo, a autora (2002, p. 219) expõe na sugestão ao professor:
“ Sugestão: Sendo esta a primeira produção de texto com este objetivo, nesta coleção, e considerando a importância, para a vida escolar e profissional, da habilidade que desenvolve, é conveniente que a atividade seja realizada em sala de aula, sob a supervisão do professor. Orientar os alunos sobretudo na anotação de frases para futuras citações – uso de aspas, registro da referência.” Tem-se, assim, a finalidade de demonstrar ao aluno os aspectos formais da produção,
não promovendo o processo de internalização, no qual o estudante reconstrói seu
posicionamento a respeito do tema, incorporando as opiniões dos outros com quem interage e
transformando as informações interpessoais em intrapessoais (VYGOTSKY, 1998, p. 64).
Após a anotação das idéias, que constituirão o texto, o aluno deve produzir seu texto:
“ Chegou o momento de você produzir o seu texto sobre a publicidade. Recorde o título desta unidade: ´Publicidade: modos de olhar´. Organiza suas idéias:
- Retome as anotações a favor da publicidade e as anotações contra a publicidade, que você veio fazendo ao longo da unidade. Orientando-se pelas listas e consultando as anotações feitas ao longo da unidade, escreva seu texto, que deve ter as seguintes partes: Introdução: apresente o tema do texto; Argumentos a favor e contra a publicidade: cite frases dos textos estudados; Conclusão: comece com expressões como: O que se pode concluir é que...” (MS, 2002, 6ª série, p. 244-245).
Observa-se que o texto será produzido segundo um esquema de escrita: introdução;
desenvolvimento (argumentação) e conclusão, evidenciando uma finalidade futura artificial,
pois o aluno, desde criança, é “treinado” a escrever segundo um roteiro de produção que é
repetido até chegar o momento do Concurso Vestibular. Vê-se que o aluno deverá expor
argumentos a favor e contar a publicidade, além de ter que expor seu posicionamento:
“ declare sua posição: o seu modo de olhar a publicidade” , a respeito do assunto. Contudo
em nenhuma seção anterior de produção, o aluno expôs seu ponto de vista, tendo que
“refletir” sobre um assunto no momento da produção textual. Com isso, o aluno irá escrever
para a escola, com a finalidade artificial de demonstrar sua competência escrita para o
professor, que será o leitor do texto.
Garcez (1998, p. 77) afirma que é necessário haver motivação para escrever, uma vez
que faz com que o estudante traga para a sala de aula “o impulso que leva a escrever mais
próximo possível da situação real de vida” . Quando o comando tem uma finalidade de escrita
que promove a exposição da realidade do aluno e de suas idéias, faz com que a autoria e a
subjetividade fiquem expostas na produção, escrevendo, assim, um texto na escola que auxilia
no desenvolvimento do estudante. Viu-se, no último comando, que não há uma motivação
para a escrita do texto, pois a finalidade futura artificial propicia a escrita de uma redação que
se enquadra em moldes préestabelecidos, apresenta informações já ditas por outros indivíduos
e que não promove a expressão da opinião do próprio aluno. Será que o estudante sente-se
motivado a produzir diante de um comando como esse?!
CONCLUSÃO
Esta pesquisa teve o objetivo de identificar as finalidades da escrita presentes nas
propostas de produção textual no livro didático de Língua Portuguesa. A finalidade da escrita
é um dos elementos que, segundo Bakhtin (1997), são essenciais no momento de produzir um
enunciado, uma vez que os interlocutores devem possuir uma razão para expor suas opiniões
em um diálogo interativo.
A pesquisa apresentou como primeiro objetivo específico identificar as finalidades
apresentadas nas propostas de produção textual do material didático. Para tal, foram
selecionadas as coleções e verificaram-se as finalidades presentes nos comandos,
sistematizando-as numa taxonomia: a) finalidade não marcada pelo comando: artificial; b)
finalidade marcada na seção posterior; c) finalidade marcada pelo comando; d) finalidade
marcada no interlocutor; e) finalidade marcada no gênero do discurso; f) finalidade para
produções futuras. Para cada um desses itens foram selecionados comandos de produção
textual dos livros didáticos de Língua Portuguesa.
O segundo objetivo específico foi analisar a influência que as finalidades exerciam nas
propostas de produção de texto, uma vez que elas são responsáveis pela escrita de um texto
para a escola ou na escola. Verificou-se que, embora haja, em alguns comandos, a presença de
finalidades para a produção, o problema decorre do fato de que a maioria deles não promove a
escrita na escola, mas sim, para a escola. O aluno escreve o texto somente para demonstrar
sua competência de utilização da língua escrita e para ganhar uma nota, não havendo a
preocupação com a exposição do ponto de vista do aluno e com a construção de sua autoria. O
que se observa nos livros didáticos é que, embora tenham pressupostos teóricos voltados para
o sociointeracionismo, apresentam comandos de produção textual com uma concepção escolar
de escrita que obriga o aluno a escrever dentro de padrões estipulados para que,
posteriormente, seu texto seja julgado e avaliado pelo interlocutor, o professor ou o colega de
classe, assim como pode ser visto nas análises apresentadas na terceira parte deste texto.
A análise do material didático não foi realizada apenas com o objetivo de apontar as
incoerências dos comandos, também tinha a intenção de promover a reflexão sobre as
propostas de produção textual, a fim de contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem
da escrita na escola. É por meio de pesquisas como esta que os educadores visualizam o modo
de ensino e aprendizagem que os livros didáticos dispõem para os estudantes, fazendo com
que, no momento de trabalhar com o material didático, o professor fique atento ao modo
como deve encaminhar as produções escritas de seus alunos.
É importante afirmar que a produção textual é uma das seções de maior importância
no livro didático de Língua Portuguesa, uma vez que a produção de textos é o “ponto de
partida de todo o processo de ensino/aprendizagem da língua [pois] é no texto que a língua se
revela em sua totalidade quer enquanto conjunto de formas (...), quer enquanto discurso que
remete a uma relação intersubjetiva...” (GERALDI, 1993, p. 135). É por meio da escrita que o
aluno interage com o mundo ao seu redor e consigo mesmo, expondo seus pensamentos e
idéias e respondendo ativamente aos enunciados realizados a ele e por ele.
Desse modo, dentro dos limites a que esta pesquisa se restringiu, espera-se que tenha
colaborado para uma compreensão mais ampla da importância de haver uma finalidade no
momento de produção de um enunciado escrito, principalmente, na produção textual dos
alunos de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, uma vez que, por meio de comandos que
auxiliam na reflexão do assunto, o estudante tem a possibilidade de aprender e desenvolver
novos conhecimentos. Além disso, espera-se que as análises e as reflexões apresentadas
contribuam para a elaboração de outros comandos de produção textual para o Ensino
Fundamental, pois muitos deles apresentam problemas quanto à questão da finalidade da
escrita.
REFERÊNCIAS
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1992. BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997; 2003. BRASIL, SEF. Parâmetros curriculares nacionais: Língua Portuguesa: 1º e 2º ciclos. Brasília: SEF, 1997. BRASIL, SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa: 5ª. a 8ª. Série. Brasília: SEF, 1998. BRITTO, L. P. L. Em terra de surdos-mudos: um estudo sobre as condições de produção de textos escolares. In: GERALDI, J. W. (org). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1997, p. 117-126. BRONCKART, J. P. Atividade de linguagem, textos e discursos. São Paulo: EDUC,1999. EVANGELISTA, A. A. M. et. Al. Professor-leitor, aluno-autor: reflexões sobre avaliação do texto escolar. Intermédio-cadernos Ceale. Vol.III, ano11, outubro, 1998. GARCEZ, L. H. C. A escrita e o outro: os modos de participação na construção do texto. Brasília: UNB, 1998. GERALDI, J. W. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1993. GERALDI, J. W. Da redação à produção de textos. In: GERALDI, J. W.; CITELLI, B. (orgs.). Aprender e ensinar com textos de alunos. Vol. 1. São Paulo: Cortez, 1997, p.17-24. GERALDI, J.W. Escrita, uso da escrita e avaliação. In: GERALDI, J.W. (org). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1997, p. 129-130. KLEIMAN, A.B. Concepção da escrita na escola e formação do professor. In: VALENTE, A. (org.). Aulas de português: perspectivas inovadoras. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 67-82. KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002. LANDSMANN, L. T. Aprendizagem da linguagem escrita: processos evolutivos e implicações didáticas. São Paulo: Ática, 1995. MARINHO, J. H. C. Produção textual. In: DELL’ ISOLA, R. P.; MENDES, E. A. M. (orgs.). Reflexões sobre a língua portuguesa: ensino e pesquisa. Campinas: Pontes, 1997, p 87-95.
OLIVEIRA, C. E. Autoria: a criança e a escrita de histórias inventadas. Londrina: Eduel, 2004, p. 11-53.
PNLD. Programa Nacional do Livro Didático de língua portuguesa (2005). Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/home/livro_didatico/pnld2005_portugues.pdf > Acesso em 20 de janeiro de 2006. SERAFINI, M. T. Como escrever textos. São Paulo: Globo, 1992. SERCUNDES, M. M. I. Ensinando a escrever. In: GERALDI; J. W.; CITELLI, B. (orgs.). Aprender e ensinar com textos de alunos. Vol. 1. São Paulo: Cortez, 1997, p. 75-97. SOARES, M. Português: uma proposta para o letramento. São Paulo: Moderna, 2002.
TERRA, E.; CAVALLETE, F., Português para todos. São Paulo: Scipione, 2004.
VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991, p. 23-24.
VAL, M. G. C. Atividades de produção de textos escritos em livros didáticos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental. In: ROJO, R.; BATISTA, A.A.G. (org). Livro didático de língua portuguesa, letramento e cultura da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003, p. 125-152. VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988.