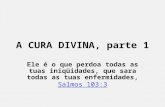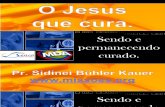63552251 cura-e-reencarnacao-o-processo-de-cura-no-santo-daime
Religião e Cura 1993
-
Upload
anonymous-kgl2ioc -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
description
Transcript of Religião e Cura 1993

ARTIGO / ARTICLE
316 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/set, 1993
Religião e Cura: Algumas Reflexões Sobre a ExperiênciaReligiosa das Classes Populares Urbanas 1
Religion and Cure: Some Thoughts on the Religious Experienceof Urban Popular Classes
Miriam Cristina Rabelo 2
RABELO, M. C. Religion and Cure: Some Thoughts on the Religious Experience of UrbanPopular Classes. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/sep, 1993.The importance of religious cults in providing healing services for Brazil’s urban poor is nowwidely acknowledged. This study focuses on a poor neighbourhood in Salvador and the historyof the illness of a young woman who resorted to several religious therapies beginning at thetime of onset of her disease. The article seeks to contribute to an understanding of the ways inwhich the world views and healing projects of various religions are actually incorporated intothe experience of ill individuals and their family members.Key words: Religion; Cure; Therapies; Culture and Illness; Urban Brazil
INTRODUÇÃO
O estudo da religiosidade das classes popula-res urbanas tem apontado para o papel centraldos cultos religiosos, enquanto agências tera-pêuticas (Monteiro, 1977; Montero, 1985;Greenfield, 1992). Em bairros populares deSalvador, a pluralidade de cultos que oferecemserviços de cura salta aos olhos, levantando aimportante questão de se compreender como osindivíduos se utilizam de tais serviços para lidarcom a experiência da aflição. Este trabalho visalevantar algumas questões acerca da experiênciareligiosa de habitantes de um bairro pobre deSalvador, o Nordeste de Amaralina, enquantoexperiência que é, em grande medida, construí-da em termos de busca de solução para proble-mas de doença e aflição.
Vários estudos têm-se voltado para umaanálise das diferentes estratégias pelas quais asreligiões reinterpretam a experiência da doen-ça e modificam a maneira pela qual doente e
comunidade percebem o problema (Turner,1967; Levi-Strauss, 1967, 1975; Kapferer, 1979;Comaroff, 1980; Kleinman, 1980; Csordas,1983). Perpassando tais estudos está o argumen-to central de que as terapias religiosas curam aoimpor ordem sobre a experiência caótica dosofredor e daqueles diretamente responsáveispor ele. Na maioria dos casos, as terapiasreligiosas são abordadas sob a perspectiva doculto enquanto campo organizado de práticas erepresentações, ao interior do qual o especialistareligioso manipula um conjunto dado de símbo-los para produzir a cura. Para que os símbolosreligiosos funcionem, isto é produzam cura, épreciso que sejam compartilhados pelo curador,o doente e sua comunidade de referência;usualmente, toma-se como pressuposto estecompartilhar de símbolos e significados entre osparticipantes do processo de cura. Aqui pre-tende-se examinar os tratamentos religiosos soba perspectiva do paciente e daqueles direta-mente responsáveis por ele. Muitas das históriasque contam sobre casos de doença revelam umpercurso complexo entre diferentes serviçosterapêuticos, tentativas — nem sempre bemsucedidas — de lidar com visões conflitantes doproblema e incertezas, quanto à causa da doen-ça e o resultado dos vários tratamentos procura-dos.
1 Trabalho apresentado no XVI Encontro Anual daANPOCS, GT - Religião e Sociedade.2 Centro de Estudos Etnoepidemiológicos e Sócio-Antropológicos da Saúde (Cesame), Departamento deSociologia da Universidade Federal da Bahia. Rua PadreFeijó 29, 4º andar, Salvador, BA, 40110-170, Brasil.

Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/set, 1993 317
Religião e Cura
O fato de que no Nordeste de Amaralina aspessoas, freqüentemente, transitam por diferen-tes cultos de cura mostra claramente que doen-ça e cura são realidades construídas intersub-jetivamente, não apenas no sentido de que oterapeuta religioso deve agir sobre as percep-ções do doente e de seus familiares, mas tam-bém porque estes estão continuamente negoci-ando significados tanto ao interior dos cultoscomo fora deles. Neste sentido, a cura não é oresultado direto de medidas terapêuticas, reali-zadas ao interior do culto mas uma realidadepor vezes bastante frágil que precisa ser con-tinuamente negociada e confirmada no cotidianodo doente e dos membros de suas redes decuidado e apoio. Esta idéia da cura enquantorealidade processual é vividamente expressa nashistórias sobre casos de doenças, produzidaspelos habitantes do Nordeste de Amaralina.Estas histórias fornecem uma chave importantepara a compreensão das formas pelas quais asvisões de mundo e projetos de cura de várioscultos religiosos são, de fato, incorporados àexperiência cotidiana de doentes e seus familia-res.
A CONSTRUÇÃO DA DOENÇA
Aqui proponho examinar o caso de doença deuma jovem moradora do Nordeste de Amarali-na. Adelice, conhecida no bairro como Mexe-Mexe, sofre de problemas mentais desde aadolescência. Sua mãe, Benedita, tem recorridoa uma série de serviços terapêuticos, incluindodiferentes cultos religiosos, em busca de umasolução para a doença. Embora tratando-se deum caso de doença mental, a história de Adeli-ce é bem ilustrativa de uma trajetória que ligamembros das classes populares a cultos religio-sos. Utilizo essa história para compreendercomo interagem, em contextos concretos,símbolos religiosos e práticas sociais.
A Adelice tem 28 anos e mora com sua mãe,padrasto e irmãos em uma ruela estreita doNordeste. Diferentemente das outras ruas dobairro, nesta a maioria das casas tem grades —segundo me foi explicado trata-se de medida deproteção contra os ataques constantes da loucaMexe-Mexe, uma das mais temidas malucas do
Nordeste. Mexe-Mexe vagueia pelas ruas dobairro, entrando nas casas sem ser convidada ejogando pedra em qualquer um que cruze o seucaminho. Sua chegada é logo anunciada pelosgritos desafiadores das crianças. Em sua própriacasa, Adelice não parece ser a maluca Mexe-Mexe de que tanto se fala. É quieta e reservada.Segundo Benedita é a provocação das criançasdo bairro que a torna violenta.
Segundo me conta Benedita, a doença deAdelice começou quando tinha quinze anos. Apartir de então passa a ser vítima de ataquesfreqüentes: cai no chão se debatendo, o corpoenrijece, a língua embola. Seus gritos parecemos urros de um animal. Com o tempo o proble-ma se agrava. Enquanto na adolescência seexige das moças que mantenham certa distânciacom relação ao mundo da rua, Adelice habitua-se a fazer incursões constantes e diárias pelobairro, sem nenhum motivo aparente. Força suaentrada nas casas sem ser convidada. Mais sérioainda, desenvolve comportamento violentodurante seus passeios. Freqüentemente elamesma é agredida: certa vez, me conta Beneditachocada, deram-lhe uma chicotada no rostocomo se ela fosse um animal.
Embora os seus ataques só tiveram inícioquando fez quinze anos, Adelice sempre foradiferente. Quando criança era excessivamentequieta, não brincava com outras crianças eestava sempre se escondendo pelos cantos. Maistarde mostra-se “rude nos estudos”, não con-seguindo acompanhar a lição da escola. Moçagrande e desajeitada, chateiam-na por ter jeitode homem. Reinterpretando o passado sob a luzdo estado atual de sua filha, Benedita agora vênestes eventos sinais dos problemas que aindaestavam por vir. De fato, embora a eclosão dadoença de Adelice possa ser situada em ummomento específico de sua biografia, uma sériede eventos parece ligar passado e presente,antes e após o início da doença em termos deuma imagem de alteridade: Adelice sempre foirude, as pessoas ridicularizam-na por seusmodos masculinos, ela urra como um animaldurante os ataques e é espancada no rosto comose fora um animal. Expresso nestes eventos estasua identidade ambígua e problemática: umacriança que não aprende (e cuja rudeza nosestudos talvez a aproxime dos animais), uma

318 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/set, 1993
Rabelo, M. C.
mulher a quem falta feminilidade (e cuja liga-ção estreita com o mundo da rua a aproxima douniverso masculino), uma pessoa tratada comose fora um animal (e cujo desrespeito a normasde sociabilidade talvez a aproxime dos anima-is).
A trajetória de Benedita por vários serviçosde cura é, também, uma busca de meios paralidar com essa identidade ambígua de Adelice.Apegando-se ao diagnóstico médico de foco —que foi atribuído a Adelice em um dos hospitaisonde se tratou — Benedita procura contrapor-seàs visões da comunidade para quem Adelice élouca. Incorporado ao discurso popular sobredoença mental, foco é tido como uma doençada cabeça, assim como, por exemplo, pneumo-nia é doença dos pulmões. Para Benedita issosignifica que o problema de Adelice é seme-lhante a qualquer outra doença física: afeta umaparte do seu corpo (como comprovam os exa-mes médicos) e pode ser tratado com o usoconstante de remédios (os ataques de Adelicesão, de fato, controlados com o uso de medica-ção). Sob essa perspectiva, se Adelice deveocupar o papel de doente, ela não merece oestigma de louca.
Enquanto Benedita reduz o problema deAdelice aos ataques (que os médicos diagnos-ticam como foco), a comunidade ressalta suasconstantes e violentas romarias pelo bairro. Sãoestas que lhe valem o estigma de maluca.Contra as visões da comunidade, Beneditaprocura mostrar uma lógica por trás do compor-tamento violento de Adelice: trata-se de umareação à perseguição das crianças locais. Entre-tanto, precisa ainda justificar as constantessaídas de Adelice, que por si só constituem umproblema.
A ânsia que tem Adelice de ir para a rua nãoé vista por sua mãe como, simplesmente, maisum sintoma de sua doença; por vezes Beneditadá a entender que se trata de problemas distin-tos. No centro espírita oferecem-lhe uma expli-cação para a doença de Adelice que combinadisfunção orgânica e intervenção espiritual:onde o corpo está fraco, os espíritos tendem apairar. Se os ataques de Adelice são um resul-tado direto do foco, a sua vida na rua advém daação de espíritos que se “aproveitam” de umproblema médico inicial.
A EXPERIÊNCIA AO INTERIORDAS TERAPIAS RELIGIOSAS
A explicação oferecida pelo espiritismo aoproblema de Adelice repousa em uma distinçãobastante comum entre doenças materiais (or-gânicas) a serem tratadas por médicos e doen-ças espirituais pertencentes à esfera de com-petência dos especialistas religiosos. No caso deAdelice esta distinção parece bem definida:Adelice tem uma desordem física (foco) queprovoca os ataques e uma desordem espiritualque a compele à rua. Na prática, entretanto, oslimites que separam estas duas ordens de afli-ção tendem a se dissolver e especialistas religi-osos são, freqüentemente, chamados a lidar comos mesmos sintomas que os médicos. Assim,embora pacientes e terapeutas populares, cons-tantemente, se refiram às fronteiras entre doen-ça de médico e doença espiritual não há umanosologia popular ou religiosa que classifiquedoenças de acordo com a base física ou espiri-tual dos sintomas: a questão é sempre sujeita acontínua revisão.
Para resolver o problema de Adelice, Benedi-ta recorreu a serviços psiquiátricos, a oito casasde candomblé, a uma igreja pentecostal e a umcentro espírita. As terapias religiosas não impli-caram abandono de tratamento com os médicos:segundo Benedita todos os especialistas religio-sos que consultou concordaram, quanto à neces-sidade de tratamento paralelo com médicos. Defato, pacientes e líderes religiosos popularesnegociam continuamente com o poder da medi-cina moderna de modo a garantir para si umespaço próprio de práticas e representações.Invocando a ação de diferentes entidades nacausação da doença, terapeutas religiosos colo-cam-se em uma posição bastante conveniente:não apenas afirmam dividir responsabilidadecom a medicina moderna, mas julgam intervironde esta revela-se incapaz. Enfatizando aimportância do diagnóstico e tratamento médicoao longo do caso de Adelice, Benedita con-segue garantir a sua filha acesso a um papel dedoente socialmente legitimado.
A primeira religião que Benedita buscou pararesolver o problema de sua filha foi o can-domblé; durante anos ela transitou por váriosterreiros dentro e fora do bairro. A relutância

Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/set, 1993 319
Religião e Cura
com a qual Benedita hoje fala do candombléparece, de certa forma, refletir o status marginaldo culto na sociedade mais ampla: os poderesinvocados no candomblé são essencialmenteambíguos e, portanto, potencialmente maléficos.Benedita agora avalia suas idas ao candomblécomo perda de tempo e dinheiro, motivadaspelo seu desespero frente à agonia de Adelice.No desespero, justifica, segue-se qualquerconselho.
Apesar do seu descaso atual pelo candomblé,ao explicar a fonte da aflição de Adelice,Benedita ainda mantém a versão construída emum dos terreiros a que recorreu. Lá, a mãe desanto ofereceu-lhe uma explicação “espírita”para o sofrimento de Adelice: tratava-se deaflição causada pelo espírito de um parentemorto, que por gostar demais de Adelice,prende-se ao seu corpo após a morte. Beneditanão demorou a descobrir a identidade do espíri-to malfeitor: é seu irmão mais novo que durantealgum tempo morou em sua casa e que elajulga ter estado apaixonado por Adelice. Ojovem tio de Adelice tinha uma predileçãoespecial pela rua, paixão que Adelice agoramanifesta, e sua morte antecede imediatamenteà eclosão da doença da sobrinha.
A interpretação é dimensão central do can-domblé onde pais e mães-de-santo são tidoscomo possuidores de poder para descobrir ascausas ocultas da aflição dos seus clientes(Williams, 1979; Alves, 1990; Rabelo, 1990).Ao consultar um pai-de-santo, o indivíduoespera prover o mínimo de informação possívelsobre seu caso; é o especialista religioso quedeve falar, provando seu conhecimento doquadro de relações (visíveis e invisíveis) quecompõem o contexto da doença.
No candomblé, interpretar a aflição é elaboraruma narrativa que reconstitua a cadeia deeventos que levaram o indivíduo a doença e queaponte para a direção do tratamento e da cura.Se, neste sentido, podemos dizer que cabe àmãe-de-santo organizar a experiência caótica dosofredor e daqueles diretamente envolvidos nocaso, é preciso também considerar que o suces-so da atividade divinatória depende largamenteda capacidade destes últimos de se reconhecerna narrativa do especialista e, assim, encaixarsua própria versão dos eventos naquela constru-ída pelo adivinho (Rabelo, 1990). O fato de que
Benedita tenha sido capaz de identificar seuirmão como o parente morto referido na estóriada mãe de santo significou que se produziu umafinamento de vozes e discursos: Benedita re-significou a aflição de sua filha de acordo como modelo oferecido pela mãe-de-santo, ummodelo que, em certa medida, foi capaz deprover uma confirmação poderosa e autoritáriaa algumas de suas próprias suspeitas.
Segundo este modelo, a lógica subjacente aocomportamento estranho de Adelice reside nãonela mesma mas no outro invisível que seapega a ela e que impõe seus hábitos masculi-nos sobre o seu corpo. A incapacidade deAdelice de permanecer em casa (como devemas mulheres direitas quando fora do trabalho) éexpressão do gosto que tinha seu tio pela vidana rua. A partir dessa perspectiva, a identidadeambígua e problemática de Adelice é vistacomo resultado da superposição de duas iden-tidades distintas: a do seu tio e a dela própria.O tratamento visa colocar Adelice em umaposição protegida e vantajosa para melhorrelacionar-se com as forças e poderes imprevis-tos do meio. Envolve uma série de medidaspara limpar o corpo de Adelice (banhos, fumi-gação), bem como negociação necessária comExu (que para Benedita não é nada mais que odiabo), através de despachos.
Benedita não viu resultado no tratamento deAdelice nas oito casas de candomblé a querecorreu, embora permanecesse apegada àexplicação que lhe foi dada por uma mãe-de-santo. Segundo me conta, os sintomas de Adeli-ce persistiam sem que os terapeutas do can-domblé fossem capazes de reverter ou aomenos de justificar o quadro. É nesse contextoque recebe a visita de missionários pentecostaisinteressados em expandir sua influência noNordeste e acaba por tornar-se freqüentadora doculto.
Na Igreja Universal do Reino de Deus, adoença de Adelice é re-significada de acordocom um modelo que opõe radicalmente bem emal. A doença é provocada por forças deSatanás que devem ser expulsas do corpo. Acura marca o início de um processo pelo qual,liberto do mal, o sofredor entra no mundo dosfiéis.
No culto pentecostal ao qual se filia Benedita,a cura é encenada como uma batalha na qual o

320 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/set, 1993
Rabelo, M. C.
pastor, suas obreiras e o círculo de fiéis emoração juntam suas forças contra as entidadesdo mal alojadas no corpo do doente. Colocandosuas mãos sobre a parte doente do corpo opastor comanda Satanás e comparsas a sair. Suavoz ríspida e desafiadora gradativamente semistura às vozes das obreiras e demais par-ticipantes, cada qual enunciando sua própriaoração. A atmosfera é tensa, da confusão devozes e orações pode-se ouvir as palavras “Sai,sai, sai” que marcam o fim de cada oração, omomento em que o pastor retira bruscamentesuas mãos do doente. O processo é repetidoalgumas vezes até que se produza consensoquanto aos resultados benéficos da oração.Mudanças no comportamento do paciente —choro, tremor, ataques — são altamente valori-zadas como sinais de que as entidades do malforam atingidas e finalmente forçadas a semanifestar.
Estranhamente, ao falar do tratamento deAdelice na igreja pentecostal, Benedita enfatizaas similaridades entre esta última e o candom-blé. Segundo ela, em ambos os cultos o diaboé o foco principal das atenções. Benedita tam-bém queixa-se do barulho — o pastor grita nomicrofone — e da rudeza com a qual o pastortrata os espíritos. O fato de que Adelice nãotenha sofrido melhora após as sessões de curana igreja, nem tampouco tenha exibido sinais damanifestação dos espíritos supostamente aloja-dos em seu corpo, sugere que a visão pentecos-tal de doença como resultante da invasão deentidades do mal pode levar à imputação deuma identidade negativa sobre o próprio doente.Caso a aflição persista e o demônio causador dadoença não se revele, então a entidade maléficae seu hospedeiro tendem a tornar-se um. Repe-tidamente dirigindo insultos e desafios aosespíritos no corpo de Adelice, o pastor gradati-vamente impõe uma imagem negativa sobre aprópria Adelice. Não é raro que tendo falhadoem produzir uma mudança na maneira pela qualo doente percebe seu estado (isto é não obtendosucesso na expulsão do mal) os terapeutaspentecostais reorientem seu discurso e passema enfatizar a condição de pecado do doentecomo obstáculo à cura.
Benedita critica candomblé e pentecostalismo,segundo a perspectiva do culto espírita ao qualse filiou. A ideologia de caridade que é central
ao espiritismo permeia, tanto sua propostaespecífica de prática social (voltada para pro-gramas assistenciais, de educação e distribuiçãode alimentos aos pobres, por exemplo), comosua proposta de cura via educação ou persuasãodas entidades causadoras do mal (Warren, 1984;Greenfield, 1992). No centro espírita que fre-qüentou Benedita, os espíritos que provocam adoença são tratados com gentileza como sefossem crianças que precisam ser ensinadas a secomportar de maneira apropriada e motivadas asubstituir a ação destrutiva, causadora da doen-ça, por uma ação construtiva e benéfica. Os“obsessores” que causam a doença são espíritosmenos desenvolvidos, para cujo progressomoral os médiuns podem contribuir. A metáforada batalha que orienta a cura no culto pentecos-tal e que justifica a atitude agressiva do pastorfrente aos espíritos é substituída pela imagemdo ensinamento dedicado: a cura é essencial-mente uma tarefa pedagógica pela qual espíritosmenos desenvolvidos são conduzidos a estágiossuperiores de existência.
O ensinamento no espiritismo se dá em doisníveis principais. No primeiro, doentes e famili-ares se reúnem para ouvir as pregações dopresidente do centro: livretos contendo osprincipais ensinamentos do culto são tambémdistribuídos. No segundo nível, a ação é dirigi-da aos espíritos mesmos responsáveis peladoença. Em tais ocasiões, o doente e seusacompanhantes são conduzidos a um encontromais privado com médiuns do centro. A sessãose inicia quando um dos médiuns é manifestadodo espírito que se aloja no corpo do doente;então passa a desenrolar-se um diálogo entreespecialistas religiosos e espírito cujo conteúdoé claramente pedagógico: o espírito deve serpersuadido a mudar de conduta, de modo apermitir uma reorientação mesma da conduta dodoente em cujo corpo se aloja. Assim, diferen-temente do pentecostalismo, onde o pacientevivencia de maneira crítica a manifestação dooutro em seu corpo, no espiritismo ele torna-seum espectador passivo de um diálogo entre seuduplo e o terapeuta. Embora as exortações dosmédiuns sejam dirigidas ao espírito que visaminstruir, o sucesso do ritual depende de suacapacidade de instruir o doente e membros doseu círculo de apoio a reorientarem seu com-portamento, de acordo com as mudanças que

Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/set, 1993 321
Religião e Cura
observam se verificar no contexto mais amploda doença (isto é na atitude dos espíritos quedefinem tal contexto em termos de saúde oudoença).
Benedita recorda-se de como foram violentasas primeiras manisfestações do espírito nocorpo da médium: xingava, gritava e recusava-se ao diálogo. A mudança gradativa de talcomportamento nas sessões subseqüentes,serviu-lhe de prova de que Adelice começara atrilhar o caminho da cura, embora não se verifi-cassem mudanças correspondentes no estado deAdelice. Neste sentido, podemos dizer que aeficácia do culto residiu não no fato de terproduzido uma reorientação do comportamentode Adelice — o que de fato não se verificou—, mas em ter levado a uma reorientação dapostura dos outros — neste caso de Benedita —frente a tal comportamento. A atitude do centrofrente aos espíritos responsáveis pela doença,marcada pela tolerância e compaixão, permite aBenedita aceitar a identidade ambígua e proble-mática de Adelice de maneira igualmentetolerante, enquanto identidade processual emcurso de desenvolvimento.
OS PROJETOS RELIGIOSOS DE CURA
O percurso de Benedita através de candom-blé, pentecostalismo e espiritismo — bem comoas mudanças que se produzem, ao longo destepercurso, em sua postura frente a doença deAdelice — pode ser melhor entendido, quandoconsideramos os distintos modos de ordenar omundo que marcam estas religiões.
A visão de mundo pentecostal se assentasobre uma oposição rígida entre bem e mal;tratam-se, em última instância, de planos des-contínuos e irreconciliáveis. Assim, o fiel sócompartilha do poder sagrado monopolizadopelo culto ao se aliar definitivamente ao bem(Brandão, 1980; Fernandes, 1982). A doutrinaespírita elabora a oposição entre bem e mal,segundo um viés evolucionista — no quadro deuma linha contínua de evolução, o mal cor-responde aos níveis inferiores de existência. Éatravés de um processo de desenvolvimentopessoal que o fiel ganha acesso a poder sagrado(Warren, 1984; Droogers, 1989; Greenfield,1992). No candomblé, bem e mal são realidades
situacionais e, portanto, relativas. O mundo éfluxo contínuo de trocas, de modo que para sebeneficiar de poder sagrado o adepto do can-domblé deve sempre manter uma balançafavorável entre favores recebidos e retribuiçõesprestadas. O esforço contínuo de travar e man-ter alianças, é fundamental para garantir umaposição vantajosa frente ao meio.
Pentecostalismo, espiritismo e candomblé sãoreligiões voltadas para a satisfação de demandaspessoais (diferenciam-se, neste sentido, docatolicismo das CEBs que privilegia as deman-das coletivas). A satisfação de demandas,entretanto, não é vista da mesma forma pelostrês cultos. No pentecostalismo a resolução deproblemas ou aflições individuais deve levar auma reorientação do comportamento, segundopadrões morais: o fiel pentecostal não bebe, nãofuma, não vai a festas etc. O culto, na verdade,oferece um espaço alternativo que substitui os“prazeres do mundo” pelo prazer das práticas ecelebrações religiosas. Visa constituir-se, assim,em um subuniverso de ordem contraposto aomeio circundante.
A satisfação de demandas ao interior doespiritismo busca persuadir o indivíduo a reori-entar seu comportamento, segundo uma ética decaridade, da qual deve resultar um modo par-ticular de estar no mundo. O espiritismo não sepropõe a transformar o meio nem tampouco acontrapor-se a ele (como o fazem os cultospentecostais). De seu comprometimento com apromoção do progresso moral dos indivíduos,entretanto, decorre uma proposta implícita deação sobre o meio social tipicamente expressano desenvolvimento de práticas assistenciais ede caridade.
No candomblé, por sua vez, a satisfação dedemandas pode levar a que o indivíduo venhaa assumir determinadas obrigações rituais emum contexto de negociação. O candomblé nãovisa modificar nem o indivíduo nem o seumeio, segundo princípios éticos religiosos;propõe-se a fortalecer o indivíduo frente a ummeio de constantes ambigüidades e incertezas.Assim, as alianças travadas com os orixásvisam equipar o individuo para realizar seuspropósitos pessoais no mundo (Prandi, 1991).
Destes três quadros (Tabela 1), resultammaneiras distintas de entender e tratar a doença.Para os pentecostais, a doença é resultante de

322 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/set, 1993
Rabelo, M. C.
entidades do mal que invadem o corpo. En-quanto expulsão do mal, a cura se processaatravés de luta. Ao produzir a passagem daaflição à cura, o ritual visa mover o indivíduoatravés de um espaço ético: libertar-se dadoença é deixar o plano do mal e transportar-separa o universo ordenado dos fiéis. Para osespíritas, grande parte das doenças resulta daação de obsessores ou espíritos menos desen-volvidos (Greenfield, 1992). O ritual recriaatividade pedagógica: visa instruir os espíritosobsessores a deixarem o corpo do doente e a
trilharem o caminho do progresso moral. En-quanto ação pedagógica, a cura deve constituir-se também em instância para o desenvolvimentomoral do doente e familiares. No candomblé, adoença resulta da ação prejudicial de outroshomens e/ou entidades sobrenaturais; se oindivíduo se abate como conseqüência destaação é também porque seu corpo está aberto,vulnerável ao meio. A cura envolve essencial-mente dinâmica de negociação, visando for-talecer o indivíduo através de alianças compoderes do sagrado.
TABELA 1. Projetos Religiosos de Cura
Pentecostalismo Espiritismo Candomblé
Visão de Mundo • Mundo ordenado, segundo oposição rígida entre bem e mal, entendidos como universos descontínuos.
• Mundo ordenado segundo oposição entre bem e mal, entendidos como universos contínuos em uma escala evolutiva.
• Mundo é fluxo contínuo de trocas entre homens e seres sobrenaturais. • Oposição entre bem e mal é relativizada.
Relação com o Sobrenatural
• Acesso a poder sagrado se dá através de aliança definitiva com os poderes do bem.
• Acesso a poder sagrado se dá através de processo de desenvolvimento pessoal, via auxílio de espíritos mais desenvolvidos.
• Acesso a poder sagrado se dá, através de alianças pessoais com entidades sobrenaturais.
Relação com o Social • Proposta de satisfação de demandas individuais. Deve levar a uma clara reorientação do comportamento, segundo determinados padrões morais. • Proposta social de construção de um subuniverso de ordem contraposto ao meio circundante.
• Proposta de satisfação de demandas individuais. Deve levar a uma reorientação do comportamento segundo ética de caridade. • Proposta implícita de agir sobre o meio via promoção de desenvolvimento pessoal (assistência, educação).
• Proposta de satisfação de demandas individuais. Pode levar a determinadas obrigações no contexto de uma dinâmica de negociação. • Proposta de fortalecimento do indivíduo frente a um meio de incertezas e ambigüidades.
Visão da Doença • Doença causada pela invasão ou intrusão de entidades do mal.
• Doença causada pela interferência ou obsessão de espíritos menos desenvolvidos.
• Doença causada pela ação prejudicial de homens e/ou entidades sobrenaturais.
Cura • Envolve expulsão pública do mal. • Ritual recria dinâmica de luta.
• Envolve educação dos espíritos menos desenvolvidos. • Ritual recria atividade pedagógica.
• Envolve o firmar de alianças para garantir proteção ao indivíduo. • Ritual recria dinâmica de negociação.

Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/set, 1993 323
Religião e Cura
O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO
Se a compreensão dos universos distintos dopentecostalismo, espiritismo e candomblé nosfornece uma chave para entender a história dedoença de Adelice, é preciso ter em conta queBenedita não mergulha nestes universos distin-tos de forma passiva: ela busca a cura deAdelice e, constantemente, (re)avalia os projetosde cada culto, de acordo com seus objetivos.
Benedita ingressa no candomblé sob a orien-tação de amigos e vizinhos, entre os quaisparece existir um consenso quanto ao poder doculto para lidar com problemas mentais. Susten-tada por este consenso, freqüenta oito terreirosdiferentes; o fracasso de um tratamento nãoinvalida a crença na eficácia do culto. Sempreque deixa um terreiro, Benedita o faz com certaprecaução: uma vez que os poderes manipula-dos pelos especialistas são essencialmenteambíguos é preciso evitar despertar a raiva dasmães-de-santo cujas casas abandona. Beneditadeixa definitivamente o universo ambíguo docandomblé para ingressar no mundo bem or-denado do pentecostalismo; o contato compregadores pentecostais influi para minar oconsenso sob o qual se assenta sua opçãoterapêutica pelo candomblé. Para os pentecos-tais deixar o candomblé significa sair do planodo mal. Entretanto, dos terreiros que freqüen-tou, Benedita leva consigo o “diagnóstico” quelhe foi dado por uma mãe-de-santo.
No pentecostalismo, o processo diagnósticoinsere-se no ritual público de cura; depende damanifestação da entidade maléfica causadora dadoença. No candomblé, ao contrário, constituiprocesso claramente separado do tratamento,um encontro privado que visa reconstituir acadeia de eventos que produz a aflição. Aoexplicar a doença, o especialista do candombléelabora uma lógica narrativa que permite aocliente relacionar fatos e sentimentos de suaexperiência cotidiana. O fato de que Beneditaretenha a explicação da mãe-de-santo atestapara a força da estratégia interpretativa docandomblé. Talvez mais importante, mostra-nosque, em sua prática, Benedita mescla e reelabo-ra elementos de sistemas distintos que oraaproxima, ora distancia.
Ao deixar a Igreja Universal do Reino deDeus Benedita aproxima o que antes lhe parece-
ra radicalmente diferente: no final das contasacaba por concluir que, tanto candomblé, quan-to pentecostalismo reservam tempo e espaçoprivilegiados ao diabo. Contraposto a ambosestá o centro espírita, onde acredita ter encon-trado a solução potencial para a doença deAdelice. Os símbolos de cura do espiritismo lhesão persuasivos; como parte do tratamento deAdelice, gradativamente se instrui na doutrinado culto.
O desfecho da história de Benedita, entretan-to, não foi a conversão. Após um ano de trata-mento no centro espírita, Adelice é tida comocurada. Benedita é informada pelo presidente docentro de que doravante a manutenção doestado de Adelice depende apenas de sua par-ticipação continuada no culto espírita. Nãointeiramente satisfeita com o diagnóstico (umavez que a persistência dos sintomas não aconvence quanto a finalização do tratamento),Benedita deixa de freqüentar o centro espírita epassa a investir no sucesso do tratamentopsiquiátrico que Adelice nunca abandonou.Quanto à Adelice, ela agora freqüenta, não maisacompanhada de sua mãe, um novo templo daIgreja Universal. Aí já não ocupa o papel depaciente a ser curada, mas garante para si umespaço de aceitação parcial. Diverte-se memori-zando trechos da Bíblia.
A história de doença de Adelice colocaquestões importantes acerca da função terapêuti-ca dos cultos religiosos. Em linhas gerais nosmostra que o sucesso de um determinadoprojeto religioso de cura, depende da interaçãode uma série de fatores — incluindo o própriocurso natural da doença — que compõe ocontexto sobre o qual agem os indivíduos,participando do evento da doença. Se as visõesde mundo que informam o projeto de cura docandomblé, do pentecostalismo e do espiritismomodificam a maneira pela qual Benedita per-cebe o problema de Adelice, resignificando ocontexto da aflição, elas mesmas são modifica-das ao serem apropriadas — e por vezes tam-bém descartadas — por Benedita.
CONCLUSÃO
Em trabalho agora clássico, Clifford Geertzdefine a religião como “um sistema de símbolos

324 Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/set, 1993
Rabelo, M. C.
que atua para estabelecer poderosas, penetran-tes e duradouras disposições e motivações noshomens, através da formulação de conceitos deuma ordem de existência geral, e vestindo essasconcepções com tal aura de fatualidade que asdisposições e motivações parecem singular-mente realistas” (1978:104-105). Analisando atrajetória de Adelice e Benedita, através dedistintas religiões, percebemos que, diferen-temente do que afirma Geertz, a relação entresímbolos religiosos e vida social não é definidaa priori por propriedades e significados ineren-tes aos símbolos, mas estabelecida no curso deeventos concretos nos quais os indivíduos seapropriam, confrontam e reinterpretam ossímbolos à luz de determinados fins e interes-ses. Se estes últimos são por vezes modificadose moldados pela religião, também determinam,em grande medida, a maneira pela qual osprojetos religiosos são incorporados ao cotidia-no dos indivíduos.
Entender a religiosidade das classes popularesurbanas, segundo o modelo de Geertz, é tarefaárdua. A freqüência e aparente facilidade comque membros das classes populares se movi-mentam entre diferentes cultos questionam,fortemente, a idéia de uma convergência neces-sária entre projetos religiosos e práticas sociais.Isso significa que os modelos que utilizamospara entender o universo religioso dessas clas-ses devem permitir-nos problematizar as rela-ções mesmas entre os símbolos de uma religiãoe as práticas de seus adeptos. Trata-se, fun-damentalmente, de abordar a religião sob aperspectiva da experiência religiosa, isto é, dasformas pelas quais seus símbolos são viven-ciados e continuamente re-significados, atravésde processos interativos concretos entre in-divíduos e grupos.
AGRADECIMENTOS
Gostaria de agradecer a Paulo César Alves eIara Souza pela leitura e comentário crítico dotexto.
RESUMO
RABELO, M. C. Religião e Cura: AlgumasReflexões Sobre a Experiência Religiosadas Classes Populares Urbanas. Cad. SaúdePúbl., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/set,1993.
A importância dos cultos religiosos enquantoagências terapêuticas entre as classespopulares urbanas tem sido amplamentereconhecida. A partir de análise da história dedoença de uma jovem de bairro pobre deSalvador — que recorreu a uma série deagências religiosas desde a eclosão do seuproblema — o presente trabalho buscacontribuir para o entendimento das formaspelas quais as visões de mundo e projetos decura de diferentes cultos são de fatoincorporados à experiência cotidiana dedoentes e seus familiares.
Palavras-Chave: Religião; Cura; Terapias;Cultura e Doença; Brasil Urbano
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, P. C. B., 1990. Medical Culture System:The Social Dimension of Sickness. Tese de Dou-torado, Liverpool: University of Liverpool.
BRANDÃO, C. R., 1980. Os Deuses do Povo. SãoPaulo: Brasiliense.
COMAROFF, J., 1980. Healing and the culturalorder: the case of the Barolong boo Ratshidi.American Ethnologist, 7: 637-657.
CSORDAS, T., 1983. The rhetoric of transformationin ritual healing. Culture, Medicine and Psy-chiatry, 7: 333-375.
DROOGERS, A., 1989. The Enigma of the Metaphorthat Heals: Signification in an Urban SpiritistHealing Group. Annual Meeting of the AmericanAnthropological Association, Washington D.C.(Mimeo.)
FERNANDES, R. C., 1982. Os Cavaleiros do BomJesus. São Paulo: Brasiliense.
GEERTZ, C., 1978. A Interpretação das Culturas.Rio de Janeiro: Zahar.
GREENFIELD, S. M., 1992. Spirits and spiritisttherapy in southern Brazil: a case study of an in-novative, syncretic, healing group. Culture, Med-icine and Psychiatry, 16: 23-52.
KAPFERER, B., 1979. Entertaining demons. SocialAnalysis, 1: 108-152.

Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, 9 (3): 316-325, jul/set, 1993 325
Religião e Cura
KLEINMAN, A., 1980. Patients and Healers in theContext of Culture. Berkeley: University ofCalifornia Press.
LEVI-STRAUSS, C., 1967. Antropologia Estrutural.Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
MONTEIRO, D. T., 1977. A cura por correpondên-cia. Religião e Sociedade, 1: 61-79.
MONTERO, P., 1985. Da Doença a Desordem. Riode Janeiro: Graal.
PRANDI, R., 1991. Os Candomblés de São Paulo.São Paulo: Hucitec.
RABELO, M., 1990. Play and Struggle: Dimensionsof the Religious Experience of Peasants in NovaRedençao, Bahia. Tese de Doutorado, Liverpool:University of Liverpool.
TURNER, V., 1967. The Forest of Symbols. Ithaca:Cornell University Press.
_________ , 1975. Revelation and Divination inNdembu Ritual. Ithaca: Cornell University Press.
WARREN, D., 1984. A terapia espírita no Rio deJaneiro por volta de 1900. Religião e Sociedade,11: 56-83.
WILLIAMS, P., 1979. Primitive Religion and Heal-ing. Cambridge: Brewer.