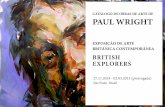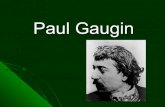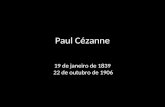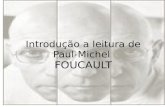Resumo - Como as Sociedades Recordam, Paul Connerton.
-
Upload
andiara-pinheiro -
Category
Documents
-
view
47 -
download
5
description
Transcript of Resumo - Como as Sociedades Recordam, Paul Connerton.

Resumo do livro “Como as sociedades recordam” de Paul Connerton.
Paul Connerton em seu livro Como as sociedades recordam, fala essencialmente da importância das cerimônias comemorativas e das práticas corporais, a fim de demonstrar que o estudo desta “nos permite ver que as imagens do passado e o conhecimento recordado do passado são transmitidos e conservados por performances (mais ou menos) rituais” (p. 45).
Assim, inicia o segundo capítulo ao contar a história do Terceiro Reich, entre a tomada de poder em janeiro de 1933 e a deflagração da guerra, em setembro de 1939. Nesse período, os súditos do Terceiro Reich foram constantemente lembrados do Partido Nacional-Socialista e da sua ideologia, por uma série de cerimônias comemorativas. Tudo começou em 30 de janeiro de 1933, com o aniversário da tomada de poder por Hitler. Assim, todos os anos que se seguiram, nesse mesmo dia, Hitler ia à rádio fazer o discurso ao Reichstag, o qual presenteava toda “a nação” com uma relação daquilo que fizera com o poder que lhe havia sido confiado. Havia uma procissão ainda naquele dia, que terminava com uma cerimônia em que os jovens de dezoito anos da Juventude Hitleriana que haviam demonstrado qualidades de liderança, prestavam juramento para fazerem parte do Partido Nacional-Socialista, como membros efetivos. Todos os anos, no dia 24 de fevereiro, havia outra cerimônia, desta vez uma cerimônia exclusivamente para a “velha guarda” que comemorava a fundação do partido, o “anúncio” do programa “imutável” em vinte e cinco pontos, na Hofbräuhaus, em 1920. Já o 16 de março era um dia de luto nacional à favor da memória dos mortos da Grande Guerra, adotado da República de Weimar. No último domingo de cada mês de março, os jovens de quatorze anos aderiam à Juventude Hitleriana e faziam um juramento de fidelidade ao Führer. O 20 de abril, aniversário do Führer, era celebrado com uma parada Wehrmacht na porta de Brandeburgo. O festival nacional do povo germânico, em 1º de maio, foi destituído da originalmente festa dos trabalhadores e reinterpretado como uma celebração da Volksgemeinschaft germânica. O solstício de Verão, em 21 de junho, era celebrado com paradas das SS e da Juventude Hitleriana. No princípio de setembro, o partido exibia o seu poder no comício do Reichsparteitag e reunia meio milhão de pessoas em média. No início de outubro, a antiga tradição do Festival das Colheitas foi transformada num festival nacional-socialista do campesinato alemão.
De todos essas cerimônias, o festival que comemorava o Putsch, o “batismo de sangue” de 1923, era dotado pela força de culto mais poderosa. Tendo como tema o sacrifício, a luta e a vitória final dos “antigos combatentes” do nacional-socialismo. Condecorados com a Ordem de Sangue, os sobreviventes do putsch, encontravam-se para a reunião tradicional da Burgerbraukeller de Munique, no dia 8 de novembro, para ouvirem a alocução comemorativa de Hitler dedicada aos “dezesseis mártires do movimento nacional-socialista”. Repetiam ritualmente, no dia seguinte, a marcha dos “antigos combatentes” do Burgerbraukeller para o Feldherrnhale de 1923, caminhando com archotes a arder, acompanhados de uma música fúnebre, do dobre dos sinos e da recitação lenta dos nomes de todos os que haviam sido mortos, desde 1919, ao serviço do partido. Em 1935, as cerimônias atingiram um grau muito elevado, com a exumação das dezesseis “testemunhas de sangue” que foram colocadas no Felherrnhalle na

véspera das comemorações, e transferidos em 9 de novembro, em procissão solene, para o recém-construído Ehrentempel, na Konigplatz. O caminho era ainda assinalado com 250 colunas, contendo em cada uma, o nome de um dos “caídos pelo movimento”. À medida que a procissão passava por cada coluna, o nome de um dos mortos era proclamado. Quando a procissão chegou ao Felherrnhalle, soaram dezesseis tiros de canhão, um por cada um dos dezesseis caídos de 1923. Enquanto os caixões eram colocados em carruagens para serem transportados para o Ehrentempel, Hitler depôs uma coroa de flores no monumento aos mortos. No Ehrentempel, o nome das dezesseis “testemunhas de sangue” foram evocados, um por um, e o coro da Juventude Hitleriana respondeu à chamada de cada nome com um grito “presente!”. Após cada grito soavam três tiros em saudação.
Desta forma, o fiasco político ocorrido em 1923 não é reinterpretado e representado nem como uma derrota, nem como fútil e sem sentido. O destino mortal daqueles que nele tombaram, era tido não como uma morte sem sentido, mas como uma morte sacrificial. Devia ser entendido como uma acontecimento sagrado, que aponta para outro acontecimento sagrado, o de 30 de janeiro de 1933, pois a tomada do poder não é interpretada como um mero êxito político, tal como o putsch de 1923 não é um mero fracasso político. O acontecimento “sagrado” do putsch prefigurava a vitória, enquanto o acontecimento “sagrado” da tomada do poder fazia com que o conteúdo do Reich se revelasse e a data escolhida era entre esses dois acontecimentos, o 9 de novembro.
Segundo Connerton, esta narrativa era mais do que o contar de uma história, era um culto encenado, era um rito estabelecido e representado. A sua história não era inequivocamente contada no pretérito, mas no tempo de um presente metafísico. Assim, o acontecimento sagrado de 1923 era não somente memorizado, mas representado e os que participavam do rito davam-lhe uma forma cerimonialmente corporizada, fazendo com que o regime nacional-socialista se tornasse recente e as suas cerimônias recém-inventadas.
Assim, ele diz que todos os acontecimentos até agora relatados, fazem parte do fenômeno da ação ritual. Utiliza a definição da palavra ritual proposta por Lukes, “a atividade orientada por normas, com carácter simbólico, que chama a atenção dos seus participantes para objetos de pensamento e de sentimento que estes pensam ter um significado especial” (p. 50). Diz ainda que o efeito dos ritos não está limitado à cerimônia ritual pois impregna também o comportamento e a mentalidade não rituais. Têm a capacidade de conferir valor e sentido à vida daqueles que os executam, além de serem repetitivos e essa repetição subentende a continuidade com o passado. Os festivais nacional-socialista são um exemplo, mas podemos pensar em outros, como o Dia de Ano Novo e os aniversários; as festas dos santos cristãos que são comemoradas em certos dias do ano; no cenotáfio celebram-se cerimônias de recordação; quando as bandeiras são colocadas a meia-haste; as flores nas sepulturas e a celebração nacional das embaixadas, que, uma vez por ano e convidam seus funcionários. Porém, existe uma categoria que todas têm em comum, mas que as afasta da categoria geral dos ritos, segundo Connerton, que não implica apenas a continuidade com o passado, mas reivindicam explicitamente essa mesma continuidade. Mas em muitas das cerimônias,

que veremos agora, acontece a reencenação ritual de uma narrativa de acontecimentos que ocorreram num tempo passado, com certo detalhismo que inclui cenas mais ou menos invariáveis de atos e declarações formais.
A identidade judaica é estabelecida pela referência a uma sucessão de acontecimentos históricos retratados nos dois livros mais populares dos judeus: o Antigo Testamento e o livro judaico de orações narram e celebram essa sucessão de acontecimentos. Etapas de uma narrativa histórica são retratadas, principalmente, no Antigo Testamento, como a vida de Abraão e sua migração para o Egito, o êxodo das tribos judaicas do Egito, a revelação da lei no Monte Sinai, a entrada dos judeus na Terra Prometida e as aventuras subsequentes sob o domínio dos juízes e dos reis. O livro de orações, como também acontece no Antigo Testamento, exprime os ideais religiosos e éticos do judaísmo e reflete simultaneamente a vida do judeu enquanto membro de um grupo histórico particular. Assim, tanto no livro de orações quanto no Antigo Testamento, a “recordação” é principal integrante no processo pelo qual os judeus praticantes lembram e recuperam, na sua vida presente, os principais acontecimentos que formam a história da sua comunidade. Uma prova de que o Israel do presente permanece ligado à sua história redentora, reside numa forma de vida em que recordar é tornar o passado presente, é formar uma solidariedade com os antepassados. Israel celebra os festivais para recordar, e o que se recorda é a narrativa histórica de sua comunidade. A Páscoa, por exemplo, é um dos festivais mais importantes do ano judaico, juntamente com o Seder (a ceia ritual da Páscoa judaica). Os festivais da colheita de Shevuoth e Sukkoth também têm sido datas importantes. Dois festivais menores são explicitamente históricos, o Purim e o Hanukka. O Sabbath sagrado também é importante, porque é através dele que Israel recorda e participa na história redentora da sua comunidade.
O cristianismo, por sua vez, permanece vinculado à sua origem histórica própria, tem a sua origem num momento histórico definido e em todas as ocasiões subsequentes da sua história reporta-se explícita e elaboradamente a esse momento. Inicia-se com uma sucessão única de acontecimentos históricos e tem como acontecimento central a crucificação, ao qual ensina que a revelação divina assumiu uma forma histórica, que Deus interveio na história da humanidade e que a vocação do cristão é recordar e comemorar a história dessa intervenção. Portanto, o cristianismo não é nem a exposição de uma doutrina abstrata, nem a recapitulação de um mito, pois os acontecimentos se passaram numa história datável e num período histórico claramente definido, o período em que Pôncio Pilatos era governador na Judeia. Todos os anos, esses acontecimentos e esse período são comemorados na festa da Sexta-Feira Santa e da Páscoa, e todo o ano cristão é articulado ao redor desse período pascal, que recapitula e reencena as várias etapas da Paixão. A missa comemora também, todos os domingos, a Última Ceia, não existindo oração, nem ato de devoção que não tome como referência, direta ou indiretamente, o Cristo histórico.
A fundação do islã como religião é uma sequência de acontecimentos históricos ainda mais explicitamente definida do que sucede com o judaísmo ou o cristianismo: o fundador do islã tornou-se soberano enquanto era vivo, governou uma comunidade e comandou exércitos. A história da comunidade árabe não podia ser explorada como um

rico veio de acontecimentos, ou de estádios dignos de comemoração religiosa, dado ter-se desenvolvido rapidamente uma comunidade muçulmana organizada apenas uma década depois de Maomé ter começado a pregar. Além disso, a ausência de uma classe clerical restringiu o desenvolvimento da liturgia islâmica, tanto em extensão quanto em pormenor, o que caracterizou as manifestações exteriores do islamismo conservassem uma nota dominante de simplicidade. Dessa forma, o calendário islâmico só tinha inicialmente dois festivais: a peregrinação, com a festa que celebra a sua conclusão bem sucedida, e o jejum do Ramadão, com a festa que assinala o fim do período de abstinência. Mas ambos os festivais contém uma referência histórica visível. A peregrinação anual a Meca contém algo de alusão histórica: evoca a memória de Maomé, assim como a de Abraão, a quem é atribuído, no Alcorão, a fundação do santuário e a instituição da peregrinação. Todo o muçulmano é obrigado a fazer a viagem aos lugares sagrados uma vez na vida e a tomar parte naqueles atos cerimoniais num dado momento e segundo uma dada sequência. Mas toda essa obrigação na verdade, é dada ao indivíduo que tem a opção de ir ou não a Meca, sendo que apenas uma pequena fração da comunidade muçulmana tenha participado dela. Já a obrigação de jejuar durante o mês do Ramadão influencia profundamente a vida de todos os crentes, pois acreditam-se ser o ato religioso mais importante e é observado pelos muçulmanos que negligenciam as suas orações diárias.
Segundo Connerton, não só nas religiões mundiais, como também nos ritos de muitos povos sem escrita e em diversos rituais políticos modernos, há uma reivindicação explícita de comemorarem uma continuidade com o passado, e podemos inferir que as cerimônias comemorativas desempenham um papel significativo na configuração da memória comunitária, o que ele pretende demonstrar através de três argumentos. A primeira linha de argumentação, que ele chama de posição psicanalítica, consiste em que o comportamento ritual se compreende melhor como uma forma de representação simbólica, pois os ritos são o enunciado sistematicamente indireto, codificado no simbolismo do rito, de conflitos que esse rito disfarça e, nessa medida, nega. Temos então um processo primário, que se considera explicar o processo secundário da representação simbólica, está localizado na história do indivíduo embora as interpretações psicanalíticas do ritual possam variar de acordo com a fase edipiana ou pré-edipiana da infância, ou qualquer outro processo conflitual, tomada como a gênese de tais representações. O entendimento que Freud tem do ritual é baseado na suposta analogia entre a ontogénese e a filogênese, sendo o terreno da alegada analogia proporcionado pelo seu ponto de vista de que a luta edipiana entre filhos e pais, no contexto da autoridade patriarcal, é o processo primário. Assim, Freud a levado a concluir que na história de vida da espécie humana teria existido uma horda primitiva constituída por um pai poderoso, os seus filhos e um grupo de fêmeas às quais o pai tinha acesso exclusivo, que os filhos, ressentindo-se da sua dominação, o mataram; que, depois, reconheceram que o amavam ficando dominados pelo remorso; e que, como reparação, restauraram a imagem do pai sob a forma substitutiva do animal totêmico. Dessa forma, a refeição totêmica que repetiam todos os anos devia ser vista como a repetição solene, não do ato de parricídio em si, mas como uma forma de encarar esse ato com um regresso da memória reprimida, no qual representavam e superavam o ato

originário. Tratava-se de uma repetição e de uma comemoração do feito criminoso e memorável. De acordo com Richard Wollheim, uma explicação alternativa do ritual seria uma representação codificada, já que muitos ritos exigem uma morte, geralmente de um animal, embora por vezes haja uma morte real ou simulada de um ser humano, e que são invariavelmente “exercícios de negação” e pertencem ao processo presente no ritual. Para ele, o “ritual nega, e aqueles que o executam negam, a realidade da agressão como impulso humano, a denegação é feita colocando ‘entre parêntesis’ o seu sentido. O fim para o qual a agressão como impulso se dirige inerentemente, a destruição de uma vida, é isolado. Uma vez isolado, este fim é recomendado como algo que deveria ser repetido uma e outra vez, mas sempre, em cada repetição, o motivo pelo qual a vida deve ser tirada deve estar o mais afastado possível da agressão – deve ser em nome da piedade, da decência, ou da reverência pela autoridade”.
A segunda linha de argumentação, que ele chama de posição sociológica, opina que o comportamento ritual se compreende melhor como uma forma de representação quase textual e enfatiza as formas como o ritual funciona para comunicar valores partilhados no interior de um grupo e para reduzir a dissensão interna. De acordo com esse pensamento, os rituais nos dizem como são constituídos a estabilidade e o equilíbrio sociais. Mostram nos como o ethos de uma cultura e a sensibilidade moldada por esse ethos, quando soletrados para o exterior, são articulados no simbolismo de algo parecido com um texto coletivo único. Para Durkheim, o ritual “representa” a realidade social tornando-a inteligível, mesmo que o conteúdo cognitivo do rito esteja codificado sob uma forma metafórica e simbólica. Como exemplo, podemos pensar nos rituais religiosos como sistemas de ideias nos quais “os indivíduos representam para si próprios a sociedade de que são membros e as relações obscuras mas íntimas que têm com esta”. Mas esse conceito pode ser alargado e modificado; alargado se considerarmos que o simbolismo dos rituais políticos representa conceitos particulares daquilo que é uma sociedade e de como ela funciona; pode ser modificada se pensarmos que esse rituais políticos operam no âmbito de contextos políticos em que o poder é distribuído de modo sistematicamente desigual, o que nos permite interpretar os rituais como algo que possibilita um controlo cognitivo na medida em que proporciona uma versão oficial da estrutura política através de representações simbólicas, por exemplo, do “império”, da “constituição”, da “república” ou da “nação”.
A posição histórica, terceira linha de argumentação, os ritos não se podem compreender de forma satisfatória apenas em termos da estrutura interna, pois todos os rituais, não importa quão venerável seja a ancestralidade que lhes é atribuída, têm de ser inventados em alguma altura e, durante o período histórico em que permanecem vivos, o seu significado é suscetível de mudança. Situar um rito no seu contexto não constitui um mero passo auxiliar, mas um ingrediente essencial ao ato da sua interpretação, por isso tentou-se redescobrir o significado dos cerimoniais, reenquadrando-os no seu contexto histórico. Investigar o contexto de um rito não é estudar apenas informação adicional a seu respeito, mas sim colocarmo-nos em posição de obter maior compreensão do seu significado do que aquela que seria acessível a “alguém que o interpretasse como um texto simbólico independente”. Deste modo, no período moderno, as elites nacionais inventaram rituais que reclamam a continuidade com um

passado histórico adequado, organizando cerimônias, paradas e reuniões de massas e construindo novos espaços rituais. Como exemplos, podemos citar na França, o Dia da Bastilha que tornou-se uma data história em 1880; na Alemanha, a Guerra Franco-Prussiana tornou-se um acontecimento histórico no seu vigésimo quinto aniversário, quando se instituiu uma cerimônia comemorativa, em 1896. Ambas comemoravam os atos fundadores do novo regime; o contexto dos ritos, também, demonstra a sua função ideológica. Em França, a burguesia republicana moderada inventou um rito como parte da sua estratégia para afastar a ameaça de inimigos políticos à esquerda. Na Alemanha, o regime de Guilherme II inventou cerimônias como parte da sua estratégia para garantir a um povo, o qual não possuía qualquer definição política anterior a 1871. Em épocas mais recentes, duas celebrações reinventaram ritualmente a história antiga, no Médio Oriente. Uma foi a comemoração da heroica defesa e queda de Masada, na revolta judaica contra os Romanos, no ano 66 da era cristã. A outra foi a celebração, inaugurada pelo xá do Irão, dos dois mil e quinhentos anos da fundação do estado e da monarquia persas por Ciro, o Grande. Em ambos os cultos, a memória foi recuperada a partir de fontes exteriores, recebeu patrocínio político e foi transformada no foco das festividades nacionais; ambos os conjuntos de ritos inventados celebravam o heroísmo nacional.
Os três argumentos foram usados para penetrar além do propósito e significado “reais” que se diz jazerem sob a superfície. E surge a questão de saber se poderemos ter um bom motivo para pensar que os rituais, que são representados como sendo explicitamente comemorativos, têm na verdade a importância, como meios de transmissão da memória social, que os seus participantes reivindicam para eles. Connerton quer ainda demonstrar que, quando procuramos compreender as características que as cerimônias comemorativas têm em comum com outros rituais elaborados, estamos sujeitos a ser embaraçados por uma tendência característica da maioria das interpretações modernas do ritual, que nos induz a focalizar a atenção no conteúdo e não na forma do ritual, desvalorizando ou ignorando a universalidade e a importância, em muitas culturas, de ações que se realizam explicitamente como reativação de outras ações que são consideradas prototípicas.
Temos assim, uma primeira dificuldade: a tendência para focalizar a atenção sobre o conteúdo e não sobre a forma do ritual. Todos os métodos que passamos até agora – explicação psicológica, sociológica e histórica – explicam o ritual como uma forma de representação simbólica, todos procuram compreender a “questão” oculta que está “por detrás” do simbolismo ritual, através de um ato de tradução pelo qual o texto codificado do ritual é descodificado para outra linguagem. Quando pensamos na forma como o ritual é estruturalmente articulado, tendemos a orientar a nossa atenção para os mitos e os sonhos. Dessa forma, tanto o ritual quanto o mito podem ser vistos, de forma bastante apropriada, como textos simbólicos coletivos e sugerem que as ações rituais deveriam considerar-se exemplificativas do tipo de valores culturais que são também expressos muitas vezes nos enunciados elaborados a que chamamos mitos, que exemplificam estes valores por um outro meio. Podemos citar como exemplo, as demonstrações de Lévi-Strauss dos mitos índios sul-americanos e percebemos o contraste entre um modo cultural de transformação e um modo natural de

transformação. Edmund Leach acrescenta que a padronização de um ritual ou de um mito pode servir igualmente como armazém complexo de informação, pois pode exprimir-se tanto por palavras e compor uma narrativa mítica, como expressar-se por coisas e revelar-se através da combinação ritual dos objetos apropriados.
Segundo Connerton, existem três tipos distintos de memória:- Memória Pessoal: diz respeito àqueles atos de recordação que tomam como
objeto a história de vida de cada um. Falamos delas como memórias pessoais porque se localizam num passado pessoal e a ele se referem.
- Memória Cognitiva: abrange as utilizações do verbo “recordar” em que se pode dizer que recordamos o significado de palavras, de linhas de um poema, de histórias, do traçado de uma cidade, de equações matemáticas, de princípios de lógica, ou de fatos sobre o futuro.
- Memória-hábito: consiste pura e simplesmente na nossa capacidade de reproduzir uma determinada ação. Deste modo, recordar como se lê, escreve ou anda de bicicleta é, em cada um dos casos, uma questão de sermos capazes de fazer estas coisas, de forma mais ou menos eficiente, quando tal necessidade surge.
Já Bergson distingue duas espécies de memória: a que consiste no hábito e aquela que consiste na recordação. Dá como exemplo a aprendizagem de uma lição de cor. Quando sei a lição de cor diz-se que me “lembro” dela, mas isto só significa que adquiri certos hábitos. Por outro lado, a minha lembrança da primeira vez que li a lição, quando estava a aprendê-la, é a recordação de um acontecimento único que só ocorreu uma vez – e a recordação de um acontecimento único pode não ser inteiramente constituído pelo hábito, sendo radicalmente diferente da memória que é um hábito, e não a considera como verdadeira memória.
Russell segue Bergson na distinção entre memória-hábito (não cognitiva) e verdadeira memória (cognitiva). Aquilo que distingue a “memória-conhecimento”, diz ele, é a “nossa crença” de que “as imagens de acontecimentos passados dizem respeito a acontecimentos passados”. Refere-se a isto como memória “verdadeira” para distinguir do simples hábito adquirido através da experiência passada.
Existem duas formas contrastantes de trazer o passado ao presente: representar e recordar. Representar consiste numa espécie de ação. Em que sujeito, tomado por desejos e fantasias inconscientes, os revive no presente com uma impressão de proximidade que é intensificada pela recusa, ou incapacidade, do analisando em reconhecer a sua origem e o seu caráter repetitivo. Na representação há o tópico da transferência que é o principal instrumento para “dominar a compulsão do paciente para a repetição e transformá-la num motivo para recordar”. A transferência cria “um território intermédio entre a doença e a vida real através do qual se faz a transição de uma para a outra”. Este território intermédio consiste, em larga medida, numa atividade narrativa: os analisados falam do seu passado, da sua vida presente fora da análise, de sua vida no âmbito da análise. Para contrariar a descontinuidade radical narrativa no

diálogo entre analista e analisado, a psicanálise atua num círculo temporal: analista e analisando recuam, a partir daquilo que é dito sobre o presente autobiográfico, de modo a reconstruírem um relato coerente do passado, enquanto simultaneamente avançam a partir de diversas afirmações sobre o passado autobiográfico, de forma a reconstruírem o relato do presente que se procura compreender e explicar. Recordar é, então, precisamente não lembrar acontecimentos de forma isolada. É ser capaz de formar sequências narrativas com sentido. Em nome de um determinado compromisso narrativo tenta-se integrar fenômenos isolados, ou estranhos, num único processo unificado. É neste sentido que a psicanálise se atribui a si própria a tarefa de reconstituir as histórias de vida individuais.
Para entendermos a memória cognitiva é importante conhecermos a noção de codificação: a recordação literal é muito rara e destituída de importância, sendo o ato de recordar não uma questão de reprodução mas de construção. É a construção de um “esquema”, de uma codificação, que nos permite discernir e, por isso, recordar. Existem três dimensões principais da codificação mnemônica: o código semântico é a dimensão dominante e está organizado hierarquicamente, por tópicos, e integrado num único sistema, de acordo com uma visão global do mundo e das relações lógicas que nele se observam; o código verbal é a segunda dimensão e contém toda a informação e os programas que permitem a preparação de expressão verbal; o código visual é a terceira dimensão, e é composto por itens concertos, facilmente traduzidos em imagens, retêm-se muito melhor na memória do que itens abstratos, porque esses itens concretos sofrem uma dupla codificação, tanto em termos visuais como de expressão verbal.
A memória-hábito – mais precisamente, a memória-hábito social – do sujeito não é idêntica à sua memória cognitiva de normas e de códigos. E também não se trata, pura e simplesmente, de um aspecto adicional ou suplementar. É um ingrediente essencial para o desempenho bem sucedido e convincente dos códigos e normas.