resumo florestan
-
Upload
maysa-furtado -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
description
Transcript of resumo florestan
-
RESENHA
189DIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO em D E B A T ED E B A T ED E B A T ED E B A T E
Ano XI n 20, jul./dez. 2003
A DINMICA DA MUDANASOCIOCULTURAL NO BRASIL
Para melhor explicitar o processo da dinmica sociocultural no Bra-
sil, Fernandes (1972) divide o assunto em trs grandes tpicos: 1 vign-
cia e eficcia da civilizao ocidental; 2 o elemento poltico na mudana
sociocultural espontnea; e 3 os requisitos dinmicos da integrao na-
cional.
Sobre a vigncia e eficcia da civilizao ocidental o autor relata:
Os pases do Novo Mundo herdam da Europa, simultaneamente: 1)
um conjunto de tcnicas, instituies e valores sociais que caracteri-
zam, material e moralmente, o estilo de vida humana na chamada
civilizao ocidental moderna; 2) um conjunto de tendncias para
explorar e desenvolver as potencialidades dessa mesma civilizao nas
relaes dos homens com as foras da natureza, da sociedade e da
cultura (p. 94).
FERNANDES, Florestan. Sociedade de Classes e Sub-
desenvolvimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1972.
Pricles Brustolini
-
PRICLES BRUSTOLINI
190DIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO em D E B A T ED E B A T ED E B A T ED E B A T E
Ano XI n 20, jul./dez. 2003
O que se verificou na prtica, contudo, foram duas formas bsicas
relativas aos fenmenos sociais. A primeira, em que a ordem social
correspondia ao padro de civilizao vigente, mas de modo incompleto e,
no raro, deformado e aberrante, na qual o homem aceitava tais condi-
es, o padro de civilizao transplantado ficava, naturalmente, conde-
nado estagnao, ou a substituio. A segunda forma relata exemplos
onde o homem se opunha a tal degradao e procurava corrigi-la, ou pelo
menos det-la, e que com o tempo era capaz de promover o desenvolvi-
mento equilibrado autnomo caso do ocorrido nos EUA (Fernandes,
1972).
Quanto ao elemento poltico na mudana sociocultural o autor afir-
ma o seguinte:
... o Brasil j atingiu um nvel de diferenciao social que converte os
seus problemas de mudana em problemas fundamentalmente polti-
cos. Eles so problemas polticos em trs sentidos distintos: a) por
dependerem ou resultarem de mecanismos de ao grupal que tradu-
zem as posies dos grupos na estrutura de poder da sociedade na-
cional; b) por exprimirem a natureza e o grau de poder alcanado por
determinados grupos tanto na universalizao de seus interesses, ideo-
logias e valores sociais quanto no controle dos processos que afetam
socialmente, de modo direto ou indireto, a manifestao daqueles
interesses, ideologias e valores sociais; c) por indicarem em que senti-
do e dentro de que limites a organizao da sociedade absorve, prote-
ge e expande, institucionalmente, as condies que so essenciais para
o seu equilbrio interno (p. 101-102).
Nesse sentido o pas registra ainda a presena do elemento tradi-
cionalista que anula as influncias inovadoras e tende a reduzir seu im-
pacto positivo sobre o desenvolvimento da ordem social competitiva.
No Brasil as elites tradicionais repeliram na prtica a igualdade
jurdica-poltica e se apegaram tenazmente s formas tradicionais de
mandonismo, mantendo, com isso, seu poder dominante na estrutura de
poder da sociedade nacional (1972).
-
RESENHA
191DIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO em D E B A T ED E B A T ED E B A T ED E B A T E
Ano XI n 20, jul./dez. 2003
Sabe-se que os imigrantes estabelecidos no Brasil tinham por obje-
tivo fazer fortuna e voltar a sua terra natal, mas, quando viram que o re-
torno era uma utopia, trataram de dar continuidade ao processo
mandonista nas pequenas cidades da expanso capitalista. Nesse senti-
do, o autor relata que influncias tradicionalistas poderosas tiveram am-
pla continuidade na organizao das relaes humanas atravs da revolu-
o burguesa (1972).
Todo este cenrio serve para compreender e explicar a sobrevivn-
cia das relaes conservantistas no sentido de obstruir o desenvolvimento
de novas formas nas relaes sociais.
So tambm as presses conservantistas que barram o processo
inovativo/modernizador. Estes ltimos tendem a ser repelidos ou, quando
muito, so aceitos num contexto de extrema irracionalidade, o que de-
forma completamente suas caractersticas inovativas/produtivas.
Por fim, os requisitos dinmicos da integrao nacional. Sob o pon-
to de vista da Sociologia, integrao nacional representa, acima de tudo,
que uma sociedade capaz de realizar, como e enquanto nao, o padro
de equilbrio dinmico inerente a dada ordem social (1972).
Prossegue o autor dizendo que o Brasil j teve em dois momentos a
integrao nacional. O primeiro iniciado com a Proclamao da Indepen-
dncia e implantao do Estado Nacional at a Abolio da Escravatura.
Esse perodo perdurou praticamente durante todo o sculo XIX. O segun-
do momento inicia-se com a Proclamao da Repblica (fim do sculo
XIX), at os dias de hoje (1972).
Segundo Fernandes (1972), a integrao nacional implica duas va-
riveis distintas, porm interdependentes. Num primeiro momento ela es-
timula e orienta a mobilizao social dos fatores psicossociais,
socioeconmicos ou socioculturais necessrios para promover e dar sus-
-
PRICLES BRUSTOLINI
192DIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO em D E B A T ED E B A T ED E B A T ED E B A T E
Ano XI n 20, jul./dez. 2003
tentao ao desenvolvimento integrado da ordem social competitiva. Num
segundo instante a integrao nacional coordena a expanso e a
universalizao da ordem social competitiva (1972).
O autor encerra o captulo dizendo que o Brasil precisa atingir um
mnimo de integrao interna visando assegurar certo embasamento para
projetar-se como sociedade nacional autnoma, e que o pas caminha agin-
do contra os fenmenos que emperram a mudana, e que vm absorvendo
de forma significativa padres de organizao social coerentes com
uma sociedade aberta (1972).
CRESCIMENTO ECONMICOE INSTABILIDADE POLTICA NO BRASIL
Intensidade e limitaes do crescimento econmico
Do ponto de vista da Sociologia, a expresso quantitativa da riqueza
adquire importncia quanto integrao econmica da civilizao. Nesse
sentido o autor destaca dois grandes pontos a serem considerados. O pri-
meiro trata das externalidades (positivas e negativas) nao devido
incorporao da grande lavoura ao capitalismo comercial. Nesse item
Fernandes (1972) destaca os principais efeitos na sociedade brasileira:
rgida especializao econmica; associao do latifndio ao trabalho es-
cravo ou ao trabalho livre com remunerao nfima; extrema concentra-
o da renda; mercado interno restrito a alguns poucos produtos de sub-
sistncia; controle exterior do fluxo das atividades econmicas e da ri-
queza.
Mais recentemente trs acontecimentos provocaram um certo avano
nas relaes socioeconmicas brasileiras. A Independncia, que deu ori-
gem a um Estado Nacional, e promoveu um certo crescimento econmico,
mediante a intensificao do comrcio interno dos produtos de subsistn-
cia. Nesse momento surgem tambm as especializaes regionais.
-
RESENHA
193DIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO em D E B A T ED E B A T ED E B A T ED E B A T E
Ano XI n 20, jul./dez. 2003
O trabalho livre pressionou formas preexistentes de redistribuio
da renda, alm da ampliao e diversificao do mercado interno. A pro-
duo cafeeira, por sua vez, forou a internalizao de diversas ativida-
des antes desenvolvidas no exterior, como os mecanismos de financia-
mento.
O segundo ponto trata dos fatores e efeitos da neutralizao e
descontinuidade das funes construtivas da revoluo burguesa no plano
econmico. Nesse sentido trs grandes acontecimentos contriburam de
forma decisiva para o xito da Revoluo Burguesa: os cafeicultores, que
auferiam grandes lucros, passaram a investir em diversos setores da eco-
nomia interna; os imigrantes, que ocuparam os espaos deixados pelos
primeiros servindo inclusive como mo-de-obra, e o capital financeiro
internacional, que se internalizou vislumbrando o alargamento das oportu-
nidades internas. Contudo o impulso econmico provocado pela Revolu-
o Burguesa no construiu uma base slida, porque continuou a depen-
der exclusivamente da grande empresa agropecuria para captao de re-
cursos econmicos externos e acumulao de riquezas. Alm disso, o com-
plexo econmico colonial continua como forte elemento concentrador de
renda e gerador de pobreza no meio rural. Este tambm impede a diversi-
ficao de outras atividades produtivas, barrando o desenvolvimento das
regies e do pas como um todo.
Por fim, a dependncia socioeconmica do exterior deixou a econo-
mia nacional vulnervel ao mercado internacional com destaque para as
perdas nas relaes comerciais de troca e das perdas na esfera dos centros
de deciso econmica.
Ao discorrer sobre a segunda fase da Revoluo Burguesa iniciada
em meados de 1929 (grande crise econmica mundial) e acelerada pelas
duas grandes guerras, o autor destaca o xito na correo substancial dos
desequilbrios supracitados.
-
PRICLES BRUSTOLINI
194DIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO em D E B A T ED E B A T ED E B A T ED E B A T E
Ano XI n 20, jul./dez. 2003
Nessa fase ocorreram dois eventos de magnitude. Primeiro, o advento
do que se poderia chamar de a segunda revoluo industrial pro-
priamente dito. Por meio de empreendimentos estatais, do capital
estrangeiro e da iniciativa nacional, supera-se a fase da produo de
bens de produo, ou seja, penetra-se verdadeiramente na era da civi-
lizao industrial e da economia de escala na produo industrial
(Fernandes, 1972, p. 127-128).
O segundo grande evento refere-se integrao da economia nacio-
nal via interligaes entre os sistemas de transportes e comunicaes, pos-
sibilitando a circulao, atravs do mercado interno de riquezas, produ-
tos primrios e industriais. Este segundo impulso, no entanto, tambm
deixou lacunas significativas na economia nacional. O pas continua depen-
dendo significativamente da grande empresa agropecuria, fato que po-
deria ser corrigido via revoluo agrcola. Outra grande lacuna refere-se
ao processo substitutivo de importaes. Este se deu por condies exter-
nas, e no pelo dinamismo industrial interno. Alm destes, o ciclo substitutivo
de importaes deu-se com recursos da iniciativa privada interna e estran-
geira. Dessa forma estes investiram em indstrias que possibilitaram maio-
res retornos e no nas indstrias consideradas vitais que de fato poderiam
corrigir as distores econmicas estruturais seculares. Estas mesmas in-
dstrias contriburam para elevar as disparidades socioeconmicas regio-
nais, uma vez que instalaram suas plantas em algumas poucas regies do
territrio nacional (Fernandes, 1972).
SIGNIFICADO E FUNESDA INSTABILIDADE POLTICA
Ao discorrer sobre a instabilidade poltica Fernandes (1972) diz
que no o crescimento econmico que provoca a instabilidade, mas a
forma de apropriao deste. Nesse sentido, o autor discorre sobre a ne-
-
RESENHA
195DIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO em D E B A T ED E B A T ED E B A T ED E B A T E
Ano XI n 20, jul./dez. 2003
cessidade de certos mnimos sociais na democratizao da renda e expli-
ca que as classes sociais prejudicadas tm sempre o desejo de conquistar
posies na ordem social competitiva.
Os que se beneficiam, contudo, da desigualdade na distribuio da
riqueza, so os que tm poder de influenciar as instituies polticas, jurdi-
cas e o prprio regime democrtico no sentido de obterem cada vez mais
benefcios sempre custa (prejuzo) dos trabalhadores, operrios, ne-
gros, entre outros. Por fim este ltimo grupo social, no anseio de promover
uma menor desigualdade, tende a desacreditar no regime democrtico e
procurar outras formas de governo, gerando a instabilidade poltica.
...a inexistncia de canais polticos de absoro de divergncias, ten-
ses e conflitos sociais e a ausncia de formas propriamente demo-
crticas de institucionalizao do poder, que pudessem incluir todas
as classes da sociedade nacional em ocorrncias de interesse comum,
que respondem e explicam substancialmente o carter inevitvel e
secular da instabilidade poltica (1972, p. 136).
Visto sob outra tica, o autor afirma que a diferena de polariza-
es em face dos interesses representados pelo crescimento econmico
aumentou at o clmax a instabilidade poltica. Dessa forma verifica-se
no caso brasileiro que o cenrio socioeconmico e do crescimento da
economia comandado por classes e seus interesses e que quem logra
maior xito so as classes que ocupam posies estratgicas nas estruturas
de poder. O mesmo crescimento econmico, porm, que contribui de for-
ma imediata para agravar e acelerar a instabilidade poltica, tambm pro-
voca mudanas de atitudes e comportamentos mais racionais nas mudan-
as sociais. Isto posto, o autor afirma que a superao de impasse existente
uma questo de tempo (1972).
Ao fazer referncia s funes construtivas da instabilidade polti-
ca, Fernandes 1972 diz que, no caso brasileiro, esta s ser superada via
eliminao dos entraves socioculturais que sufocam, constrangem ou de-
-
PRICLES BRUSTOLINI
196DIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO em D E B A T ED E B A T ED E B A T ED E B A T E
Ano XI n 20, jul./dez. 2003
formam o crescimento econmico. Quanto aos aspectos positivos da ins-
tabilidade poltica, o autor destaca que esta dever construir certa filoso-
fia poltica nacional, capaz de integrar econmica, social e culturalmente
as diversas classes da sociedade. Outro item positivo diz respeito s tenses
e conflitos que so, em si mesmos, educativos e construtivos.
O DESENVOLVIMENTO COMO PROBLEMA NACIONAL
Para a Sociologia o termo desenvolvimento pode ser entendido
sob duas formas. A primeira refere-se anlise estrutural-funcional, em
que desenvolvimento equivale a diferenciao das formas da integrao da
ordem social ou da multiplicao das formas de interao numa determi-
nada sociedade. Na segunda o conceito de desenvolvimento descrito pela
anlise histrico-sociolgica. Nesse item, desenvolvimento significa o
modo pelo qual os homens transformam socialmente a organizao da
sociedade, ou ainda, como a forma histrica pela qual os homens lutam,
socialmente, pelo destino do mundo em que vivem, com os ideais corres-
pondentes de organizao da vida humana e de domnio ativo crescente
sobre os fatores de desequilbrio da sociedade de classes (1972).
Pases como o Brasil que so marginalizados e importadores de
formas organizativas socioeconmicas e polticas da civilizao ocidental
moderna encontram srias dificuldades para engendrar culturas nacio-
nais integradas, dotadas de relativa autonomia de crescimento interno e de
certa auto-suficincia na reproduo dos dinamismos socioculturais em
que repousa o padro de equilbrio de sua civilizao. Alm disso, os pases
marginais ficam dependentes do processo civilizatrio dos pases centrais,
o que provoca incompatibilidade de interesses e os primeiros so, de certa
forma, coagidos a adotar polticas socioeconmicas prejudiciais a si pr-
prios, mas beneficiam significativamente os formuladores dos processos.
-
RESENHA
197DIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO em D E B A T ED E B A T ED E B A T ED E B A T E
Ano XI n 20, jul./dez. 2003
OS CICLOS REVOLUCIONRIOSDA EVOLUO DA SOCIEDADE BRASILEIRA
A evoluo da sociedade brasileira marcada por dois grandes ci-
clos. O primeiro durou aproximadamente oito dcadas (de 1808 a 1888),
tendo incio com a transferncia da Corte Portuguesa e trmino com a
Abolio da Escravatura. Teoricamente neste ciclo extinguiu-se o pacto
colonial e ascendeu um Estado Nacional independente. Na verdade o que
se verificou foi o fim do controle do pas pela Metrpole e pela Coroa por
um sistema mais sutil, porm implacvel de controle, baseado em mecanis-
mos puramente econmicos e estabelecendo nexos de relaes comerciais
de importao e exportao. Alm disso, nessa poca, o pas passou por
um processo intenso de internalizao e absoro de instituies econ-
micas inexistentes at ento e que estabeleceram ramificaes por todo o
territrio nacional visando manipular o pas de acordo com os interesses
dos pases centrais (1972).
O segundo ciclo perdurou por aproximadamente sete dcadas de
1890 a meados de 1960. Esse ciclo tem incio com o arranjo de foras
econmicas sociais e polticas, alm da expanso interna do capitalismo
comercial e financeiro. Alm destes, a associao entre a produo agrria
exportadora e os negcios de importao e exportao aliados expanso
do mercado interno, a qual, marca de fato, a primeira grande transforma-
o da economia brasileira. Em outras palavras, a integrao do capitalis-
mo comercial e financeiro como um processo histrico, lastreado na orga-
nizao da sociedade brasileira (1972).
Este ciclo, porm, continuou com o processo de dependncia exter-
na via montagem de mecanismos comerciais e bancrios controlados a
partir de fora. Nesse sentido, o autor escreve:
-
PRICLES BRUSTOLINI
198DIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO em D E B A T ED E B A T ED E B A T ED E B A T E
Ano XI n 20, jul./dez. 2003
Ao mesmo tempo em que o capitalismo alcana sua maior complexi-
dade e maturidade, como capitalismo industrial, exprimindo uma eco-
nomia de mercado especificamente moderna e afirmando-se como
algo irreversvel nas atividades humanas ou nas aspiraes sociais,
tambm revela, ao mximo, que o crescimento econmico de uma
economia nacional dependente completa-se dentro de um crculo vi-
cioso (1972, p. 159).
Dessa forma o autor explica que a revoluo burguesa e o capita-
lismo s conduzem a uma verdadeira independncia socioeconmica quan-
do existe uma vontade nacional que se afirme coletivamente por meios
polticos e tenha por objetivo supremo a construo de uma sociedade
nacional autnoma (1972).
O DESENVOLVIMENTOCOMO PROBLEMA NACIONAL
Ao discorrer sobre o desenvolvimento brasileiro Fernandes (1972)
diz que o pas vem apresentando crescimento econmico significativo, o
problema apresenta-se devido no integrao do Brasil como uma socie-
dade nacional. Nesse sentido, o ponto de estrangulamento o modo de
participao da sociedade como um todo nas suas diversas classes e ori-
gens. Outro item que tende a impedir o processo desenvolvimentista so os
estamentos e grupos sociais privilegiados.
Prossegue o autor afirmando que para que haja uma mudana de
fato fazem-se necessrias alteraes internas e externas. O processo de
mudana, contudo, deve originar-se internamente via modificao das
estruturas socioeconmicas e polticas. Nesse sentido, o desenvolvimento
constitui-se em um problema macrossociolgico que ultrapassa os limi-
tes econmicos, sociais, culturais e polticos.
-
RESENHA
199DIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO emDIRE I TO em D E B A T ED E B A T ED E B A T ED E B A T E
Ano XI n 20, jul./dez. 2003
No momento em que o desenvolvimento passa a ser encarado como
um problema nacional, o diagnstico e a atuao prtica implicam um
querer coletivo polarizado nacionalmente (1972).
Portanto, a democratizao da renda, do prestgio social e do po-
der aparece como uma necessidade nacional, a qual fornecer as bases
para um querer coletivo rumo ao processo desenvolvimentista (1972).












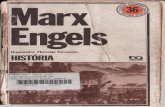

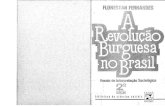





![Depoimento Florestan Fernandes[1]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/577d24861a28ab4e1e9ca8d2/depoimento-florestan-fernandes1.jpg)