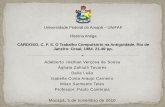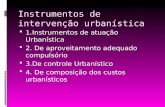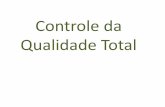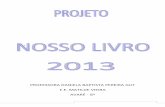Resumo LEWK, GUT, FLOR. Cap 1. Índios, escr e lib o trab compulsório
-
Upload
camille-bolson -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
Transcript of Resumo LEWK, GUT, FLOR. Cap 1. Índios, escr e lib o trab compulsório
-
Histria da Tcnica e da Tecnologia
LEWKOVICZ, Ida1; GUTIRREZ, Horacio2; FLORENTINO, Manolo3. Trabalho Compulsrio e trabalho livre no Brasil. So Paulo: UNESP, 2004. Resumo: Captulo 1. ndios, escravos e libertos: o trabalho compulsrio
Ednia Botelho Padovani Sebrian
At o Sculo XIX, o trabalho no perodo colonial no Brasil pautou-se por modalidades compulsrias, sendo a escravido a principal e mais cruenta de todas. Precederam-na ou coexistiram outras formas de trabalho compulsrio, no qual se inclui o conjunto das relaes de trabalho cujo denominador comum foi a induo de ndios, negros, africanos e seus descendentes ao trabalhar para terceiros, sofrendo coao econmica e extra econmica, envolvendo violncia e uso da fora. Tratou-se de trabalho forado, obrigatrio e, portanto, no livre nem voluntrio, embora tivesse como contrapartida, em alguns casos, alguma remunerao.
Ao longo do tempo, empregou-se o trabalho compulsrio visando obteno de produtos para o comrcio internacional e para o consumo local, envolvendo milhes de trabalhadores. A grande maioria esteve submetida a trabalhos sofridos e humilhantes que significavam o afastamento da terra natal e da comunidade de origem, com deslocamentos para regies distantes. Geraes de africanos e indgenas, bem como descendentes mestios, viram-se atrelados a todo tipo de trabalho no vasto territrio brasileiro. Foi nos engenhos, fazendas e minas onde os escravos e libertos viveram a explorao mais intensa, tendo de construir sua vida neste contexto, mas aprendendo a limiar ou diluir, com a resistncia, os rigores da escravido.
O trabalho dos indgenas No mapa etno-histrico elaborado por Curt Nimuendaju, em 1944, enumeraram-se a
existncia de 1400 grupos indgenas, pertencentes a quarenta famlias lingusticas disseminadas por todo o territrio brasileiro. No passado, o peso demogrfico e a distribuio espacial da populao indgena eram muito diferentes da atual. Em determinadas conjunturas da economia colonial, a mo-de-obra indgena foi pea chave, empregada de forma intensiva e compulsria, em culturas de exportao. Embora a escravido dos ndios tivesse perdurado legalmente entre 1500 a 1570, em vrias regies e ocasies posteriores o trabalho dos ndios foram usados de forma compulsria.
Os tupinambs, por exemplo, produziam para consumo prprio, exclusivamente para atender s necessidades da aldeia, havendo poucas trocas entre eles. Todos trabalhavam em ritmo descontnuo, pois no havia preocupao em produzir excedentes. Gerava-se apenas o necessrio para a sobrevivncia. Este comportamento dificultava a obteno dos alimentos por parte dos portugueses recm-chegados, j que os ndios no acumulavam excedentes. Iniciaram as trocas que ocorriam quando havia interesse em determinados artigos.
Escambo e escravido As primeiras atividades europeias no litoral brasileiro entre 1500 e 1535 estavam
concentradas na extrao do pau-brasil e os portugueses ofereciam objetos e quinquilharias em troca da derrubada de rvores e, com o passar do tempo, os ndios passaram a pedir produtos mais caros, o que tornou a fora de trabalho mais dispendiosa para os portugueses.
No incio da cultura canavieira no havia ainda capital suficiente para adquirir escravos africanos e as guerras justas foram a brecha utilizada para o aprisionamento de ndios arredios. Os colonos saam em expedies para resgatar prisioneiros sob o pretexto de libertao, todavia tambm eram introduzidos compulsoriamente ao trabalho nos engenhos. 1 Ida Lewkowicz doutora em Histria Social e pesquisadora de famlia, herana e Minas Gerais.
2 Horacio Gutirrez doutor em Histria Social e pesquisador da histria da escravido, populao e trabalho.
3 Manolo Florentino doutor em Histria e pesquisador da histria da escravido nas Amricas, frica e Brasil.
-
Ordens religiosas catequizavam os aborgenes em campesinatos indgenas que introduziam a educao, a religio e os hbitos europeus de trabalho. Os jesutas fundaram redues para onde atraam os ndios que fugiam dos colonos espanhis que queriam escraviz-los. Entretanto no escaparam dos bandeirantes paulistas que conduziram 15 mil ndios ao cativeiro e o destino dos sobreviventes foi, evidentemente, os mercados de escravos. Na Amaznia, o trabalho indgena compulsrio perdurou at meados do sculo XVIII, com a introduo dos escravos africanos.
Chegam os africanos Os escravos africanos tornaram-se a principal fora de trabalho entre os sculos XVII e
XIX. Os traficantes portugueses e, posteriormente, os brasileiros, foram os primeiros a iniciar o comrcio entre a frica e o Atlntico e os ltimos a abandon-la. Estima-se que cerca de quatro milhes de negros desembarcaram no Brasil entre os sculos XVI e XIX e que, por causa das presses internacionais, sobretudo inglesas, se aboliu definitivamente o trfico para o Brasil.
De onde e como vieram Africanos e africanas eram capturados e trazidos em uma viagem tenebrosa, conforme
narrativas e gravuras das travessias negreiras. Amarrados por correntes e separados por sexo, homens e mulheres deviam esperar chicotadas e castigos em respostas s reclamaes de desconforto, falta de gua ou surgimento de doenas a bordo das viagens que duravam cerca de um e dois meses, dependendo do local de sada. A superlotao dos navios no foi a regra, embora houvessem embarcaes com excesso de escravos. J a mortalidade era extremamente alta para uma populao formada basicamente por jovens e adultos.
Em solo brasileiro, os escravos eram postos em quarentena para evitar demasiadas perdas. O espetculo atroz do desembarque e a venda em mercados pblicos tornar-se-iam legendrios nas descries horrorizadas que deixaram os viajantes estrangeiros. No Rio de Janeiro, por exemplo, nos armazns do Valongo, os escravos eram exibidos praticamente nus, com as cabeas habitualmente raspadas, aos potenciais compradores.
Os escravos na grande lavoura Nos sculos XVI e XVII, o principal destino dos escravos no Brasil era o Nordeste. Os
escravos eram comprados pelos senhores de engenho para insero na produo da cana de acar. O complexo do acar empregou principalmente escravos africanos, mas tambm haviam trabalhadores assalariados, lavradores e indgenas. Os lavradores dispunham de um contingente de escravos, bois e ferramentas prprias. A organizao do engenho possua uma diviso do trabalho e um rgido ordenamento hierrquico. A base do engenho era composta por trabalho escravo negro sendo que o ndio aparece esporadicamente desenvolvendo atividades externas aos engenhos administrados pelos jesutas, como por exemplo, a captura de escravos fugitivos.
No sculo XIX o caf foi o setor que mais empregou escravos at a abolio. Nesta produo os trabalhadores eram divididos em turmas como homens livres e assalariados, mulato ou portugus que, em geral, eram supervisionados por um capataz normalmente escravo. Boa parte das tarefas complementares eram realizadas pelos escravos e s a partir do final do sculo XIX que foi introduzido a carpideira que substitua cerca de seis escravos.
O trabalho das minas Na minerao, assim como na pecuria, nos setores de subsistncia e nas atividades
urbanas, a organizao do trabalho escravo diferiu das caractersticas da plantation. A minerao tambm demandou vasta mo-de-obra escrava desde a descoberta das minas de ouro, em fins do sculo XVII. A produtividade dependia menos do capital disponvel e mais da qualidade da data e do nmero de escravos utilizados, caso se dispusesse deles. Quanto mais cativos, maiores as datas recebidas, dentro dos limites estipulados.
Na atividade aurfera e diamantfera participaram, no sculo XVIII, milhares de escravos e forros e, apesar da diminuio da minerao no sculo seguinte, outros setores que se desenvolveram justificaram a continuidade do crescimento da populao escrava. Por outro lado,
-
a minerao, mais que outros setores econmicos, propiciou aos escravos maior acesso alforria e alguma mobilidade social graas possibilidade de peclio.
Atrs do gado As terras voltadas s produes de subsistncia ou abastecimento de mercados locais
possuam menor nmero de escravos e condies de vida melhores, alm de possurem maior equilbrio entre gneros, o que culminou na formao de famlias e na predominncia dos escravos crioulos, diminuindo a influncia do trfico africano. A pecuria no perodo colonial tornou-se um apoio s economias de exportao e atividades de dinmica prpria. O gado era tocado por seus proprietrios e auxiliados por feitores, vaqueiros, escravos, ndios e agregados.
No final do sculo XVII, 84% das fazendas piauienses usavam escravos e 23% ndios. J na metade do sculo XVIII os escravos representavam quase a metade da populao rural.
O trabalho do escravo nas cidades O mundo urbano tambm oferecia oportunidades mais favorveis e o maior domnio de seu
tempo em comparao s outras atividades. Nas cidades os escravos circulavam de maneira mais livre, relacionavam-se com pessoas de outras condies sociais, como forros e livres pobres, todavia estavam igualmente destinados a desempenhar atividades manuais, transportes de cargas e prestao de contas a seu senhor.
No Rio de Janeiro, sculo XIX, os escravos possuam uma variedade de incumbncias como tarefas domsticas, transportes, obras pblicas, comrcio ambulante, etc. Foram denominados de negros de ganho, pois eram vendedores ambulantes e competiam com portugueses e espanhis, atividade esta regulamentada e com necessidade de licena municipal.
Os escravos urbanos e domsticos foram os que conseguiram maiores alforrias em decorrncia das maiores chances de acmulo de peclio.
Resistncia escrava Independente da funo produtiva ocupada pelo escravo, os protestos, fugas e rebelies
foram uma constante na economia escravista, com traos decorrentes de explorao ou imposio de condies inaceitveis de trabalho. Talvez a resistncia mais comum tenha sido a melhoria das condies de vida e de trabalho ou a manuteno de direitos anteriormente conquistados.
A formao de inmeros quilombos foi um fenmeno generalizado em todo o Brasil, sendo o Quilombo dos Palmares o que resistiu s vrias expedies punitivas.
Em 1789 escravos do engenho Santana na Bahia redigiram um Tratado de Paz ao organizarem uma greve que reivindicava alguns direitos, mas no a abolio do trabalho escravo.
Os libertos e o trabalho A compra da liberdade e, portanto, a transio da condio de escravo para livre, existiu
desde cedo no Brasil colonial, mas sempre foi uma aquisio difcil, aberta a uma minoria e que uma vez conseguida, abria portas, mas no se igualava em direitos, populao branca e livre de ancestrais escravos.
O alto nmero de libertos em algumas regies deu-se em parte s melhores possibilidades que escravos tinham de reunir um capital prprio com a finalidade de comprar sua prpria liberdade. Este mecanismo teria estimulado a cooperao e desestimulado as fugas.
Os padres de alforrias indicam que foram atingidos uma boa proporo de escravos crianas, jovens e adultos e em idade produtiva. Entretanto a maioria dos alforriados at 1870 foram de cor parda e no negra, bem como crioulos e no africanos, alm de que o padro de vida comum foi o da pobreza, com pessoas destitudas de bens, salvo raras excees.
A carne mais barata do mercado a carne negra
Marcelo Yuka, Seu Jorge e Wilson Capellette