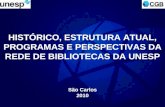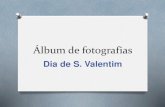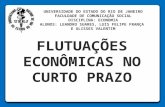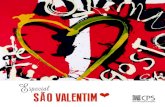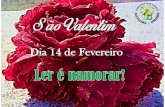Resumo_Frei Luis Sousa_Prof Sandra Valentim
-
Upload
sandra-valentim -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Resumo_Frei Luis Sousa_Prof Sandra Valentim
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
1
ROMANTISMO De origem alem e inglesa o Romantismo espalhou-se por toda a Europa desde os finais do sculo XVII, perpassado pela ideologia da Revoluo Francesa. Surge por oposio ao Classicismo. O Romantismo em Portugal est ligado transformao revolucionria da sociedade portuguesa no incio do sculo XIX. Deve notar-se, no entanto, que, anteriormente revoluo liberal, se vinham desenvolvendo temas e estilos que anteviam a criao de um novo conceito de Literatura; j os rcades procuravam um estilo mais directo, descritivo e individualizante, oposto, ao estilo clssico. Tambm eles atriburam Literatura uma funo social e nacional que ser ponto de partida para os primeiros romnticos. Na origem do Romantismo est o acesso da burguesia Literatura, com o avano do jornalismo que nasce em meados do sculo XVII e se desenvolve durante o sc. XVIII, apesar do controlo exercido pelo poder central sobre as publicaes peridicas. Com as revolues ocorridas entre 1820-1831 verificam-se grandes vagas de emigrao, tendo-se os emigrados repartido entre Frana e Inglaterra, onde o Romantismo estava em florescimento. em plena emigrao que Almeida Garrett publica as suas primeiras obras: Cames e D. Branca (1825 e 1826), em Paris. Com o regresso dos emigrados, devido vitria dos liberais na guerra civil de 1832-34, o Romantismo ganhou firmeza, com a participao activa de Alexandre Herculano e Almeida Garrett, vindo a ter o seu apogeu com Camilo Castelo Branco e sendo substitudo pelo Realismo em 1871. O Romantismo caracteriza-se pela rejeio, por um lado, das tradies do Classicismo como modelos e, por outro, do racionalismo do sculo XVIII. Principais caractersticas: - Valoriza-se o Indivduo em si mesmo, a sensibilidade, o sentimento e a exaltao do eu interior, estando inerentes a inquietao e o desequilbrio, assim como o sofrimento, a melancolia, a fatalidade; da nostalgia causada pela impossibilidade de alcanar o absoluto e da frustrao da condio humana, nasce o mal du sicle que pode ter como manifestao o protesto poltico;
- Verifica-se o contraste entre a realidade idealizada e a Histria e privilegia-se a liberdade e o nacionalismo, no sendo a este alheio o interesse pela Idade Mdia como poca representativa do surgimento das naes, pela afirmao das nacionalidades e independncias polticas, to caro aos romnticos que na sua poca aderem a causas autonomistas e liberais, sendo tambm de pr em relevo os tempos modernos; - Privilegia-se a fuga no tempo e no espao, a evaso no sonho, na meditao, no mistrio, na morte, no fantstico e o gosto pela tradio, pelo agradvel e popular, sintomtico do que prprio e nacional e no alheio, como se manifestavam as normas do Classicismo; - Enaltece-se a imaginao, a espontaneidade, o natural, o ser genial de cada indivduo, a religio, o misticismo; - Centra-se nos jogos de contrastes e antteses, registando-se com frequncia a ironia e o sarcasmo, afluncia vocabular predominantemente emocional e o gosto pelo coloquialismo do discurso com marcas ntidas da oralidade; liberaliza-se a forma, nomeadamente no uso do verso livre, estrofes irregulares e da prosa no gnero dramtico; - O heri romntico incompreendido e perseguido pela sua singularidade: busca o infinito, o absoluto do amor, da justia, da verdade e da beleza; excessivo, fatal, solitrio, dominado pelo corao, rebelde, procurando a sua pureza imaginria atravs de uma contestao s regras da sociedade; o homem transfere-se para a obra, fazendo desta a realizao imaginria da sua vida, dos seus desejos ou da raiva contra os seus prprios limites enquanto ser humano; este assumido como um misto de sublime e de grotesco; - A paisagem romntica revolta, tumultuosa, agreste, sombria, povoada por seres selvagens, noctvagos (Iocus horrendus), associada aos estados de alma e capaz de provocar sensaes violentas. Tendo em conta algumas caractersticas da poca anterior (Classicismo), que contrastam com as acima mencionadas, note-se que
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
2
a natureza clssica (locus amoenus) aprazvel, primaveril, diurna, simtrica; os artistas do Renascimento (em Portugal sobretudo no sculo XVI, apresentando um cunho prprio resultante da expanso ultramarina) basearam a sua doutrina na imitao da Antiguidade Clssica (grega e romana, seus modelos e regras), na imitao da Natureza, valorizando o primado da razo e da o equilbrio corpo / esprito, forma / contedo, harmonia, sobriedade e serenidade.
O ROMANTISMO NA OBRA O Frei Lus de Sousa apresenta alguns dos tpicos romnticos como:
- Sebastianismo - Telmo e Maria no deixam de fazer referncia crena no mito de D. Sebastio; - patriotismo e nacionalismo - o comportamento de Manuel de Sousa Coutinho ao incendiar o seu prprio palcio para impedir que fosse ocupado pelos Governadores ao servio de Castela; - crenas e supersties - de Madalena, Telmo e Maria, em contextos diversos mas sempre relacionados com o regresso de D. Joo e o final trgico que viria a ter lugar; - religiosidade - de todas as personagens; - tema da morte para os romnticos a morte foi sempre tida como soluo de conflitos; em Frei Lus de Sousa verifica-se:
a morte fsica de Maria (morre tuberculosa); a morte simblica de Madalena e de Manuel, que tomam o hbito,
morrendo para a vida mundana; morte simblica de D. Joo de Portugal que morre uma segunda vez,
quando Telmo, depois de lhe ter desejado a morte fsica como nica maneira de salvar a sua menina, o seu anjo (Maria), aceita colaborar com o Romeiro no sentido de afirmar que se trata de um impostor, numa ltima tentativa de evitar a catstrofe;
morte psicolgica de Telmo, devido aos acontecimentos trgicos.
ALMEIDA GARRETT Joo Baptista da Silva Leito de ALMEIDA
GARRETT (Porto 4/2/1799 - Lisboa 9/12/1854) foi uma das principais figuras da literatura portuguesa. Da sua infncia de salientar a influncia que duas criadas tero exercido nele, despertando o gosto pelo folclore e pela mentalidade e sabedoria populares.
Perante as invases francesas, a famlia de Garrett refugiou-se nos Aores em 1809, onde este foi educado por dois tios, Dr. Joo Carlos Leito e D. Frei Alexandre da Sagrada Famlia. A sua vocao no era porm a eclesistica, mas antes a de orador e homem de teatro, a qual foi estimulada pela leitura de tragdias gregas e latinas, pelo abandono da carreira eclesistica e pela frequncia do curso de Direito em Coimbra. Em 1821, j formado, veio para Lisboa onde desempenhou papel importante na poltica. Em 1823, aquando da Vila-Francada, que aboliu a Constituio de 1822, viu-se forado, como muitos outros liberais perseguidos, a procurar asilo, com a mulher, em Inglaterra. O contacto com o meio ingls marcou para sempre o esprito de Garrett, tendo a paisagem inglesa com seus castelos em runas atrado Garrett, fazendo-o encaminhar para o Romantismo. As primeiras manifestaes literrias de Romantismo neste autor foram os poemas Cames (1825) e D. Branca (1826), escritos aquando duma curta permanncia em Paris, como correspondente comercial. Na obra de Garrett, consegue-se distinguir o homem social do homem interior, atravs dos temas do remorso, do desabafo e do reconhecimento. Os grandes temas da sua obra dramtica so liberdade ou morte, confronto entre o passado e o presente (revelando saudade do primeiro), paixo pecaminosa, renncia, religiosidade e exagerado patriotismo. As suas personagens ou so literatos, como Bernardim Ribeiro, Gil Vicente, Frei Lus de Sousa ou figuras prximas do anonimato, como D. Filipa de Vilhena, Ferno Vaz ou a Sobrinha do Marqus. Garrett sublimou os homens de outrora com as qualidades e
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
3
virtudes que faltavam aos do presente, numa tentativa de dignificar os tempos passados. Com a revoluo de Setembro (1836), Passos Manuel subiu ao poder e encarregou Garrett de proceder a reformas culturais, entre elas a organizao de um teatro nacional. Garrett fundou, ento, o Teatro Nacional (actual D. Maria II, em Lisboa), uma escola para formar actores (o Conservatrio) e iniciou a produo de obras de teatro que seduzissem o pblico. De 1837 a 1841 decorreu o idlio amoroso de Adelaide Deville e Garrett, que aos dezoito anos se apaixonou pelo poeta, morrendo aos vinte e dois deixando uma filha de meses. As dolorosas recordaes em que Garrett vivia aquando da sua permanncia em Benfica, onde morou com Adelaide, aps a morte desta, forneceram-lhe os momentos de concentrao para criar o Frei Lus de Sousa. A obra sofreu ferozes crticas ao servio do Cabralismo, tendo sido at acusada de imitao de uma obra de um autor francs sobre a mesma personagem, intitulada Lus de Sousa e, por tal, impedida de ser representada (esta proibio s foi interrompida em 1850 quando o Teatro D. Maria II foi oficialmente inaugurado). Garrett escreveu Um Auto de Gil Vicente (1838), D. Filipa de Vilhena (1840), O Alfageme de Santarm (1842), Frei Lus de Sousa (1843), A Sobrinha do Marqus (1848). Na prosa, destacou-se com Viagens na minha Terra (1843) e na poesia com Flores sem Fruto (1845) e Folhas Cadas (1853). A par de homem de letras, Garrett foi tambm um poltico activo, ora apoiado, ora perseguido. Liberal que era, ops-se aos regimes de D. Miguel (Absolutismo) e de Costa Cabral (Cabralismo).
FREI LUS DE SOUSA PERSONAGEM HISTRICA O ttulo desta obra e a sua aco tm um fundo histrico. As personagens existiram na realidade, as relaes entre elas igualmente, embora o autor diga na Memria ao Conservatrio Real no ter seguido rigorosamente a cronologia dos acontecimentos nem a verdade histrica: Escuso dizer-vos, senhores, que me no julguei obrigado a ser escravo da
cronologia nem a rejeitar por imprprio da cena tudo quanto a severa crtica moderna indigitou como arriscado de se apurar para a histria. Eu sacrifico s musas de Homero, no s de Herdoto: e quem sabe, por fim, em qual dos dois altares arde o fogo da melhor verdade. FREI LUS DE SOUSA (Manuel de Sousa Coutinho, cerca de 1555 - 1632) sofreu vida acidentada na sia e em frica e prestou servios a Filipe II de Espanha. Regressando a Portugal, casou, por 1584-86, com D. Madalena de Vilhena, viva de D. Joo de Portugal, desaparecido na batalha de Alccer Quibir a 4 de Agosto de 1578. Em 1599 muda-se para Almada, nomeado capito-mor dessa localidade. No ano seguinte, devido peste que assola Lisboa, os governadores do reino pretendem abrigar-se em Almada, numa casa de D. Manuel que, por questes pessoais, lhe lana fogo para no Ihes ceder abrigo. Em 1613, aps o falecimento da filha nica do casal, D. Manuel e D. Madalena seguem o exemplo recente dos Condes de Vimioso, dando ele entrada no convento de S. Domingos de Benfica e ela no convento do Sacramento. D. Manuel, ento Frei Lus de Sousa, desenvolveu alguns projectos literrios at sua morte como A Vida de D. Frei Bartolomeu dos Mrtires, A Histria de S. Domingos Particular do Reino e Conquistas do Reino, a partir de materiais deixados por Frei Lus de Ccegas, num estilo claro, fluente, cheio de naturalidade e poder expressivo que marcou a prosa clssica portuguesa. Correram diversas verses acerca da causa da morte para o mundo de D. Manuel e D. Madalena, partindo uma delas de um bigrafo daquele, segundo o qual um peregrino trouxera a notcia de que D. Joo de Portugal estaria ainda vivo na Terra Santa, 35 anos aps o seu desaparecimento, sendo o casamento de D. Manuel e D. Madalena impossvel. Foi este facto que deu origem a Frei Lus de Sousa de Garrett.
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
4
FREI LUS DE SOUSA DRAMA OU TRAGDIA? Da Memria ao Conservatrio Real aos conceitos
de Drama e Tragdia
Segue-se um excerto da Memria ao Conservatrio Real, cuja ideia fulcral a distino entre drama e tragdia que o autor pretende fazer e a indicao das razes que o levaram designao que atribuiu a esta sua obra-prima: Esta uma verdadeira tragdia (...). No lhe dei todavia este nome porque no quis romper de viseira com os estafermos respeitados dos sculos que, formados de peas que no ofendem nem defendem no actual guerrear; inanimados, ocos e postos ao canto da sala para onde ningum vai de propsito ainda tm contudo a nossa venerao, ainda nos inclinamos diante deles quando ali passamos por acaso. Demais, posto que eu no creia no verso como lngua dramtica possvel para assuntos to modernos, tambm no sou to desabusado contudo que me atreva a dar a uma composio em prosa o ttulo solene que as musas gregas deixaram consagrado mais sublime e difcil de todas as composies poticas. O que eu escrevi em prosa, pudera escrev-lo em verso; - e o nosso verso solto est provado que dcil e ingnuo bastante para dar todos os efeitos de arte sem quebrar na natureza. Mas sempre havia de aparecer mais artifcio do que a ndole especial do assunto podia sofrer: E di-lo-ei porque verdade - repugnava-me tambm pr na boca do Frei Lus de Sousa outro ritmo que no fosse o da elegante prosa portuguesa que ele, mais do que ningum, deduziu com tanta harmonia e suavidade. Bem sei que assim ficar mais clara a impossibilidade de imitar o grande modelo; mas antes isso, do que fazer falar por versos meus o mais perfeito prosador da lngua. (...) Nem amores, nem aventuras, nem paixes, nem caracteres violentos de nenhum gnero. Com uma aco que se passa entre pai me e filha, um frade, um escudeiro velho, e um peregrino que apenas entra em duas ou trs cenas - tudo gente honesta e temente a Deus -sem um mau para contraste, sem um tirano que se mate ou mate algum, pelo menos no ltimo acto, como
eram as tragdias dantes -sem uma dana macabra de assassnios, de adultrios e de incestos, tripudiada ao som de blasfmias e das maldies, como hoje se quer fazer o drama - eu quis ver se era possvel excitar fortemente o terror e a piedade ao cadver das nossas plateias, gastas e caquticas pelo uso contnuo de estimulantes violentos, galvaniz-lo com estes ss dois metais de lei. Repito sinceramente no sei se o consegui;(...). Nem parea que estou dando grandes palavras a pequenas coisas: o drama a expresso literria mais verdadeira do estado da sociedade; a sociedade de hoje ainda se no sabe o que : o drama ainda se no sabe o que : a literatura actual palavra, o verbo, ainda balbuciante de uma sociedade indefinida, e contudo j influi sobre ela; , como disse, a sua expresso, mas reflecte a modificar os pensamentos que a produziram. (...)
Almeida Garrett, Memria ao Conservatria Real (lido em Maio 1843). Vejamos agora definies puras e simples que a Enciclopdia nos fornece sobre estes dois gneros literrios para que possam ser uma ajuda na classificao da natureza desta pea: DRAMA - Drama tambm um gnero dramtico, o mais importante do teatro srio depois da tragdia como o a farsa no teatro cmico depois da comdia. (...) Drama um gnero teatral que se caracteriza pelo srio das situaes e pelo seu desenlace funesto, mas no trgico. Distingue-se fundamentalmente da tragdia por serem as personagens que, por deciso prpria, conduzem a intriga a um desfecho infeliz, ao passo que na tragdia o destino se exerce inexoravelmente at final, limitando-se as personagens a lutar contra ele, sem esperana, at consumao do que tem de acontecer.
Enciclopdia Luso-Brasileira de Cultura, Verbo
TRAGDIA A tragdia, em sentido restrito, geralmente chamada regular, deixou de existir com o Romantismo. Em sentido lato, podemos
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
5
incluir neste gnero toda a pea de teatro que, independentemente da sua estrutura, possua um certo pathos trgico, como os mistrios medievais e o chamado drama romntico ou realista e, de um modo geral todo o teatro srio que pe em causa o destino e a liberdade do homem em situaes irredutveis. (...) O Romantismo portugus teve expresso mais alta na obra dramtica de Almeida Garrett, que foi o seu introdutor em Portugal com o drama Um Auto de Gil Vicente (1838). A sua obra-prima, a tragdia romntica Frei Lus de Sousa (1843), tambm a obra-prima do teatro romntico portugus e uma das mais belas obras da literatura dramtica universal.
Enciclopdia Luso-Brasileira de Cultura, Verbo.
A Tragdia Clssica: estrutura e elementos
A tragdia clssica o mais nobre dos gneros para os gregos e consta de cinco partes: o prlogo (1 acto), os episdios (2, 3, 4 actos) e o xodo (5 acto); o protagonista geralmente uma pessoa de estirpe elevada, justa e sem culpa que, apesar disso, percorre o caminho rduo da desdita, embora tenha anteriormente conhecido a felicidade; existe uma personagem colectiva (Coro) com a funo de prever e comentar o desenrolar dos acontecimentos, manifestando a voz do bom-senso perante a exaltao das personagens; o assunto geralmente de cariz poltico e social, ou relativo a uma situao inslita; a linguagem da tragdia em verso e respeita a lei das trs unidades (espao, tempo e aco), no havendo mudana de cenrio, ocupando a aco o mximo de 24 horas e centrando-se num nico problema. A tragdia clssica tem o fulcro da aco num conflito (gon) que leva as personagens a interrogarem-se sobre a sua existncia e o destino (Anank), fazendo com que o indivduo lance um desafio (Hybris) s autoridades, aos deuses, s leis da Natureza ou ordem. Como reaco, surge a punio, o castigo - a Nmesis divina, que tem como consequncia o sofrimento das personagens (Pathos). Os acontecimentos desenrolam-se segundo os actos das personagens; o conflito do protagonista adensa-se e avoluma-se (Clmax) e, por vezes, os acontecimentos precipitam a aco no seu curso atravs de alteraes (Peripcia)
que acabam por inverter o rumo dos acontecimentos em sentido inesperado, dando lugar ao desenlace fatal (Catstrofe). Um reconhecimento (Anagnrise) que muitas vezes desencadeia esta mudana brusca. A catstrofe deve ser sugerida desde o incio pois o resultado da luta entre a Hybris e o Destino cruel e inevitvel. Estes acontecimentos e este conflito criam no espectador uma tenso, uma curiosidade e expectativa tais, levando-o a participar dos sentimentos e apreenses das personagens (Catarse) como forma de purificar as paixes dos espectadores, semelhantes s do protagonista, atravs de uma aco geradora de compaixo e temor.
A Tragdia Clssica em Frei Lus de Sousa
Almeida Garrett criou a aco de Frei Lus de Sousa luz da tragdia grega, concretizando os vrios elementos trgicos numa aco repleta de ansiedade, de pressgios na qual cada membro da famlia protagonista vive o drama colectivo. Assim, D. Madalena cometeu um crime de amor, ao amar Manuel de Sousa Coutinho enquanto casada com D. Joo de Portugal, desafiou a ordem existente que seria guardar fidelidade ao marido (Hybris); o conflito (gon) parte desta situao, desenvolvendo-se com a mudana de cenrio - incndio do palcio de Manuel e mudana da famlia para o de D. Joo de Portugal (Peripcia) - e adensa-se com o regresso e reconhecimento do primeiro marido julgado morto, na figura de um Romeiro (Anagnrise), imprevisto que provoca o desfecho com a morte de vrias personagens (Catstrofe). O desenrolar dos acontecimentos d-nos conta do sofrimento (Pathos), principalmente de Madalena com os seus profundos estados de melancolia e terror, alimentados pelos pressgios de Telmo (Coro) que se intensificam atravs da fatalidade das datas, destruio do retrato de Manuel de Sousa Coutinho e mudana de habitao (Clmax), conduzindo ao desenlace. O sofrimento age sobre os espectadores, despertando neles os sentimentos de terror e piedade para os purificar (Catarse).
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
6
Tal como na tragdia clssica, o fatalismo uma presena constante. O Destino apresenta-se como a fora que move os acontecimentos e o futuro das personagens, tomando a obra na sua concepo essencialmente trgica - a famlia de Manuel de Sousa Coutinho no se pode escapar inflexibilidade do destino apesar da sua nobreza e integridade.
O Drama em Frei Lus de Sousa
Almeida Garrett recorreu a muitos elementos da tragdia clssica, mas elaborou um drama romntico onde sobressaem os estados psicolgicos das personagens; substituiu o verso pela prosa, utilizou uma linguagem coloquial, fluente e prxima das realidades vividas pelas personagens e dos seus estados de esprito, bem diferente de uma linguagem clssica; no se preocupou com algumas regras, como a lei das trs unidades (apenas cumpriu a unidade de aco); retirou a presena do Coro (embora Telmo possa ter afinidades com essa personagem, na medida em que comenta, faz juzos de valor perante as situaes que vive/ assiste); foi buscar a matria realidade do seu pas, com um fundo histrico (batalha de Alccer Quibir). Segundo Victor Hugo, o drama uma pea que retrata a vida real das personagens onde as regras podem ser alteradas. As personagens podem ser dotadas de sentimentos vivos e profundos e o desfecho pode ser ou no trgico, no sendo no entanto revestido da tenso que caracteriza a tragdia clssica. Como se pode verificar, a obra em estudo possibilita uma classificao dupla, tal como est patente nas palavras de Almeida Garrett com as quais conclumos: Contento-me para a minha obra com o ttulo modesto de drama; s peo que a no julguem pelas leis que regem, ou devem reger, essa composio de forma e ndole nova; porque a minha, se na forma desmerece da categoria, pela ndole h-de ficar pertencendo sempre ao antigo gnero trgico.
in Memria ao Conservatrio Real
PERSONAGENS D. Madalena de Vilhena
Desde o incio da pea D. Madalena de Vilhena uma personagem dominada por pressentimentos, temores e terrores (Mas eu!... (...) o estado em que eu vivo... este medo, estes contnuos terrores, que ainda me no deixaram gozar uni s momento (...)) que a fazem viver em permanente desassossego, pnico e infelicidade - Pathos - devido dvida quanto existncia do primeiro
marido, alimentada pela convico de Telmo Pais nesse sentido. Tal desassossego tem como base o facto de se sentir culpada por ter amado Manuel de Sousa Coutinho ainda durante o seu primeiro casamento - Hybris -(Conto. Este amor - que hoje est santificado at mais deve a si do que ao esposo) e agudizado pela dvida que lhe atormenta o esprito ( Dvida de fiel servidor at mas que tem atormentado o meu...). uma personagem completamente dominada pelo Destino e pelo fatalismo e impotente contra ambos. Registem-se, como exemplos, a tentativa de salvar o retrato do marido, parecendo prever o que da adviria (Ai, e o retrato de meu marido! ...Salvem-me aquele retrato.); e a constatao do dia de sexta-feira, dia em que o marido e a filha a deixam sozinha, que um dia repleto de lembranas de outros acontecimentos Logo hoje!... Este dia de hoje o pior... se fosse amanh, se fosse passado hoje!...; Oh, Maria, Maria... tambm tu me queres deixar! -tambm tu me desamparas... e hoje!). A sua personalidade fraca, sensvel e influencivel leva-a a no conseguir resistir realidade dos factos, quando D. Joo de Portugal regressa, fazendo-a tomar conscincia da relao ilegtima que vive. Porm, D. Madalena, por no querer admitir o testemunho fsico, real do seu pecado, ou por total ingenuidade, no reconhece imediatamente D. Joo de Portugal disfarado de Romeiro (Santa vida levastes, bom romeiro. / Sempre h parentes, amigos... / Haver to m gente... e to vil, que tal faa?). O regresso de D. Joo de Portugal vem sendo
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
7
anunciado ao longo de toda a pea pelos pressgios de Telmo Pais e pelo pavor de D. Madalena, da no surpreender o espectador (Cf. exemplos do bloco referente a Telmo). D. Madalena renuncia posteriormente vida mundana, dando entrada num convento (morte psicolgica) Catstrofe. Esta herona vive muito para si, muito dentro dos seus problemas pessoais, no revela outros interesses que no os relacionados com a sua felicidade e, por extenso, a da sua famlia, transmitindo Garrett, deste modo, o ambiente social do incio do sculo XVII. Manuel de Sousa Coutinho
O mesmo destino que sua esposa - morte psicolgica - tomou Manuel de Sousa Coutinho - Catstrofe -, no devido fraqueza de carcter, mas por constatar a ilegitimidade da sua presena naquele casamento, naquela famlia (Fui eu o autor de tudo isto, o autor da minha desgraa e da sua desonra deles...); ele que sempre zelou pela integridade, mesmo sofrendo, no deixou de tomar as decises que lhe pareceram certas e adequadas a determinada situao (incndio do seu palcio e deciso de
professar). Com a chegada do Romeiro / D. Joo de Portugal, que o dono daquela casa, o marido da sua mulher, Manuel de Sousa Coutinho -retirou-se da vida (Para ns j no h seno estas mortalhas (tomando os hbitos de cima da banca) e a sepultura de um claustro.). Note-se a este propsito, e j anteriormente, o simbolismo do retrato queimado de Manuel de Sousa Coutinho que vai implicar, por substituio / oposio, nos Actos II e III, a exclusividade da presena de D. Joo de Portugal, quer pela reproduo pictrica, quer pelo seu renascimento como Romeiro. Manuel de Sousa Coutinho menospreza os receios de sua esposa quanto a mudarem-se para o palcio de D. Joo, apelidando-os de vs quimeras de crianas e caprichos e no evidencia, ao longo da pea, qualquer temor ou constrangimento, no entanto, submete-se ao Destino; ele que mostrou ao longo da pea ser capaz de desafiar (Hybris - incendeia o seu palcio para no dar alojamento aos governadores) e de se impor (d ordens, activo), no se deixa influenciar
pelo pnico da esposa), parecendo livre nas suas resolues, est, contudo, a contribuir drasticamente para a fatalidade, o Fado que sobre ele - o portugus, o marido, o pai -caiu juntamente com a sua famlia). A par de tal dinamismo, Manuel revela-se ingnuo e pouco perspicaz no menosprezo para com as inquietaes de sua esposa (Madalena! / Oh! querida mulher minha, parece que vou eu agora embarcar num galeo para a ndia...Ora vamos;), ao mesmo tempo que esta sua atitude toma um cariz irnico para o espectador ( E o presente, esse meu, meu s, todo meu (..)), uma vez que Manuel de Sousa Coutinho no se apercebe que, de facto, o seu presente, a sua vida inclui necessariamente D. Madalena e, vida desta, est inerente a presena de D. Joo de Portugal: Manuel de Sousa Coutinho mostrou-se determinado em separar o passado do presente, mas foi irremediavelmente condenado por este (( ...) arrastei na "' minha queda, que lancei nesse abismo de vergonha, (...)). Manuel de Sousa Coutinho ao refugiar-se num convento, que lhe proporciona o isolamento necessrio escrita, encarna o mito romntico do escritor. Telmo Pais
Telmo Pais, o fiel servidor de seus amos, primeiramente de D. Joo de Portugal, agora de Manuel de Sousa Coutinho e famlia, a personificao dos pressgios, agouros que assolam aquela famlia, ao manter-se convicto, ao fim de vinte e um anos, da existncia do seu primeiro amo (Madalena (assustada) - Est bom: no entremos com os teus agouros e profecias do costume: so
sempre de aterrar... Deixemo-nos de futuros...; E s tu o que andas continuamente e quase por acinte, a sustentar essa quimera, a levantar esse fantasma{ ...) esses contnuos agouros, em que andas sempre de uma desgraa que est iminente sobre a nossa famlia...; carta deixada por D. Joo em cujas palavras assenta um dos pilares da credulidade de Teimo). Teimo culpa Madalena pelo seu segundo
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
8
casamento (Oh minha senhora, minha senhora! mas essa coisa em que vos apartastes dos meus conselhos...), embora esta tivesse dedicado sete anos a buscas infrutferas. Ama Maria apesar de ser o resultado de uma ligao que ele considerou adltera ((...) ao princpio era uma criana que eu no podia at que lhe quero mais do que seu pai.) e leal a Manuel de Sousa Coutinho a quem respeita e venera (Manuel de Sousa... o senhor Manuel de Sousa Coutinho guapo cavalheiro, honrado fidalgo, bom portugus... / A minha vida que ele queira sua. E a minha pena, toda a minha pena que o no conheci, que o no estimei sempre no que ele valia.). Telmo Pais a personagem que condensa em si prprio o passado {ligao a D. Joo de Portugal), o presente {fidelidade famlia de D. Madalena) e o futuro {anteviso dos acontecimentos que se vieram a concretizar). Note-se ainda que Teimo j idoso, tal como velho est o ciclo de felicidade de D. Madalena e Manuel de Sousa Coutinho, uma vez que ir terminar em breve. Teimo tambm, por deformao, servil, amigo e inimigo, comprovando a sua verdadeira personalidade com o regresso do antigo amo. Telmo equipara-se, ainda, ao coro das tragdias na medida em que comenta, ajuza (( ...) tenho c uma coisa que me diz que antes de muito se h-de ver quem que quer mais nossa menina nesta casa.; Ter... - pe em dvida a morte de D. Joo) e vaticina (s palavras, s formais palavras daquela carta escrita na prpria madrugada do dia da batalha, e entregue a Frei Jorge, que vo-la trouxe. - vivo ou morto - rezava ela - vivo ou morto... No me esqueceu uma letra daquelas palavras: e eu sei que homem era meu amo para as escrever em vo: vivo ou morto, Madalena, hei-de ver-vos pelo menos ainda uma vez neste mundo., Mas no se ia sem aparecer tambm ao seu aio velho.. Maria de Noronha
Outra vtima Maria - dbil fisicamente, desde cedo se prev que o seu desenvolvimento precoce, a nvel psicolgico, a faz sofrer (E eu agora que fao de forte e assisada at sobre a minha me tambm, que o mesmo.; Me, me, eu bem o sabia...
nunca to disse, mas sabia-o;; a voz de meu pai! Meu pai que chegou. / Pois oio eu muito claro.) e que a sua fraca sade agudiza esse sofrimento Pathos - Que febre que ela tem hoje, meu Deus! queimam-lhe as mos... e aquelas rosetas nas faces...; Naquele corpo to franzino at todo manchado de sangue.). Maria refora o sebastianismo de Teimo pelo seu entendimento proftico, fazendo com que o passado esteja sempre presente; adulta nas suas preocupaes relativas s injustias sociais (Coitado do povo! at amparo aos necessitados.) e pela cultura Menina e moa me levaram da casa de meus pais" at entendo-o eu.). Maria a prova clara e concreta da situao ilegtima de seus pais; a prova do crime por eles cometido e, como tal, no sobrevive -por um lado por ver a deciso de renncia ao mundo tomada por ambos, que adora, no conseguindo resistir ao seu sofrimento (Esperai: aqui no morre ningum sem mim.( ...) Que Deus esse que est nesse altar, e quer roubar o pai e a me a sua filha? (...) Mate-me, mate-me, se quer, mas deixem-me este pai, esta me, que so meus.); por outro lado, por perceber precocemente o pecado da sua existncia (morte fsica) -Catstrofe - (Essa filha filha do crime e do pecado!..." No sou; dize, meu pai, no sou... dize a essa gente toda, dize que no sou.; Minha me, meu pai, cobri-me bem estas faces, que morro de vergonha... (esconde o rosto no seio da me) morro, morro... de vergonha... (Cai e fica morta no cho. Manuel de Sousa e Madalena prostram-se ao p do cadver da filha.). Maria a mulher-anjo bom, o modelo de mulher romntica. D. Joo de Portugal
D. Joo de Portugal a personagem sempre presente ao longo da pea, apesar de primar pela ausncia. Toma diversas formas, como as de personagem apenas referida, pertencendo a um espao e tempo representados (amo de Telmo Pais, primeiro marido de D. Madalena, suposta morte em Alccer Quibir; personagem simblica, onrica, sempre
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
9
presente nos agouros de D. Madalena (Parece-me que voltar ao poder dele at que nos vai separar para sempre...), ligada ao sebastianismo, s suspeitas de Maria e esperanas de Telmo (...) aquele do meio bem sabes se o conhecerei at rei D. Sebastio.; / Mas o outro, o outro... at nem outro amor nesta vida...) e personagem equvoco / disfarce, responsvel pela - Peripcia e Anagnrise / Reconhecimento, num espao e tempo da representao e como motor e desfecho do conflito dramtico: a morte de Maria, Manuel de Sousa e D. Madalena (os dois ltimos como morte psicolgica). Apesar de D. Joo de Portugal ter determinado esta Catstrofe, f-lo inconscientemente em consequncia de pretender reaver a sua posio na sua casa e na sua famlia; nota-se o seu elevado carcter moral pela renncia ao seu lugar, uma vez constatados os inmeros esforos empreendidos por sua esposa, a quem agora no quer punir, transferindo tal sofrimento para si prprio (Agora preciso remediar o mal feito. Fui imprudente, fui injusto, fui duro e cruel. (...) dize-Ihe que falaste com o romeiro, que o examinaste, que o convenceste de falso e de impostor... dize o que quiseres, mas salva-a a ela da vergonha ( ...); Vai, vai; v se ainda tempo: salva-os, salva-os, que ainda podes...). A figura de D. Joo de Portugal funciona como um invisvel centro de circunferncia, provocando a violncia psicolgica das restantes personagens. Apenas revela a sua identidade no Acto III (que fora minimizada at revelao Ningum), no sendo anteriormente atribuda personagem qualquer importncia -apenas um intruso -como se prova no facto de nenhuma outra se lhe referir, empregando o seu nome Jorge - aquele / esse homem / o romeiro.; Manuel - Onde est ele... / esse homem.). D. Joo pode ser considerado o fantasma do passado e concentra em si o fulcro da obra, podendo tal ser visto como a condenao de um povo que tem de enfrentar permanentemente esse fantasma, o qual acaba por destru-lo. Frei Jorge
Frei Jorge a figura mediadora, apaziguadora (recomenda prudncia a Manuel de Sousa Coutinho quando este comunica a
deciso de sair de casa), aparecendo quando a aco dramtica sofre alteraes, por exemplo, quando o Romeiro chega. Revela-se prudente e reflectido, tranquilizando D. Madalena, ansiosa pelo regresso de Lisboa de Manuel de Sousa Coutinho; fazendo-lhe companhia na fatdica sexta-feira para que Maria possa acompanhar o pai a Lisboa e visitar o Convento do Sacramento. Como sacerdote pode ser confidente de D. Madalena e depois de Manuel de Sousa Coutinho, seu irmo. Pressente o desenlace trgico, tal como se nota no seu monlogo do Acto II, que funciona como prenncio da tragdia: A todos parece que o corao lhe adivinha desgraa... E eu quase que tambm j se me pega o mal. Deus seja connosco!.
ACO, ESPAO E TEMPO
Todas as personagens se movimentam num determinado espao e tempo. A aco gira em torno dos estados emocionais das personagens, dos conflitos e receios - polarizando-os D. Madalena - e condicionada pela presena marcante do Destino. Sendo assim, verifica-se a existncia de unidade de aco, na medida em que esta se cinge a um nico problema/assunto, no havendo disperso para outras aces perifricas/secundrias. Deste modo, enquanto a aco decorre no palcio de Manuel de Sousa Coutinho (Acto I), D. Madalena vive em desassossego; com o incndio d-se fim a uma felicidade duvidosa: a mudana para o palcio de D. Joo de Portugal (Actos II e III) leva-a ao pnico, ao desespero, suplicando e implorando ao marido que mude de ideias e , na verdade, no palcio de D. Joo de Portugal que este regressa, dando-se o Clmax da aco - D. Joo voltou sua casa, sua mulher e encontra outro no seu lugar. Verificamos existir, quer no espao (Palcio de Manuel de Sousa Coutinho - moderno, luxuoso, airoso; Palcio de D. Joo antigo, abandonado, escuro; e capela), quer no tempo (Acto I - fim de tarde e noite; Acto II - tarde de um outro dia; Acto III - noite do mesmo dia) um
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
10
estreitamento, um afunilamento, pois o tempo vai-se condensando e o espao vai diminuindo, determinando o desenlace, sem permitir qualquer possibilidade de alterao. Para tal inevitabilidade contribui tambm a superstio grave do dia de sexta-feira que corresponde, por um lado, ao dia em que se d o desenlace aps a chegada do Romeiro no vigsimo primeiro aniversrio da Batalha de Alccer Quibir e da morte/desaparecimento de D. Sebastio (04/08/1478), por outro, ao aniversrio do dia do primeiro casamento de D. Madalena e, ainda, ao dia em que esta viu e amou Manuel de Sousa Coutinho pela primeira vez. Note-se igualmente que a referida chegada do Romeiro se verifica uma semana aps a transferncia da famlia do palcio de Manuel de Sousa Coutinho para o de D. Joo de Portugal, pelo que no foi respeitada a lei das trs unidades, nomeadamente quanto ao tempo (que no devia ultrapassar as vinte e quatro horas) e ao espao (a desenrolar num nico lugar). O contexto da aco situa-se na poca ps-batalha de Alccer Quibir, a partir da qual nasceu o mito do Sebastianismo (presente e vivo em Telmo e Maria), o qual vai durar durante muitos anos e que representa a crena, a convico de todos aqueles que esperavam restituir a prosperidade a Portugal e libertar o pas do domnio castelhano. Com a morte/desaparecimento de D. Sebastio, com a perda de bons militares na batalha e o dispndio de elevadas quantias para resgatar os sobreviventes, cativos, o pas ficou vulnervel. Muitos portugueses acreditavam ento no regresso do rei, o que se transformou numa esperana de restituir ao pas a sua ordem antiga, visto entretanto Portugal ter sido submetido influncia e ao domnio de Espanha (Filipes).
LINGUAGEM E ESTILO DA OBRA
Um aspecto tambm importante a ser considerado o da linguagem em
que a pea veio luz: solene, bem ao gosto clssico, at para no desmerecer aquele que d ttulo obra e que foi um prosador exemplar; o verso soaria falso, pelo menos aqui.
Neste excerto de "Memria ao Conservatrio Real" Garrett apresenta a sua obra: "O que eu escrevi em prosa, pudera escrev-lo em verso; - e o nosso verso solto est provado que dcil e ingnuo bastante para dar todos os efeitos de arte sem quebrar na natureza. Mas sempre havia de parecer mais artifcio do que a ndole especial do assunto podia sofrer. E di-lo-ei porque verdade repugnava-me tambm pr na boca do Frei Lus de Sousa outro ritmo que no fosse o da elegante prosa portuguesa que ele, mais do que ningum, deduziu com tanta harmonia e suavidade." Garrett procurou a elegncia, a simplicidade, a naturalidade e usou as potencialidades da lngua ao servio dos efeitos que pretendia com a sua obra: 1 vocabulrio de uso corrente, acessvel a qualquer pblico; 2 algumas palavras e construes antigas, contribuindo para a verosimilhana da fala das personagens: ingano, inrijar, ilha incuberta, infado, intendia, incostem-nos; quitaram-te; to bom linhagem (masculino); tamanhinha; O teu corao e as tuas mos esto puras. (concordncia no feminino); faredes; ua; apanhar das flores; e foi quem acabou com os outros (quem persuadiu os outros, acabando com a sua relutncia); bem estreado; donzela dolorida; vivir; 3 substantivos abstractos, adequados revelao de sentimentos, de emoes, de valores: paz, alegria d'alma, engano, fortuna, medo, terrores, desgraa, gravidade, viveza, esprito, conselhos, ascendente, confiana, respeito, amor, carinho, formosura, bondade, devoo, lealdade, etc.; 4 dilogos vivos, em interaco verbal constante:
falas curtas;
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
11
palavras soltas: Isso agora...; Tambm.; s vezes. ; Melhor qu?; Era.; O ltimo.; Emend-lo.; Tontinha!; Menina!; Sabia.; Tenho.; Porqu?; Madalena!; Levaram.; Cativo?...;
perodos constitudos por sequncias de monosslabos: Pois sim...; Se sou!; O qu? Sim.; O meu?; O que ?; Qual?... a que foi?...; J, sim.; Ai, meu pai!; Sim!; Eu no.; A mim!; Sim, mas...; O qu?; Pois vs?; Eu sei!; Por vs?; Ele foi?; E eu vou.;
perodos construdos com frases curtas; frases exclamativas e interrogativas; interrupes no dilogo, traduzindo a naturalidade das intervenes:
(...) isto de a palavra de Deus estar assim numa lngua que a gente... que toda a gente no intende... confesso-vos que aquele mercador (...); No lhe dizer...;
frases de interrupo da fala da outra personagem, revelando o pensamento, com naturalidade, espontaneamente: s muito amigo dela, Telmo?; Filha da minha alma!; Isso agora...; E a ningum mais ficou resto de dvida... / Seno a mim.; Jesus, homem!; No, no, tenho!;
5 dilogos entrecortados de jogos de ideias, de subentendidos: Que j l vai, que era outro tempo.; Ter?...; (...) digna de melhor... de melhor...; Bem mo dizia o corao!; Oxal!; J no tenho famlia.; ho-de jurar que me no conhecem.; No h ofensa verdadeira seno as que se fazem a Deus. Pedi-lhe vs perdo a ele, que vos no faltar de qu. No, irmo, no, decerto. E Ele ter compaixo de mim. Ter...; (...) um honrado homem... a quem unicamente devi a liberdade... a ningum mais.; Como se me visse a mim mesmo num espelho.; Ningum!; 6 despojamento da linguagem figurativa, conferindo naturalidade s falas das personagens: quase s uma ou outra metfora (um anjo como aquele...; o meu anjo do cu; a flor da nossa gente; feiticeira), uma ou outra gradao (viva, rf e sem ningum; na formosura, no engenho, nos dotes admirveis daquele anjo);
7 repeties: Calai-vos, calai-vos, pelas dores de Jesus Cristo, homem.; No posso, no posso ver...; Vem, vem?; Que fazes? que fizeste?; Meu Deus, meu Deus!...; Parti! parti!; 8 pontuao expressiva, reveladora dos sentimentos e do pensamento das personagens: constantes pontos de exclamao, de interrogao e reticncias; 9 monlogos de pequena extenso, mantendo o leitor (espectador) preso ao pensar da personagem (acto I, cenas 1 e 9; acto III, cena 4); 10 cenas de curta durao.
SMBOLOS MAIS EVIDENTES NA OBRA
Vrios elementos esto carregados de simbologia, muitas vezes a pressagiar o desenrolar da aco e a desgraa das personagens. Apenas como referncia, podemos encontrar algumas situaes e dados simblicos:
1 - A leitura dos versos de Cames referem-se ao trgico fim dos amores de D. Ins de Castro que, como D. Madalena, tambm vivia uma felicidade aparente quando a desgraa se abateu.
2 - Por outro lado, o facto de Garrett ter colocado Madalena a ler Os Lusadas propicia a segunda fala de Telmo (cena II), que considera este livro como no h outro, tirante o respeito devido ao da palavra de Deus, que no conhece por no saber latim como o seu senhor. Tal dito, aparentemente um lapso do domnio do subconsciente, foi o suficiente para que Telmo, como que censurado pelo seu consciente, corrigisse: ...quero dizer, como o Sr. Manuel de Sousa Coutinho. Esta correco evidencia o conflito existente entre ambas as personagens, j que o que Telmo pretende justamente lembrar a Madalena que o
-
Anlise da obra Frei Lus de Sousa Resumo de elementos chave Prof. Sandra Valentim
12
seu senhor continua a ser D. Joo de Portugal, em cuja morte no acredita, como podemos verificar no decurso da mesma cena.
3 - O tempo dos principais momentos da aco sugere o dia aziago: sexta-feira, fim da tarde e noite (Acto I), sexta-feira, tarde (Acto II), sexta-feira, alta noite (Acto lll); o tempo da aco concentra-se em uma semana, de uma sexta-feira, do final de tarde s nove horas da noite, no acto I, at outra sexta-feira, durante o dia at ao final da tarde, no acto III e na madrugada de sbado e est impregnado de um valor simblico que suplanta seu aspecto puramente cronolgico. Sexta-feira, o dia da paixo de Cristo; sexta-feira um dia muito representativo na vida de Madalena, marcado por uma srie de coincidncias: no mesmo dia do ms e da semana, casa-se com D. Joo, conhece Manuel de Sousa e acontece a funesta batalha. Tambm numa sexta-feira que Manuel deita fogo em seu palcio e, por fim, o primeiro marido regressa, na pele de um Romeiro e destri uma famlia. A apreenso de Madalena com a data fatdica se traduz no dilogo com Frei Jorge, quando diz: Hoje... hoje! Pois hoje o dia da minha vida que mais tenho receado... que ainda temo que no acabe sem muito grande desgraa... um dia fatal para mim: faz hoje anos que... que casei a primeira vez, faz anos que se perdeu el-rei D. Sebastio, e faz anos tambm que... vi pela primeira vez a Manuel de Sousa.
4 - A numerologia parece tambm ter sido escolhida intencionalmente:
a) nmeros 3 e 7 - Madalena casou 7 anos depois de D. Joo haver desaparecido na batalha de Alccer-Quibir; h 14 anos que vive com Manuel de Sousa Coutinho; a desgraa, com o aparecimento do Romeiro, sucede 21 anos depois da batalha (21=3x7). 0 nmero 7 um nmero primo que se liga ao ciclo lunar (cada fase da Lua dura cerca de sete dias) e ao ciclo vital (as clulas humanas renovam-se de sete em sete anos), representa o descanso no fim da criao e pode-se encontrar em muitas representaes da vida, do universo, do homem ou da religio; O nmero 7 o smbolo da totalidade perfeita, do anncio de uma mudana, indica o
fim de um ciclo peridico. Para alm disso, uma porta aberta do conhecido para o desconhecido: um ciclo encerrou-se, como ser o seguinte? Sete, ao lado do trs, o mais importante dos nmeros sagrados na tradio das culturas orientais; sete so os dias da semana, os pecados capitais, o tempo da criao do mundo. O nmero 3 tem uma grande importncia simblica de unio e equilbrio, aparecendo na Santssima Trindade, nos trs poderes (jurdico, executivo, legislativo), etc., sendo recorrente sua presena na literatura e nas artes. O trs tambm usado como pedido de socorro. Para pedir socorro no deserto ou em alguma outra regio, basta fazer trs fogueiras, porque trs um cdigo mundial. Este o nmero da criao e representa o crculo perfeito. Exprime o percurso da vida: nascimento, crescimento e morte. O nmero 21 corresponde a 3x7, ou seja, ao nascimento de uma nova realidade (7 anos foi o ciclo da busca de notcias sobre D. Joo de Portugal e o descanso aps tanta procura); 14 anos foi o tempo de vida com Manuel de Sousa (2x7, o crescimento de uma dupla felicidade: como esposa de Manuel e como me de Maria); 21 anos completa a trade de 7 apresentando-se como a morte, como o encerrar do crculo dos 3 ciclos peridicos O nmero 7 aparece, por vezes, a significar destino, fatalidade (imagem do completar obrigatrio do ciclo da vida), enquanto o 3 indica perfeio; o 21 significa, ento, a fatalidade perfeita.
b) nmero 13 - Maria vive apenas 13 anos. Na crena popular o 13 indica azar. Embora como nmero mpar deva apresentar uma conotao positiva, em numerologia gerado pelo 1+3=4, um nmero par, de influncias negativas, que representa limites naturais. Maria v limitados os seus momentos de vida.
Informaes recolhidas do manual de anlise da obra Frei Lus de Sousa da autoria de Dulce Pereira Teixeira e Lurdes Aguiar Trilho, Texto Editores, 1996