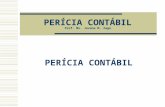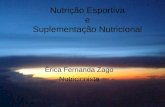REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP - CREA-SP · 2014-03-27 · Prof. Dr. Marco Antonio Zago...
Transcript of REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP - CREA-SP · 2014-03-27 · Prof. Dr. Marco Antonio Zago...

REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP
2011
outubro
VOLUME 6

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ReitorProf. Dr. João Grandino Rodas
Vice-ReitorProf. Dr. Hélio Nogueira da Cruz
Pró-Reitora de Cultura e Extensão UniversitáriaProfa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda
Pró-Reitor de PesquisaProf. Dr. Marco Antonio Zago
Pró-Reitora de GraduaçãoProfa. Dra. Telma Maria Tenório Zorn
Pró-Reitor de Pós-GraduaçãoProf. Dr. Vahan Agopyan
Vice-Reitor Executivo de AdministraçãoProf. Dr. Antonio Roque Dechen
Vice-Reitor Executivo de Relações InternacionaisProf. Dr. Adnei Melges de Andrade
PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Pró-Reitora de Cultura e Extensão UniversitáriaProfa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda
Pró-Reitor Adjunto de Extensão UniversitáriaProf. Dr. José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres
Pró-Reitora Adjunta de CulturaProfa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto
Suplente da Pró-ReitoraLucas Antônio Moscato
Universidade de São Paulo. Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária
Revista Cultura e Extensão — USP. São PauloPró-Reitoria de Cultura e Extensão UniversitáriaVol. 6 (out/ 2011).136 p.Semestral
ISSN 2175-6805
1.Cultura. 2. Extensão. 3. Revista. I. Título
Assessora Técnica de GabineteProfa. Dra. Esmeralda Vailati Negrão
Assessor Técnico de GabineteJosé Clóvis de Medeiros Lima
Assistente Técnico do Gabinete da PRCEUCecílio de Souza
Assistente Técnico do Gabinete da PRCEUEduardo Alves
Chefe da Divisão de Comunicação InstitucionalEvania Maria Guilhon e Sá
Chefe da Divisão de Ação CulturalJuliana Maria Costa
Chefe da Divisão AcadêmicaSandra Lara
Chefe da Divisão Administrativa e FinanceiraValdir Previde
Conselho editorial
Editora responsávelProfa. Dra. Eni de Mesquita Samara (in memoriam)
Editores associadosProfa. Dra. Esmeralda Vailati NegrãoProfa. Dra. Marina Mitiyo YamamotoProf. Dr. José Tavares Correia de Lira
Assistência editorialEvania Maria Guilhon e Sá
EstagiáriosAndré Alves de SousaRafael Silva Franco
Revista Cultura e Extensão USPRua da Praça do Relógio, 109 — Edifício Anexo 1São Paulo-SP — Cidade Universitária — 05508-050Gabinete da Pró-Reitora: (11) 3091-3240 — fax: (11) 3091-1132Assistência Técnica do Gabinete: (11) 3091-3575/3357 — fax: (11) 3091-3154www.usp.br/prc — [email protected]

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO
HOMENAGENS
Igor Renato Machado de LimaMaria Arminda do Nascimento Arruda Raquel GlezerVera Lucia Amaral Ferlini
ARTIGOS
A USP como Cliente da Própria USP: Relato de Caso do Vídeo Institucional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
Antonio Pazin Filho et al.
I Fórum de Integração dos Serviços de Saúde e das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da USP
Namie Okino Sawada et al.
Resgate Histórico e Cidadania: Manutenção do Patrimônio Material e Imaterial da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP
Luciana Barizon Luchesi et al.
Paralisia Cerebral: Fundamentos para Pais e CuidadoresCarlos Bandeira de Mello MonteiroTalita Dias da Silva
Projeto Exercício e Coração: Uma Década a Serviço da ComunidadeCláudia Lúcia de Moraes Forjaz et al.
Projeto Ginástica Laboral na USPPatrícia Sakai et al.
Prática e Ensino de Canoagem: Uma Modalidade Alternativa e PromissoraChristiano Robles Rodrigues Alves et al.
Aprendizagem Participativa de Mães e Familiares Sobre a Saúde do Recém-Nascido: Relato de Experiência
Luciana Mara Monti Fonseca
Ações de Nutrição no Projeto Bandeira Científica: Estudo das Expedições de 2005 a 2010Jaqueline Lopes Pereira
Grupo de Atividades Estruturadas com Estudantes: Identificação de Violência no Ambiente Escolar
Zeyne Alves Pires Scherer et al.
9
11151921
25
33
43
53
61
71
81
91
99
111

Ocupemba: Promovendo Cidadania com Extensão UniversitáriaBruno Azevedo de Andrade Barbosa et al.
INSTRUÇÕES PARA O PREPARO E ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHOS
121
131

CONTENTS
FOREWORD
TRIBUTES
Igor Renato Machado de LimaMaria Arminda do Nascimento Arruda Raquel GlezerVera Lucia Amaral Ferlini
ARTICLES
USP as its own Client: Case Report of the Institutional Video of Medical School of Ribeirão Preto
Antonio Pazin Filho et al.
1st Forum on Integration of Health Services with USP Teaching, Learning, Research and Community Activities
Namie Okino Sawada et al.
Historical Rescue and Social Responsibility: Maintenance of Tangible and Intangible Heritage of University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing
Luciana Barizon Luchesi et al.
Cerebral Palsy: Basics for Parents and CaregiversCarlos Bandeira de Mello MonteiroTalita Dias da Silva
Project Exercise and Heart: Serving the Community for a DecadeCláudia Lúcia de Moraes Forjaz et al.
Workplace Exercises at University of São Paulo ProjectPatrícia Sakai et al.
Practice and Teaching of Canoeing: an Alternative and Promising ModalityChristiano Robles Rodrigues Alves et al.
Participative Learning of Mothers and Family about Newborn Health: Experience ReportLuciana Mara Monti Fonseca
Actions of Nutrition in “Bandeira Científica” Project: Study of the Expeditions from 2005 to 2010
Jaqueline Lopes Pereira
Group of Structuralized Activities with Students: Identification of Violence in the School Environment
Zeyne Alves Pires Scherer et al.
9
11151921
25
33
43
53
61
71
81
91
99
111

Ocupemba: Promoting Citizenship with a Community Based Learning ApproachBruno Azevedo de Andrade Barbosa et al.
INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND FORWARDING OF PAPERS
121
131



9APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
Na abertura deste volume há uma singela homenagem à Profa. Eni de Mesquita Samara (1948-2011), docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas FFLCH - USP e editora responsável pela revista até 2010. São depoimentos de Igor Renato Machado de Lima, Maria Arminda do Nascimento Arruda, Raquel Glezer e Vera Lucia Amaral Ferlini.
Tendo como foco a Saúde, o Esporte e a Educação, o volume seis da Revista de Cultura e Extensão relata as experiências realizadas nos diferentes campi da Universidade em que a Ex-tensão faz a diferença no local da prática.
Os três relatos iniciais estão vinculados ao campus de Ribeirão Preto: 1) A USP como Cliente da Própria USP: Relato de Caso do Vídeo Institucional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto aponta a importância do trabalho interdisciplinar, ao realizar a construção de um vídeoins-titucional com a ECA (Escola de Comunicações e Artes); 2) I Fórum de Integração dos Serviços de Saúde e das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da USP, com o foco nas discussões das relações da universidade com os serviços de saúde, as fontes de fomento e programas do Ministério da Saúde e, 3) Resgate Histórico e Cidadania: Manutenção do Patrimônio Material e Imaterial da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, apontando para a história e funcionamento do Centro de Memória da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e a ampliação das relações com outros campos além da História da Enfermagem, como: Moda, Gênero, entre outros.
Ainda na área da Saúde o relato no artigo Paralisia Cerebral: Fundamentos para Pais e Cuidadores mostra como o impacto da paralisia cerebral e a forma como os pais, cuidadores e membros da família se ajustam num momento crucial para o futuro da criança e das pessoas envolvidas. O Projeto Exercício e Coração: Uma Década a Serviço da Comunidade relata a experiência e importância da prática correta, segura e orientada de atividades físicas para fre-qüentadores de locais públicos que se exercitam sem supervisão.
Ainda no campo da educação e orientação física o Projeto Ginástica Laboral na USP, no qual os alunos da graduação da Escola de Educação Física e Esportes (campus da Capital) aplicam seus conhecimentos e saberes no mundo corporativo em geral.
Diante da importância do treinamento físico para a saúde, a canoagem surge como uma estratégia diferente para despertar o interesse de crianças e adolescentes. Temos, então, a pro-posta da Prática e Ensino de Canoagem: uma Modalidade Alternativa e Promissora.
Voltamos para o campus de Ribeirão Preto com o relato das atividades educativas do pro-fissional de Enfermagem em: Aprendizagem Participativa de Mães e Familiares Sobre a Saúde do Recém-Nascido: Relato de Experiência.
Em Ações de Nutrição no Projeto Bandeira Científica: Estudo das Expedições de 2005 a 2010 avalia-se a contribuição da área de Nutrição nas expedições realizadas nas cidades brasileiras com baixo Índice de Desenvolvimento Humano, a fim de melhorar as condições de saúde da população.
Na Educação, o projeto do Grupo de Atividades Estruturadas com Estudantes: Identi-ficação de Violência no Ambiente Escolar objetiva investir na promoção da saúde física, men-tal e social do aluno, com atividades estruturadas, para investigar possíveis conflitos existentes nesses alunos, segundo a tipologia de atos violentos.
Finalizando o volume seis da Revista de Cultura e Extensão um artigo de alunos da EACH, do curso de Gestão de Políticas Públicas, na idealização e condução de uma atividade de extensão na região de Sapopemba.
Boa leitura!


11HOMENAGEM À PROFESSORA ENI DE MESQUITA SAMARA
HOMENAGEM À PROFESSORA ENI DE MESQUITA SAMARA
*Igor Renato Machado de Lima
Habitualmente, às terças-feiras, a professora Eni reunia a mim e aos demais orientandos em sua sala para escrevermos juntos. Discutíamos os temas de pesquisa, ela perguntava a respeito dos dados levantados e, sempre que possível, trocava informações sobre a bibliografia especializada. Dessa ma-neira, os alunos conviviam com os trabalhos cotidianos da professora na Universidade de São Paulo.
Na vida acadêmica, a professora articulava as três linhas de atividades: pesquisas, docência e vida administrativa. Nas pesquisas, enfocava os temas brasileiros, mantendo contato com ou-tros pesquisadores no exterior. Para isso, viajava constantemente para apresentação de textos e, quando retornava, contava as novidades regadas a um cafezinho e bolo no meio da tarde.
Além disso, a professora constantemente arrumava trabalho de pesquisa para os alunos de graduação ou pós-graduandos em alguma instituição da universidade, como na Escola Po-litécnica e na FUVEST. Nesses trabalhos, procurávamos fontes, organizávamos os materiais e realizávamos entrevistas. Ela nos aconselhava a colocar a mão na massa. Como resultado, eram escritos livros que tratavam da história dos personagens destas instituições.
As pesquisas no Centro de Estudos de Demografia Histórica da América Latina (CE-DHAL) e nas instituições da universidade faziam com que os alunos adquirissem interesse e foco nas atividades acadêmicas e acabassem mantendo um cotidiano de trabalho intenso e, dessa forma, conseguíssemos sempre entregar os livros dentro do prazo e com tranquilidade. Com esse cotidiano de estudo, acabávamos também organizando o nosso tempo pessoal.
Na pós-graduação, os cursos sobre projetos eram os prediletos da professora. Ela exigia sempre objetividade, síntese e clareza nos textos. Explicava que tínhamos que demonstrar aos pareceristas que o projeto era factível. O curso fazia sucesso, pois fornecia a estrutura e realizava a crítica aos projetos, aos relatórios e até mesmo às nossas dissertações e teses.
Assim, sempre incentivava a busca por novas pesquisas documentais e bibliográficas. A professora demonstrava que, na História, a pesquisa não acabava. Os orientandos, de certa for-ma, continuavam e ainda continuam o seu trabalho, ao pesquisarem nos arquivos, escreverem, publicarem e até mesmo orientarem como novos professores.
Mas, apesar da necessidade de pesquisar, demonstrou ainda que podemos controlar o tempo para outras esferas da vida, como exercícios físicos, cuidar da saúde, passeios, viagens, aulas de ikebana, visitas a lojas. “Na vida há tempo para tudo”, dizia ela com frequência.
No momento certo da orientação, a professora puxava a nossa orelha, elogiava nosso trabalho, lia em conjunto os nossos textos – mesmo eles não estando lá essas maravilhas – e nos estendia a mão quando precisávamos de ajuda. Além disso, estimulava-nos a pesquisar e a escrever para que conseguíssemos caminhar sozinhos.
No CEDHAL, gostava de, todo final de ano, chamar-nos para um lanche de confraterni-zação. Nele, fazia as projeções para o próximo ano, organizava as nossas férias e as dela. Geral-mente, gostava de ficar uns dias no Guarujá para recarregar as baterias.
De volta ao trabalho, ficava animada, pois o gosto ao levantamento de dados e à pesqui-sa, assim como o cuidado com o CEDHAL era constante. “Não sei fazer outra coisa”, afirmou,
* Orientando de iniciação científica, mestrado e doutorado da professora Eni de Mesquita Samara no Centro de Estudos de De-mografia Histórica da América Latina (CEDHAL) da FFLCH-USP entre 1997 e 2011.

12 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
quando levantou a hipótese de se aposentar. E acabou não se aposentando.Com relação à pesquisa, a professora organizava, incluindo o tempo, o espaço de traba-
lho. Não gostava de algo fora do lugar e pedia para arrumarmos a mesa, o armário e estar com o texto pronto dias antes da data de entrega. Por isso, acostumamo-nos à maior pontualidade possível nas entregas de artigos, teses e dissertações.
Dentre os temas prediletos da professora, estava a História da Família, sob a influência de Gilberto Freyre, a História das Mulheres e as relações de gênero. Apesar de orientar na área de História Econômica, analisando a população, o trabalho escravo e livre pobre, assim como os patrimônios das mulheres, a professora tinha um carinho especial pela vida religiosa. Desse último tema, apresentava-nos a Sor Juana Inés de La Cruz. Essa última era uma monja escritora mexicana do período colonial, que se vestia com lindos adornos para adorar a Deus e a Cristo.
Claro honor de las mujeresy del hombre docto ultraje,vos probáis que no es el sexode la inteligencia parte.
... de immensas joyasCompuso mi adorno.Vistome con ropastejidas com oro,y con coroname honro como Esposo,Lo que he deseadoya lo ven mis ojos,y lo que esperabaya feliz lo gozo.
Si la flor delicada, si la peña, que altiva no conscientedel tiempo ser hollada,ambas me imitan, aunque variamente,ya con fragilidad, ya con dureza,mi dicha aquélla y ésta mi firmeza.
(Sor Juana Inés de La Cruz)
Desse modo, a professora Eni era apaixonada pelas imagens das monjas, santas e santos barrocos e incluía no curso, principalmente na graduação, a abordagem das estatuárias das igre-jas mineiras do século XVIII.
No cotidiano da vida acadêmica, a professora vivia com intensidade e ânimo. Mesmo nos momentos mais delicados nos últimos anos, não era de lamentar-se. Pelo contrário, cobrava dos alunos que enfrentassem as situações adversas da vida com força e dedicação. Certa vez, quando uma aluna teve um pequeno surto, disse enfaticamente: “Eu não admito você ficar desse jeito. Eu estou morrendo, mas estou de pé”.
Anos depois, quando tive que ficar de cama por problemas de saúde, lembrei-me da frase da professora. Estava enfermo quando ela me ligou. Fiquei envergonhado e finalmente levantei-me. Fui vê-la em sua casa. Ela exigia que continuássemos trabalhando. Foi assim que consegui terminar o trabalho. Terminamos a conclusão da minha tese no sofá da sua casa: eu,

13HOMENAGEM À PROFESSORA ENI DE MESQUITA SAMARA
meio quebrado; a gata Lili, doente; e a professora, alegre, sem lamentar os problemas da vida.Mesmo doente, a professora continuava a se arrumar, a exercitar-se e a dirigir. Afirmava
com bom humor: “Vou para a universidade cada dia mais arrumada. Estou doente, mas não vou ficar em casa esperando o pior”. E não reclamava de dor ou dos problemas físicos. Era uma pessoa frágil, mas não fraca. “Não sou de vidro”, comentou certa vez. Apesar da fragilidade física, con-seguia muitas vezes deixar os alunos e colegas admirados com a sua força de vontade e coragem.
Éramos nós que precisávamos de sua ajuda para resolver alguns dos problemas cotidia-nos enfrentados na vida acadêmica. Para a professora, as questões mais complexas eram resol-vidas das maneiras mais simples e práticas, sem perda de tempo. O tempo lhe era precioso. Ela não gostava de perdê-lo, pois sempre chegava mais cedo nos encontros.
Assim, organizando o tempo da vida da melhor maneira possível, continuamos o tra-balho no CEDHAL e o nosso individual, apesar da saudade que temos da professora Eni. Era isso que ela desejaria que fizéssemos. Mas o nosso mundo, com a sua ausência, fica mais triste, menos charmoso e mais desencantado.


15ESBOÇO DE CUMPLICIDADE
ESBOÇO DE CUMPLICIDADE
*Maria Arminda do Nascimento Arruda
Sou capaz de me lembrar da primeira vez que vi a então professora Eni Samara, depois minha amiga e colaboradora. Apesar das diferenças de situação, ambas parecíamos viver uma condição semelhante. Eu era uma jovem socióloga, casada com um historiador eminente, e Eni era uma jovem professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo, institui-ção que eu conhecia desde o fim da minha adolescência. Encontramo-nos na casa da professora Anita Novinski, historiadora celebrada por seus estudos sobre a Inquisição no Brasil, além de ser uma senhora viva, de aparência marcante, talhada para o papel de excelente anfitriã. Eni e eu estávamos presentes nas reuniões e nos jantares oferecidos pela elegante hostess. Eu, na condição de mulher e acompanhante do marido; ela, passando pelo rito de ser admitida na confraria. Ambas neófitas nos nossos papéis. Sintomaticamente, eu procurava me integrar na conversa dos convidados, para mim nem sempre atraente. Sentia certo deslocamento, explícito na dificulda-de de aceitar, não o ambiente elegante, mas a concordância com posições comumente vistas, por mim, como ultrapassadas. Naquele momento, eu não conseguia conviver com certa concepção difundida, sobretudo em meio a uma comunidade de corte mais tradicional, que manifestava uma visão mais hierárquica e de feitio cristalizado da vida acadêmica. Aquelas ocasiões, percebi-das, hoje, em perspectiva, me levam a pensar que algo se passava, de modo semelhante, com Eni.
Se a minha manifestação de estranhamento poderia ser atribuída ao fato de eu não per-tencer ao ambiente dos historiadores, como explicar a impressão que a historiadora me criava? Como entender o fato de que ela ficava, por vezes, afastada do burburinho da conversa, fuman-do isoladamente o seu cigarro, mas sempre acompanhada da sua sogra? Havia algo de deslocado nessa figura: a primeira imagem emitia um sinal de mulher independente, elegante, distante e até um tanto blasé; a segunda, lembrava uma pessoa conservadora, a mais tradicional possível para o tempo, já que transcorriam os anos 1980: o da mulher que não se apresentaria publicamente sem um companheiro e, na sua ausência, sem a garantia representada pela figura da sogra, ava-lista do seu estado civil, cônscia dos deveres familiares. Eni, no entanto, expunha outros vestí-gios negadores de aquiescência aos valores do passado.
Mulher elegante, de uma elegância evidente, já que cuidadosamente construída para acentuar a sua condição, a historiadora se vestia em concordância com os símbolos aderidos às expressões mais atuais da distinção social, expressando uma espécie de disposição para se diferenciar, relevante, sobretudo, em um contexto, muito ascético em relação às manifestações mais flagrantes de status. Eni Samara não era, aos meus olhos, uma pessoa simples e a sua com-plexidade estava exposta na sua imagem. Eu, tampouco, deveria exprimir uma figura pacificada, uma vez que mal conseguia equilibrar-me em meio a tantas contradições que, diga-se passagem, pareciam ser percebidas pela dona da casa, presentes nos seus comportamentos de gentileza vol-tados ao bem-estar dos convidados.
Alguns anos se passaram. Encontrei-me com Eni, novamente, em um seminário promo-vido pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no final do decênio, quando eu tentava me firmar na vida profissional, realizando o meu doutoramento e Eni, já portadora do título, apresentava o resultado das suas pesquisas no campo da Demografia
* Professora titular junto do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Uni-versidade de São Paulo e Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP.

16 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
Histórica, mas já se encaminhando para as pesquisas sobre gênero que distinguiriam os seus estudos posteriores. Tivemos uma convivência harmoniosa naquele cenário romântico de Dia-mantina; ameno, porém, as duas pareciam ter consciência de estarem imersas em um ambiente que nem sempre as compreendia. Com o recuo do tempo, tenho, hoje, a sensação de que Eni e eu fomos de certa maneira outsiders na vida acadêmica, não no seu sentido substantivo, daquele que significa encontrar na vida intelectual a sua principal atração, atração que, inúmeras vezes, pareciam ausentes por causa da figura que parecíamos representar. Algo de diverso havia, por certo, entre nós. Eni era mais especializada do que eu, reproduzindo a marca da vivência que tivera nas universidades americanas, o que não deixava de provocar estranheza de minha parte. Tínhamos, todavia, uma concordância de fundo, lastreada num tipo de sociabilidade que pre-servava certos padrões fixados de etiqueta. Eu gostava disso e, penso, que o nosso relacionamen-to futuro desenvolveu-se na esteira de tal afinidade.
Um outro momento de convivência mais próximo com Eni aconteceu em um seminário realizado pela Universidade Lusíada, no Porto, já durante o decênio de 1990. Foram bons dias. Saímos juntas, fomos a museus, apreciamos a moda – mais ela do que eu – caminhamos pela ci-dade. Não me encontrava bem, ainda perseguida pelo falecimento do meu jovem irmão, evento que me ocupava integralmente e deixava um lastro de pânico nas minhas apresentações. O meu desempenho foi sofrível; percebi que ela compreendeu. Naqueles dias vislumbrei outra pessoa: esmerava-se ainda mais na aparência, denotando esforço para cuidar de si; havia se transformado numa pesquisadora dedicada à História de Gênero, em especial, às mulheres brasileiras na Época Colonial. Ocorria, novamente, uma espécie de disjunção entre a adesão a um tema identificado com a liberação e a imagem construída por ela. Naqueles dias, perguntei-me com qual figura ficar, qual era, no fundo, a identidade de Eni, mesmo reconhecendo as minhas próprias dificul-dades de transmitir uma visão mais coerente da minha personalidade. A já minha amiga rompia expectativas assentadas. Em outra ocasião, novamente em Portugal, apresentei um trabalho sobre a trajetória do meu avô açoriano que aportou no Brasil no final do século XIX, considerado, no debate, um esforço bem sucedido de análise social de biografias. A minha colega das terras lu-sitanas apreciou o estudo e convidou-me par apresentá-lo para seus orientandos no CEDHAL.
Desde então, selamos uma espécie de pacto, isto é, de companheiras de um caminho asse-melhado e pertencente a uma estirpe de mulheres acadêmicas que portavam, contraditoriamen-te, uma dupla face: aparentemente tradicionais em certas condutas; mas anunciadoras de um novo tempo, daquele em que se reconhece o direito à diversidade. Imbuídas de tal reconheci-mento, ainda que de modo não explícito e mesmo não consciente, apoiamo-nos nas ocasiões em que ambas pretenderam ascender na carreira acadêmica. Possivelmente, por isso, construímos uma espécie de cumplicidade. Se Eni me provocava alguma perplexidade, vejo, agora, que era o espelho do meu próprio estar no mundo, de uma condição de presença afastada, não ausente, mas tampouco totalmente identificada ao ambiente, uma modalidade de experiência de estar à margem. Raramente podemos acordar combinações não explícitas, nascidas do reconhecimento de afinidades que não necessitam de formulações evidentes. Esse era o nosso caso; assim cons-truímos o nosso relacionamento.
Mesmo quando me disse do retorno da sua doença, ela sabia da minha contrariedade, mas tinha segurança da minha solidariedade, sem que nenhuma palavra tivesse sido dita, além daque-las protocolares em ocasiões dessa ordem. Sinto, agora, o quanto nossas afinidades eram reais. Eni, na sua aparência composta, até cuidadosamente construída, que passava uma imagem de estar bem com as circunstâncias, era, no fundo, uma mulher na qual se percebia uma melancolia dançando no seu olhar. Não haveria naquele olhar vestígio de algo desejado e não realizado?



19UMA PESSOA ESPECIAL
UMA PESSOA ESPECIAL
*Raquel Glezer
Escrever sobre Eni de Mesquita Samara é muito difícil. Dentre as múltiplas atividades que exerceu, qual o aspecto a destacar? O de uma pesquisadora nos estudos de Gênero e Famí-lia de destaque internacional? O de militante feminista? O de ativa participante de inúmeras associações científicas nacionais e internacionais? O de orientadora de tantos trabalhos rele-vantes, com alunos em todo o país? O de participante ativa em agências financiadoras federais e estaduais? O de autora de livros que se tornaram clássicos ou de editora de várias publicações relevantes para o conhecimento histórico? O de ativa participante na gestão acadêmica em di-versos níveis? Reproduzir seu Currículo Lattes? Falar sobre sua família, sua vivência familiar, um espaço tão especial em sua vida?
Teve uma brilhante atuação como docente e pesquisadora, deixando sua marca nos estu-dos históricos brasileiros, mas destacar qualquer um dos aspectos citados acima não nos conso-lará da ausência da figura humana, alegre, generosa e corajosa.
Era uma amiga bem humorada e disposta a compartilhar qualquer proposta que considerasse pertinente. Foi uma ex-aluna do cursinho preparatório para os exames de ingresso na Faculdade, que se tornou colega no Departamento de História e se transformou em amiga no decorrer dos anos. Compartilhamos idéias, alunos, bancas examinadoras, gestão acadêmica, eventos científicos, deba-tes acadêmicos, questões profissionais. Trocamos experiências e vivências – enriquecedoras sempre.
Vê-la nos corredores do Departamento sempre nos animava: sua figura se destacava no espaço meio vazio e meio deprimente do corredor das salas dos professores. Estava, cada vez que a encontrava, com um novo projeto para apresentar, para discutir, para desenvolver e publicar.
Compartilhamos atividades científicas e algumas viagens. Tivemos experiências simultâneas na BRASA (Brazilian Studies Association) e na AHILA (Associação de Historiadores Latino-ame-ricanistas Europeus). Percorremos quilômetros nos Estados Unidos, em Portugal e na Espanha. Era uma viajante incansável, disposta a captar e apreender tudo o que pudesse em cada experiência. Acompanhar o Caminho de Santiago, de Portugal para a Espanha com ela foi experiência indescri-tível. Comemorar seu aniversário em diversos lugares do mundo foi sempre uma alegria.
No mundo acadêmico é sempre difícil manter a personalidade própria: a comunidade tende a homogeneizar comportamentos e propostas acadêmicas hegemônicas.
Eni sempre foi uma pessoa especial e corajosa: pesquisou Demografia Histórica quando o campo era pouco conhecido no país; desenvolveu os estudos de família e de gênero e abriu caminho para os estudos de sexualidade – mesmo caminhando na contramão do consensual e conhecido; ampliou relações acadêmicas entre pesquisadores de países latino-americanos quan-do o isolamento e o olhar para a Europa era a norma; criou grupos de pesquisa em oposição ao individualismo exacerbado do mundo acadêmico dos historiadores; organizou um centro de do-cumentação de demografia histórica doando seus materiais de pesquisa para que outros pesqui-sadores não precisassem refazer o mesmo trajeto. A mesma coragem com que lutou por sua vida.
Deixou marca profunda em todos nós que tivemos a alegria e o prazer de compartilhar alguns momentos de sua vida.
* Professora titular do Departamento de História da FFLCH-USP, vice-diretora do Parque de Ciência e Tecnologia (Parque Cien-Tec-USP) – e-mail: [email protected].


21ENI DE MESQUITA SAMARA: PESQUISADORA DE VANGUARDA
ENI DE MESQUITA SAMARA:
PESQUISADORA DE VANGUARDA
*Vera Lucia Amaral Ferlini
Se é dolorosa a ausência da amiga pessoal, da colega atuante e da parceira em tantas empreita-das, ao relembrar Eni de Mesquita Samara e percorrer sua trajetória, sua figura como pesquisadora de vanguarda, há muito dedicada aos estudos sobre as mulheres, emerge como exemplo e incentivo.
Desde 1971, instrutora voluntária dos cursos de História do Brasil Colonial, em 1977, por concurso público, tornou-se professora do Departamento de História da FFLCH-USP. Havia de-fendido, em 1975, um primoroso mestrado, O papel do agregado na região de Itu (1780-1830), que se tor-naria obra de referência no estudo do papel das populações livres em economias escravistas.
Já à época destacava-se sua sensibilidade para temas inovadores. O trabalho, publicado em edição especial dos Anais do Museu Paulista, ainda nos anos de 1970, ganharia versão definitiva, em edição da Edusp de 2005, sob o título Lavoura Canavieira, Trabalho Livre e Cotidiano: Itu, 1780-1830. Estudo pioneiro, descortinou a existência dessas populações, no âmbito da florescente produção açucareira do período, dando concretude às discussões sobre o papel desse grupo e suas relações com os grandes proprietários.
Em sua pesquisa, vasculhou inventários e testamentos, que delineavam a estrutura familiar das elites escravistas e sugeriram sua pesquisa de doutorado, defendida em 1980, A família na sociedade paulista do século XIX, publicada, em 1989 sob o título As mulheres, o poder e a família em São Paulo. Em ambos os trabalhos, a pesquisadora minuciosa valeu-se do instrumental da Demografia Histórica, para traçar magníficos painéis da economia e da sociedade de São Paulo.
Nos anos de 1980, dois temas se cruzaram em seus estudos. De um lado, resultado da análise das estruturas familiares da sociedade paulista no século XIX, as mulheres. De outro, a América Latina, por sua participação na formação e implantação no CEDHAL (Centro de Estu-dos de Demografia Histórica da América Latina).
A partir de 1991, desenvolveu junto ao Projeto Integrado CNPq Economias exportadoras e for-mação do mercado de trabalho na América Latina, importante pesquisa comparativa, publicada em peri-ódicos e obras de conjunto, no Brasil, na Espanha e nos Estados Unidos. Esses estudos tiveram continuidade com Gênero, identidade e representações na América Latina do século XIX, também financiado pelo CNPq, até 2001.
Com Mulheres proprietárias e chefes de família no Brasil, voltou a estudar as mulheres em várias partes do Brasil, do Período Colonial ao início do século XX. Além do perfil demográfico dessas mulheres (idade, estado civil, condição, raça e ocupação) e os tipos de organizações familiares que lideravam, destacou sua participação no processo de circulação de riquezas e estruturação do poder local, com base em farta documentação, constituída por: censos, recenseamentos, inven-tários e testamentos. A pesquisa, que se desenvolveu por seis anos, resultou em base de dados, à disposição dos pesquisadores, através do CEDHAL.
Em 2007, após ter delineado o perfil de mulheres proprietárias na produção açucareira paulista dos séculos XVIII e XIX, Eni iniciou novo projeto sobre mulheres na economia cafeeira do século XIX: Senhoras do Café: gênero, família e riqueza em São Paulo (1836-1872). Nele, dedicou-se ao
* Professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo e diretora do Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos.

22 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
estudo do patrimônio das mulheres paulistas, proprietárias de bens e de negócios no período de 1836 a 1872, procurando entender o processo de circulação da riqueza na cidade com o desen-volvimento propiciado pelo café.
No decorrer da pesquisa, mesmo sob tratamento, seu entusiasmo e sua sensibilidade para novos temas e novas abordagens não diminuiu. Entrevistada pela Revista de História, da Biblioteca Nacional, em janeiro de 2010, contava que nesse projeto havia descoberto os preciosos inven-tários do brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão e de sua esposa, Gertrudes Galvão de Oliveira Lacerda. O estudo desse caso permitiria entender as relações matrimoniais e patrimoniais em famílias de elite, já que em suas pesquisas anteriores dera mais ênfase a mulheres trabalhadoras. Suas palavras retratam a paixão e ousadia intelectual que é seu legado:
Esse é o material das minhas próximas pesquisas. Se der tempo, quero estudar os filhos para saber o que aconteceu com eles [...]. Preciso contar essa história. [...] O historiador precisa descobrir temas novos. Por isso fiquei tão feliz quando encontrei essa documenta-ção. [...] Eu precisava desse novo entusiasmo. Eu queria contar outras histórias [1].
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
[1] SAMARA, Eni de Mesquita. Eni de Mesquita Samara: “Não é o gênero que importa, mas a quali-ficação da pessoa”. Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, n. 64, jan. 2011. Entrevista concedida a Rodrigo Elias e Nelson Cantarino. Disponível em: <http://www.revista-dehistoria.com.br/secao/entrevista/eni-samara-mesquita>. Acesso em: [20 out. 2011?].



25A USP COMO CLIENTE DA PRÓPRIA USP
RESUMO
O objetivo deste artigo é relatar a experiência da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) ao contratar alunos da Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP) para desenvolver um vídeo para divulgação de informações sobre essa escola médica. A experiência demonstra a possi-bilidade de se utilizar serviços da própria USP, dando, ao mesmo tempo, oportunidade de estágio para os seus alunos de graduação, desde que haja aprovação da respectiva Comissão de Graduação. Os autores sugerem que este tipo de cooperação deva ser estimulado e ampliado.
Palavras-chave: USP. Colaboração. Integração.
ABSTRACT
The aim of this article is to report the experience of FMRP-USP in contracting students from Communication and Arts School (ECA-USP) to develop an institutional video for divulgation. This experience demonstrates the possibility of utilization of services between sectors of the same university, giving, at the same time, opportunities for training of undergraduate students, when approved for the Committee for Undergraduate Affairs. The authors suggest that this type of cooperation must be stimulated and expanded.
Key words: USP. Collaboration. Integration.
A USP COMO CLIENTE DA PRÓPRIA USP:
RELATO DE CASO DO VÍDEO INSTITUCIONAL DA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
USP AS ITS OWN CLIENT: CASE REPORT OF THE INSTITUTIONAL
VIDEO OF MEDICAL SCHOOL OF RIBEIRÃO PRETO
*Antonio Pazin Filho, **Almir Almas, ***Eduardo Tessari Coutinho, ****Maria de Lourdes Veronese Rodrigues
* Professor associado da Divisão de Emergências Clínicas do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ri-beirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), membro da Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) da FMRP-USP – Av. Bandeirantes, 3900 – Ribeirão Preto - SP – 14048-900 – e-mail: [email protected]. ** Professor doutor do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), membro da CCEx da ECA-USP – e-mail: [email protected]. *** Professor doutor do Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP, presidente da CCEX da ECA-USP – e-mail: [email protected]. **** Professora titular do Departamento de Oftalmologia, Otor-rinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da FMRP-USP, presidente da CCEx da FMRP-USP Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – e-mail: [email protected].

26 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
INTRODUÇÃO
A Universidade de São Paulo (USP) é constan-temente cobrada para ampliar suas vagas em cursos de graduação de modo a melhorar o aproveitamento dos altos recursos investidos em sua infraestrutura. Em que pese o valor do conhecimento gerado pela pes-quisa realizada, as modificações recentes da sociedade têm ampliado a fiscalização da qualidade do produto final, ou seja, a qualidade de seus egressos. A aten-ção crescente ao perfil do egresso e de sua inserção no mercado de trabalho são exemplos dessa preocupação, que se reverte em pressão sobre o corpo docente dos diversos cursos.
A inserção profissional é de difícil avaliação por diversos motivos, sendo um fator contumaz a variabi-lidade das condições inerentes à profissão. Por exem-plo, nas profissões ligadas à saúde, o egresso cada vez mais se torna funcionário contratado de alguma insti-tuição, modificando a tendência histórica de se tornar profissional liberal. Do mesmo modo, em outras pro-fissões, a tendência global é que o aluno se torne um funcionário de um negócio já estabelecido ao invés de se tornar seu próprio patrão. Essa tendência faz com que cada vez mais seja exigido do egresso experiência profissional prévia ou prática profissional supervisio-nada na forma de estágios relacionados ao produto re-sultante diretamente da atividade profissional. Assim, do mesmo modo que o currículo de um pesquisador deve conter experiência em pesquisa, o do egresso deve conter experiência profissional na forma de estágios ou carga horária de atuação profissional. Essa exigên-cia passa a oferecer vantagem competitiva no processo de absorção pelo mercado de trabalho.
É lógico que todos os cursos oferecidos pela USP contemplam a prática profissional supervisiona-da, principalmente nos estágios finais. No entanto, a inserção profissional exige um diferencial do aluno, uma experiência extracurricular. A importância disso pode ser avaliada pelas modificações curriculares que estão responsabilizando o indivíduo cada vez mais pela sua formação, à medida que incluem tempo livre para que desenvolva as atividades necessárias para a atuação profissional pretendida. Prover experiências dessa or-dem não é fácil e muitas vezes os alunos acabam exer-cendo essas atividades na própria unidade formadora, ou buscando experiências extramuros, cuja mensu-ração do efeito é mais qualitativa do que quantitativa.
Finalmente, quando essas atividades acontecem fora dos muros da unidade formadora, geralmente se buscam atividades em unidades semelhantes; assim ocorre, por exemplo, com os alunos de Medicina da FMRP-USP, que buscam estágios em outras escolas de Medicina.
Neste artigo, iremos relatar a experiência da FMRP-USP ao contratar alunos de outra unidade da universidade, a Escola de Comunicações e Artes (ECA), para desenvolver um vídeo institucional para divulga-ção. A experiência abre a possibilidade de se utilizar serviços da própria USP para que suas necessidades se-jam alcançadas, ao mesmo tempo em que abre toda uma nova oportunidade de estágios para os seus alunos de graduação, caso essa atividade seja contabilizada como parte de cumprimento dos requisitos de estágio.
A FMRP é uma das unidades mais tradicionais da USP, tendo completado 55 anos e já formado mais de 5 mil médicos. Tem projeção internacional e, em 2010, foi a segunda maior unidade em termos de produtivi-dade em pesquisa de toda a USP, apresentando número de pós-graduandos superior ao seu número de gradu-andos. A partir de 2002, passou a oferecer cinco novos cursos (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupa-cional, Nutrição e Informática Biomédica), além dos cursos de Medicina e de Ciências Biomédicas. Essas e outras mudanças institucionais geraram necessidade de divulgar informações, atraindo alunos para seus cursos e propiciando material para que seus docentes divul-guem a unidade nos âmbitos nacional e internacional.
Essa necessidade se concretizou na necessidade de participar da Feira das Profissões, criada pela USP para divulgar seus cursos frente à enorme taxa de abandono. Para esse evento, foi solicitado à unidade um vídeo ins-titucional para difundir os seus valores e prover infor-mações sobre as condições de formação que os alunos de graduação e pós-graduação encontrariam na FMRP.
O vídeo institucional anteriormente utilizado pela FMRP, assim como o primeiro vídeo desenvolvido na instituição, foi realizado por profissionais de docu-mentação cientifica, sendo constituído em sua maior parte por entrevistas do diretor da unidade e dos presi-dentes de suas comissões. Dessa forma, o vídeo se desa-tualizou rapidamente, pois, cerca de um ano após a sua edição, já houve mudança da diretoria e das presidências das comissões. Além disso, as imagens colhidas foram restritas a tomadas externas gerais e gravação dos labora-tórios nos quais se realizaram as entrevistas. E também, o vídeo tinha duração excessiva, não sendo possível sua

27A USP COMO CLIENTE DA PRÓPRIA USP
divulgação pela rede mundial de computadores e sendo pouco atrativo para o público em geral. Finalmente, o vídeo era narrado em português, não dispondo de le-gendas, o que impossibilitava a sua divulgação interna-cional. Em que pesem essas limitações, sem dúvida esses vídeos se constituíram em marcos na história da FMRP, pois alertaram a instituição sobre a necessidade de pro-fissionalizar a divulgação de seus valores.
Preocupada com essa necessidade, a Comissão de Cultura e Extensão (CCEx) da FMRP solicitou ver-ba à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitá-ria da USP para a elaboração e confecção de um novo vídeo institucional. Na elaboração desse novo vídeo, a instituição tinha a intenção de solicitar a ajuda de profissionais da área de comunicação.
MATERIAL E MÉTODOS
Frente à aprovação do projeto, a CCEx-FMRP deu início aos trabalhos, constituindo uma comissão de docentes representantes dos seus diversos cursos. O primeiro passo foi a busca de produtoras locais que pudessem desenvolver o vídeo, o que se constituiu na dificuldade maior do projeto, pois a dotação orça-mentária disponível era incompatível com os preços de mercado. Muitas produtoras se negaram a fornecer cotação de preços e outras apresentaram orçamento que superava em muito o disponível.
Para se contornar esse problema, surgiu a idéia de entrar em contato com a ECA-USP em São Paulo através do presidente de sua CCEx, o professor dou-tor Eduardo Coutinho. O que se propunha é que alu-nos da instituição desenvolvessem o projeto a preço de custo, repassando-se o orçamento disponível para aquela instituição para cobrir os gastos com filma-gem, produção e transporte. Através desse contato, a CCEx-ECA repassou o pedido ao Departamento de Cinema, Rádio e Televisão (CTR) via seu represen-tante na comissão, o professor doutor Almir Almas. O CTR, por sua vez, promoveu um concurso entre seus alunos e dentre as oito propostas apresentadas, foi selecionada uma que atendia as condições neces-sárias. Ficava claro que os alunos desenvolveriam o projeto sob supervisão docente, mas o desenvolveriam como profissionais atuantes no mercado. Um docente da FMRP (o primeiro autor) seria o interlocutor da unidade para dirigir e organizar os trabalhos.
O processo foi constituído por várias etapas, sendo iniciado pela reunião da Comissão de Vídeo com o professor orientador do vídeo e os alunos que desenvolveriam o projeto (Richard Dantas, produtor, roteirista e diretor; Emilio Gonzalez, fotógrafo e edi-tor; e Nicol Alexander, assistente). Ressalta-se que a primeira reunião foi realizada via conexão às salas de videoconferência da ECA e a da FMRP, mostrando também o uso dessa ferramenta tecnológica nas pos-sibilidades de comunicações entre as unidades da uni-versidade. Nessa etapa ficou estabelecido que o vídeo fosse o mais atemporal possível, focando a instituição e não o seu corpo docente. Descartaram-se entrevis-tas com docentes como partes do filme, embora elas viessem a ser realizadas para se determinar os valores da FMRP. Também ficou estabelecido que a duração do vídeo não ultrapassasse oito minutos frente ao orça-mento disponível, impossibilitando o desenvolvimen-to de um vídeo para cada curso de graduação oferecido. Ao invés disso, optou-se por prover informações sobre todos os cursos no mesmo vídeo. Finalmente, o foco do filme deveria ser seu público externo, entendi-do como egressos do Ensino Médio interessados nos cursos de graduação oferecidos, em egressos de nível universitário interessados em pós-graduação e no pú-blico em geral, tanto nacional como internacional, que desejasse informações sobre a FMRP. Para atender esse último público definiu-se que o vídeo deveria ser bi-língue (português e inglês), disponibilizando também o conteúdo em legendas, de modo a possibilitar sua exibição em salas de espera e outros locais com res-trição sonora. Posteriormente optou-se por produ-zir o vídeo em formato trilíngue, ofertando também o espanhol como idioma. Para suprir as necessidades não previstas de apresentação trilíngue, a diretoria da FMRP complementou o custo com verba própria.
Passou-se então à fase de pesquisa, em que os alunos tiveram acesso à versão anterior do vídeo, ao material sobre a história da instituição, seus relatórios gerenciais de produtividade e entrevistaram seus diri-gentes. Através desse processo de pesquisa, estabele-ceu-se uma primeira versão do roteiro do filme, que foi analisada pela Comissão de Vídeo e por membros da CCEx. O roteiro sofreu várias correções (diversos tratamentos) até que se obteve a versão final. Todas as versões do roteiro foram também discutidas dentro do CTR, tendo a orientação dos professores Almir Almas e Luis Fernando Angerami Ramos.

28
A fase de filmagem incluiu tomadas externas e internas de diversos aspectos da FMRP para ilustrar o roteiro acordado. No total, os alunos se deslocaram para Ribeirão Preto para quatro seções de filmagem, sendo três delas para a confecção da versão inicial e uma última ocasião para a obtenção de uma versão final. A versão preliminar foi apresentada à Comis-são de Vídeo, à CCEx, ao diretor e ao vice-diretor da FMRP, sendo adaptada de acordo com as críticas rea-lizadas até que se obteve a última versão.
A etapa final foi a produção de versões do ví-deo para disponibilização via rede mundial de com-putadores e para um DVD com créditos adicionais que permitisse a escolha de idioma e de legendas nas três línguas selecionadas, o processo de construção do ví-deo para resgate histórico, detalhes sobre as atividades das comissões da FMRP e informações sobre os cursos em maior profundidade.
Os alunos apresentaram as versões do vídeo aos professores orientadores, que faziam suas considera-ções e sugestões. Havia discussões com os alunos a res-peito dos pedidos e comentários realizados pela FMRP, que, dentro desse processo, atuava como um cliente.
O processo de desenvolvimento foi retardado por prazos do ano letivo tanto dos alunos da FMRP como dos alunos da ECA que desenvolviam o vídeo. Também foi difícil concatenar as agendas dos docentes responsáveis pela elaboração do processo. A transpo-sição da verba entre as unidades e o repasse para os gastos dos alunos com o projeto sofreram entraves bu-rocráticos, que também implicaram em atrasos. É im-portante que se tire dessa experiência ensinamentos de como lidar com esses trâmites burocráticos interu-nidades, para que futuros projetos em conjunto sejam realizados de forma mais tranquila.
Finalmente, houve desacordo entre a versão apresentada pelos alunos e o desejo dos docentes da comissão. Esse último aspecto merece destaque, pois os alunos enfrentaram o primeiro atrito profissional, defendendo pontos metodológicos apreendidos du-rante seu curso de graduação e aprendendo a adaptá-los numa situação concreta de interação com o cliente. Entendemos isso como um dos pontos fortes desse processo da parceria entre nossas unidades. Para es-ses alunos, esse aprendizado ao lidar com um cliente real ajuda muito na compreensão dos procedimentos profissionais que eles irão enfrentar ao se formarem.
RESULTADO
Em que pesem todas essas dificuldades, o vídeo foi produzido de modo a atender às necessidades da FMRP. Encontra-se disponível no endereço eletrô-nico da FMRP e em DVDs para distribuição. Todo o processo de desenvolvimento foi arquivado junto à FMRP e ao seu acervo histórico.
DISCUSSÃO
Um dos principais pontos desse projeto en-contra-se no fato de uma unidade da USP oferecer serviços profissionais a outra unidade através de seus alunos. Esse ponto merece destaque porque o produto oferecido à FMRP é um exemplo do que os alunos da ECA são capazes e que, sem dúvida, poderão ofertar à sociedade. É um atestado da qualidade do egresso da USP, à medida que a própria universidade confia em seus alunos para desenvolver produtos de nível profis-sional. Reforça-se que a acepção da palavra profissional em uso aqui é aquela do domínio da ferramenta da profissão escolhida por esses alunos e que a ela se de-dicarão ao sair da universidade; e do esmero na quali-dade técnica do produto final apresentado.
Também merece destaque o fato de que a pró-pria USP pode oferecer campo de treinamento para os seus diversos cursos. Isso já é feito de modo informal, mas o método utilizado nesse projeto de contratar alu-nos para desenvolvimento de um produto mensurável pode fornecer oportunidades de trabalho extracur-ricular remunerado e documentado, de forma a ser utilizado pelos alunos no seu ingresso no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. A experiência aqui descrita pode servir como referencial para que se pro-cessos dessa natureza sirvam também como requisitos de estágio para alunos de graduação.
Também merece destaque o envolvimento do-cente nesse processo, pois a responsabilidade de ofe-recer um produto à USP é enorme. O compromisso docente com projetos dessa natureza adquire aspecto de responsabilidade similar ao que nossos alunos enfrenta-rão diariamente como profissionais e estreitam a relação docente-aluno. O processo também é benéfico para a própria USP, pois, como ressaltado, os recursos que fo-ram destinados à FMRP para a elaboração do vídeo fo-ram repassados para a ECA, ou seja, para a própria USP,
REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6

29A USP COMO CLIENTE DA PRÓPRIA USP
implicando em economia de recursos.O projeto descrito é relativamente pequeno
frente ao que pode ser atingido. Por exemplo, por que alunos de Medicina não podem auxiliar no atendi-mento de Medicina do Trabalho em diversas unidades da USP, desde que supervisionados, reduzindo os cus-tos da universidade com as exigências cada vez maiores da legislação trabalhista? A experiência que esses alu-nos teriam com esse tipo de atividade seria mensurável pelos indicadores da própria universidade e promo-veriam um compromisso do curso de Medicina com atuação profissional para a própria USP. O custo desse serviço poderia ser repassado à unidade, fomentando projetos que se encontram paralisados por falta de re-cursos. O mesmo pode ser dito de projetos de Arquite-tura e Engenharia. Os custos com advocacia trabalhista são enormes e a USP forma os melhores advogados do país. As possibilidades são inúmeras, mas irão reque-rer esforço e preparo da universidade e seus docentes.
Vale ressaltar que os próprios alunos sentem essa necessidade de desenvolver atividades com maior responsabilidade. São exemplos dessa necessidade a formação de Ligas de Assistência, nas profissões liga-das à saúde, e as Empresas Juniores, que surgem em diversos cursos de ciências exatas. Essas iniciativas es-tudantis devem ter supervisão obrigatória, pois, por mais competentes que sejam nossos alunos, ainda não têm direitos legais de assinar seus próprios projetos ou de se responsabilizar por seus pacientes. Mas a super-visão dessas entidades recai sobre docentes que o fazem de modo voluntário ou mesmo por outros profissio-nais ligados informalmente à universidade. O desin-teresse docente se deve em muito à falta de incentivo da universidade para esse tipo de atividade, que não pode ser documentada e, portanto, não pode ser valo-rizada em termos de carreira docente. A regularização desse tipo de atividade nos moldes do que se obser-vou nesse projeto pode corrigir essas falhas e mesmo questões controversas como remuneração docente por projetos poderiam e deveriam ser abordadas. Se a uni-versidade paga por serviços externos que poderiam ser realizados por profissionais que a compõem, porque não utilizá-los e repassar o justo valor de seu trabalho?
CONCLUSÕES
Frente a todas essas características, o desenvolvi-mento do vídeo da FMRP abre novas possibilidades de atuação para a USP, que devem ser facilitadas e ampliadas. Sem dúvida, confiar em seus próprios alunos para aten-der suas necessidades é a maior prova que a USP pode dar da qualidade dos serviços que oferece à sociedade.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem a todos os que colabora-ram para a realização do Vídeo Institucional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto:
• Professor doutor Benedito Carlos Maciel, Diretor da FMRP-USP
• Professor doutor Geraldo Duarte, Vice-Diretor da FMRP-USP
• Equipe da ECA-USP: Richard Dantas (produtor, ro-teirista e diretor), Emilio Gonzalez (fotógrafo e edi-tor), Nicol Alexander (assistente), e professor doutor Luis Fernando Angerami Ramos (co-orientador)
• Membros da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da FMRP-USP
• Professor doutor Fernando de Queiroz Cunha, Presidente da Comissão de Pesquisa da FMRP-USP
• Professor doutor Francisco José Candido dos Reis, Presidente da Comissão de Graduação da FMRP-USP
• Professor doutor Carlos Gilberto Carlotti Junior, Presidente da Comissão de Pós-Graduação da FMRP-USP
• Professor doutor Klaus Hartmann Hartfelder, Presidente da Comissão de Relações Internacio-nais da FMRP-USP
• Maristela Medeiros Santos da Silva, Secretária da Comissão do Vídeo Institucional
• Membros da Comissão Organizadora Pró Vídeo Institucional da FMRP-USP
• Professora doutora Marisa de Cássia Registro Fonseca, Coordenadora da CoC de Fisioterapia
• Professora doutora Marisa Tomoe Hebihara Fuku-da, Coordenadora da CoC de Fonoaudiologia
• Professor doutor Joaquim Cezar Felipe, Coorde-nador da CoC de Informática Biomédica

30 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
• Professora doutora Claudia Maria Leite Maffei, Coordenadora da CoC de Medicina e Ciências Biológicas – Modalidade Médica
• Professora doutora Paula Garcia Chiarello, Coor-denadora da CoC de Nutrição e Metabolismo
• Professora doutora Regina Yoneko Dakuzaku Carret-ta, Coordenadora da CoC de Terapia Ocupacional



33I FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA USP
RESUMO
O campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo engloba cinco unidades que prestam serviços de saúde no município de Ribeirão Preto e região. As crescentes demandas e atividades in-fluenciam na provisão de serviços de acordo com as políticas públicas de saúde e motivaram a idea-lização e realização do I Fórum de Integração dos Serviços de Saúde e das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da USP.
O evento teve a finalidade de discutir as relações da universidade com os serviços de saúde, as fontes de fomento e programas do Ministério da Saúde. Após receberem informações contidas nas diversas palestras ministradas no primeiro dia do Fórum, os participantes foram distribuídos em cinco grupos multidisciplinares e multiprofissionais de discussão sob o tema: “Inserção, in-fraestrutura, recursos humanos e materiais e interdisciplinaridade nos serviços de saúde”.
Neste artigo, os autores resumem os principais tópicos discutidos e apresentam as suges-tões elaboradas pelos grupos de discussão.
Palavras-chave: Serviços de saúde. Universidade. Políticas públicas de saúde.
ABSTRACT
The campus of Ribeirão Preto, University of São Paulo, with its five Health Sciences units, pro-vides health services in the county of Ribeirão Preto and region. The increasing demands and activities have influence in provision of services according to of public health policies and led to the idealization and realization of the 1st Forum on Integration of Health Services with USP Teaching, Learning, Research and Community Activities.
The aim of the meeting was to discuss the relationship between the university and the health system, the sources of financial support and programs of the Ministry of Health. The second day, after the first day attending lectures, the participants were distributed into five mul-tidisciplinary and multiprofessional discussion groups about the theme: “Activities, infrastruc-ture, human and materials resources and interdisciplinarity in the provision of health services”.
In this paper, the authors summarize the main topics discussed and report the suggestions elaborated by the discussion groups.
Key words: Health services. University. Public health policies.
I FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E
DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA USP
1ST FORUM ON INTEGRATION OF HEALTH SERVICES WITH USP
TEACHING, LEARNING, RESEARCH AND COMMUNITY ACTIVITIES
*Namie Okino Sawada, **Vinicius Pedrazzi, ***Maria de Lourdes Veronese Rodrigues
* Docente do Departamento de Enfermagem Geral e Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) e presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) da EERP-USP. ** Docente do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP) e presidente da CCEx da FORP-USP. *** Docente do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) e presidente da CCEx da FMRP-USP. Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP – Av. Bandeirantes, 3.900 – 14048-900 – Ribeirão Preto - SP – e-mail: [email protected].

34 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
INTRODUÇÃO
As crescentes demandas e atividades que repercu-tem no cotidiano do funcionamento para o atendimento das políticas públicas de saúde e que envolvem os alunos de graduação e pós-graduação (stricto e lato sensu), bem como os docentes das respectivas unidades, foram fundamentais para a idealização e realização desse encontro, no campus de Ribeirão Preto, onde cinco unidades distintas têm en-volvimento direto no ensino, pesquisa e extensão, com práticas de saúde para a população da cidade e da região.
MATERIAL E MÉTODO
O I Fórum de Integração dos Serviços de Saúde e das Ativida-des de Ensino, Pesquisa e Extensão da USP foi realizado no Bloco Didático da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP nos dias 15 e 16 de março de 2011. O evento foi aberto pelo diretor da FMRP-USP, o Prof. Dr. Benedito Carlos Maciel; pela coordenadora, a Profa. Dra. Namie Okino Sawada; pela diretora da EERP-USP, a Profa. Dra. Silvia Helena De Bortoli Cassiani e pelo pró-reitor adjunto de Extensão Universitária, o Prof. Dr. José Ri-cardo de Carvalho Mesquita Ayres, que deram as boas-vindas. Também compôs a mesa diretora o diretor da FORP-USP, o Prof. Dr. Osvaldo Luiz Bezzon.
A seguir, houve palestras ministradas pelo su-perintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, o Prof. Dr. Marcos Felipe Silva de Sá, pelo se-cretário municipal de saúde de Ribeirão Preto, o dou-tor. Stênio José Correia Miranda, e pelo pró-reitor adjunto de Extensão Universitária, Prof. Dr. José Ri-cardo de Carvalho Mesquita Ayres.
Esse primeiro fórum teve a finalidade de discutir as relações da universidade com os serviços de saúde, as fontes de fomento e programas do Ministério da Saúde.
Foram discutidos os seguintes tópicos: as relações interinstitucionais, a comunicação acadêmica e da rede municipal de saúde; as atenções primária, secundária e terciária à saúde; o papel dos preceptores; os recursos disponíveis em termos de parque de equipamentos e ins-trumentos instalados, os serviços oferecidos, os recursos humanos disponíveis e as carências; o papel da academia e da municipalidade, bem como dos governos federal e estadual nos respectivos âmbitos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde. Discutiu-se inclusive o papel do ensino, da pesquisa e da extensão, que tem
diferentes entendimentos entre as partes ouvidas.A comunicação entre o usuário dos serviços
(cliente), os preceptores, os agentes de saúde disponí-veis na rede de atenção, aqueles concursados e estáveis, os residentes e aprimorandos e seu importantíssimo papel na atenção secundária e terciária à saúde tam-bém foram exaustivamente discutidos.
Após a primeira mesa estabelecida e discutida na manhã do dia 15, houve nova mesa de apresenta-ção e discussão à tarde, com a exposição do Programa PET-Saúde pela Profa. Dra. Maria do Carmo G. G. Caccia-Bava da Faculdade de Medicina de Ribeirão Pre-to da USP. A professora historiou o programa e apresen-tou a atuação das unidades de ensino-saúde do campus de Ribeirão Preto, com a necessária interdisciplinaridade em harmônico funcionamento, apresentando em vídeo os resultados concretos e confirmando a importância do envolvimento dos alunos de graduação em Medicina, Enfermagem e Odontologia, sob constante orientação docente, na atenção básica à saúde e na difusão dos prin-cípios que norteiam o SUS. Também sinalizou alguns problemas levantados quanto à execução do programa, como a vulnerabilidade social e violência urbana (queixa e problema a ser enfrentado pelos alunos de graduação); salientou-se ainda a resistência dos docentes quanto à mudança da prática acadêmica (deslocamento do habitat de trabalho para atuar nos locais onde a atenção básica à saúde é oferecida).
Na apresentação do PET-Saúde Mental pela Profa. Dra. Lucilene Cardoso da Escola de Enfer-magem de Ribeirão Preto da USP, destacou-se a im-portância de se estabelecerem programas especiais do PET-Saúde para atender necessidades prementes e com crescente demanda na atenção aos usuários de álcool e drogas. Por se tratar da primeira versão do programa, tem como objetivo mapear os locais e as ne-cessidades do serviço de saúde mental, objetivando o fortalecimento do processo de integração da universi-dade com o serviço de saúde, bem como proporcionar educação permanente a partir de um projeto político-pedagógico embasado na ética.
A residência profissional e multiprofissional foi abordada pelo Prof. Dr. Cássio Edgard Sverzut da Fa-culdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP. O professor reportou a dificuldade em montar um curso de residência na FORP, informando inclusive que havia dois regimentos distintos na unidade tratando da resi-dência odontológica; um dentre eles, feito à imagem

35I FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA USP
daquele da residência médica, obrigava a percepção de bolsa devido ao compromisso de atuação em dedicação integral. A captação de bolsas foi uma árdua batalha, ainda não resolvida pela falta de editais lançados pelos governos nas diferentes esferas de atuação pública. Res-saltou a importância do serviço de extensão prestado pelos residentes (não bolsistas), com alta qualificação, e que não é suprido na graduação devido à complexidade dos traumatismos que frequentemente chegam à uni-versidade. Informou que, apesar de os residentes ain-da não serem remunerados, há uma crescente procura pela atividade de residência na unidade, demonstrando a carência e a importância desse tipo de formação. A presença dos residentes no serviço de saúde, além de ser um facilitador da relação ensino e serviço, propor-ciona atendimento de alta complexidade, atendendo a uma demanda da sociedade que não encontra similari-dade nos serviços públicos de saúde instalados.
Para o segundo dia do fórum, 16 de março, foram estabelecidos cinco grupos de discussão sob o tema “In-serção, infraestrutura, recursos humanos e materiais e interdisciplinaridade nos serviços de saúde”. Os grupos, caracterizados pela multidisciplinaridade de atuação em saúde, eram constituídos por graduandos, docentes, re-sidentes da USP e servidores da rede municipal de saú-de, além de profissionais em saúde da rede privada.
RESULTADOS
GRUPO I
No Grupo I, coordenado pela Profa. Dra. Maria da Glória Chiarello de Mattos da Faculdade de Odon-tologia de Ribeirão Preto da USP, uma série de pontos foi levantada, apresentada a seguir.
1) É importante a inserção da universidade no servi-ço de saúde para a visão da atenção primária, se-cundária e terciária pelos alunos.
2) O atendimento de pacientes é agendado pelo ser-viço (regulador) que muitas vezes fica aquém das necessidades do ensino.
3) A universidade tem mentalidade voltada para o ensino; o serviço de saúde é direcionado para o número de atendimentos. Para melhor conciliar ensino e serviço é necessário aumentar o número de recursos humanos.
4) A presença do aluno de graduação no serviço é
uma forma de desenvolver o senso crítico e, deste modo, fazer a diferença na formação do profissio-nal da saúde.
5) O aluno no serviço pode contribuir com a edu-cação continuada do profissional da equipe, pois acrescenta novas ideias e conhecimentos.
6) É importante que os docentes conheçam a realidade dos serviços de saúde e busquem interagir na cons-trução da atuação universidade-serviço para melhor planejamento, evitando assim número excessivo de alunos de diferentes áreas da saúde, o que dificulta a atuação e, consequentemente, o aprendizado.
7) É importante o desenvolvimento dos diferentes níveis do aprendizado, como o aperfeiçoamen-to e residência junto à pós-graduação em serviços de saúde, para o atendimento aos diferentes níveis de complexidade, suprindo uma alta demanda dos serviços e a qualificação na formação desses profis-sionais. Ressalta-se que a sua presença se dá para a integração entre os diferentes profissionais da saú-de e não apenas para a substituição de profissionais.
8) É imperativo valorizar o profissional em particu-lar e a equipe em serviço: docente, profissional e agente de saúde.
9) Há de se ter políticas governamentais de fomento para recursos humanos e infraestrutura – como, por exemplo, Pró-Saúde e PET-Saúde – mas que se tornem programas e não projetos, deixando de sofrer limitação temporal.
10) É imprescindível educar a população quanto ao SUS, quanto às profissões e o que as diferentes áreas da saúde executam. Por exemplo, o Conse-lho de Fisioterapia divulgará informativo sobre o papel do fisioterapeuta e as diferentes modalida-des ou áreas de atuação, uma vez que há muita de-sinformação sobre o papel do profissional da área.
11) Educar os agentes comunitários (educação conti-nuada) para melhor formação profissional e me-lhor atuação como cuidadores atuando na equipe.
12) Promover cada vez mais reuniões (simpósios mul-tiprofissionais) para melhorar a interação entre os diversos profissionais da saúde e, assim, melhorar a atuação em equipe.
13) Quanto à infraestrutura, uma pergunta fica no ar: a quem cabe a responsabilidade por ela? O grupo discutiu e concluiu que a todos os envolvidos no processo ensino-saúde:

36 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
• Governo Federal – programas SUS.• Governo Estadual – programas SUS.• Governo Municipal – programas SUS.• Universidade – programas SUS.
GRUPO II
O Grupo II, coordenado pelo Prof. Dr. Cássio Edvard Sverzut da Faculdade de Odontologia de Ri-beirão Preto da USP, discutiu e ponderou duas subá-reas em específico, tal como se segue.
No tocante à graduação:
a) Os alunos deveriam ser inseridos no sistema de saúde pública, porém com adequados incentivo e avaliação.
b) Constatou-se que existe uma grande resistência de alguns docentes e alunos em realizar atividades extra-muros, por fatores diversos.
Com relação aos problemas da residência multiprofissional:
a) Constatou-se a falta de comunicação e articulação entre os setores envolvidos (áreas da saúde). Muitas vezes ocorre um desconhecimento da própria insti-tuição do serviço e do que ele pode oferecer.
b) A universidade precisa disponibilizar meios para acompanhar, avaliar e auxiliar a inserção do aluno no programa. Nem todas as áreas têm docentes ou supervisores.
c) Falta de infraestrutura para acomodar todos os inte-grantes do programa.
d) É primordial a questão do incentivo financeiro. O oferecimento de bolsas é importante e deve ser almejado.
e) O ensino não deve ser compartimentalizado, já que é um programa multiprofissional. O programa deve proporcionar uma integração entre os profissionais, resultando, por exemplo, em discussão conjunta de casos clínicos. Em ensino multiprofissional deve necessariamente existir transdisciplinaridade.
f) A atuação dos residentes se faz necessária e essen-cial não apenas no sentido de viabilizar o serviço, mas também em propor melhorias, aprimorando, assim, os trabalhos do grupo e, consequentemen-te, o atendimento ao cliente.
g) Melhorar a comunicação entre os membros do gru-po como, por exemplo, no preenchimento de pron-tuários clínicos.
h) Há uma preocupação latente com o “dia seguinte” à
formação, ou seja, o mercado de trabalho. Constitui preocupação dos residentes em serem absorvidos pelo mercado de trabalho após o término da residência.
i) A residência multiprofissional é um acontecimen-to relativamente novo e, portanto, está passando por um processo de conhecimento dos profissio-nais da área de saúde, das próprias instituições e da população em geral. Nesse sentido, é impor-tante que os integrantes deste programa atuem como agentes multiplicadores de conhecimento, oferecendo, por exemplo, palestras e simpósios. Novamente, é fundamental o papel do residente.
GRUPO III
O Grupo III teve como coordenadora a Profa. Dra. Silvia Matumoto da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP e centrou a discussão em três assuntos principais, a seguir.
Com relação à formação de Equipe Saúde da Família (ESF) em Ribeirão Preto:
a) Nota-se a falta de abrangência e de investimento na formação e ampliação do número. No Espírito Santo, o Programa Saúde da Família (PSF) abran-ge 100% da população.
b) No âmbito da universidade, é preocupante a dis-puta de modelos – especialista x generalista –, com mudanças de estruturas curriculares que nem sempre são reflexos das necessidades da sociedade.
c) Há uma falta de conhecimento da população a respeito dos serviços prestados e onde buscá-los. Sugere-se maior e mais eficaz divulgação.
d) Ainda existe uma dificuldade em aceitar o modelo da atenção básica. Os clientes solicitam um espe-cialista.
e) O atendimento primário tem que trabalhar muito bem para filtrar os casos que vão para o secundá-rio e o terciário.
f) Muitas vezes, por conta do pronto atendimento, a população desconhece os benefícios que os outros profissionais da área de saúde podem oferecer.
g) Algumas incongruências ainda são notadas, como, por exemplo, o limite geográfico. São atendidas somente as famílias que estão na área de abran-gência do núcleo, contradizendo o princípio de universalidade pressuposto pelo próprio SUS.

37I FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA USP
Para a relação ensino-serviço:
a) Existem dificuldades da formação. O tema saúde pública – SUS – é abordado de forma pouco atra-tiva na teoria.
b) Muitos cursos têm o contato com a prática somen-te no último ano. Como sugestão para a resolução do problema, talvez haja necessidade de mudanças da grade curricular.
c) O Programa PET-Saúde é pouco divulgado.
A respeito da residência multiprofissional:
a) Foi gerada uma proposta de maior carga horária na ESF.
b) Sente-se que houve uma dificuldade no início, a saber, resistência na recepção da equipe para se adequar aos horários, além de falha na interlo-cução entre preceptores e serviços. Como solução apontada, a resistência seria revertida a partir de um bom trabalho em equipe.
c) A residência favorece a multidisciplinaridade e a criação de maior vínculo com a população e com a equipe (dois anos).
d) Outra dificuldade apontada foi a carga horária, que desfavorece a elaboração do Trabalho de Con-clusão de Curso (TCC). Como sugestão, dever-se-ia intentar a criação de um espaço-horário.
e) Foi também sinalizado o atraso no pagamento das bolsas.
f) Não se deve aceitar que os governos em suas res-pectivas instâncias entendam a residência como uma mão de obra barata! O governo deveria in-vestir mais nisso!
GRUPO IV
O Grupo IV, coordenado pelas profas. doutoras Ja-nete Cinira Bregagnolo, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, e Maria José Bistafa, da Es-cola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, buscou possíveis soluções para os vários problemas apontados.
1) Todos os docentes da universidade deveriam passar pelas unidades básicas de saúde para conhecer o que acontece e o que se passa realmente neste setor dimi-nuindo o preconceito e a falta de diálogo do sistema.
2) Os preceptores e as estruturas deveriam dispor de instrumentos adequados para os níveis de instrução,
objetivando uma atenção de ótima qualidade.3) Dever-se-ia criar um fórum para discutir e definir
a hierarquização adequada do sistema de saúde a fim de saber articular os níveis de atenção à saúde.
4) Uma importante meta a ser atingida é a valorização das atividades docentes que integram as atividades de extensão com ensino e pesquisa, bem como daquelas de outros profissionais que atuam na comunidade.
5) É preciso potencializar a integração multiprofis-sional a fim de aperfeiçoar o serviço e o atendi-mento ao público.
6) Também se deve incentivar a continuidade e inte-gração entre os docentes das áreas básicas com as especializadas.
7) A saúde da comunidade deve ser obrigatória em todos os cursos, incluindo estágios in loco.
8) Para evitar que o professor que atua na comunida-de para Ensino Básico seja desvalorizado, sugere-se trabalhar e modificar a forma de pontuação e avaliação curricular, considerando os anos traba-lhados e as atividades de extensão e não somente valorizar as instituições de fomento à pesquisa.
9) É necessário melhorar a integração com as secre-tarias municipais e estaduais de saúde para que os projetos e melhorias sejam resolvidos da melhor maneira possível, apontando as dificuldades e au-xiliando a integração entre serviço e universidade.
10) Os participantes concluíram a discussão com a se-guinte assertiva: a comunicação entre educação e informa-ção para o cliente é essencial!
GRUPO V
Coube à Profa. Dra. Marlívia Gonçalves Car-valho Watanabe da Faculdade de Odontologia de Ri-beirão Preto da USP a coordenação do Grupo V, que procurou trabalhar a inserção.
1) Criação de comissão intra-campus para melhoria da inserção de outras especialidades além da Medicina (tradição). Nesse sentido foi proposta a criação de um grupo multidisciplinar de gestão no campus.
2) Melhor estruturação da forma de inserção do pro-fissional no serviço de saúde.
3) Contrapartidas pactuadas. Ainda há distorções entre o que é proposto e o que é oferecido.
4) A falta de profissionais na rede para recepcionar os alunos ainda é um problema. Como solucionar?

38 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
5) Deve haver um reforço da Comissão junto aos di-retores de unidade e pró-reitores sobre a impor-tância da integração entre os serviços de saúde e a academia no seu tripé de funções precípuas.
6) Melhor discussão com os profissionais do serviço sobre a entrada de estagiários, residentes, etc., a fim de orientar melhor os benefícios para o serviço.
7) Deve-se investir muito nos programas de capaci-tação – educação continuada para os funcionários (desenvolvimento do lado pedagógico) da insti-tuição (investimento da universidade).
8) Procurar reverter em benefícios como férias, es-pecialização, extensão.
9) Solicitação de verbas para contratação do funcio-nário (preceptor).
10) A equipe entende o papel dos estagiários e residentes.11) Com relação ao PET-Saúde, este oferece benefí-
cios para os profissionais que recebem os alunos, mas não deveria ser apenas para alunos graduados e não graduados, como também técnicos de En-fermagem, farmácia, assistente social, ou muitas vezes ficam mais com os alunos que os graduados.
12) Valorizar profissionais que não possuem titulação em nível superior.
13) Identificar as reais necessidades dos serviços para inserir alunos.
14) Criação de falsa demanda (continuidade dos ser-viços).
15) Necessidade de melhor estruturação curricular dos cursos de graduação.
16) Aproximar pesquisa em serviço e revertê-las em prol dos serviços (infraestrutura), como exemplo, buscar apoio em agências estatais de fomento;
17) Redirecionamento de verbas (processos de tra-balho, materiais), como exemplo, sabe-se que a mesma verba que vem para Odontologia, vem para o Direito, e o curso de saúde tem maior custo.
18) Deve-se incentivar e praticar a interdisciplinari-dade desde a graduação:
• promover atendimento integral;• disciplina interunidades (mudança de cultura).
19) A residência multiprofissional (interdisciplinaridade, supervisão, planejamento, teoria, publicação) possi-bilita a integração, o planejamento e a cooperação.
20) Valorização das atividades de assistência exercida pelos docentes (não há publicação Qualis A de experiências)
e um estímulo à aproximação dos docentes.21) Reforçar junto à administração da USP sobre a
importância da assistência na formação da área da saúde (criar parâmetros específicos de avaliação).
DISCUSSÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido como o maior plano de saúde do mundo, e é público. Apesar desse reconhecimento, é sabido que existem problemas, seja em termos de formação e distribuição de equipes de saúde, seja na distribuição e repasse de fomentos (recursos financeiros), o que muitas vezes é entrave para o bom funcionamento do sistema. O SUS deve integrar os hospitais universitários e as redes de saúde, demandando a coordenação conjunta de metas e serviços, com a necessária integração dos currículos dos cursos de graduação, atendendo também à LDB, que prevê a graduação em saúde com atuação interdis-ciplinar, visando à saúde holística do cliente.
Entretanto, é notório que o ensino de graduação não consegue suprir as crescentes demandas dos setores secundário e terciário, e a necessidade de mão de obra especializada para essas modalidades de atendimento em saúde. No fórum, o assunto foi discutido com muita ênfase e sugere-se que essas demandas podem ser supri-das perfeitamente com a formação lato sensu de progra-mas de residência, residência multiprofissional e cursos de especialização, de aperfeiçoamento e outros.
O papel da academia (universidade) nos servi-ços de saúde, antes visto como meramente de ensino e pesquisa, hoje necessariamente deve contemplar ati-vidades de extensão com objetivos e compromissos de transformação social.
Essa nova filosofia requer a valorização das ati-vidades de cultura e extensão nos âmbitos governa-mentais e acadêmicos. Infelizmente, nota-se ainda uma dificuldade na interlocução entre as partes, pois nem sempre a visão e as necessidades de uma são pac-tuadas com aquelas da outra. Para uma maior eficácia do atendimento SUS, seria fundamental que o ensino fosse integrado às necessidades dos serviços de saúde.
Fundamental para que essas metas sejam atingi-das seria a universidade valorizar as atividades de cul-tura e extensão, estimulando o docente a se dedicar mais profundamente à formação de recursos humanos qualificados para atender às demandas por serviços de

39I FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA USP
saúde pela sociedade, uma vez que atualmente lhe é cobrado maciçamente sua produção intelectual (papers) em detrimento de outras atividades-fins que com-põem o tripé da universidade.
No campus de Ribeirão Preto, a integração aca-dêmica das unidades nos serviços de saúde se encontra ainda em diferentes estágios. Enquanto que Medici-na e Enfermagem são tradicionalmente integradas aos serviços de atendimento e gerenciamento de saúde, Odontologia, Farmácia e Psicologia ainda encontram dificuldades patentes nessa integração, necessitan-do de mais e maiores espaços de formação acadêmica conjunta, integrando disciplinas e recursos humanos como facilitadores na formação de equipes de saúde.
No âmbito da unidade FMRP, o curso de Me-dicina, instalado em 1952, e posteriormente com a fundação da EERP em 1961, houve uma necessária inserção do trabalho em equipe entre as duas unida-des. Mais recentemente, com a criação dos cursos de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição e Meta-bolismo, Fonoaudiologia e Informática Biomédica na FMRP, a multidisciplinaridade na atenção ao cliente foi consolidada. Entretanto, essa inserção ainda care-ce de aperfeiçoamento.
Uma importante estratégia de integração dos conteúdos multidisciplinares veste-se na residência multiprofissional, que agrega ainda a Farmácia e a Psi-cologia; porém, a captação de recursos para a concessão de bolsas ainda é difícil e insuficiente. Mesmo no caso das bolsas concedidas, há relatos recorrentes de atra-sos no pagamento e regularidade das bolsas. Algumas unidades, como a Odontologia, têm programas de re-sidência profissional funcionando há dois anos e não conseguiram sequer bolsas para os residentes, mes-mo a demanda pelo serviço sendo grande e crescente (traumatismos orofaciais) e a procura pela residência ser igualmente importante por parte dos profissionais.
Ressalta-se ainda a importância da inserção dos residentes nos serviços de saúde, oferecendo notável qualificação no atendimento secundário e terciário, bem como a manutenção e atualização dos campos de estágio, o que proporciona um melhor ensino aos alu-nos de graduação. Assim, nota-se que o residente atua inclusive como forte e presente elo de união entre os preceptores e graduandos, oferecendo continuidade na assistência e contribuindo para a qualidade dos serviços.
COMENTÁRIOS FINAIS E
CONCLUSÕES DO FÓRUM
Frente a todas as discussões desenvolvidas nesse I Fórum, alguns pontos foram comuns aos grupos, como:
1) Promover integração entre as diferentes áreas de atua-ção em serviços de saúde, visando à valorização holís-tica da saúde e dos profissionais que a ela se dedicam.
2) Fica evidente a necessidade de formar um grupo coordenador intra-campus para discutir as ques-tões de inserção das unidades nos serviços de saúde bem como, discutir a residência multiprofissional no âmbito do campus de Ribeirão Preto, esse gru-po teria a função de agir como um facilitador dessa integração entre a academia nos seus três eixos-mãe (ensino, pesquisa e extensão) e os serviços de saúde.
3) Os participantes foram unânimes quanto à ne-cessidade de serem realizadas novas edições desse Fórum, para que se possa discutir, com conheci-mento de causa, a relação entre as demandas de atendimento em saúde pelas diversas secretarias de saúde em níveis governamentais e o que a aca-demia pode e deve oferecer, preparando-se ade-quadamente para tal, com reais incentivos para os preceptores, aprimorandos e equipes envolvidas.
EQUIPES PARTICIPANTES
GRUPO I
• João Paulo de Medeiros• Adriana A.B. Murashima• Letícia Oliveira Neri da Silva• Vânia Aguiar• Milena Amorim• Régia Maria G.R. Sobral• Bruna Cristina Carponas• Paula Tapia Gomes Pereira• Cintia Megumi Yagui• Fernanda C. Zanardo Cecília Prado Sales da Silva• Milena Junqueira Reis• Camila Polisello• Telma Kioko Takeshita• Stephanie Robinson• Ana Paula F. Chediek

40 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
GRUPO II
• Maurício Serra Ribeiro• Sara Galleni de Oliveira• Rosa Aparecida Oficiati Macedo• Taiuani Marquine Raymundo• Priscila Galo Farnocchi• Paula dos Santos Pereira• Letícia Caroline Doretto• Maria Eugênia Silvestre e Silva• Mariela H. Bisson• Fernanda Bergamini• Lorena Borges
GRUPO III
• Carina Porfírio Miranda• Marília Braz U. Dias• Lívia Pimenta Bonifácio• Daniela dos Santos• Priscila Villa• Mariana Silva Matos• Denise Mayumi Tanaka
GRUPO IV
• Priscila Maria Manzini Ramos• Renata Martins Campos Gramado• Maria de Lourdes V. Rodrigues• Gustavo Santos Mercedes• Fernando Crivelenti Vilar• Hélio Fugishima• Vanessa Wagner• Giovanni Trentin Ferronato• Danielly Oliveira Silva
GRUPO V
• Alessandra Nagano Cavallari• Felipe Dias Carvalho• Fernando Santa Cecília Artuzo• Cristiane Soncino Silva• Alexandre Laguna Terreri• Juliana Maria de Paula• Vanice Soares Lopes• Maria Rita Lerri• Gleice Cristina Colombari• Thais Sêneda de Mecenas• Jaime Augusto Cerveira• Karina Carolina Macedo Alves



43RESGATE HISTÓRICO E CIDADANIA
RESUMO
Descreve-se, aqui, a história e funcionamento do Centro de Memória da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto no âmbito do projeto Resgate Histórico e Cidadania: Manutenção do Patrimônio Material e Imaterial da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, traçando os determinantes históricos que o colocam como centro de rico potencial para a pesquisa em diversas áreas, não apenas no campo da História da Enfermagem, mas, também, Moda, Gênero, entre outros. Apresentam-se as estratégias e parcerias desse projeto, que busca não apenas a conservação preventiva de seu pa-trimônio, mas também o despertar de vocações para a pesquisa em História da Enfermagem e o incentivo à produção de pesquisadores através de auxílio na busca de fontes pertinentes.
Palavras-chave: História da Enfermagem. Acervo de biblioteca. Museu.
ABSTRACT
It describes the history and work on the Memory Center Museum of University od São Paulo College of Nursing at Ribeirão Preto, in the context of the project Historical Rescue and Social Respon-sibility: Maintenance of Tangible and Intangible Heritage of University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing, tracing the historical determinants that place as a rich potential center for research in several areas, not only in the field of History of Nursing, but also Fashion, Gender, among others. Pres-ents the strategies and partnerships that this project that seeks not only preventive conservation of its heritage, but also the awakening of talents to the History of Nursing research and encour-age the studies of researchers, through assistance in finding relevant sources.
Key words: History of Nursing. Library materials. Museum.
RESGATE HISTÓRICO E CIDADANIA: MANUTENÇÃO DO
PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL DA ESCOLA DE
ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO – USP
HISTORICAL RESCUE AND SOCIAL RESPONSIBILITY: MAINTENANCE OF
TANGIBLE AND INTANGIBLE HERITAGE OF UNIVERSITY OF SÃO PAULO
AT RIBEIRÃO PRETO COLLEGE OF NURSING
*Luciana Barizon Luchesi, **Mara Elisa Ferreira Oliva, ***Toyoko Saeki, ****Margarita Antonia Villar Luis, *****Isabel Amélia Costa Mendes
* Enfermeira, professora doutora do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP), diretora de Assuntos Científico-Culturais da Academia Brasileira de História da Enfermagem (ABRA-DHENF), líder do Laboratório de Estudos em História da Enfermagem (LAESHE), integrante do Laboratório de Abordagens Científicas na História da Enfermagem (LACENF). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Avenida Bandeirantes, 3900 – 14048-900 – Ribeirão Preto - SP – e-mail: [email protected]. ** Pedagoga, especialista em História, responsável pelo Centro de Memória da EERP-USP – e-mail: [email protected]. *** Enfermeira, professora doutora do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da EERP-USP – e-mail: [email protected]. **** Enfermeira, professora titular do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da EERP-USP, membro do LAESHE – e-mail: [email protected]. ***** Enfer-meira, professora titular do Departamento de Enfermagem Geral e Especializada da EERP-USP – e-mail: [email protected].

44 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
INTRODUÇÃO
BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
DE RIBEIRÃO PRETO
As atividades desenvolvidas através do Projeto Resgate Histórico e Cidadania: Manutenção do Patrimônio Material e Imaterial da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP não são pioneiras. Trata-se da continuidade de projetos iniciados em 2003, com o objetivo de preservar o pa-trimônio material e imaterial da EERP-USP.
A importância desse arquivo para a História da En-fermagem apenas pode ser compreendida observando-se a trajetória da instituição e do próprio arquivo histórico.
A EERP-USP foi criada em 26 de dezembro de 1951 pela Lei Estadual nº 1.467 [3]. Contudo, as aulas tiveram início em 10 de agosto de 1953. Pode-se dizer, até o momento atual, que a história da EERP não deve ser contada sem a história de sua primeira diretora, a professora Glete de Alcântara. Para isso, é necessário voltar um pouco mais no tempo.
A professora Glete de Alcântara, nascida aos 24 de junho de 1910, realizou curso de educadora sanitária pelo Instituto de Higiene de São Paulo em 1930 [1]. Fato que possibilitou, através de contato com a educadora sanitária Maria Rosa de Sousa Pinheiro, sua diplomação em En-fermagem pela Universidade de Toronto, Canadá, como bolsista da Fundação Rockefeller, em um acordo que ti-nha como um de seus objetivos a implementação e estru-turação da Escola de Enfermagem da USP (EE-USP) [9].
As bolsas concedidas nesse convênio tinham como demanda que, retornando ao Brasil, as bolsis-tas seriam contratadas como docentes da EE-USP. Em seu retorno, em 1944, após a diplomação, a profes-sora Glete de Alcântara confirmou as exigências refe-ridas, passando a lecionar Técnica de Enfermagem e Enfermagem Médica na EE-USP [1,9].
Em 1947, a professora inicia o curso de licenciatura em Ciências Sociais, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, curso interrompido em 1950 por um ano, quando vai a estudos ao Teachers College, na Universidade de Columbia, EUA, onde obte-ve o título de Master of Arts. Ao retornar, finaliza o curso de licenciatura, graduando-se em 1952 [1].
Ainda na década de 1940, um grande movimen-to na USP inicia as discussões sobre a necessidade de uma nova Faculdade de Medicina e que essa deveria ser implementada no interior paulista, visto a alta procu-ra pelo curso e dificuldades de absorção de estudantes
com boas notas no vestibular. A Comissão de Ensino e Regimento da Universidade de São Paulo, comissão responsável por estudar a viabilidade da proposta, pre-sidida por Prof. Dr. Zeferino Vaz, conclui pela viabili-dade da mesma, decidindo a USP, posteriormente, por sua implementação na cidade de Ribeirão Preto [8].
A mesma comissão relatora destaca a importân-cia da anexação de uma escola de Enfermagem à nova escola de Medicina, pois isso seria primordial para o funcionamento do Hospital das Clínicas e para o de-senvolvimento da saúde na região, onde a escola de Enfermagem seria instalada† [11].
Com a criação da Faculdade de Medicina de Ri-beirão Preto, em 1948 - e sua efetiva estruturação, em dezembro de 1951, documento que traz em seu bojo, no art. 13, a criação da EERP-USP, anexa -, foi con-vidada a professora Glete de Alcântara para a direção daquela escola de Enfermagem, que terá destaque em nível nacional e internacional [3]. Desde 1947, foi galgando espaço dentro da Associação Brasileira de Enfermagem, chegando à diretora dessa importante associação nacional por duas ocasiões [1, 15].
Outra de suas colaborações foi o pioneirismo na pós-graduação, ao defender, em 1963, a primeira tese de cátedra de um enfermeiro latino-americano, A enfermagem moderna como categoria profissional: obstáculos à sua expansão na sociedade brasileira, fato que registrou seu nome nas páginas da História da Enfermagem Brasileira [2].
Muito dessa história pode ser analisada através de um rico acervo histórico, mas a falta de funcioná-rios especializados deixou o arquivo, de 1991-1999, pouco utilizado e com organização em papel, o que dificultava o acesso rápido às informações.
UM ARQUIVO PIONEIRO?
A criação do Centro de Memória da Escola de En-fermagem de Ribeirão Preto - USP (Cemeerp) deu-se em 1988, durante a comemoração dos 35 anos da instituição [13]. Em maio do ano seguinte, a Portaria D/EERP-18/89 estabelece uma comissão responsável por esse centro, composta por Nadyr Viana Lomônaco (coordenadora), Profa. Dra.. Daisy Leslie Steagall Gomes, prof. Francisco de Assis Correia e a sra. Maria José Cesarino Fram.
† UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Processo nº 3.320, referente ao re-latório apresentado pela Comissão de Ensino e Regimento da Universida-de de São Paulo ao Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, sobre a instalação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 1951.

45RESGATE HISTÓRICO E CIDADANIA
A referida comissão realizou uma série de trei-namentos junto ao Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o Arquivo Público e Histórico do Muni-cípio de Rio Claro, em SP, e o Centro de Memória da Unicamp, cujo docente, prof. Fernando Antônio Abrahão, que também visitou o acervo, ajudou na ela-boração dos objetivos do mesmo [21].
O grupo, inicialmente, empenhou-se em reu-nir objetos e construir fontes orais, acerca dos pri-mórdios da EERP-USP, conservando adequadamente os registros do processo de sua criação e estruturação. Para o arquivo de fontes orais, o grupo contou com assessoria do prof. Carlos Humberto P. Corrêa, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao término dos trabalhos, houve a inauguração do espaço em 5 de março de 1990 [13]. Entretanto, dois meses depois, a Portaria D/EERP-27/90 extinguiu a Portaria que esta-belecia a comissão para atuação na Memória Histórica.
Em 1991, a então diretora, a Profa. Dra. Vera Heloísa Pileggi Vinha, emitiu a Portaria D/EERP - 49/90, em 14 de agosto, estabelecendo novamente a Comissão de Memória Histórica, cujo objetivo prin-cipal era dar continuidade à organização do Cemeerp. A comissão contava com o professor Francisco de Assis Correia (presidente), a Profa. Dra. Daisy Leslie Ste-agall Gomes, os professores Zaíra Benedini, Nadyr Viana Lomônaco, Francisco José Barroso Vessi, Maria José Cesarino Fram, a aluna de pós-graduação Eliana Faria de Angelice Biffi e as alunas de graduação Marisa Júlio Ragoso e Andréia Pádua Pereira.
O processo de criação do Centro de Memória não difere do ocorrido em outras importantes instituições. Aparentemente, o jubileu de uma instituição instiga nos profissionais busca pela identidade institucional e pelos avanços, que não podem ser entendidos sem a compreen-são histórica de cada momento, fato que demanda debru-çar-se sobre as fontes documentais e criar novas fontes: orais, iconográficas, audiovisuais, entre outros.
Para surpresa de muitas instituições, esse é o momento do balanço da história perdida, pois anos ou décadas sem uma prática de conservação ou catalo-gação adequada levaram muito da história documental para o lixo por desconhecimento, ou por excesso de infestações, causados por mau acondicionamento.
Para Sauthier [19], a prática de “desobstrução” de espaços liquidou com muito da memória profissio-nal da Enfermagem e ainda se carece de diagnóstico geral dos arquivos de Enfermagem no país. No ano de
2000, a autora já chamava a atenção para a necessida-de de políticas nacionais de preservação para os acer-vos históricos da Enfermagem.
Dessa forma, ao realizar busca por literatura a respeito da criação de acervos para a História da Enfer-magem, vê-se que alguns deles, dos mais importantes do país, têm data de criação após o ano de 1990. Poder-se-ia, então, pensar no título de arquivo pioneiro da Enferma-gem no Brasil para o Cemeerp? Depende do referencial que se toma para essa medida. Se for a data de criação oficial, para arquivos dentro de instituições de Enferma-gem, parece que a resposta seria sim. Caso contar-se os esforços para manutenção de fontes e preocupação com a história da instituição, talvez a resposta seja negativa.
O Centro Histórico-Cultural da Enferma-gem Ibero-Americana foi fundado em 20 de outubro 1992, nas comemorações do jubileu de ouro da Escola de Enfermagem da USP, localizado na capital paulista. A ampliação do nome deveu-se a convênios interna-cionais, em vigência na época, que facilitariam o in-tercâmbio de pesquisadores [17].
Apesar de o Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery ter sido inaugurado em 8 de dezembro de 1993, comemorando a criação do Centro, a primeira tese da instituição, na linha de pesquisa histórica, e a criação do Núcleo de Pesquisa de História da Enfermagem Brasileira (Nuphebras), a organização do acervo para fins de pesquisa estava em andamen-to desde a década de 1960 [19]. O referido núcleo de pesquisa imprimiu ritmo acelerado na pesquisa em História da Enfermagem na sua primeira década de existência, promovendo pesquisas importantes em ní-vel de pós-graduação stricto sensu e eventos internacio-nais importantes, como o Colóquio Latino-americano de História da Enfermagem, nos anos 2000 e 2005.
Para Barreira e Baptista [6], a Casa de Oswaldo Cruz, criada em 1986 no Rio de Janeiro, apesar de não estar alocada em uma escola de Enfermagem, também se trata de rico acervo para a História da Enfermagem Bra-sileira. Possui documentos sobre os primórdios da Escola de Enfermagem Anna Nery, sobre a Fundação Rockefel-ler e o antigo Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp).
O Centro de Memória Dra. Nalva Pereira Cal-das, da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ foi criado em 18 de junho de 1998, nas comemorações do jubileu de ouro da faculdade. Entretanto, um dos subprojetos que de-ram origem à sua organização é de 1995 [7].

46 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
Em 2005, a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP - Unirio) inicia a implantação do Arquivo Seto-rial Enfermeira Maria de Castro Pamphiro que, apesar de sua organização recente, possui fontes que datam de 1890 a 2005, constituindo um dos acervos mais importantes do país para a pesquisa em História da Enfermagem. O Laboratório de Pesquisa em História da Enfermagem (LAPHE), da EEAP, criado em 2000, já possui ampla visibilidade no cenário da pesquisa nacional [20].
Em pleno funcionamento também está o Cen-tro de Memória da Escola de Enfermagem da Univer-sidade Federal de Minas Gerais, desde sua criação, em 22 de fevereiro de 2006. Entretanto, os responsáveis afirmam que sua organização teve início em 1994 [10].
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti-co Nacional (IPHAN), brasileiro, tem nomenclaturas para dois tipos de patrimônio: imaterial e material. O patrimônio imaterial refere-se a “práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, instrumentos, objetos, artefatos e lugares, são reconhecidos por co-munidades como parte integrante de seu patrimô-nio cultural”. Sua transmissão é feita de uma geração para outra e adaptado para cada ambiente e contexto histórico [4]. Nesse sentido, pode-se referir como exemplos de patrimônio imaterial as cerimônias de formatura na Enfermagem, o rito de passagem da lâm-pada, o uniforme e touca da enfermeira, e uma série de outros ritos, próprios da Enfermagem brasileira.
Para o IPHAN, o patrimônio material é classificado segundo a natureza dos bens culturais. Podem ser dividi-dos em bens imóveis e móveis, onde se incluem “acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísti-cos, videográficos, fotográficos e cinematográficos” [4].
Rico conjunto de fontes que representam o pa-trimônio material e imaterial da EERP-USP foi orga-nizado e catalogado em papel e fazem parte do acervo: Portarias; Decretos que tratam da documentação ad-ministrativa da Escola de Enfermagem; arquivo ico-nográfico estimado em mais de 15 mil itens; negativos de fotos de várias épocas da EERP-USP; arquivos de alunos; arquivos de eventos; fontes orais em supor-te de fita cassete, com registro oral de funcionários, alunos e professores; arquivos de fitas de vídeo VHS, com informações sobre eventos científicos e culturais; arquivos de CDs e discos de vinil; arquivos de con-decorações, como troféus, placas, medalhas de men-ções honrosas e souvenirs. Possui, também, mobiliários, vestimentas, quadros e diversas peças de instrumental
cirúrgicos, entre muitos outros. Entretanto, apesar dos muitos esforços da instituição, o Cemeerp man-teve-se pouco ativo até 1999.
Em 1999, o Grupo de Estudo e Pesquisas em Comunicação no Processo em Enfermagem (GEPE-COPEn), liderado pela Profa. Dra. Isabel Amélia Costa Mendes, organizou o fórum Memória e história institucional, que buscou sensibilizar todos os seto-res da EERP-USP para a preservação e organização documental da instituição. No mesmo ano, houve a aprovação de uma Bolsa Trabalho por um ano, o que colaborou para a abertura do arquivo ao público, mas que não foi renovada [14].
Em 2002, um trabalho voluntário, da então enfermeira Luciana Barizon Luchesi (pesquisadora na área de História da Enfermagem) e de uma aluna de graduação, Lia Mara da Silva, com assessoria de docen-tes e amplo apoio da direção da EERP-USP, iniciou processo de apoio permanente do acervo, com o ob-jetivo de preservá-lo, auxiliar na busca de fontes para os projetos da comunidade científica e ampliação do acesso público, despertando vocações para a pesqui-sa em História da Enfermagem e contribuindo para a formação acadêmica, ensino, pesquisa e extensão [14].
ESTRATÉGIAS PARA OBTENÇÃO DE
FOMENTO: HISTÓRICO DOS PROJETOS
DE EXTENSÃO DO GRUPO
Algumas estratégias foram realizadas no sentido de promover a manutenção dos trabalhos, visto que a organização e o acondicionamento adequado dos do-cumentos era condição sine qua non para disponibilizar ao público geral. Através de parcerias com a direção da EERP-USP, projetos foram encaminhados à Petro-bras e ao BNDES, mas sem sucesso.
A necessidade de organização do arquivo dificul-tava o início das pesquisas, impossibilitando a solicita-ção de verbas através de projetos de grande porte junto a órgãos de fomento. Nesse sentido, o Fundo de Cultura e Extensão Universitária da USP foi muito importante para que os trabalhos de conservação preventiva e orga-nização do arquivo recebessem o impulso adequado e o arquivo fosse colocado em condições de pesquisa.
Dessa forma, são mostrados, a seguir, os proje-tos desenvolvidos através de diferentes facetas do ar-quivo, nesse percurso.

47RESGATE HISTÓRICO E CIDADANIA
O Projeto Revitalização do Centro de Memória da Escola de En-fermagem de Ribeirão Preto - USP, financiado pelo Fundo de Cultura e Extensão Universitária da USP, de julho de 2003 a julho de 2004, teve como responsáveis as profas. doutoras Isabel Amélia Costa Mendes, Margarita Anto-nia Villar Luis e Toyoko Saeki, e colaboração de Luciana Barizon Luchesi. A renovação do projeto foi aprovada para o período de abril de 2006 a abril 2007. As mesmas docentes receberam a aprovação do projeto Cultura e Me-mória: ampliando a visibilidade e impacto cultural do Centro de Memória da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP para trabalhos de maio a 2008 a maio de 2009, passando, também, a con-tar com a colaboração de Mara Elisa Oliva Ferreira, fun-cionária específica para o acervo, designada em 2006, que agilizou muito o processo de organização do acervo.
Em fins de 2008, com a contratação de Luciana Barizon Luchesi como docente da EERP - USP, a coor-denação dos projetos voltados à busca de fomento para o arquivo passou para a profas. doutoras. Luciana Barizon Luchesi e Toyoko Saeki. Ambas foram igualmente respon-sáveis pelo projeto Resgate Histórico e Cidadania: Manutenção do Pa-trimônio Material e Imaterial da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, com vigência de março de 2010 a março de 2011. De forma geral, esses projetos autorizavam a compra de mate-rial para conservação preventiva e pagamento de bolsistas.
Bolsistas, voluntários e docentes buscaram o de-senvolvimento de estratégias para que fossem desenvolvi-das várias facetas no Cemeerp. Dentre elas, destacam-se:
• Conservação preventiva: treinamentos em grandes ins-titutos para a realização de higienização, organiza-ção e acondicionamento adequados.
• Extensão: abertura do acervo ao público e promoção de eventos voltados para o assunto História da En-fermagem e Museus.
• Pesquisa e ensino: incentivo à pesquisa na disciplina His-tória da Enfermagem, que muito avançou. Hoje, a EERP-USP possui um grupo de pesquisa específico, o Laboratório de Estudos em História da Enferma-gem (LAESHE), que tem sido o principal veículo de produção de pesquisa, usando fontes do acervo.
• Financiamento: busca por recursos que subsidiem a compra de material específico para conservação preventiva e manutenção de bolsistas.
Dessa forma, o amplo arquivo do Cemeerp, estimado em mais de 25 mil itens – sendo, em sua maioria, suporte iconográfico – possibilita a revisão da
história sob nova perspectiva, olhando para história de vencedores e vencidos.
Além disso, as concepções da História Nova cla-mam pelo resgate das vozes que foram caladas ou deixa-ram de ser ouvidas no processo histórico documental, que, em grande parte, relata a história dos vencedores.
A IMPORTÂNCIA DE SE PRESERVAR A
MEMÓRIA COLETIVA DA ENFERMAGEM
O movimento francês da História Nova, na Escola dos Annales, ocorreu no final da década de 1920, com grande influência no Brasil na década de 1970 [19]. O novo modelo buscava dar voz a grupos excluídos da histó-ria oficial ou rever a história sob novas perspectivas.
O que se observa na literatura e nos documen-tos é que ao longo da trajetória da EERP-USP, assim como de muitas outras instituições, os grandes feitos e conquistas são atribuídos, algumas vezes, aos gran-des nomes e vultos. Hoje, após pesquisas de Histó-ria Oral, realizadas pelo Laboratório de Estudos em História da Enfermagem (LAESHE), observou-se que alguns avanços da EERP-USP foram construídos tam-bém por anônimos, sem desconsiderar a importância dos grandes vultos, mas começam a emergir pessoas à margem da história oficial, que possuem voz impor-tante na trajetória histórica da EERP-USP.
A valorização da história de uma profissão não dei-xa de ser importante instrumento de poder, pois alicerça a identidade social e imprime prestígio ao grupo [5].
Nesse sentido, a preservação e o estudo da me-mória coletiva da Enfermagem vêm ao encontro dos objetivos propostos para o período de 2006-2015 (Década de Recursos Humanos em Saúde), apre-sentados em 2005, durante a Reunião Regional dos Observatórios de Recursos Humanos em Saúde, que aconteceu em Toronto, no Canadá. Dentre as resolu-ções, destaca-se a necessidade de fortalecimento dos profissionais de saúde nas Américas [16, 18].
O desenvolvimento das pesquisas que evocam a memória coletiva, portanto, colaboram não apenas para o fortalecimento dos profissionais de Enfermagem, mas podem, também, constituir importante instrumento de melhora da autoestima profissional e aumento das taxas de recrutamento nas faculdades de Enfermagem.

48 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
OBJETIVOS
O projeto Resgate Histórico e Cidadania: Manutenção do Patrimônio Material e Imaterial da Escola de Enfermagem de Ribei-rão Preto - USP, aprovado em 2010 pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, apresenta os seguintes objetivos:
• Promover a informatização do Centro de Memó-ria da EERP-USP.
• Promover a conservação preventiva do material do acervo.
• Disponibilizar um laboratório prático para os cursos do campus da USP que trabalham na área de arquivos e bibliotecas.
• Promoção de eventos voltados para a História da Enfermagem, procurando despertar vocações para pesquisa na área.
• Propiciar suporte técnico para pesquisadores rea-lizem estudos científicos no acervo.
MATERIAIS E MÉTODOS
• Informatização do Cemeerp
Desde 2009, o software Personal Home Library (PHL), que trata da aplicação web voltada para a gestão de cole-ções e bibliotecas [12], vem sendo utilizado em parceria com o Núcleo de Apoio Bibliográfico da EERP-USP. O objetivo inicial do Cemeerp foi divulgar a coleção bi-bliográfica pertencente à prof. Glete de Alcântara. Até o início do presente projeto, foram cadastrados 405 livros, alguns raros e que podem ser pesquisados atra-vés do site‡ Além disso, um banco de dados em forma-to MySQL, para catalogação de fotografias, mostra-se eficiente, promovendo o acesso rápido à informação e evitando a manipulação desnecessária das fotografias. Até o momento, 13.439 fotografias foram digitalizadas.
• Conservação preventiva do material do acervo
Constantemente, é realizado diagnóstico de iden-tificação do acervo, para higienização e manutenção da
‡ http://www2.eerp.usp.br:8080/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl.xis&cipar=phl8.cip&lang=por.
conservação do arquivo, identificando-se, assim, aque-les que apresentam maior risco de deterioração e perda da informação.
Houve aquisição de materiais de proteção, tais como luvas, máscaras, óculos de proteção e aventais para os trabalhos de higienização documental. Os documentos são corretamente armazenados em papel com pH neutro e folha de poliéster. Além disso, o processo de digitali-zação do acervo fotográfico, com uso de scanner, promo-ve a redução drástica da manipulação dos originais pelos usuários, garantindo a longevidade dos documentos. Para o material audiovisual é realizado trabalho de rebobina-mento e passagem para DVD, uma vez que é importante atualizar o suporte da fonte para sua longevidade, assim como a gravação digital de fitas cassete através de aparelhos de gravação digital. As entrevistas que retratam períodos importantes da história da instituição passaram por pro-cesso de transcrição e as famílias ou o(s) entrevistado(s) estão sendo localizados, a fim de solicitar permissão de uso e transferência de direitos autorais [14].
• Disponibilizar um laboratório prático para os cursos do campus da USP que trabalham na área de arquivos e bibliotecas
O curso de Ciências da Informação e Documenta-ção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-rão Preto da USP, desde 2006, tem utilizado o espaço do Cemeerp como campo de estágio curricular e extracurri-cular, fato que muito colabora para o avanço do conhe-cimento em gestão arquivística no acervo, contando, em alguns momentos, com assessoria de docentes desse curso.
Além disso, o Cemeerp continua a ser espaço de capacitação de profissionais para a realização de conservação preventiva e gestão de arquivo históri-co. Durante o tempo de vigência desse projeto, foram realizados cursos nos meses de abril de 2010, abril, agosto e setembro de 2011 e durante a semana de ani-versário da EERP-USP, totalizando 64 participantes.
• Promoção de eventos voltados para a História da Enfermagem, procurando despertar vocações para pesquisa na área
O principal evento científico, atualmente organi-zado pelo Cemeerp em parceria com outros colegiados, é a Semana Professora Glete de Alcântara, que surgiu em 2004 para homenagear a passagem dos trinta anos de falecimento

49RESGATE HISTÓRICO E CIDADANIA
da professora Glete de Alcântara§, discutindo a pesquisa em História da Enfermagem. A semana foi idealizada pe-los voluntários do Centro de Memória daquele ano, com o apoio da direção da EERP-USP e da Comissão de Cul-tura e Extensão Universitária desde sua primeira edição. Em 2008, o Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da EERP-USP uniu-se ao projeto. Desde então, foram sete edições da Semana Professora Glete de Alcântara e quatro Mostras Científicas de História da Enfermagem, atingindo impacto nacional em 2009.
O evento de 2009 foi o ponto crucial para a criação do Laboratório de Estudos em História da Enfermagem (LAESHE), fruto de parceria, desde 2006, entre pesqui-sadores do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da EERP-USP e Laboratório de Pes-quisa em História da Enfermagem (LAPHE), da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Unirio. Hoje, o LAESHE congrega docentes de ambas as instituições, além de do-centes da Escola de Enfermagem de São Paulo e Universi-dade de Alberta, Canadá, com o total de 9 pesquisadores e quinze pesquisadores em formação. O LAESHE respon-de, hoje, por mais de 90% da pesquisa científica realizada em fontes do Cemeerp e, desde 2011, participa da comis-são executiva da Semana Professora Glete de Alcântara.
O projeto atual, junto à Pró-Reitoria de Cul-tura e Extensão, promove várias assessorias técnicas para pesquisadores, desde ajuda na busca de fontes em banco de dados, até orientação e disponibilização de equipamento de proteção para manuseio, se neces-sário. A disponibilidade da informação digital é feita mediante aprovação em Comitê de Ética pertinente.
No período de vigência do atual projeto, além das ações de catalogação e conservação, houve 357 vi-sitas ao acervo, sendo 55 alunos de ensino médio, 286 de público em geral, dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e 16 visitantes estrangeiros provenientes dos seguintes países: México, Canadá, Nicarágua, Costa Rica, Guatemala e outros. Foram promovidos eventos culturais, de extensão e científi-cos que mobilizaram mais de 104 pessoas.
A atualização do site do Cemeerp, realizada em 2011, também colabora para a divulgação das ativida-des do acervo¶.
§ A professora faleceu em 3 de novembro de 1974.
¶ http://www.eerp.usp.br/corporate-historia-centro-memoria-hist-evo-lucao/.
Estudo realizado em parceria com o LAESHE localizou 98% das egressas das turmas de 1957-1961, trabalho de dois anos que envolveu muita investiga-ção. Hoje, todos os eventos promovidos pelo Ceme-erp ou LAESHE são encaminhados para essas egressas. Nesse momento, as turmas da década de 1960 estão sob investigação. Boa parte da produção do LAESHE pode ser acessada gratuitamente por meio do site**.
CONCLUSÕES
O Cemeerp constitui espaço privilegiado não ape-nas pelo seu acervo, mas pela potencialidade de agregar formação cultural e científica, lazer, valorização profissio-nal, além de capacitação para estudantes das áreas de Bi-blioteconomia, História, Moda, Ciências da Informação e Documentação, entre outros. Trata-se, também, de im-portante recorte da história da Universidade de São Paulo.
A valorização da memória coletiva é primordial no campo da Enfermagem. Espaços como o Centro de Memória possibilitam olhar crítico acerca dos movi-mentos históricos da construção profissional, ajudan-do no entendimento do presente, de modo reflexivo, e na elaboração de alternativas possíveis e desejáveis para o avanço da Enfermagem com responsabilidade social e humanismo, valorizando a integralidade do ser humano que é cuidado e que de si mesmo cuida.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] ALCÂNTARA. G. Memorial. 1963. 18 p. Concurso de provimento efetivo do cargo de professor da cadeira no. 4, História da Enfermagem e Ética Aplicada à En-fermagem – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 1963(a).
[2] _____. A enfermagem moderna como categoria pro-fissional: obstáculos à sua expansão na sociedade brasileira. 1963. 128p. Tese de Cátedra – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 1963(b).
[3] BRASIL. Lei no. 1.467, de 26 de dezembro de 1951. Dispõe sobre a organização e finalidade da Faculdade
** http://www2.eerp.usp.br/laeshe.

50 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios do Governo, São Paulo, 27 dez. 1951.
[4] BRASIL. Ministério da Cultura. Patrimônio cultu-ral e Histórico. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/sobre/cultura/patrimonio/patrimonio-mate-rial-e-imaterial>. Acesso em: 9 set. 2011.
[5] BARREIRA, I. A. Memória e história para uma nova visão da enfermagem no Brasil. Revista Latino-Ame-ricana de Enfermagem, v. 7, n. 3, p. 87-93, 1999.
[6] BARREIRA, I. A; BAPTISTA, S. S. La investigación y la documentación en la historia de la enfermería en Brasil. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 4, n. 3, p. 395-403, 2000.
[7] CALDAS, N. P. A experiência da criaçäo do Centro de Memória da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v.4, n.3, p.347-57, 2000.
[8] CAMPOS, E. S. (org.) História da Universidade de São Paulo, 2. ed. São Paulo: Editora da Universida-de de São Paulo, 2004.
[9] CARVALHO, A. C. Escola de Enfermagem da Uni-versidade de São Paulo: resumo histórico – 1942-1980. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v.14, supl., 1980, 271p.
[10] ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDA-DE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Centro de Me-mória da Escola de Enfermagem. Disponível em: <http://www.enf.ufmg.br/centrodememoria/estru-tura.php>. Acesso em: 09 set. 2011.
[11] ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO. Aspectos Históricos. Disponível em: <http://www2.eerp.usp.br>. Acesso em: 1 set. 2011.
[12] FILHO, E. M. S. O. Personal Home Library. Dis-ponível em: <http://www.elysio.com.br>. Acesso em: 9 set. 2011.
[13] LOMÔNACO, N. V. et al. Centro de Memória da EERP (CEMEERP): Folder institucional. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, 1990.
[14] LUCHESI, L .B. et al. Redescobrindo o Centro de Memória da Escola de Enfermagem de Ribeirão Pre-to: relato de experiência. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 10, n. 3, p. 565-71 2006.
[15] MENDES, I. A. C. et al. A REBEn no contexto da His-tória da Enfermagem Brasileira: a importância da me-mória de dra. Glete de Alcântara. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 55, n. 3, p. 270-74, 2002.
[16] MENDES, I. A. C.; MARZIALE, M. H. P. Década
de recursos humanos em saúde: 2006-2015. Revista Latino-Americana de. Enfermagem, v. 14, n. 1, p. 1-2, 2006. Editorial.
[17] OGUISSO, T. Memória e história: Centro Históri-co-Cultural da Enfermagem Ibero-Americana. Es-cola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 4, n. 3, p. 359-67, 2000.
[18] PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. To-ronto Call to Action for a Decade of Human Re-sources in Health in the Americas (2006-2015). Regional Meeting of the Observatory of Human Re-sources in Health, 4-7 October, 2005. Disponível em: <http://www.observarh.org/fulltext/torontocall-toaction.pdf>. Acesso em: 9 set. 2011.
[19] SAUTHIER, J. Memória e história: O Centro de Documentação da Escola de Enfermagem Anna Nery. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 4, n. 3, p. 339-46, 2000.
[20] SILVA JUNIOR, O. C. et al. Implantação do Arquivo Setorial Enfermeira Maria de Castro Pamphiro. In: IV ENCONTRO DE PROFESSORES E PESQUI-SADORES DE HISTÓRIA DA ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, 2006, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: UNIRIO, 2006. p. 43-43.
[21] UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Escola de En-fermagem de Ribeirão Preto. Ata da 4ª. Reunião da Comissão de Memória Histórica realizada em se-tembro de 1989. Ribeirão Preto - SP.



53PARALISIA CEREBRAL: FUNDAMENTOS PARA PAIS E CUIDADORES
RESUMO
Um aspecto que não pode ser ignorado é o impacto da paralisia cerebral na dinâmica interna da família, devido ao fato de que seus membros são confrontados com uma realidade diferente que exige adaptações e modificações diárias. A forma como os pais, cuidadores e membros da família se ajustam é crucial para o futuro da criança e das pessoas envolvidas. Devido às dificuldades dos pais e cuidadores de crianças com paralisia cerebral em adquirir conhecimentos sobre as defini-ções, classificações e diferenças causadas pela deficiência, este trabalho tem como objetivo apre-sentar esclarecimentos teóricos e práticos sobre paralisia cerebral. Para tanto, organizou-se um texto explicativo dos principais motivos que causam as alterações na postura e movimento das crianças com deficiência, pois é sabido que o conhecimento dos pais pode interferir no cuidado e na educação, considerando que os pais desempenham um papel essencial como educadores de seus filhos, especialmente durante os primeiros anos de formação, e que isso proporcionará a todos oportunidades de participação, aprendizado e crescimento.
Palavras-chave: Paralisia cerebral. Atividade motora. Relações familiares.
ABSTRACT
One aspect that cannot be ignored is the impact of cerebral palsy in the internal dynamics of the family, due to the fact that its members are confronted with a different reality which requires adaptations and changes daily. The way parents, caregivers and family members adjust is crucial for the future of the child and of the people involved. Due to the difficulties of parents and caregivers of children with cerebral palsy in acquiring knowledge about the definitions, classi-fications and differences caused by disability, this work aims to present theoretical and practical explanations about cerebral palsy. Therefore, an explanatory text was organized with the main reasons that cause changes in posture and movement of children with disabilities, because it is known that the knowledge of parents can interfere in the care and education, whereas parents play an essential role as educators of their children, especially during the early formative years, and that this will provide all opportunities for participation, learning and growth.
Key words: Cerebral palsy. Motor activity. Family relations.
PARALISIA CEREBRAL: FUNDAMENTOS
PARA PAIS E CUIDADORES
CEREBRAL PALSY: BASICS FOR PARENTS AND CAREGIVERS
*Carlos Bandeira de Mello Monteiro, **Talita Dias da Silva
* Professor doutor do curso de Ciências da Atividade Física na área de Atividade Física e Esporte Adaptado e Comportamento Motor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP) – Av. Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino Matarazzo – São Paulo - SP – 03828-000 – e-mail: [email protected]. ** Fisioterapeuta, participante da orga-nização e implementação de Atividade Física e Esporte Adaptado na EACH-USP, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Capacidades e Habilidades Motoras (GEPCHAM).

54 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
INTRODUÇÃO
Existem diferentes definições para paralisia ce-rebral [14, 7, 3], mas atualmente é importante citar o trabalho de Bax [4] e a revisão deste por Rosenbaum [17], que apresentaram a seguinte definição: “Parali-sia cerebral é um grupo de desordem permanente do desenvolvimento da postura e movimento, causando limitação em atividades, que são atribuídas a um dis-túrbio não progressivo que ocorre no desenvolvimento encefálico fetal ou na infância. A desordem motora na paralisia cerebral é frequentemente acompanhada por distúrbios de sensação, percepção, cognição, comuni-cação e comportamental, por epilepsia e por proble-mas musculoesqueléticos secundários” [2, 10, 15, 18].
Percebe-se pela definição que a paralisia cerebral é uma entidade clínica complexa, com níveis de alta in-cidência, vários níveis de gravidade e complicações di-versas, muitas vezes necessitando de cuidados especiais. Porém, os pais e cuidadores de indivíduos com parali-sia cerebral relatam muita dificuldade em conceituar a doença e compreender suas causas e repercussões. Esta dificuldade em compreender as características e dificuldades da criança causa um impacto negativo na família e nos cuidadores, aumenta os questionamen-tos, gera angústia e ansiedade [16]. O conhecimento li-mitado e uma visão pessimista quanto à potencialidade da criança repercute na dinâmica familiar e diminui os investimentos no tratamento e na educação [16].
Desta forma, é fundamental o desenvolvimento de projetos que possibilitem informar pais e cuida-dores de crianças sobre as principais características da paralisia cerebral, viabilizando uma fundamentação teórica e prática que possibilite a interpretação da pa-ralisia cerebral pela família.
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é diminuir a insegu-rança e a falta de conhecimento por parte dos pais e cuidadores de crianças com paralisia cerebral, ofere-cendo uma fundamentação teórica prática de forma coerente e simplificada.
MÉTODO
Para tanto, optou-se em desenvolver um tex-to explicativo para pais e cuidadores de crianças com paralisia cerebral que apresente a definição, classifi-cação, diferença na realização de movimento e carac-terísticas motoras. O texto completo organizado para pais e cuidadores será apresentado nos resultados.
RESULTADOS
É difícil falar em paralisia cerebral sem explicar como funciona o desenvolvimento motor normal do ser humano. Após o nascimento, a criança se movi-menta, principalmente, devido a atos involuntários chamados de reflexo, que pode ser definido como: “Ato ou fenômeno, motor ou secretor, desencadeado pelo sistema nervoso fora da intervenção da vontade, em resposta a uma estimulação das terminações nervo-sas sensitivas” [9]. Conforme a criança adquire novas vivências, como o conhecimento do próprio corpo e a integração deste com o meio ambiente, seu sistema nervoso como um todo, inclusive o cérebro, é estimu-lado e evolui. Desta forma, a criança começa a contro-lar seus movimentos e, ao invés de realizar, na maioria, atos involuntários, inicia atos voluntários e atos moto-res automáticos, ou seja, respostas motoras mais refi-nadas e que necessitam de vivências anteriores.
A função do cérebro, a respeito da nossa con-duta motora, é fundamentalmente a de receber, in-terpretar os estímulos sensoriais e nos oferecer a habilidade de nos movimentar e realizar atividades es-pecíficas, mantendo sempre uma postura e equilíbrio que nos possibilite executar tarefas especializadas [12].
Cada movimento que fazemos é o resultado de um acúmulo de informações sensoriais e motoras que o cérebro adquiriu durante sua fase de maturação e das modificações que ocorrem devido a aprendizagens diárias. Todas essas informações recebidas são inter-pretadas e armazenadas, estando prontas para serem usadas quando necessário.
Nós andamos, corremos e executamos dife-rentes tipos de movimentos; no entanto, quando nos deparamos com uma movimentação diferente, per-cebemos a dificuldade que temos de nos adaptarmos. Por exemplo: quem já tentou iniciar um curso de dança de salão ou uma ginástica aeróbica? São todos

55PARALISIA CEREBRAL: FUNDAMENTOS PARA PAIS E CUIDADORES
movimentos e ritmos diferentes dos que empregamos em nosso dia a dia. Nosso cérebro não está acostuma-do; por isso, precisamos de várias repetições e tempo para poder nos adaptar a essas novas atividades.
Precisamos nos concentrar passo a passo para de-pois juntarmos os movimentos e executá-los perfeita-mente. O mais interessante é que, apesar do movimento ser igual, cada um irá realizá-lo de uma forma diferen-ciada. Esta individualidade ocorre devido a diferentes vi-vências que cada um de nós tem durante a vida e a forma como nosso cérebro interpreta determinado estímulo. O mais importante é que podemos aprender novos mo-vimentos e modificá-los durante qualquer fase da vida.
Vamos analisar o que ocorre nas crianças com paralisia cerebral. Existem casos de bebês que, ao nas-cerem, não conseguem nem mesmo se alimentar, e, nesses casos, é mais fácil o diagnóstico. No entanto, vários recém-nascidos com paralisia cerebral apresen-tam os mesmos reflexos que qualquer criança; por isso, conseguem mamar e movimentar-se involuntariamen-te. Assim, passam por todas as avaliações médicas sem revelar problemas que irão se apresentar mais tarde, quando o bebê começa a reagir aos estímulos impostos pelo meio ambiente, vivenciar seu corpo no espaço e se movimentar automaticamente [11, 8]. Esses controles automáticos são todos realizados pelo cérebro, que por algum motivo foi lesado na paralisia cerebral e não res-ponde normalmente aos estímulos oferecidos.
Esta dificuldade de movimento que a criança começa a apresentar influenciará na perda de oportu-nidades de vivenciar posições diferentes e variedades de movimentos, o que irá representar um atraso na sua maturação cerebral e com certeza uma maior dificuldade em seu desenvolvimento sensorial e motor futuramente.
No desenvolvimento da criança com paralisia cerebral, é necessária uma quantidade e variedade de estímulos adequados para ajudar a criança a desen-volver todas as suas potencialidades, não só estímulos físicos, mas também cognitivos. Acredita-se, cada vez mais, que tanto o corpo como a mente devem ser tra-balhados em harmonia, para que possamos oferecer à criança possibilidades de atingir todo o seu potencial. Diante disso, percebe-se a necessidade de uma equipe multidisciplinar onde fisioterapeutas, terapeutas ocu-pacionais, fonoaudiólogos, pedagogos especializados, psicólogos e vários outros profissionais envolvidos oferecerão à criança possibilidades de conhecimentos e movimentos que ela não conseguiria realizar sozinha.
COMO OCORRE O MOVIMENTO
Quando falamos em estimular uma criança com paralisia cerebral, estamos objetivando melhorar sua postura e movimento. Mas como o cérebro controla os movimentos?
O movimento ocorre por dois fatores impor-tantes: a existência dos ossos, que são responsáveis pela sustentação do corpo; e os músculos, que se res-ponsabilizam pelo movimento desses ossos e, conse-quentemente, pelos nossos movimentos. O que mais nos interessa quando falamos em movimento é anali-sar como o cérebro controla essa ação muscular.
O cérebro não entende nada de músculos, mas sim, de mo-vimento. Quando aprendemos um determinado mo-vimento, seja quando bebê ou adulto, o cérebro armazena o ato motor propriamente dito, indepen-dente de qual músculo deve ser contraído. Mesmo vo-luntariamente, nós não conseguimos contrair apenas um músculo; todas as ordens do cérebro serão feitas pensando no movimento. Ao tentar mover apenas um dedo, com certeza você estará contraindo músculos do braço, ombro e várias partes do corpo que você nem imagina participar do movimento pretendido, tudo isso para poder executar a ação, teoricamente simples, de mover um dedo.
Desta forma, não há nenhum músculo no cor-po que possamos colocar em ação separada e inde-pendente do efeito colateral de outros. Não podemos fazer isso nem voluntária nem involuntariamente.
Quando você está fazendo uma atividade física – por exemplo, um exercício abdominal – os músculos das pernas, braços e outros também estão contraídos para estabilizar o movimento; ao mesmo tempo, os músculos das costas estão relaxados para não se oporem ao movimento e permitirem a execução do abdominal. Nem você e nem mesmo o cérebro sozinho conseguem controlar individualmente os músculos; no entanto, conseguem realizar perfeitamente o movimento.
Imagine quantas adaptações são necessárias para um simples movimento de andar! Todos os músculos participam simultaneamente e em perfeita harmonia, contraindo em algumas vezes e relaxando a seguir, pois qualquer falha significa uma desestru-turação do movimento. Podemos concluir, após estas observações, que os músculos individuais perdem sua identidade, sendo que aumenta a importância de um trabalho muscular em conjunto.

56 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
Para o ser humano se movimentar, de tantas formas variadas e complexas, existe um mecanismo automático chamado de mecanismo postural normal.
Este mecanismo, que nos oferece pré-requisi-tos para uma atividade funcional normal, é influen-ciado e depende da harmonia de dois fatores: o tônus postural normal e a inervação recíproca.
O tônus postural normal é um estado de semicontra-ção da musculatura. Mesmo quando o músculo está em repouso, certa quantidade de tensão permanece, É um estado de alerta do músculo. Este grau residual de contração do músculo esquelético denomina-se tô-nus muscular. Tônus [9] é o estado de tensão perma-nente e involuntário dos tecidos vivos, especialmente, do tecido muscular esquelético sob a dependência do Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso Periférico (SNP).
O tônus está diretamente relacionado com o movimento, pois o aumento e a diminuição do tônus de um determinado músculo irão influenciar direta-mente na movimentação. O tônus muscular normal é difícil de ser medido, pois varia de pessoa para pessoa e até mesmo de momento para momento. Assim, em uma pessoa nós podemos, durante o dia, observar um tônus muscular mais elevado, dependendo do seu es-tado de alerta, preocupação e o próprio stress, que é tão estudado hoje em dia.
Podemos, ainda, observar um tônus muscular mais baixo, por esta pessoa estar mais relaxada e des-preocupada. Todos esses são fatores que podem in-fluenciar no nosso tônus muscular. O importante não é ter um tônus mais alto ou mais baixo, e sim um tônus normal, que nos propicie condições de controlar nos-sos movimentos coordenadamente. Podemos classificar um tônus normal como aquele que é alto o suficiente para vencer a ação da gravidade e baixo o suficiente para não se opor ao movimento pretendido. Ou seja, se al-guém tiver um tônus muito baixo, não terá força sufi-ciente para vencer a gravidade e, como consequência, não conseguirá mover-se por falta de tonicidade mus-cular. Por outro lado, se tiver o tônus muito alto, as articulações desses músculos alterados ficarão tão fixas que não conseguirão executar o movimento.
É importante ressaltar que o cérebro é que con-trola em que momento este ou aquele grupo muscular deve estar com o tônus mais alto ou mais baixo para uma harmonia nos movimentos.
No caso da paralisia cerebral, um dos maiores
problemas é justamente o tônus muscular. Isto quer dizer que, por algum motivo, o cérebro não consegue controlar a contração dos músculos envolvidos em um determinado movimento ou mesmo em uma determi-nada postura.
Sem um controle organizado do cérebro, este tônus pode variar de alto para baixo. Alguns têm o tô-nus tão baixo (hipotônicos) que não conseguem ven-cer a gravidade em nenhum movimento, nem mesmo para levantar a cabeça [6,8]. Outros têm o tônus tão alto (hipertônicos ou espásticos) que não conseguem realizar nenhum movimento, pois um músculo não relaxa para permitir a contração de outro e/ou mús-culos que exercem funções contrárias em um determi-nado movimento se contraem ao mesmo tempo, não ocorrendo movimento algum [5, 9, 12].
A inervação recíproca é outro mecanismo impor-tante para uma atividade funcional normal. Apesar do nome complicado, isso nada mais é do que uma perfeita integração entre todos os músculos do corpo quando executamos um movimento. O cérebro tem o perfeito controle de qual músculo deve ser relaxado, e qual deve ser contraído para que o movimento ocorra com perfeição.
É justamente o exemplo do exercício abdomi-nal. Assim que realizamos um exercício, o cérebro tem que controlar qual grupo muscular contrai, qual relaxa e quais irão auxiliar o movimento. E o mais im-portante, qual a intensidade de participação de cada grupo muscular. Sem este controle, o movimento não será harmonioso.
Esta interação deve ocorrer em qualquer tipo de movimento, seja com amplitude grande ou pequena, seja um movimento próximo do tronco, como elevar os braços, ou movimento distante do tronco, como os de abrir e fechar as mãos. Imagine o cérebro contro-lando todos os músculos das mãos, dedos, braços, om-bros e todos os músculos do corpo que são necessários para executar tarefas como tricotar, usar uma tesoura ou até cumprimentar outra pessoa.
Além dos problemas de tônus muscular, na pa-ralisia cerebral também ocorre a falta de inervação recí-proca. Se o cérebro estiver lesado, como cada músculo será informado para se contrair ou relaxar para que pos-sa ou não ocorrer determinado movimento? Ou me-lhor, em qual momento um músculo que flexiona deve relaxar para que o outro estenda e, desta forma, ocor-ra o movimento harmônico? Devido à lesão cerebral,

57PARALISIA CEREBRAL: FUNDAMENTOS PARA PAIS E CUIDADORES
essa coordenação central não existe ou pelo menos está desordenada. É justamente por isso que surgem os movimentos anormais. A intenção e a vontade do mo-vimento existem, mas a perfeita coordenação para que surja um movimento produtivo não ocorre [1].
Percebemos isso quando observamos uma crian-ça com paralisia cerebral se movimentar. A intenção do movimento existe, ela quer rolar, sentar e andar. No entanto, o cérebro, que é o responsável por coordenar e organizar esses movimentos, está alterado. Assim, ao tentar executar um movimento qualquer, não existi-rá controle dos músculos, aparecendo um movimento com menos coordenação e funcionalidade [4, 17].
As dificuldades motoras apresentadas serão de-finidas dependendo de quanto, como e onde o cére-bro foi afetado. Cada criança com paralisia cerebral apresentará um problema motor específico e diferente dos outros, com seus limites e potenciais individuais.
DISCUSSÃO
Mesmo com o avanço da Tecnologia e da Me-dicina, os pais e cuidadores de crianças com paralisia cerebral ainda têm pouco acesso às informações como definição, quadro clínico e evolução do estado de saú-de. Este conhecimento limitado leva os pais a terem uma visão pessimista sobre o potencial de seus filhos, dificul-tando também a transferência das habilidades adquiridas nas sessões de reabilitação para o dia a dia das crianças.
Pouco se tem descrito sobre paralisia cere-bral voltada para pais e cuidadores. Porém, o escla-recimento sobre a deficiência é responsabilidade dos profissionais envolvidos no processo de habilitação e que têm contato direto com os pais. Ribeiro [16] des-creve que os profissionais da saúde admitem oferecer poucas informações aos pacientes com deficiência e seus familiares. Entre os itens mencionados como insuficientes, estão: necessidade de discutir os ques-tionamentos; promover troca de experiências entre as famílias; e oferecer informações em relação às preocu-pações dos pais com o cuidado de seus filhos.
Segundo Prudente [15], um aspecto que não pode ser ignorado é o impacto da paralisia cerebral na dinâmica interna da família, devido ao fato de que seus membros são confrontados com uma realidade dife-rente que exige adaptações e modificações diárias. A forma como os pais, cuidadores e membros da família
se ajustam é crucial para o futuro da criança e das pes-soas envolvidas diretamente. Cada família é única e irá processar esta experiência de maneiras diferentes. Muitas famílias são sobrecarregadas, considerando aspectos finaceiros e emocionais, o que pode causar uma ruptura familiar; por outro lado, existem famí-lias que são fortalecidas, e a criança deficiente agrega fatores de união. Corroborando com esta afirmativa, Lima [13] mostra a importância do envolvimento fa-miliar no processo de habilitação, citando que os pro-fissionais que assistem a criança desempenham papel fundamental na transformação do olhar dos pais em relação ao filho. Considera ainda que esse olhar so-cialmente moldado pela desinformação, preconceito e carga histórica negativa pode ser transformado com o conhecimento e o apoio adequado.
Enfatizando a importância para pais e cuidadores de crianças com paralisia cerebral conhecerem as carac-terísticas da deficiência para a melhora do desenvolvi-mento das crianças, Ribeiro [16] afirma que os pais de crianças que não apresentam nenhuma alteração moto-ra e que possuem melhor conhecimento em relação às etapas da evolução da criança, por meio de revistas e li-vros disponíveis, conseguem executar com mais eficiên-cia as práticas de cuidado com o filho, e isto interfere de forma positiva no desenvolvimento da criança. Pode-se supor, então, que o conhecimento dos pais de crianças com deficiência também pode interferir no cuidado e na educação prestados a elas, considerando que os pais desempenham um papel essencial como educadores de seus filhos, especialmente durante os primeiros anos de formação, e que isso proporcionará a todos oportuni-dades de participação, aprendizado e crescimento.
Ribeiro [16] também mostra que a insatisfação dos familiares em relação às informações recebidas da equipe de saúde (médico, fisioterapeuta, fonoaudió-logo e terapeuta ocupacional) inclui: desejo ser escla-recido sobre as opções de tratamento; ter informações a respeito dos progressos da criança; obter informa-ções a respeito da condição de deficiência da criança (causas, evolução e previsões).
CONCLUSÃO
Por todos os fatores apresentados, concluí-mos que o pouco conhecimento a respeito da para-lisia cerebral influencia negativamente o processo de

58 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
orientação familiar, dificultando a intervenção e dimi-nuindo a adesão no processo de habilitação adequado. Consideramos este artigo interessante para os pais e cui-dadores de crianças com paralisia cerebral, de modo a eliminar dúvidas sobre a definição da deficiência e para que se tornem mais seguros e envolvidos, permitindo-lhes dar maior assistência ao filho, aderir ao tratamen-to fornecido pelos profissionais de saúde e transferir o aprendizado à vida cotidiana.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] AICARDI, J.; BAX, M. Cerebral palsy. In: AICAR-In: AICAR-DI, J. Diseases of the nervous system in childhood. London: Mac Keith Press, 1992, p. 330-374. (Clin-ic in developmental medicine).
[2] AMATYA, B.; KHAN, F. Rehabilitation for cerebral palsy: Analysis of the Australian rehabilitation out-come dataset. Journal of Neurosciences in Rural Practice, v. 2, n. 1, p. 43-49, 2011.
[3] AMERICAN ACADEMY FOR CEREBRAL PALSY (AACPDM). What is Cerebral Palsy? Milwaukee: AACPDM, [c2011]. Disponível em: <http://www.aa-cpdm.org>. Acesso sem data.
[4] BAX, M. et al. Proposed definition and classification of cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, v. 47, p. 571–576, 2005.
[5] CASALIS, M. E. P. Espasticidade: cinesioterapia e terapia medicamentosa. In: Reabilitar, n. 4, p. 11-15, 1999.
[6] CAMPBELL, W. W. De Jong: o exame neurológico, 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2007.
[7] DIAMENT, A.; CYPEL, S. Neurologia infantil, 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
[8] FONSECA, L. F.; PIANETTI, G.; XAVIER, C. C. Compêndio de neurologia infantil, 1. ed. São Pau-lo: Ed. Medsi, 2002.
[9] GARNIER, M.; DELAMARE, V. Dicionário de ter-mos técnicos de medicina, 20. ed. São Paulo: Or-ganização Andrei, 1984.
[10] GORTER, J. W. et al. The relationship between spasti-city in young children (18 months of age) with cerebral palsy and their gross motor function development. BMC Musculoskeletal Disorders, v. 10, 2009, 9 p.
[11] JAN, M. M. S. Cerebral palsy: comprehensive review and update. Annals of Saudi Medicine, v. 26, n. 2,
p. 123-132, 2006.
[12] KANDEL, E. R.; Schwartz, J. H.; Jessell, T. M. Fundamentos da neurociência e do comportamen-to. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1997.
[13] LIMA, R. A. B. C. Envolvimento materno no tra-tamento fisioterapêutico de crianças portadoras de deficiência: compreendendo dificuldades e facilitado-res, 2006, 144f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
[14] Little club clinics in developmental medicine. Child neurology and cerebral palsy: a report of an inter-national study group. London: William Heinemann Medical Books, 1960. (Little club clinics in develop-mental medicine series, v. 2).
[15] PRUDENTE, C. O.; BARBOSA, M. A.; PORTO, C. C. Relation between quality of life of mothers of children with cerebral palsy and the children’s motor functioning, after ten months of rehabilitation. Re-vista Latino-Americana de Enfermagem, vol. 18, n. 2, p. 149-55, 2010.
[16] RIBEIRO, M. F.; BARBOSA, M. A.; PORTO, C. C. Paralisia cerebral e síndrome de Down: nível de co-nhecimento e informação dos pais. Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, n. 4, p. 2099-2106, 2011.
[17] ROSENBAUM, P. et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy. Developmental Me-dicine & Child Neurology, v. 49, supl. 109, p. 8-14. 2007.
[18] SORSDAHL, A. B. et al. Change in basic motor abi-lities, quality of movement and everyday activities following intensive, goal-directed, activity-focused physiotherapy in a group setting for children with ce-rebral palsy. BMC Pediatrics, v. 10, n. 26, 2010, 11 p.



61PROJETO EXERCÍCIO E CORAÇÃO
RESUMO
O sedentarismo é um fator de risco para as doenças crônicas e, portanto, a prática regular de atividades físicas auxilia na prevenção e combate dessas doenças. Diversas campanhas públicas têm incentivado as pessoas a praticarem exercícios em locais públicos. No entanto, a prática muitas vezes é executada sem a orientação de um profissional, o que pode representar um risco à saúde, principalmente para pessoas com doenças cardiovasculares. Diante dessa problemática, há dez anos, o Projeto Exercício e Coração foi criado para orientar/prescrever a prática segura de atividade física para frequentadores de locais públicos que se exercitam sem supervisão. O projeto atua de forma contínua no parque Fernando Costa e no Hospital Universitário da USP, além de participar de campanhas públicas de saúde. Nesses dez anos, o projeto avaliou mais de 1.431 pessoas no parque, ministrou mais de 2.109 aulas de alongamento, participou de mais de 28 eventos, treinou mais de 150 monitores e publicou quarenta resumos e nove artigos científicos completos relacionados aos seus dados. Assim, o Projeto Exercício e Coração é uma atividade de extensão que tem a preocupação de levar à comunidade os conhecimentos acadêmicos produzidos pela universidade, integrando pesquisa, ensino e extensão.
Palavras-chave: Atividade física não supervisionada. Risco cardiovascular. Parques públicos.
ABSTRACT
Sedentary lifestyle is a risk factor for chronic disease development, and consequently regular physical activity can help to prevent and control these diseases. Thus, many public campaigns have been created to motivate people to become active, and many subjects are practicing ex-ercises in public facilities. However, at these sites, physical practice is frequently performed without any professional advice, which increases its cardiovascular risks especially in people with cardiovascular diseases. To deal with this problem, the Exercise and Heart Project was created 10 years ago to prescribe secure physical activity to people who exercise in public facilities without supervision. The project has continuous activities in Fernando Costa park and in the USP Uni-versity Hospital, and it also participates at public health campaigns. Throughout the years, the project evaluated more than 1,431 persons in the park, gave more than 2,109 stretching class, participated in more than 28 health events, trained more than 150 monitors, and published forty abstracts and nine complete scientific articles based on its data. In conclusion, the Exer-cise and Heart Project is a community extension activity of the university that takes the academic knowledge to the community, and also integrates extension, teaching and research.
Key words: Unsupervised physical activity. Cardiovascular risk. Public facilities.
PROJETO EXERCÍCIO E CORAÇÃO:
UMA DÉCADA A SERVIÇO DA COMUNIDADE
PROJECT EXERCISE AND HEART:
SERVING THE COMMUNITY FOR A DECADE
*Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz, **Bruno Temoteo Modesto, ***Teresa Bartholomeu, ****Luiz Augusto Riani Costa, *****Taís Tinucci
* Professora doutora e livre docente do Laboratório de Hemodinâmica da Atividade Motora (LAHAM) da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP) – Av. Prof. Mello Moraes, 65 – 05508-030 – Cidade Universitária – São Paulo - SP – e-mail: [email protected]. ** Bacharel em Esporte pela EEFE-USP. *** Professora especialista da EEFE-USP. **** Médico especialista da EEFE-USP. ***** Professora doutora e docente da EEFE-USP.

62 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
INTRODUÇÃO
O combate às doenças crônicas não transmis-síveis (DCNT) é uma preocupação mundial. Das 57 milhões de mortes no mundo em 2008, 36 milhões ocorreram em razão dessas doenças. No Brasil, elas são responsáveis por 72% das mortes, com destaque para as doenças do aparelho circulatório (31,3%) [4].
As DCNT são, em sua maioria, causadas por fa-tores de risco ligados às modificações nos hábitos de vida, principalmente às dietas calóricas e ricas em sal e gorduras e ao aumento expressivo do sedentarismo. De fato, o número de sedentários tem aumentado no Bra-sil. Em 2006, 13,2% dos entrevistados num inquérito populacional relataram não praticar nenhuma ativida-de física e, em 2008, este índice foi de 17,4% [5].
É sabido que pessoas sedentárias têm risco entre 20% e 30% maior de mortalidade por todas as causas e, principalmente, por doenças cardiovasculares [18]. A ati-vidade física regular reduz o risco de diabetes, obesidade, dislipidemia, câncer de mama e de cólon, osteoporose [19] e promove benefícios cardiovasculares já bem esta-belecidos [15,16]. Desta forma, a atividade física é uma importante estratégia para a prevenção e o controle das DCNT. De fato, o recém-lançado Plano de Ações Estra-tégicas para o Enfrentamento das DCNT 2011-2012 no Brasil estabelece o aumento da prática de atividades físicas como um dos principais alicerces das intervenções de saú-de [4]. Entretanto, apesar de o plano ser novo, o incenti-vo à prática de atividade física já ocorre há vários anos em nosso país, por exemplo, com o Programa Agita São Pau-lo [10]. Como resultado desse incentivo, muitas pessoas começaram a se exercitar. De fato, o número de sujeitos ativos no estado de São Paulo, onde esse programa se de-senvolve, aumentou cerca de 20% de 2002 a 2008 [11].
Para se tornarem mais ativas, várias pessoas optam por realizar exercícios físicos planejados, como caminhar, correr ou fazer ginástica, em locais públicos, como pra-ças e parques. Porém, nestes locais, a prática é frequente-mente realizada sem a orientação de um profissional [8].
Ainda que do ponto de vista populacional os benefícios da prática de exercícios físicos sem super-visão suplantem os possíveis riscos [15], do ponto de vista individual, a execução de atividades inadequadas pode deflagrar eventos cardiovasculares agudos, como parada cardíaca ou infarto. Dessa forma, para maximi-zar os benefícios e minimizar os riscos individuais, é importante que os praticantes façam uma avaliação para
identificar seu risco [8,15] e recebam uma prescrição ou, no mínimo, uma orientação sobre a prática adequa-da. Estes procedimentos são especialmente importan-tes para quem vai se exercitar sem acompanhamento. Diante desse quadro, o Projeto Exercício e Coração foi criado, visando a estimular e a orientar a prática segura de atividades físicas em locais públicos [9].
O projeto teve início em 2000, no parque Fer-nando Costa (Água Branca), e continua lá até hoje. Em 2002, o projeto começou a realizar ações pon-tuais, atuando em outros sete parques de São Paulo; realizando atividades no Projeto Estação USP de 2003 a 2006, e participando de campanhas de saúde públi-ca desde 2006. Além disso, em 2008, as atividades contínuas do projeto se estenderam para o Hospital Universitário da USP (HU-USP).
Por estar na universidade, além do cunho assisten-cial, o projeto tem envolvimento com o ensino, através do treinamento de alunos que atuam como monitores de suas atividades, e também tem produzido conhecimentos científicos vinculados à sua atuação. No presente artigo pretendemos descrever as atividades desenvolvidas pelo projeto nesses três âmbitos (extensão, ensino e pesqui-sa), demonstrando os resultados obtidos até o momento.
OBJETIVOS
No aspecto extensão, o Projeto Exercício e Co-ração objetiva estimular e dar subsídios para a prática segura de atividades físicas visando à melhora e manu-tenção da saúde e da qualidade de vida da população. Como objetivos específicos, ele pretende:
• divulgar a importância da prática regular de ativi-dades físicas;
• estimular a população a essa prática; • levantar o risco individual para essa prática;• sugerir condutas anteriores à prática, se necessárias;• fornecer orientação/prescrição individualizada
das atividades a serem executadas;• fornecer subsídios para a execução correta dessas
atividades. No aspecto do ensino, o projeto visa a preparar
alunos de graduação e pós-graduação em Educação Fí-sica para atuarem como profissionais competentes na área do exercício físico para a saúde, complementando

63PROJETO EXERCÍCIO E CORAÇÃO
os conhecimentos teóricos obtidos em sala de aula e, principalmente, fornecendo-lhes a experiência práti-ca supervisionada para essa atuação.
No âmbito da pesquisa, o projeto tem por ob-jetivo produzir conhecimento aplicado sobre a forma eficaz de propor e executar a prática segura e benéfica de atividade física para populações que se exercitam em locais públicos sem supervisão direta.
MÉTODOS
O projeto possui atualmente três vertentes de atuação:
• uma contínua, no parque Fernando Costa;• uma contínua, no Hospital Universitário da USP;• atuações pontuais junto a outros projetos, eventos
ou campanhas de saúde.
Todas as atividades têm embasamento teórico nas Diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM) [1] e nas Diretrizes Brasileiras das diversas Sociedades Médicas [2, 3,14-17]. As atuações são desenvolvidas por monitores, que são supervisio-nados por uma equipe multidisciplinar.
PARTICIPANTES
O público alvo do projeto são os frequentadores adultos dos locais de atuação. O projeto é gratuito e aberto a qualquer pessoa que tenha interesse e disponi-bilidade para participar de todas ou apenas de parte das atividades. Nos últimos anos, a população atendida foi formada, principalmente, por homens e mulheres com mais de 50 anos e de diferentes classes sociais. Gran-de parte da população atendida apresenta doenças e/ou fatores de risco cardiovasculares e já pratica algum tipo de atividade física sem orientação em locais públicos.
ATUAÇÕES DE EXTENSÃO
ATUAÇÃO CONTÍNUA JUNTO AO PARQUE
FERNANDO COSTA
A atuação do Projeto Exercício e Coração no parque Fernando Costa inclui: aulas de alongamento;
avaliações físicas; prescrição de exercício; sessões su-pervisionadas de treinamento; reavaliações; aulas es-peciais; e eventos pontuais.
As aulas de alongamento envolvem exercícios de alongamento passivo para os principais músculos, visando à preparação musculoesquelética para a atividade física.
As avaliações físicas são compostas por um questionário sobre saúde e atividade física, pela exe-cução de medidas clínicas e por testes físicos. Ao fi-nal é solicitada a permissão para a utilização dos dados para pesquisa científica (protocolo aprovado pelo Co-mitê de Ética da Escola de Educação Física e Esporte da USP). O questionário levanta os dados:
• pessoais (sexo, idade, endereço, escolaridade, en-tre outros);
• clínicos (sintomas, doenças, fatores de risco e me-dicamentos);
• de atividade física (se faz, o que faz, quantas vezes por semana e onde).
As medidas realizadas são:
• hemodinâmicas (frequência cardíaca e pressão ar-terial) [16];
• metabólicas (glicemia e colesterolemia total de je-jum por punção digital) [2,17];
• antropométricas (massa corporal, estatura e cir-cunferências de cintura e quadril) [3].
Para a avaliação da normalidade das medidas são utilizados os critérios das Diretrizes Médicas Brasilei-ras [2, 3, 14-17]. Os testes físicos avaliam a aptidão car-diovascular, força de membros superiores, resistência abdominal, força de membros inferiores, flexibilidade de ombros e flexibilidade lombar, através, respectiva-mente, dos testes de marcha estacionária [12,13] ou Cooper [7], flexão de cotovelo [12,13], abdominais [6], impulsão vertical [13], flexibilidade de ombros [12,13] e sentar e alcançar [6]. A partir dessa avalia-ção, o risco cardiovascular para a prática do exercício é analisado [1]. Se necessário, a pessoa é encaminha-da ao médico, que será responsável por uma avaliação mais detalhada, executando um teste ergométrico e/ou obtendo um atestado para prática não supervisionada.
A prescrição de exercício é feita de forma in-dividualizada visando à saúde geral e, principalmen-te, a cardiovascular; mas considerando também as

64 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
limitações, os objetivos e a disponibilidade individual. Essa prescrição inclui atividades aeróbicas, que devem ser realizadas pelo menos três vezes por semana, por 30 minutos, em intensidade moderada.
As sessões supervisionadas de treinamento incluem as três primeiras sessões e visam ensinar a execução corre-ta dos exercícios para que a pessoa se torne autônoma.
As reavaliações físicas são idealmente feitas após três a seis meses da avaliação e avaliam a efetividade da prescrição feita. Essa reavaliação consta dos mesmos pro-cedimentos da avaliação e verifica as modificações ocor-ridas. Se a evolução for adequada, os sujeitos recebem nova prescrição de exercícios aeróbicos e uma orienta-ção para a prática também de exercícios resistidos, que visam uma melhora da saúde musculoesquelética.
As aulas temáticas são oferecidas esporadicamente e constam de atividades lúdicas e diferentes, tendo o objeti-vo de motivar os participantes e trazer novas experiências.
Os eventos especiais são realizados nos fins de semana e têm o objetivo de incentivar a prática física e apresentar o projeto aos usuários do parque que não o conhecem.
ATUAÇÃO CONTÍNUA JUNTO
AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Esta atuação ocorre junto a dois grupos distin-tos, o de Combate às Doenças Metabólicas e o de Pre-venção de Quedas de Idosos. No primeiro grupo, a atuação inclui encontros semestrais com os pacientes, nos quais são ministradas palestras sobre a importân-cia da atividade física e, em seguida, é realizada uma atividade prática para motivação. Na atuação junto ao grupo de quedas, são atendidos idosos que caíram pelo menos duas vezes no último ano. Esses pacientes fazem uma avaliação física e recebem uma orientação sobre exercícios de alongamento, equilíbrio e fortale-cimento muscular, visando reduzir a probabilidade de novas quedas. O acompanhamento é feito com maior frequência no início, mas as sessões se espaçam com o tempo, tornando o idoso autônomo para esta prática.
ATUAÇÕES PONTUAIS
Ao longo de sua existência, o projeto atuou em vá-rias campanhas públicas de saúde, estimulando a prática de atividade física, fazendo avaliações de risco cardiovascular e orientando uma prática segura. Essas atuações incluíram palestras, avaliações individualizadas, aulas práticas, en-tre outras, e contaram com diversos parceiros, como a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), a Associação Nacional de Assistência ao Diabético (ANAD), o Serviço Social do Comércio (SESC) e o próprio Hospital Universitário da USP. Atualmente, o projeto desenvolve anualmente ati-vidades no Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, no Dia de Prevenção e Combate ao Diabetes, no Dia do Desafio e no Dia Mundial da Atividade Física.
ATUAÇÕES DE ENSINO
Para a execução das atividades do projeto, alunos - principalmente de graduação em Educação Física e Es-porte, mas também de pós-graduação - são treinados em relação ao conhecimento sobre os benefícios da ativida-de física regular para a saúde, sobre como avaliar o risco cardiovascular para a prática, como prescrever uma prá-tica segura, como ministrar essa prática e como avaliar se ela tem os resultados esperados. Esse treinamento é feito de forma teórica, em cursos específicos e em reuniões, mas inclui, principalmente, a atuação prática desses mo-nitores nas atividades do projeto, onde inicialmente ob-servam, depois auxiliam e, finalmente, atuam; sempre com a supervisão próxima de um profissional formado. Assim, o projeto complementa a formação acadêmica do estudante. Esses monitores atuam de forma voluntária ou recebendo bolsas (Bolsa Trabalho da COSEAS, bolsa da Associação de Ambientes e Amigos do Parque da Água Branca – ASSAMAPAB – e, atualmente, bolsas do pro-grama Aprender com Cultura e Extensão).
ATUAÇÕES DE PESQUISA
Com a finalidade de obter conhecimentos cientí-ficos sobre o risco cardiovascular e a prática de atividades físicas em locais públicos, bem como sobre os efeitos do projeto, os dados coletados nas avaliações e reavaliações dos sujeitos que assinaram o termo de consentimento são tabulados e analisados. Essa análise permite a adequação do próprio projeto e gera conhecimento científico sobre a atividade física e a saúde em locais públicos, dando sub-sídios para outros grupos que pretendam montar progra-mas como esse. Os resultados científicos são publicados na forma de resumos de congressos e artigos completos.
RESULTADOS
Ao longo desses mais de dez anos de atuação, as ati-vidades do Projeto Exercício e Coração, assim como sua

65PROJETO EXERCÍCIO E CORAÇÃO
possibilidade de atendimento, foram se ampliando. Ob-viamente, como o projeto ocorre em locais públicos, sua capacidade de atuação oscila em função de questões exte-riores ao projeto, como a ocorrência de outros eventos no parque, mudanças climáticas, verbas para campanhas, etc.
Em sua atuação pontual junto ao parque Fernan-do Costa, nesses mais de dez anos, o projeto realizou mais de 1.431 avaliações físicas. Nos últimos quatro anos (2007 a 2010), após sua ampliação, a média foi de 150 avaliações por ano. As reavaliações começaram em 2002 e foram realizadas mais de 414, sendo a média de 2007 a 2010 de 59 reavaliações anuais (ver Anexo, Figura 1).
As aulas de alongamento se iniciaram em 2004. No início eram ministradas apenas duas aulas sema-nais, mas desde 2006 esse número foi ampliado para nove aulas por semana, totalizando nos últimos anos cerca de 390 aulas por ano e 14.263 atendimentos anuais (ver Anexo, Figura 2).
Considerando-se as sessões de supervisão de treinamento, elas passaram a ser executadas no projeto a partir de 2006 e, a partir daí, já foram realizadas 1.818 sessões, numa média de 355 sessões por ano nos últimos quatro anos – 2007 a 2010 (ver Anexo, Figura 3).
Na atuação junto ao HU-USP iniciou em 2008 e, nesse período, o projeto realizou 189 atendimen-tos, sendo 45 junto ao Grupo de Quedas e o restante no de Doenças Metabólicas.
Considerando-se a participação em campanhas e eventos públicos de saúde, o projeto participou ao longo de sua existência de 28 eventos, atendendo mais de 10.382 pessoas (ver Anexo, Figura 4).
Em relação à sua vertente de ensino, 47 alunos de graduação foram monitores no parque Fernando Costa, com uma oscilação de 2 a 4 monitores bolsistas por ano. Além disso, nas atividades pontuais em cam-panhas públicas, uma média de 10 a 15 monitores atu-am por evento, de modo que ao longo dos anos, mais de 150 alunos foram treinados nessa atuação.
Considerando-se a produção científica, os dados do Projeto deram origem a 11 monografias de graduação, 40 resumos apresentados em congressos científicos e 11 artigos completos publicados em revistas científicas.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Diante do exposto, observa-se que embora o enfoque principal do Projeto Exercício e Coração seja
a assistência à população, ele também atua em duas outras vertentes relacionadas à formação profissional e à pesquisa científica.
A respeito da assistência à comunidade, o prin-cipal elemento do projeto, este tem atingido seus ob-jetivos com excelência, atendendo um grande número de pessoas por ano em suas várias atuações. De fato, a grande gama de atuações do projeto permite atingir o objetivo de incentivar a prática segura de atividades físi-cas visando à saúde cardiovascular em diferentes níveis, desde pessoas que vão a campanhas públicas e ainda não têm consciência da necessidade de atividade física para sua saúde – incluindo pessoas que reconhecem essa im-portância, mas ainda não sabem o que fazer – até aquelas que já praticam atividades físicas, mas precisam de uma orientação para maximizar os benefícios dessa prática.
Considerando-se a formação profissional, o pro-jeto também tem atingindo seus objetivos, ajudando na formação de profissionais mais competentes e com uma experiência prática rica e única para a atuação na preven-ção e reabilitação de doenças crônico-degenerativas.
Do ponto de vista científico, o projeto caracte-riza-se como um dos poucos projetos de pesquisa que avalia os efeitos e as limitações da prática de atividade física para a saúde em condições reais, ou seja, sem o controle excessivo de variáveis intervenientes, o que faz com que os dados obtidos com essa pesquisa tenham grande validade externa e, portanto, sirvam de emba-samento e, talvez, modelo, para a elaboração de outras propostas de intervenção pública no mesmo sentido.
Assim, o Projeto Exercício e Coração atua for-temente como um projeto de extensão dentro de uma universidade pública, preocupando-se também com o ensino e a pesquisa.
REFERÊNCIAS
[1] AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. ACSM’s guidelines for exercise testing and pres-cription. Philadelphia: Lippincott Williams & Wi-lkins, 2000.
[2] AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Diagno-sis and classification of diabetes Mellitus. Diabetes Care, v. 27, Supplement 1, S5-S10, 2004.
[3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA.

66 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
Diretrizes brasileiras de obesidade 2009-2010. 3. ed. Itapevi: AC Farmacêutica, 2009.
[4] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigi-lância em Saúde. Departamento de Análise de Si-tuação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não trans-missíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
[5] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilân-cia em Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Parti-cipativa. Vigitel Brasil 2009: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
[6] CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIO-LOGY. Canadian Physical Activity, Fitness & Li-festyle Approach: CSEP-Health & Fitness Program’s Health-Related Appraisal and Counseling Strategy, 3. ed. Ottawa: CSEP, 2003.
[7] COOPER, K. H. Capacidade Aeróbica. Rio de Ja-neiro: Forum. 1972.
[8] FORJAZ, C. L. et al. Assessment of the cardiovascu-lar risk and physical activity of individuals exercising at a public park in the city of São Paulo. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 79, n. 1, p. 43-50, 2002.
[9] FORJAZ, C. L. et al. Projeto Exercício e Coração. In: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Escola de Educação Física e Esporte. Memória dos cursos comunitários e de extensão da EEFE-USP. São Paulo: Escola de Educação Física e Esporte da USP, 2009, p.123-148.
[10] MATSUDO, V. et al. Promotion of physical activity in a developing country: the Agita São Paulo experien-ce. Public Health Nutr., v. 5, 1a, p. 253-261, 2002.
[11] MATSUDO, V. et al. Time Trends in Physical Acti-vity in the State of São Paulo, Brazil: 2002-2008. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 42, n. 12, p. 2231-2236, 2010.
[12] RILKI, R. E.; JONES, C. J. Development and vali-dation of a functional fitness test for community-residing older adults. Journal of Aging and Physical Activity, v. 7, n. 2, p. 129-61, 1999.
[13] RILKI, R. E.; JONES, C. J. Functional fitness normative scores for community-residing older adults, ages 60-94. Journal of Aging and Physical Activity, v. 7, n. 2, p. 162-81, 1999.
[14] SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. III diretrizes brasileiras sobre dislipidemias e di-retriz de prevenção da aterosclerose do Departa-mento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de
Cardiologia. Arq. Bras. Cardiol., v. 77, suppl. 3, p. 1-48, 2001.
[15] SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. I Brazilian guidelines on diagnosis and treatment of metabolic syndrome. Arq. Bras. Cardiol., v. 84, suppl. 1, p. 1-28, 2005.
[16] SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. VI diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Revista Brasileira de Hipertensão, vol. 17, n. 1, p. 1-64, 2010.
[17] SPOSITO A. C. et al. IV Brazilian guideline for dyslipidemia and atherosclerosis prevention: De-partment of Atherosclerosis of Brazilian Society of Cardiology. Arq. Bras. Cardiol., vol. 88, suppl. 1, p. 2-19, 2007.
[18] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global re-commendations on physical activity for health. Genebra: World Health Organization, 2010.
[19] WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Heal-th Day 2002. Sedentary lifestyle: a global health pro-blem. Genebra: World Health Organization, 2002. Disponível em: <http://www.who.int/world-heathy-day>. Atualizado em 2002, consultado em 2008.
AGRADECIMENTOS
O projeto contou ao longo dos anos com vários parceiros: administração do Parque Fernando Cos-ta, ASSAMAPAB, Centro de Atendimento Psicosso-cial de Perdizes (CAPS-Perdizes), Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Coordenadoria de Comunicação Social da USP (CCS-USP), Empresa Junior da EEFE-USP, COSEAS-USP, Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, SBH, ANAD, HU-USP, SESC e Fundo Social de Solidariedade do Es-tado de São Paulo. Além disso, o projeto agradece aos seus monitores, coordenadores e usuários.

67PROJETO EXERCÍCIO E CORAÇÃO
ANEXO
FIGURA 1
Painel A
Painel B
Número de avaliações (painel A) e reavaliações (painel B) realizadas pelo Projeto Exercício e Coração no parque Fernando Costa de 2000 a 2011. Nota: os dados de 2011 referem-se ao período de janeiro a junho.

68 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
FIGURA 2
Painel A
Painel B
Número de aulas (painel A) e de atendimentos (painel B) de alongamento realizados no parque Fernando Costa pelo Projeto Exercício e Coração de 2000 a 2011. Nota: os dados de 2011 referem-se ao período de janeiro a junho.
FIGURA 3
Número de sessões de supervisão de treinamento realizadas por ano pelo Projeto Exercício e Coração no parque Fernando Costa de 2006 a 2011. Nota: os dados de 2011 referem-se ao período de janeiro a junho.

69PROJETO EXERCÍCIO E CORAÇÃO
FIGURA 4
Painel A
Painel B
Número total de eventos de saúde (painel A) e de atendimentos nesses eventos (painel B) realizados pelo Projeto Exercício e Coração de 2003 a 2011. Nota: os dados de 2011 referem-se ao período de janeiro a junho.


71PROJETO GINÁSTICA LABORAL NA USP
RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar as vicissitudes, a miríade de conceitos, idéias e a compreensão do que é a Ginástica Laboral. Posteriormente, em uma ordem cronológica, a Ginástica Laboral é estudada, desde sua gênese, em termos históricos, seguindo então esta diversidade de conceitos e o que se infere disto.
A análise que se segue, realizada através de um olhar crítico, é a da Ginástica Laboral con-temporânea, majoritariamente considerada uma prestação de serviços, tendo como clientes (e não alunos) o mundo corporativo em geral. Dessa forma, apresenta-se um quadro atual da Ginástica Laboral no mercado de trabalho, observando as suas formas de apresentação, questionando acerca da validade dos objetivos usualmente apresentados. Destas interrogações, provém o corpo princi-pal deste estudo: a Ginástica Laboral na USP. O compromisso é com a aplicação dos conhecimen-tos e saberes da graduação em Educação Física da USP, cujos alunos são selecionados para realizar os atendimentos. Neste item, disserta-se sobre como cada atendimento de Ginástica Laboral, no campus São Paulo da USP, é planejado, analisado e discutido por todos os integrantes do grupo de Ginástica Laboral. Cada atendimento tem os seus objetivos, suas estratégias e conteúdos, os quais são explicados pontual e pormenorizadamente, justificando suas escolhas e inclusões nas aulas.
Palavras-chave: Ginástica Laboral. Educação Física. Conceitos.
PROJETO GINÁSTICA LABORAL NA USP
WORKPLACE EXERCISES AT UNIVERSITY OF SÃO PAULO PROJECT
*Patrícia Sakai, **Márcia Maria Matsubara Silva Pinto, ***Rafael Mistura Fernandes, ****Anita de Cássia Melinski
* Licenciada em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP) e educadora de Práticas Esportivas do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo – Praça 2, Prof. Rubião Meira, 61 – Cidade Universitária – São Paulo - SP – 05508-110 – e-mail: [email protected]. ** Licenciada em Educação Física pela EEFE-USP e educadora de Práticas Esportivas do CEPEUSP. *** Bacharelando em Educação Física da EEFE-USP e bolsista do Programa Aprender com Cultura e Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. **** Bacharelanda em Educação Física da EEFE-USP e bolsista do Programa Aprender com Cultura e Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP.

72 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
ABSTRACT
This article’s purpose is to present the events, a whole of concepts, ideas and the understanding of what does Workplace Exercises exactly mean. Afterwards, the Workplace Exercises is chrono- what does Workplace Exercises exactly mean. Afterwards, the Workplace Exercises is chrono- does Workplace Exercises exactly mean. Afterwards, the Workplace Exercises is chrono- Exercises exactly mean. Afterwards, the Workplace Exercises is chrono-. Afterwards, the Workplace Exercises is chrono- Afterwards, the Workplace Exercises is chrono-, the Workplace Exercises is chrono- the Workplace Exercises is chrono- Workplace Exercises is chrono- Exercises is chrono- is chrono- chrono-logically seen since its beginning then followed by all these many meanings and what it infers.
The proceed analysis, made through a critical vision, is from the Contemporary Workplace Exercises, in most cases considered a matter of provided services to its clients (not learners) are in general the business world people. Then a current Workplace Exercises scene shows up in the job market, under many ways and it can be introduce and argue about the goals validation those are often applied. These questions are the main body of The Workplace Exercise at USP Project. In this project the main commitment is with the applied knowledge and guidelines belonging to the Physical Education graduation, whose students are choosen in order to provide the sessions. In this part, there is a dissertation about how each Workplace Exercises session is conducted here in the São Paulo campus of USP: planning, analysing and discussing by all members of Workplace Exercises Group. Each session has its own aims, its own strategies and contents, which are explained very spe-cifically and with every little detail, justifying theirs choices and why they were added to the sessions.
Key words: Workplace exercise. Physical Education. Concepts.

73PROJETO GINÁSTICA LABORAL NA USP
INTRODUÇÃO
A temática sobre qualidade de vida no trabalho vem ganhando cada vez mais relevância nas organiza-ções, que vêm se preocupando em propiciar melhores condições ao trabalhador [3]. Nessa perspectiva, a Gi-nástica Laboral (GL) desponta como um serviço capaz de satisfazer parte dessa necessidade, através de exercí-cios voltados à promoção da saúde dos funcionários [8, 10]. Não obstante a adoção de estratégias envolvendo tal temática estar em ascensão, os programas desenvolvi-dos pelas empresas parecem estar abarcados sutilmente pela perspectiva filantrópica e, mormente, por aquela própria do capitalismo, haja vista as benesses contraídas também por elas, aderindo a tais programas.
Muito embora o mercado da GL esteja ainda em expansão, ela não é uma prática eminentemente con-temporânea, sendo os primeiros relatos de sua apli-cação datados do final da década de 1920 na Polônia, expandindo-se logo a outros países da Europa [21]. Po-rém, a vertente da GL que desembarcou no Brasil foi oriunda do Japão, em 1969 [16]. Hoje, a GL, em sua grande maioria, é amplamente difundida principal-mente como um meio profilático às LER/DORTs, para o quais são dedicados aproximadamente quinze minu-tos de exercícios compensatórios aos grupos musculares mais solicitados na função do trabalhador. Porém, ain-da existem algumas inconsistências relacionadas à GL, o que torna confusa a sua real compreensão. Também por essa falta de fundamentação, Maciel et alli [9] relaciona-ram os resultados da GL como sendo frutos do efeito Hawthorne, conforme interpretação de Elton George Mayo (1933), apud Macefield [7].
Distintamente, o Projeto Ginástica Laboral na USP, desenvolvido pelo CEPEUSP, se vale, hoje, de uma perspectiva mais holística do ser humano – viés biopsi-cossocial –, fundamentado em bases epistemológicas da Educação Física, tal qual Biomecânica dos Tecidos, Fi-siologia do Exercício, Aprendizagem Motora, Psicologia do Esporte, bem como de outros campos de conheci-mento, como Sociologia, Antropologia e Pedagogia.
GINÁSTICA LABORAL:
UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA
A preocupação com a saúde do trabalhador no seu ambiente laboral parece ter início bastante
pronunciado após a Revolução Industrial, pois, de uma maioria de trabalhadores artesãos que possuíam maior movimentação global do corpo no desempenho de suas funções, passou-se a predominar funcionários especializados em uma determinada função na linha de montagem das indústrias, o que reduziu considera-velmente a variabilidade de movimentos [16].
Porém, apesar de a Inglaterra ser a grande po-tência econômica após a Revolução Industrial [5] – o que sugeriria a existência de um maior número de fun-cionários trabalhando no setor industrial –, o primeiro registro de atividades físicas realizadas no ambiente de trabalho advém da Polônia, datando de 1925 [14]. Nesse período, também foi identificada a prática da Ginástica de Pausa, como era chamada, tanto em países geografi-camente próximos, como Alemanha e Holanda, quanto naqueles sem tanta proximidade, como Bulgária e Rús-sia [16]. Além disso, apenas três anos após o primeiro registro, a GL foi desenvolvida também no Japão [4].
Tal surgimento e expansão pode ser justificada pelo fato de a década de 1920 ser marcada pela rápida e ampla industrialização da Europa e do Japão, junta-mente com os EUA. No entanto, dois fatos curiosos podem ser apontados. Muito embora os EUA também tenham passado por esse processo de industrialização no mesmo período que os países da Europa e o Japão, nos quais surgiu a Ginástica Laboral, essa prática em solo americano só é datada de 1968 [21]. O segundo aspecto é que não se sabe se houve alguma ligação e influência entre as diferentes localidades que, aparen-temente, foram pioneiras nessa atividade – Polônia, Alemanha, Holanda, Bulgária e Rússia.
Embora exista relato sobre atividades físicas entre funcionários em 1901, a GL propriamente dita chegou ao Brasil, através de executivos japoneses que desem-barcaram no Rio de Janeiro, em 1969 [16]. Curiosa-mente, tal fato pareceu não exercer grande influência na forma como a GL é aplicada hoje no Brasil.
No Japão, a difusão da GL deve-se principal-mente à transmissão de uma gravação pela Rádio Tais-sô, que consiste em uma forma de ginástica rítmica, calistênica, com exercícios específicos e acompanha-dos por música própria. Realiza-se essa atividade todas as manhãs, não apenas em empresas ou ambientes de trabalho, mas também em ruas e residências, além de o programa ser acompanhado de palestras curtas rela-cionadas à saúde [16]. Cabe ainda acrescentar que, até meados da década de 1990, a Rádio Taissô encerrava

74 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
em si valores que transcendiam a prática física, onde todos os funcionários, indistintamente, realizavam a GL ao mesmo tempo, sendo considerado desrespeito-so aquele que não a fizesse.
Contraditoriamente no Brasil, não se observa o desenvolvimento da GL dessa mesma forma – ginástica rítmica matinal, realizada por todos os funcionários por intermédio de um programa de rádio, seguida de informações sobre saúde. A Ginástica Laboral, como é praticada hoje no Brasil, parece ter sido mais am-plamente influenciada pela experiência desenvolvida pela Federação de Estabelecimentos de Ensino Supe-rior em Novo Hamburgo (FEEVALE), Rio Grande do Sul, em parceria com o SESI [16]. Esse projeto tinha por objetivo elaborar exercícios baseados na análise biomecânica, para relaxar os músculos agonistas atra-vés da contração dos antagonistas, frente às exigências funcionais. Visava, ainda, a combater a tenossinovite, patologia de grande ocorrência entre digitadores [16]. De forma curiosa, tal modelo de intervenção é o mes-mo existente na Alemanha, Holanda e Polônia.
UM OLHAR CRÍTICO DA GL ATUAL
Nos últimos anos, com o crescente aumento do interesse por parte das empresas em investir em pro-gramas de qualidade de vida no trabalho, houve um incremento do número de profissionais oferecendo o serviço de GL [8].
O caráter incipiente desta prática profissional – muito embora não o seja, como visto anteriormente – pode ser exemplificado pela fundação relativamente recente de uma entidade específica, a Associação Bra-sileira de Ginástica Laboral, ocorrida em 2007 [2].
Talvez, por isso, existam várias definições para a o termo GL [8, 10, 13, 14,16]. Apesar disso, parece ser consenso que ela consiste na prática de exercícios no ambiente de trabalho – como o próprio nome sugere – e, ainda, a maioria dessas definições relaciona o exercí-cio da GL principalmente à profilaxia de LER/DORTs.
Na obra de Polito e Bergamaschi [17] são citados vários conceitos, de diferentes autores, para a defini-ção da GL. Nesse trabalho, alguns mencionam a práti-ca de exercícios com finalidade terapêutica e preventiva de LER/DORTs e do estresse; outros, complementam essa assertiva, relacionando-a com a normalização das capacidades funcionais; e outros ainda definem a GL
como uma pausa ativa do trabalho para a realização de exercícios de fortalecimento aos músculos antagonistas e de relaxamento àqueles agonistas na função laboral.
No entanto, nessa mesma obra de Polito e Berga-maschi [16] é citada uma conceituação da GL com outro viés, relatando que seu objetivo, através de exercícios e outras atividades, é estimular o autoconhecimento e, assim, ampliar a autoestima, melhorando as capacida-des intra e interpessoais. Complementando essa defi-nição, Mendes e Leite [13] acrescentam que a GL é uma atividade “que trabalha o cérebro, a mente, o corpo”.
A prevalência de conceitos com ênfase nas ações preventivas de LER/DORTs da GL acaba gerando certa confusão de qual profissional, o de Educação Física ou o de Fisioterapia, é habilitado para a sua aplicação. Mar-tins [10] alega que o campo da GL é destinado aos profis-sionais de Educação Física, cabendo aos fisioterapeutas a Cinesioterapia Laboral ou Fisioterapia do Trabalho. Porém, Spinelli e Sales [23] colocam que a Cinesiotera-pia Laboral, tal qual mencionado à GL, consiste em ati-vidades físicas realizadas no local de trabalho, sendo um programa de prevenção e compensação visando à saúde dos trabalhadores. Ainda, Souza e Júnior [22] colocam que a Cinesioterapia Laboral nada mais é que, tal qual a Ginástica de Pausa, outra terminologia para GL. Além disso, no que tange ao conteúdo das aulas, percebe-se a predominância de exercícios de alongamento ou massa-gem tanto nos relatos de GL quanto naqueles de Cine-sioterapia Laboral [11, 17, 22, 23].
Sob tal perspectiva, a GL pode ser classificada conforme horário e objetivo de execução [13]:
• GL preparatória: aquela ministrada no início do ex-pediente do turno (matinal, vespertino ou notur-no) com a finalidade de preparar o funcionário às atividades que serão desempenhadas no trabalho;
• GL compensatória: aquela ministrada no meio do expe-diente de trabalho – pausa ativa após três ou quatro horas do início do turno –, com o objetivo de impedir a instalação de vícios posturais, trabalhar a muscula-tura antagonista e relaxar a agonista à função laboral;
• GL relaxante: aquela ministrada no final do expe-diente, iniciada cerca de dez a quinze minutos an-tes do término do turno de trabalho;
• Ginástica corretiva: aquela ministrada tanto durante quanto fora do horário de expediente, e tem por ob-jetivo restabelecer o equilíbrio muscular e articular;
• GL de manutenção: aquela ministrada antes do início,

75PROJETO GINÁSTICA LABORAL NA USP
durante o horário de almoço ou no final do ex-pediente de trabalho, e objetiva o equilíbrio fisiomorfológico do indivíduo através de um pro-grama de condicionamento físico, realizado con-tinuamente durante trinta minutos ou de forma fracionada em duas a três sessões de dez, quinze ou vinte minutos.
A falta de consistência sobre a definição da GL, bem como da área profissional em que está contida, pode também ser potencializada pelas várias classi-ficações, gerando confusão quanto ao seu emprego. Por exemplo, Mendes e Leite [13] colocam que o ter-mo “GL compensatória” também é conhecido como “Ginástica de Pausa”, e é popular e academicamente empregado à GL como um todo, independente do ho-rário e do objetivo.
Além disso, sem uma fundamentação teórica consistente, os benefícios da GL podem ser confundi-dos como sendo resultantes do efeito Hawthorne, con-forme interpretação de Mayo, apud Macefield, ou seja, a melhora na motivação, na saúde e no desempenho do funcionário ocorre pelo sentimento positivo de maior atenção da gerência para com eles, e não como resulta-do das atividades desenvolvidas na GL per se [9].
Assim, muito embora a GL venha conquistando maior espaço entre os programas de qualidade de vida no trabalho em empresas, instituições e organizações, ainda não está muito bem consolidada quanto aos seus conceitos, mas principalmente quanto ao campo pro-fissional do qual faz parte. É preciso, dentre outras, maior fundamentação teórica para o desenvolvimento e o crescimento sadio e eficaz da Ginástica Laboral.
GINÁSTICA LABORAL NA USP
O Projeto de Ginástica Laboral foi elaborado por professores do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP) em 2003, com a finalidade de orientar os funcionários da USP sobre a importância da atividade física realizada no ambiente de trabalho e, cientes dos benefícios do exercício físico e de sua contribuição biopsicossocial, estimulá-los à mu-dança para um estilo de vida mais ativo [20].
Desde o seu o início até a atualidade, o pro-jeto já conseguiu atender 23 unidades de toda a USP que requereram, por meio de ofícios, o serviço ao
CEPEUSP. Hoje realizamos 27 atendimentos em se-ções distribuídas em oito unidades do campus, e exis-tem quatro unidades na lista de espera interessadas em aderir ao programa de Ginástica Laboral. Para a via-bilização do projeto, conta-se com a participação de graduandos da Escola de Educação Física e Esporte da USP, geralmente vinculados a alguma bolsa; até hoje, 24 alunos já passaram pelo projeto.
Atualmente, o Projeto de GL é vinculado e in-centivado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, como sendo um dos 900 pro-jetos do Programa , que são oferecidos aos alunos de graduação como bolsa de incentivo à permanência e formação estudantil na universidade.
Já foram frutos do Projeto de Ginástica La-boral trabalhos de cunho acadêmico, mormente re-lacionados aos seus efeitos benéficos nos aspectos biopsicossociais dos funcionários participantes das aulas. Trabalhos esses que valeram participação e apre-sentação em simpósios e congressos. O último deles foi desenvolvido pelos bolsistas Jaime Teles da Silva e Henrique Arthur Siqueira Pires, e teve por objeti-vo verificar o impacto agudo de diferentes estratégias de GL sobre a ansiedade. Concluíram que, de fato, estratégias de meditação sentada ou em movimento, e exercícios de alongamento são efetivos na redução aguda da ansiedade, e que a meditação em movimento parece resultar em uma maior redução.
Assim como quaisquer projetos implantados em instituições, ao longo desses oito anos de existên-cia, o Projeto de Ginástica Laboral do CEPEUSP pas-sou por um processo natural de desenvolvimento. Sob a orientação dos professores do CEPEUSP – coorde-nadores do projeto –, os bolsistas, de forma conjunta, são sempre instigados a discutir e trazer novas propos-tas, criando uma ambiente favorável tanto ao aprendi-zado dos bolsistas quanto às inovações nas aulas e, por conseguinte, no programa.
Conforme supracitado, entendemos a necessi-dade de um enfoque biopsicossocial à GL para propi-ciar uma intervenção mais holística, não considerando apenas os aspectos miotendíneos como norteadores das atividades desenvolvidas, mas também aqueles ar-ticulares, sensoriais, cognitivos, psicológicos e sociais.
Hoje a estrutura da aula, muito embora haja apenas quinze minutos, está dividida em três partes, as quais são realizadas aproximadamente entre qua-tro a cinco minutos cada. A primeira é reservada para

76 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
uma movimentação articular, geralmente envolvendo também exercícios de coordenação intersegmentar; a segunda é a parte principal visando a uma maior cons-ciência corporal, através de exercícios temáticos en-volvendo postura, força, ritmo, equilíbrio, e outros; e a última, abrange exercícios de relaxamento e alon-gamento, tanto dos grupos musculares mais utilizados na aula, quanto daqueles com maior demanda laboral.
A movimentação articular é importante para possibilitar o relaxamento de estresse da cartilagem articular, alcançado após aplicação de força compres-siva, proporcionada pela contração muscular – a pro-posta é “lubrificar” as articulações e aperfeiçoar sua funcionalidade. Atingir tal estado é importante para a manutenção salubre dessa estrutura no que diz res-peito às suas funções biomecânicas, especialmente a resposta à aplicação de carga. Sem essa preparação a cartilagem articular pode sofrer grande estresse e ter comprometimento funcional em longo prazo.
Além disso, devido à característica tecidual dos músculos esqueléticos, esses movimentos articulares iniciais tem por finalidade o aumento da temperatu-ra corporal, o qual favorece o relaxamento muscular frente à redução da rigidez natural do músculo [19]. Tal relaxamento inicial potencializa o alongamento e relaxamento posteriores. Ainda, ao exercitar-se, há uma redistribuição do fluxo sanguíneo para os mús-culos ativos, favorecendo a oferta de oxigênio e suas funções – o que acontece mesmo em exercícios relati-vamente leves [12].
É importante salientar que tanto o relaxamento de estresse quanto a redistribuição do fluxo sanguíneo são específicos, ou seja, alcançar-se-á o equilíbrio no relaxamento de estresse aquela cartilagem articular que for submetida à aplicação progressiva de carga compres-siva, e o fluxo sanguíneo será redirecionado apenas aos músculos cuja demanda metabólica está aumentada. As-sim, deve-se priorizar movimentos em articulações que serão majoritariamente utilizadas pelos funcionários.
O trabalho de coordenação envolve principal-mente o domínio cognitivo. A proposta é explorar a plasticidade neural no processo de aprendizagem de habilidades motoras, pois sabemos que através do aprendizado se é possível aumentar o número de si-napses, a densidade dendrítica e a área do mapa mo-tor, no córtex motor localizado no lobo frontal do cérebro [15]. A prática variada de habilidades favo-rece o desenvolvimento de um esquema motor mais
flexível, adaptável, de modo que facilite a execução de outros [24]. O benefício dessa melhor adaptabilida-de é percebido no engajamento em um programa de exercícios físicos, contribuindo com maior potencial de adesão e aprendizagem. Além disso, um córtex ce-rebral com maior densidade dendrítica, e, por con-seguinte, maior número de conexões nervosas, pode contribuir para uma melhor função cognitiva, haja vista a formação de diversificada circuitaria neural.
Os temas das atividades principais da aula têm como finalidade propiciar uma vivência motora di-ferenciada, desenvolver a propriocepção e promover uma maior consciência corporal nos alunos. Para isso, são propostos exercícios que exigem diferentes com-ponentes da aptidão física com força, flexibilidade, velocidade, tempo de reação, ritmo e equilíbrio [1].
Os exercícios de força realizados são principal-mente os dinâmicos, envolvendo tanto os grandes gru-pos musculares, geralmente multiarticulares, quanto os pequenos grupos musculares, em geral monoarti-culares. Haja vista o ambiente de trabalho e as vestes dos funcionários, geralmente são propostos exercícios passíveis de serem realizados nas posições em pé ou sentada. A sobrecarga é gerada pela tração de elásticos, levados pelos professores, ou pelo próprio peso cor-poral – o primeiro em geral para membros superiores, e o segundo principalmente para membros inferiores.
A velocidade e o tempo de reação em geral são realizados conjuntamente com o ritmo. Temas com Step e Aeroboxe envolvem movimentos ritmados e, algu-mas vezes, demandam maior velocidade de alguns dos membros – superiores ou inferiores –, além desta ser ditada pela própria temporalidade musical. Além disso, na realização da sequência dos movimentos, são apenas curtas dicas verbais que precedem a mudança dos mes-mos, exigindo menor tempo de reação para a pré-pro-gramação motora e realização do movimento seguinte.
Com a temática do Equilíbrio é possível chamar a atenção dos funcionários sobre os músculos atuan-do como estabilizadores, principalmente aqueles do tronco. Por conseguinte, através da instrução dire-cionando a atenção a determinados aspectos como o alinhamento da coluna (posição neutra), pode-se de-senvolver maior consciência postural – importante no dia a dia de qualquer pessoa.
A propriocepção é potencializada sempre que se direciona a atenção e se instiga o feedback aumentado intrínseco dos funcionários. Isso é feito geralmente

77PROJETO GINÁSTICA LABORAL NA USP
em atividades mais estáticas, como as de equilíbrio, mas também, e principalmente, nos exercícios de alongamento. Nesses exercícios, em geral, atenta-se para o seu propósito, ou seja, solicita-se que o funcio-nário tente perceber qual é o grupo muscular que está sendo alongado, de modo que possam entender a fi-nalidade daquele determinado movimento – evitando a realização do exercício com fim em si próprio.
O enfoque na questão da propriocepção e da significação das atividades desenvolvidas é importan-te para a aprendizagem dos exercícios por parte dos funcionários, principalmente no que tange ao desen-volvimento da autonomia dos mesmos para realizar tais movimentos em quaisquer períodos da jornada de trabalho, potencializando o efeito da GL.
Quanto aos exercícios de alongamento, eles são pensados tanto para os grupos musculares trabalhados nas etapas anteriores, quanto para aqueles mormente solicitados na função laboral do funcionário. São fei-tos alongamentos ativos estáticos e com duração entre vinte a trinta segundos cada exercício.
No domínio afetivo, dentro dessa abordagem, a proposta é estimular a capacidade motora percebi-da positiva, indo de encontro com aquela real. Através disso é possível desenvolver reflexos positivos na auto-confiança, na autoestima e no autoconceito do aluno [6]. Como forma de desenvolver e promover esta capa-cidade motora percebida positiva, são pensados exercí-cios com nível de complexidade progressivo, de modo que os alunos sempre consigam realizar ao menos parte das atividades – percebendo suas próprias capacidades –, ao mesmo tempo em que são estimulados a realizar movimentos com maior nível de dificuldade.
Ao serem propostos os níveis de complexidade dos exercícios, toma-se emprestada a lente da Antropologia para compreender a existência de certa heterogeneida-de entre os alunos e grupos de alunos, principalmente no que diz respeito ao background cultural concernente ao repertório motor, de modo que se possa contemplá-los adequadamente, além de disseminar conhecimentos, principalmente práticos, sobre o movimento humano.
Ainda em relação principalmente às habilidades e novos movimentos propostos aos alunos, sob uma ótica da psicologia do esporte, prioriza-se a criação de um ambiente em que se prevaleça um clima mo-tivacional de domínio, com o intuito de desenvolver uma motivação orientada à tarefa nos participantes – a qual possui efeitos mais positivos quando comparada
à motivação orientada ao ego – evitando qualquer tipo de comparação entre as pessoas e tentando direcionar a atenção ao próprio desempenho [18]. Para pessoas que estão aprendendo uma nova habilidade, a motiva-ção orientada à tarefa pode ser de grande importância para facilitar a percepção de competência [18].
Por fim, também são propostas atividades em duplas e em trios com a finalidade de promover maior interação social entre os funcionários, estimular a con-fiança e a amizade, propiciando que tais aspectos sau-dáveis à convivência possam ser transferidos ao próprio ambiente de trabalho. É importante salientar que tais atividades não são propostas objetivando primariamen-te a recreação ou descontração, mas sim os aspectos su-pracitados – tais outros podem ou não ser consequência.
Dessa forma, é possível diferenciar a GL de-senvolvida pelo CEPEUSP daquelas que predominam em demais programas. Além de objetivos claros para todas as atividades desenvolvidas em aula, ela está in-timamente relacionada ao campo de estudo da edu-cação física, preocupando-se com aspectos biológicos – respostas e adaptações biomecânicas, fisiológicas e neurofisiológicas ao exercício – e com aspectos psicos-sociais – motivação, aprendizagem, autoconhecimento e relacionamento interpessoal – conseguindo de fato realizar uma abordagem biopsicossocial.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição, 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koo-gan, 2007.
[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA LA-BORAL. A ABGL. Disponível em: <http://www.abgl.org.br/>. Acesso em: 14 ago. 2011.
[3] CAVASSINI, A. P.; CAVASSINI, E. B.; BIAZIN, C. C. Qualidade de vida no trabalho: fatores que in-fluenciam as organizações. In: XIII SIMPEP, 2006, Bauru. Anais... Bauru: UNESP, 2006.
[4] DEFANI, L. G.; FRANCISCO, A. C. Implantação do programa de ginástica laboral na prevenção dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. In: XIII SIMPEP, 2006, Bauru. Anais... Bauru: UNESP, 2006.
[5] DEZORDI, L. L. Fundamentos da Economia.

78 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008. 164 p.
[6] GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Desenvolvimen-to do Autoconceito na Infância. In: GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Compreendendo o desen-volvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 3. ed. São Paulo: Phorte, 2001. cap. 14, p. 327-344.
[7] MACEFIELD, R. Usability studies and Hawthorne Effect. Journal of Usability Studies. Bloomingdale, vol. 2, n. 3, p. 145-154, 2007.
[8] MACIEL, M. G. Mercado de trabalho em ginástica la-boral. Motriz, Rio Claro, v. 16, n. 1, p. 251-257, 2010.
[9] MACIEL, R. H. et al. Quem se Beneficia dos Progra-Quem se Beneficia dos Progra-mas de Ginástica Laboral? Caderno de Psicologia Social do Trabalho, São Paulo, v. 8, p. 71-86, 2005.
[10] MARTINS, C. O. Programa de promoção da saúde do trabalhador. 1. ed. Jundiaí: Fontoura, 2008.
[11] MARTINS, C. O.; DUARTE, M. F. S. Efeitos da gi-nástica laboral em servidores da Reitoria da UFSC. Revista Brasileira de Ciência e Movimento. Brasí-lia, v. 8, n. 4, p. 7-13, 2000.
[12] McARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: nutrição, energia e desem-penho humano. Tradução: Giuseppe Taranto. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 1.099 p.
[13] MENDES, R. A.; LEITE, N. Ginástica laboral: prin-cípios e aplicações práticas. Barueri: Manole, 2004.
[14] OLIVEIRA, J. R. G. A importância da ginástica la-boral na prevenção de doenças ocupacionais. Revista de Educação Física, Rio de Janeiro, n. 139, p. 40-49, dez. 2007.
[15] PLOWMAN, E. K.; KLEIM, J. A. Motor cortex reor-ganization across the lifespan. Journal of Communica-tion Disorders, [S. l.], v. 43, n. 4, p. 286-294, 2010.
[16] POLITO, E.; BERGAMASCHI, E. C. Ginástica labo-ral: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2003.
[17] RAMIREZ, H. Z. et al. Atuação da fisioterapia pre-ventiva, por meio da implantação da cinesioterapia laboral e da intervenção ergonômica, no setor de fe-chamento (costura) em indústria de colchões. Revis-ta do Instituto de Ciência da Saúde, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 93-8, 2005.
[18] ROBERTS, G. C.; TREASURE, D. C.; CONROY, D. E. Understanding the dynamics of motivation in sport and physical activity: an achievement goal interpretation. In: Tenenbaum, G.; Eklund, R. C. Handbook of Sport Psychology. 3. ed. Canadá: John Wiley & Sons Inc., 2007. 938 p.
[19] ROBERTSON, V. J.; WARD, A. R.; JUNG, P. The effect of the heat on tissue extensibility: a compari-son of deep and superficial heating. Archives of Phy-sical Medicine and Rehabilitation. [S. l.], v. 86, n. 4, p. 819-825, 2005.
[20] SAKAI, P.; KLAUSENER, C. Ginástica Laboral: ma-nual de orientação. São Paulo: CEPEUSP, 2005. 40 p.
[21] SAMPAIO, A. A.; OLIVEIRA, J. R. G. A ginástica laboral na promoção da saúde e melhoria da qualida-de de vida no trabalho. Caderno de Educação Físi-ca. Marechal Cândido Rondon, v. 7, n. 13, p. 71-79, 2. sem. 2008.
[22] SOUZA, I.; JÚNIOR, R. V. Ginástica laboral: con-tribuições para a saúde e qualidade de vida de tra-balhadores da indústria de construção e montagem – Case TECHINT S.A. Revista Digital, Buenos Ai-res, n. 77, out. 2004. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd77/laboral.htm>. Acesso em: 14 ago. 2011.
[23] SPINELLI, J. L. M.; SALES, M. P. Efeitos da cine-sioterapia laboral compensatória nas lombalgias de operadoras de checkout. 2006. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Fisioterapia) – Centro de Ci-ências Biológicas e da Saúde, Universidade da Ama-zônia, Belém, 2006.
[24] TEIXEIRA, L. A. Variabilidade de prática e a pro-dução de novos movimentos: um teste à teoria de esquema. 1988. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 1988. Não paginado.



81PRÁTICA E ENSINO DE CANOAGEM: UMA MODALIDADE ALTERNATIVA E PROMISSORA
RESUMO
Diante da importância do treinamento físico para a saúde, a canoagem surge como uma estratégia diferente para despertar o interesse de crianças e adolescentes. Apresentamos aqui um trabalho de extensão universitária que implantou e desenvolveu um programa de canoagem, incluindo o caia-que pólo, no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, para atender não apenas os jovens da própria universidade, mas também da comunidade externa. A adesão dos alunos aos cursos foi alta. Além disso, desenvolvemos duas importantes ferramentas teóricas durante esse projeto: as tabelas de periodização de treinos e uma apostila sobre caiaque pólo. Ambas serviram como elementos facilitadores na gestão das aulas e poderão ser utilizadas por outros profissionais da área. A canoagem é uma modalidade esportiva que apresenta potencial de crescimento no Bra-sil. Portanto, trabalhos de extensão como esse são essenciais para o seu desenvolvimento no país.
Palavras-chave: Canoagem. Exercício físico. Saúde.
ABSTRACT
Given the importance of physical training for health, canoeing emerges as a different strategy to attract the interest of children and adolescents. Here, we present a research on the nature of culture and extension activities that has introduced and developed a program of canoeing, in-cluding the canoe pole, at Center of Sports Practice of University of São Paulo to meet university students and external community. The adherence of subjects on courses was high. Additionally, we developed two important academic tools during this project: tables of training periodization and a manuscript about the canoe polo. Both served in the management of classes and can be used by other professionals. Canoeing is a sport that has growth potential in Brazil. Thus, ex-tension works, such as this work, are essential for their development in the country.
Key words: Canoeing. Physical exercise. Health.
PRÁTICA E ENSINO DE CANOAGEM: UMA MODALIDADE
ALTERNATIVA E PROMISSORA
PRACTICE AND TEACHING OF CANOEING: AN ALTERNATIVE
AND PROMISING MODALITY
*Christiano Robles Rodrigues Alves, **Christian Klausener, ***Eduardo Fonseca do Nascimento, ****Maria Tereza Silveira Böhme
* Bacharelando em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP), aluno de iniciação científica do Laboratório de Nutrição e Metabolismo Aplicado à Atividade Motora da EEFE-USP – Av. Prof. Mello Moraes, 65 – 05508-030 – São Paulo - SP – e-mail: [email protected]. ** Professor de Canoagem do Centro de Práticas Es-portivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP). *** Bacharel em Educação Física pela EEFE-USP. **** Doutora em Ciências do Esporte, livre docente em Treinamento Esportivo pela USP e professora titular do Departamento de Esporte da EEFE-USP.

82 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
INTRODUÇÃO
A literatura tem demonstrado constantemente que a prática regular de exercícios físicos é capaz de causar benéficas adaptações morfológicas [5; 6], he-modinâmicas [10] e cognitivas [7, 3] no organismo humano, podendo até mesmo atenuar uma série de doenças crônico-degenerativas – por exemplo, dia-betes e hipertensão arterial – e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida [12]. Corroborando com esses dados, a carência de atividade física é uma das principais causas do alarmante aumento da obe-sidade mundial, inclusive em crianças e adolescentes [11]. Além disso, o treinamento físico é considerado um componente fundamental para o desenvolvimento motor, social e cognitivo de crianças [4].
Diante do exposto, é notável o amplo surgi-mento de grupos de treinamento físico e de programas educacionais que objetivam conscientizar a população da importância do treinamento físico para a saúde. Contudo, tais grupos e programas parecem não atin-gir os mais jovens, sendo a falta de motivação para realizar exercícios um dos relatos comumente obser-vados. Para tanto, fazem-se necessárias estratégias que despertem o interesse de crianças e adolescentes pelo treinamento físico e, de preferência, realizado em contato com a natureza.
No que diz respeito à mesmice das academias ou grupos de corridas, a canoagem surge como uma mo-dalidade alternativa, uma vez que sua prática propor-ciona estímulos para melhorar todos os componentes físicos que são considerados pelo American College of Me-dicine and Science in Sports [1] essenciais para a saúde, tais como capacidade cardiorrespiratória, força e resistên-cia muscular, flexibilidade e a composição corporal. Adicionalmente, essa modalidade pode ser interes-sante para abordar diferentes públicos e gostos, visto que oferece uma variedade de atividades que abrangem desde a canoagem em águas calmas, onde barcos que exigem muita concentração e equilíbrio são utilizados, até o caiaque pólo, que apresenta muitas manobras e competição entre equipes.
A respeito do caiaque pólo, é uma atividade atrativa com bola que surgiu há mais de 35 anos na Inglaterra e foi difundida pelo continente europeu, além de outros países pelo mundo [2]. Segundo a In-ternational Canoe Federation [8], uma partida oficial é dis-putada entre duas equipes de cinco jogadores em uma
quadra na água durante dois tempos de dez minutos. O objetivo é arremessar a bola dentro do gol adversá-rio que fica suspenso a 2 metros de altura da água. No Brasil ele ainda foi pouco disseminado e, portanto, apresenta grande potencial de crescimento.
Considerando todos os dados acima descritos, o objetivo desse trabalho de extensão universitária foi implantar e desenvolver um programa de canoagem, in-cluindo o caiaque pólo, na Raia Olímpica do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CE-PEUSP) para atender não apenas os jovens da própria universidade, mas também da comunidade externa.
MATERIAIS E MÉTODOS
LOCAL, EQUIPE PEDAGÓGICA, DURAÇÃO E
ESTRUTURA DOS CURSOS
O estudo foi integralmente conduzido nas de-pendências da Raia Olímpica do CEPEUSP entre os anos de 2008 e 2010. A equipe pedagógica foi com-posta por um coordenador docente da Escola de Edu-cação Física e Esporte, um professor e técnico em canoagem do CEPEUSP e por dois estagiários, sendo esses últimos graduandos em bacharelado em Educa-ção Física pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP) e bolsistas do programa Aprender com Cultura e Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP durante o período de estágio.
No decorrer desse estudo foram realizados 14 cursos de canoagem, sendo seis de iniciação em caia-que pólo para alunos com mais de 16 anos de idade (in-cluindo universitários), seis de iniciação em canoagem para crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos de idade e dois de aperfeiçoamento em canoagem para crian-ças e adolescentes entre 8 e 16 anos de idade. Foram realizados cursos semestrais com duas aulas semanais de uma hora cada e cursos intensivos durante as fé-rias escolares de verão (janeiro) e de inverno (julho) com quatro aulas semanais de uma hora e meia cada. A “Figura 1” (ver Anexo) demonstra a distribuição dos cursos durante esse período de três anos.
As primeiras aulas de cada curso foram teó-ricas, ministradas com auxílio de vídeos e imagens e compostas pela apresentação do histórico, das di-ferentes modalidades e da atual prática de canoagem no mundo. Apresentamos o local e os materiais – por

83PRÁTICA E ENSINO DE CANOAGEM: UMA MODALIDADE ALTERNATIVA E PROMISSORA
exemplo, caiaques, remos e coletes – para cada turma, ressaltando os cuidados necessários para a utilização desses e, antes de qualquer aula prática na raia, foram realizados testes de natação (nadar 100 metros sem parar) para avaliar se os alunos de fato conseguiam nadar, sendo tal habilidade pré-requisito para realizar qualquer um dos cursos. Posteriormente, ocorreram as diversas aulas práticas de cada curso específico com os mais diversos objetivos como, por exemplo, desen-volver equilíbrio nos caiaques e adquirir novas técni-cas de manobras e controle de embarcações.
IMPLANTAÇÃO DO CAIAQUE PÓLO NA RAIA OLÍMPICA
A fim de viabilizar parte da aplicação do proje-to, realizamos uma parceria com a seleção paulista de caiaque pólo. Com o auxílio dos funcionários do CE-PEUSP, construímos na Raia Olímpica uma quadra de caiaque pólo com medidas oficiais que passou a ser utilizada para os treinamentos da seleção paulista dessa modalidade. Em contrapartida, os atletas auxiliaram nesses cursos, transmitindo para o professor e os es-tagiários os conhecimentos técnico-táticos específicos da modalidade. Além disso, no período que antecedia o Campeonato Mundial de Caiaque Pólo de 2010, que ocorreu em Milão, na Itália, a seleção brasileira passou uma semana treinando na Raia Olímpica, permitindo que nossa equipe observasse e filmasse tais treinos para posterior análise das técnicas e táticas do jogo.
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS TEÓRICOS
Tendo em vista a escassez de material didático, foi necessário planejar mais amplamente as aulas, além de sintetizar todo o conhecimento adquirido para o aprimoramento dos próximos cursos. Portanto, para o planejamento e periodização das aulas, utilizamos pla-nilhas desenvolvidas pela própria equipe com auxílio de um programa de planilha eletrônica. Além disso, diante da escassez de materiais teóricos sobre caiaque pólo no Brasil, elaboramos uma apostila contendo desde o histórico e as regras básicas de uma partida até a aplicação de treinamentos para os alunos e atletas.
RESULTADOS
Os dados quantitativos dos cursos práticos minis-trados durante os três anos estão expressos na “Tabela 1” (ver Anexo). A aderência dos alunos a cada curso foi
alta e, mesmo que um número limite de inscrições não tenha sido divulgado, em alguns cursos de iniciação fica-mos perto de um limite de alunos (~10) que permitisse ao professor ministrar a aula com qualidade e segurança. A “Figura 2” (Ver Anexo) demonstra os alunos dos cur-sos de férias de verão.
A quadra de caiaque pólo construída na Raia Olímpica e utilizada nos treinos da seleção paulista de caiaque pólo, bem como nas aulas de iniciação à mo-dalidade, está ilustrada na “Figura 3” (ver Anexo).
A apostila sobre caiaque pólo construída pelo nosso grupo pode ser acessada através da página ele-trônica do CEPEUSP, <www.cepe.usp.br>.
DISCUSSÃO
O objetivo desse trabalho de extensão univer-sitária foi desenvolver um programa de canoagem na Raia Olímpica do CEPEUSP para motivar jovens a praticarem exercícios físicos regularmente. Buscando mais do que as aulas de canoagem já oferecidas regu-larmente pelo CEPEUSP para alunos da USP, o pro-pósito do nosso programa foi atingir também jovens da comunidade externa à USP, além de implantar uma atividade nova no local, o caiaque pólo.
A canoagem é uma modalidade muito antiga, a qual diversos países apresentam uma tradição em sua prática. Entretanto, importantes fatores contribuem para isso como, por exemplo, infraestrutura adequa-da, apoio das autoridades e trabalhos de extensão da modalidade [9]. De acordo com Nascimento (2010), essas atitudes ajudam a criar prestígio, melhorar a qua-lidade do esporte e a consciência dos praticantes. Aqui no Brasil não vemos essa tradição, provavelmente pela ausência dos fatores citados acima. Contudo, ao utilizar o espaço da Raia Olímpica da USP, como a “infraes-trutura adequada”, o programa Aprender com Cultu-ra e Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP como “apoio das autoridades” e o oferecimento de cursos à comunidade como “trabalhos de extensão da modalidade”, obtivemos uma grande procura e adesão de alunos. Isso sugere que esses pilares necessitam de fortalecimento para que a modalidade de fato consiga ser desenvolvida. Embora o nosso progra-ma tenha apresentado ímpeto para tal, ainda estamos muito longe da massificação da canoagem no país.
Embora não avaliado por nosso grupo, é possível

84 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
especular também que os cursos conduzidos nesse tra-balho tenham contribuído significativamente para o desenvolvimento de domínios físicos, motores e sociais. Além disso, as aulas serviam como estratégia importan-te na formação de um cidadão devido à necessidade de cuidar dos materiais, de cooperar com os outros alunos e, principalmente, pelo contato e respeito à natureza.
Além das aulas práticas, ocorreram duas impor-tantes produções teóricas durante o desenvolvimento desse projeto, sendo elas as tabelas de periodização e a apostila sobre caiaque pólo. Ambas serviram como ele-mentos facilitadores na gestão das aulas. No entanto, o mais interessante é que esse material pode ser utilizado novamente por outros profissionais da área, facilitan-do a aplicação de futuras aulas e/ou treinamentos.
Como limitação, nosso trabalho não foi capaz de se expandir a ponto de permitir que os alunos continuas-sem livremente a prática. Ou seja, embora tenhamos es-trutura física e potencial para tal, maiores divulgações da modalidade e investimento em materiais e profissionais seriam necessários. É necessário extrapolar o programa para ambientes externos à universidade – por exemplo, lagos ou represas. Entretanto, é inegável que isso de-manda processos burocráticos e de segurança maiores do que os enfrentados pelo nosso grupo.
Em suma, a canoagem, incluindo o caiaque pólo, é uma modalidade esportiva que apresenta gran-de potencial de crescimento no Brasil. Portanto, tra-balhos de extensão como esse são essenciais para o seu desenvolvimento e firmamento no país. Além disso, elaborar diferentes materiais teóricos é fundamental para que futuras intervenções práticas possam se basear e usufruir de experiências prévias.
CONCLUSÃO
Considerando os diversos benefícios do treina-mento físico e baseados na necessidade de motivação para sua prática, acreditamos que nosso programa te-nha sido efetivo ao servir como possibilidade de es-porte alternativo dentro da cidade de São Paulo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. ACSM´s guidelines for exercise testing and pre-scription. 8. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009.
[2] BEASLEY, I. Canoe polo: basic skills and tactics. 3. ed. Camberwell, Victoria: Stern Turn Publishing, 2008.
[3] CASSILHAS, R. C. et al. The impact of resistance exercise on the cognitive function of the elderly. Medicine & Science in Sports & Exercise, v. 39, n. 8, p.1401–1407, 2007.
[4] GALLAHUE, D. L.; DONNELY, F. C. Educação Física desenvolvimentista para todas as crianças. 4. ed. São Paulo: Phorte, 2008.
[5] GUADALUPE-GRAU, A. et al. Exercise and Bone Mass in Adults. Sports Medicine, v. 39, n. 6, p. 439-468, 2009.
[6] HAKKINEN, K. et al. Neuromuscular adaptations during concurrent strength and endurance training versus strength training. European Journal of Ap-plied Physiology, v. 89, n. 1, p. 42–52, 2003.
[7] HILLMAN, C. H.; ERICKSON, K. I.; KRAMER, A. F. Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nature Reviews Neuros-cience, v. 9, n. 1, p. 58-65, 2008.
[8] INTERNATIONAL CANOE FEDERATION. Ca-noe Polo Competition Rules. Lausanne: ICF, 2011. Disponível em: <www.canoeicf.com>. Acesso em: 15 mai. 2011.
[9] NASCIMENTO, E. F. Formação de professores e educação ambiental nas práticas de atividades fí-sicas de aventura na natureza. 2010. 27p. Mono-grafia (Bacharelado em Educação Física) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Pau-lo, São Paulo, 2010.
[10] NEGRÃO, C. E.; BARRETO, A. C. P. Cardiologia do exercício: do atleta ao cardiopata. 3. ed. Barueri: Manole, 2010.
[11] STYNE, D. M. Obesity in childhood: what’s activity got to do with it? The American Journal of Clinical Nutrition, v. 81, n. 2, p. 337-338, 2005.
[12] VAISBERG, M.; ROSA, L. F. B. P. C.; MELLO, M. T. O exercício como terapia na prática médica. 1. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2005.

85PRÁTICA E ENSINO DE CANOAGEM: UMA MODALIDADE ALTERNATIVA E PROMISSORA
AGRADECIMENTOS
A todos os alunos e amigos que contribuíram ou contribuem para o desenvolvimento da canoagem na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo.

86 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
ANEXO
TABELA 1
CURSOSN. DE ALUNOS MATRICULADOS
N. DE DESISTÊNCIAS
N. DE AULAS MINISTRADAS
Iniciação em CP (n = 6) 49,0 7,0 88,0
Média para cada curso de CP 8,1 ± 2,5 1,6 ± 0,9 14,6 ± 6,2
Iniciação em canoagem (n = 6) 34,0 5,0 96,0
Média para cada curso de canoagem 5,6 ± 1,8 0,8 ± 0,9 16,0 ± 7,5
Aperfeiçoamento (n = 2) 6,0 0,0 48,0
Média para cada curso de aperfeiçoamento 3,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 24,0 ± 0,0
Total (n = 14) 89,0 12,0 232,0
Média total por curso 6,3 ± 2,7 0,7 ± 0,9 16,5 ± 7,1
Dados quantitativos dos cursos. Dados das médias expressos em média ± desvio padrão. CP = caiaque pólo
FIGURA 1
Linha do tempo dos cursos oferecidos

87PRÁTICA E ENSINO DE CANOAGEM: UMA MODALIDADE ALTERNATIVA E PROMISSORA
FIGURA 2
Alunos dos cursos de férias de verão

88 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
FIGURA 3
Quadra de caiaque pólo na Raia Olímpica



91APRENDIZAGEM PARTICIPATIVA DE MÃES E FAMILIARES SOBRE A SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO
RESUMO
A educação em saúde é aspecto fundamental no processo saúde-doença, contribuindo na pre-venção e reabilitação. O papel de educador na saúde geralmente cabe ao profissional de Enfer-magem. Essa prática tem se dado, não raro, de forma tradicional, pela simples transmissão de conteúdos. Uma nova vertente da educação em saúde busca a autonomia dos sujeitos, utilizando metodologias ativas de aprendizagem e práticas participativas. Este trabalho relata a vivência de grupo formado com o intuito de potencializar a emancipação das famílias nos cuidados aos recém-nascidos, prematuros ou não, e construir o conhecimento através de colaboração e par-ticipação. As atividades educativas em grupo foram realizadas em dois hospitais de Ribeirão Preto, conduzidos por alunos de graduação e pós-graduação em Enfermagem sob orientação do pesquisador. As estratégias utilizadas nos grupos foram: jogos de tabuleiro e de cartas, cartilha e distribuição de figuras para discussão. Conclui-se, após participação dos envolvidos, que as ati-vidades de educação em saúde contribuíram com o processo de construção e integração do saber de familiares e equipe de saúde neonatal e para a construção de uma assistência mais integral e humanizada, auxiliando na busca da emancipação das famílias dos bebês.
Palavras-chave: Enfermagem neonatal. Educação em saúde. Família.
APRENDIZAGEM PARTICIPATIVA DE MÃES
E FAMILIARES SOBRE A SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
PARTICIPATIVE LEARNING OF MOTHERS AND FAMILY ABOUT
NEWBORN HEALTH: EXPERIENCE REPORT
*Luciana Mara Monti Fonseca, **Natália Del’Angelo, ***Fernanda Salim Ferreira de Castro, ****Carmen Gracinda Silvan Scochi
* Professora doutora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) – R. Doutor Hortêncio Mendonça Ribeiro, 1.265. – 14026-090 – Jd. Califór-nia – Ribeirão Preto - SP – e-mail: [email protected]. ** Enfermeira e mestranda do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP-USP. *** Enfermeira e mestranda do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP-USP. **** Professora titular do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP-USP – e-mail: [email protected].

92 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
ABSTRACT
The health education is a crucial issue in health-disease process, contributing in prevention and rehab. The educator role in health usually behooves to nursing professional. This practice has been occurred in a traditional way, simply through content transmission. There is a new health education side that aims people’ autonomy and participative practices. This study report the experiences of a group formed to potentiate family’s emancipation in newborn care, preterm or not, and to build knowledge through collaboration and participation. Educative activities were realized in two hospitals of Ribeirão Preto, conducted by undergraduate and graduate students in nursing under supervisor orientation. The strategies used on groups were: board games, card game, educational guideline and distribution of pictures to discussion. After participation of involved people, it can be concluded that the educational activities contributed with build and integration process of know-how by families and neonatal health team, and for a more integral and humanized assistance helping to emancipate babies’ families.
Key words: Neonatal nursing. Health education. Family.

93APRENDIZAGEM PARTICIPATIVA DE MÃES E FAMILIARES SOBRE A SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO
INTRODUÇÃO
A educação em saúde constitui aspecto funda-mental no processo saúde-doença, atuando, sobretu-do, na prevenção e reabilitação. Ela tem sido alvo de reflexão e busca de aperfeiçoamento no que tange à construção do conhecimento; acredita-se na mudança de ótica pela qual se analisa tal educação, avançando da simples transmissão de informações para a troca de experiências e saberes. Assim, confere melhores práti-cas educacionais aos profissionais de saúde que lidam diariamente com clientes destes serviços.
Toledo, Rodrigues e Chiesa [11] verificaram, em um trabalho de revisão de literatura, que a edu-cação em saúde geralmente é atribuída ao profissional de enfermagem e tem sido realizada por simples trans-missão de conteúdos. Tal forma de educação, denomi-nada tradicional e criticada por Freire [6] pelo caráter unilateral de depósito de conhecimentos no aprendiz sem oportunidade de troca e compartilhamento de ex-periências, persiste na estrutura de muitas equipes de saúde, devido a uma formação majoritariamente bio-logicista e construída na hierarquia do saber.
Em contraposição aos estudos que descrevem a educação realizada de forma tradicional, Pereira [10] afirma que educação em saúde consiste em mais que transmissão de informações; constitui-se de uma com-binação de oportunidades que favorecem para a ma-nutenção e promoção da saúde, ao utilizar práticas educativas que buscam a autonomia dos sujeitos na con-dução de sua própria vida. Essa afirmação corrobora com a elaboração de metodologias ativas de aprendiza-gem que, por dispor de recursos dinâmicos e valorizar a colaboração entre indivíduos, promove a educação em saúde de forma participativa, a partir do pressupos-to que o profissional de saúde aprende também com o usuário do serviço enquanto compartilha com ele seus conhecimentos acerca dos temas abordados.
Machado et alli [8] ressaltam a importância de se estabelecer estratégias de aprendizagem que favoreçam o diálogo, a troca e a transdisciplinaridade entre saberes formais e informais, envolvendo diversos profissionais e o cliente. Em concordância com os autores, destaca-mos que, desta forma, é estabelecido um alicerce eficaz na busca da concretização da integralidade em saúde.
Portanto, é de fundamental importância a per-cepção das metodologias ativas de aprendizagem pe-los profissionais de saúde, considerando que estes são
membros ativos na orientação e educação em saúde de seus pacientes e que necessitam de aprimoramento nesta relação educativa, com o intuito de torná-la mais significativa, dinâmica e eficaz.
Um estudo realizado em 2005 com grupos de pacientes em educação em saúde alimentar aponta a deficiência de adesão dos pacientes em muitas orien-tações oferecidas no dia a dia, dada a superficialidade da comunicação entre profissionais da saúde e usuá-rios do serviço de saúde, geralmente identificada na assistência, segundo Mafficiolli [9].
A realização de atividades em grupo permi-te maior interação entre os membros participantes, confrontando e aproximando suas realidades e per-mitindo a troca de experiências. Mafficiolli [9] ain-da afirma que este recurso favoreceu os profissionais participantes em seu estudo, permitindo ampliar o olhar no que tange ao cotidiano dos pacientes. Isto se faz fundamental para a qualidade da assistência e da educação em saúde, uma vez que motiva o profissional a refletir sobre as mais diversas situações que influen-ciam e permeiam a execução de tarefas requeridas na prevenção em saúde.
É conhecido que a educação em saúde tem po-tencial para promover autonomia da família do re-cém-nascido, visando à alta hospitalar. A atuação dos profissionais junto ao preparo dos pais e familiares do bebê para que estes assumam os cuidados de seu filho recém-nascido no contexto familiar é crucial, uma vez que, através da educação em saúde, é conferido aos pais empoderamento do saber cuidar de seu bebê.
Espera-se que estas atividades de educação em saúde auxiliem na autonomia e emancipação de fa-miliares para o cuidado hospitalar e domiciliar dos bebês, vislumbrando o cuidado centrado na família, integral e humanizado a esta clientela.
OBJETIVO
• Descrever o desenvolvimento de atividades educa-tivas junto às famílias sobre os cuidados ao recém-nascidos a termo e pré-termo.

94 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM
SAÚDE JUNTO À CLIENTELA
As atividades de educação em saúde foram realiza-das por quatro estudantes de graduação em Enfermagem e dois pós-graduandos do Programa de Pós-Graduação Enfermagem em Saúde Pública da Escola de Enferma-gem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP), com grupos de puérperas, gestantes e suas famílias, em dois hospitais de Ribeirão Preto-SP, o Centro Estadual de Referência à Saúde da Mulher (Mater) e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-dicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP).
Estas atividades educativas estão vinculadas ao projeto de extensão universitária O cuidado ao bebê pre-maturo: utilização de metodologias ativas e objeto de aprendizagem na educação em saúde da família na unidade neonatal. A proposta da extensão consiste em oferecer às famílias de bebês prematuros uma forma de orientação mais inclusiva do ponto de vista da participação dos pais e familia-res, com características didáticas baseadas no lúdico, no uso de materiais de ensino, como jogos educativos e na cartilha Cuidados com o bebê prematuro: orientações para a família, de Fonseca e Scochi [4], que utiliza figuras coloridas, linguagem adequada, fácil entendimento e que a família pode levar para consulta em casa. Além do estímulo à participação, o projeto tem o intuito de auxiliar as famílias no processo de empoderamento e autonomia do cuidado de seu bebê.
Foram realizadas ações de educação em saúde lú-dico-pedagógicas semanais junto aos familiares de bebês prematuros e de risco assistidos no HCFMRP-USP, tan-to no alojamento conjunto neonatal como nas unidades de cuidados intensivos e intermediários neonatais. Na Mater, os encontros ocorreram na sala de cursos do am-bulatório, com as puérperas que aguardavam a alta hos-pitalar após avaliações clínicas do binômio pela equipe de saúde, e com gestantes, mães e familiares que se fa-ziam presentes na unidade para acompanhamento pré-natal. Inicialmente, o projeto foi pensado apenas para a família do bebê pré-termo. Porém, por solicitação da equipe de saúde dos hospitais e da própria clientela, e entendendo que as discussões não englobam apenas as especificidades do nascimento prematuro, mas que as famílias expressavam suas dúvidas, muitas vezes sobre os cuidados simples do cotidiano, as atividades foram ex-pandidas para as famílias dos bebês a termo.
É importante relatar que houve diminuta par-ticipação de familiares como pai, avó e avô e tios nos encontros de ambos os cenários de desenvolvimento do projeto de extensão. A presença das mães foi mais expressiva devido à relação mais próxima entre mãe e bebê nos processos conjuntos de cuidar e amamen-tar e pelo papel comumente assumido pela mulher em relação ao seu filho. Muitos familiares expressaram o desejo de participação nas atividades educacionais propostas, mas estavam trabalhando nestes períodos.
A mulher é considerada a principal responsável pelo cuidado da família, sendo ela, na maioria das ve-zes, a cuidadora cotidiana dos filhos. A criança, após o nascimento, é totalmente dependente; embora possua todas as potencialidades para sobreviver, precisa de cui-dados que não pode prestar a si mesma, sendo geral-mente a mãe a cuidadora, segundo Zanatta e Motta [13].
Optamos por não realizar as atividades educativas em horário próximo ao de visita devido à ansiedade das mulheres que aguardavam seus familiares e consequen-te comprometimento na participação nas atividades.
Com o objetivo de aperfeiçoar a estratégia de intervenção, foram realizados previamente, e durante as atividades, estudos teóricos sobre a temática educa-ção em saúde, autonomia dos usuários dos serviços de saúde, metodologias ativas e desenvolvimento e uso de materiais educacionais.
Os materiais de ensino utilizados variaram a cada encontro, sendo mais utilizados os jogos de ta-buleiro, jogo de cartas, cartilha, figuras de situações do cotidiano para discussão e folders. No início das reuniões era sempre realizada a apresentação dos par-ticipantes, com dinâmicas e, ao final das atividades, eram distribuídos exemplares da cartilha educativa.
O uso e posterior distribuição da cartilha edu-cativa são justificados pela necessidade, relatada pelas famílias no contato em serviços de saúde, de ter um material em mãos que pudessem ler mais calmamente e quando a dúvida surgisse em casa.
Acreditamos que as dinâmicas ativas, auxiliadas pelo uso dos materiais de ensino acima citados, favo-receram a interação entre as participantes que foram pró-ativas nas discussões, uma vez que as atividades permearam a troca de experiências e manifestação de dúvidas, crenças e preocupações. Os jogos de tabuleiro foram desenvolvidos por Fonseca e Scochi [2] e se inti-tulam Mamãe e o bebê e Mamãe e o pequeno bebê, voltados para recém-nascidos a termo e pré-termo, respectivamente.

95APRENDIZAGEM PARTICIPATIVA DE MÃES E FAMILIARES SOBRE A SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO
Para a sua execução, os participantes eram divididos em grupos, identificados com crachás coloridos preparados manualmente, e eram explicadas as regras da atividade, destacando que não se tratava de uma aula tradicional e que a participação de todos era muito importante, de modo que qualquer dúvida ou opinião deveria ser ma-nifestada para uma maior troca de experiências.
O jogo de cartas foi criado pelas estudantes de graduação especificamente para as atividades de educação em saúde, contendo figuras que eram dis-tribuídas para fomentar as discussões da roda, como disparador. As figuras foram extraídas da própria car-tilha, de modo que a mãe, ao ler a cartilha posterior-mente, pudesse associar a figura já manuseada com o conhecimento construído no grupo.
Além disso, foram distribuídos folders de orientação sobre o cuidado do bebê, sua saúde e hos-pitalização nas atividades no HCFMRP. O público, em roda, era estimulado à discussão e ao esclarecimento de questões relevantes à saúde da criança.
As atividades educativas embasadas nas me-todologias ativas permitiram a participação ativa dos envolvidos, contribuindo muito com as discussões e construção dos seus próprios conhecimentos. De di-ferentes formas, cada participante cooperou com as discussões, afirmando temas com base em crenças e in-formações anteriormente obtidas, relatando experiên-cias prévias, suas dúvidas, que desconhecia informações ou que nunca havia refletido sobre o assunto antes.
As metodologias ativas estão alicerçadas em um princípio teórico significativo: a autonomia, segundo Freire [7]. A busca da autonomia pode ser potenciali-zada pela interação com o outro.
A interação entre os envolvidos foi estimulada não somente pelos estudantes, mas também pelos pró-prios participantes, de modo que a troca de experiên-cias e as respostas às dúvidas saíram dos seus pares; os estudantes interferiram apenas nas colocações que re-presentariam riscos à saúde das crianças.
As principais demandas de discussão permea-ram conteúdos referentes aos cuidados do cotidiano: banho e higiene do recém-nascido; segurança; orde-nha mamária; amamentação e outros alimentos; cólica e choro do bebê; sinais de risco; uso de mamadeiras e chupetas; banho de sol e outros temas.
No estudo de Fonseca et alli [3], os partici-pantes das atividades educativas trouxeram, através de círculos de discussão, os assuntos de interesse para
o processo ensino-aprendizagem sobre seus bebês, agrupados em: cuidados diários; alimentação; higie-ne; cuidados especiais e relacionamento familiar. Es-tes assuntos são voltados para as práticas cotidianas, de cuidados simplificados.
As crenças e os costumes, há muito desmistifi-cados, ainda foram manifestados pelos participantes, demonstrando que as informações consideradas adequa-das, muitas vezes, se restringem a determinada popula-ção, ou que as opiniões que constituem o senso comum acerca da saúde do binômio mãe-bebê ainda são muito fortes, mesmo na era da comunicação e informação.
Por outro lado, destacamos as manifestações de participantes que se basearam em informações adqui-ridas em sites on-line de saúde do bebê voltados para apoio de pais. Isto demonstra autonomia e interesse relativo à busca de conhecimentos em saúde, além da utilização de meios tecnológicos para o aprendizado desta natureza. Muitos também relataram informações adquiridas por meio de programas de televisão e te-lejornais. Orientamos aos participantes que, quando navegassem pela internet à procura de informações so-bre saúde, dessem preferência aos sites governamen-tais e artigos científicos.
A partir disso, podemos refletir que a atitude dos pais em procurar respostas aos seus questiona-mentos auxilia no empoderamento da família no cui-dado ao seu bebê e na tomada de decisão para preservar sua saúde e prevenir agravos. Contraditoriamente, a família está mais exposta às informações inadequadas disponíveis na internet; demonstrando a importância do papel educativo do profissional de saúde.
O período pós-parto é carregado de mitos, crenças e costumes que necessitam de atenção do pro-fissional, que deve respeitar as crenças e as práticas culturais de cada família, na medida em que não pre-judiquem a saúde do filho. O cuidado, permeado por práticas culturais, vem através das gerações; a equipe, muitas vezes, não as valoriza, e até despreza essas cren-ças, gerando conflitos com as famílias, segundo To-meleri e Marcon [12].
Cabe ressaltar que os envolvidos nas atividades de educação em saúde expressaram que se sentiram sa-tisfeitos e felizes por poder tirar dúvidas sem medo e constrangimento, por colaborar com o grupo através de experiências próprias e que ainda se divertiram em aprender jogando, esquecendo que estavam no hospital.
Além da efetiva participação das famílias, em

96 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
alguns encontros realizados na Mater contamos com a presença de diferentes profissionais da área da saúde, como nutricionista, enfermeira, psicóloga e assistente social. Não foi possível a manutenção fixa deste gru-po multiprofissional em todos os encontros devido às várias demandas de atendimentos realizados por ele. Todavia, ressaltamos a riqueza das discussões quando incorporados tais profissionais ao grupo. Esta possi-bilidade de participação já foi sugerida em estudo an-terior por Delfino et alli [1], bem como foi sugerida elaboração de mais estudos, com metodologia parti-cipante e colaboração interdisciplinar em saúde, para fins de produção de novos conhecimentos com aten-ção às múltiplas dimensões e conexões manifestadas mediante este tipo de integração.
Pela alta precoce, para a maioria das famílias participantes das atividades, foi realizado apenas um encontro de cerca de uma hora. Isto gerou ansiedade nas estudantes por terem pouco tempo para a discus-são de tantos assuntos. As estudantes entenderam que os assuntos levantados durantes as discussões eram as principais dúvidas e que este momento de encontro es-timulou as famílias a repensar outros. Reconhecemos a importância da alta precoce e a continuidade da assis-tência na atenção primária à saúde, acreditando que se-ria uma estratégia interessante a implantação de grupos de educação e apoio no continuum da assistência. Em 2000, Frederico, Fonseca e Nicodemo [5] sugeriram a articulação entre o serviço de atendimento domiciliar e o hospitalar onde foi realizada intervenção educa-cional, através da qual seria possível verificar a aplica-bilidade dos conhecimentos apreendidos e auxiliar as famílias em outras dúvidas e necessidades de saúde.
Cabe salientar que, eventualmente, algumas ges-tantes que acompanham o pré-natal na Mater compa-receram mais de uma vez nos encontros. Elas puderam contribuir com o grupo com base em conhecimentos construídos anteriormente, sentindo-se mais confian-tes com a informação e satisfeitas por poder colaborar com outras famílias; estas relataram a importância des-tes momentos de troca de informações e experiências.
Examinando atentamente as atividades edu-cacionais em grupo, é importante considerar a pos-sibilidade de conflitos e choque de opiniões entre os participantes e a necessidade de preparo do facilitador frente a tais situações. O tema saúde contém assuntos permeados por saberes científicos e de senso comum, sendo que este último ainda apresenta variações que
dependem da cultura familiar e das experiências de vida, o que pode gerar pluralidade de pontos de vista a respeito de um mesmo aspecto e, mesmo que implici-tamente, conflitos.
Este fato foi relatado por Mafficioli e Lopes [9]
em sua intervenção; também destacamos raras ocor-rências de tal situação em nossas atividades. É fun-damental que o assunto seja retomado e os demais participantes sejam encorajados a contribuir com no-vas informações e experiências, no intuito de socia-lizar a questão, com o cuidado de evitar o subjugo de qualquer pessoa envolvida na interação grupal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ponderando a respeito da relevância do papel de educador do enfermeiro no serviço de saúde, acre-ditamos que a iniciativa do projeto tem estimulado os profissionais de saúde dos dois hospitais na ampliação das atividades e a investirem na eficácia e na qualidade das orientações oferecidas no cotidiano.
Acreditamos que as metodologias ativas de aprendizagem dinamizam as atividades e potencializam as discussões e a construção pró-ativa dos conhecimen-tos. As atividades educativas tornaram-se mais atrativas e inclusivas por valorizar o conhecimento do outro e considerar suas experiências prévias. Estas caracterís-ticas estimularam a atenção e a motivação para apren-der e ensinar não somente por parte da clientela, mas também dos profissionais, que se sentiram instigados a ousar nas inovações educacionais e dar voz à clientela.
As atividades de educação em saúde realizadas neste projeto de extensão universitária contribuíram com o processo de construção e integração do saber de familiares e equipe de saúde neonatal. Contribuíram para a construção de uma assistência mais integral e humanizada, bem como auxiliaram na busca da auto-nomia e emancipação das famílias dos bebês, inclusi-ve de risco, no tocante aos cuidados com seus filhos e promoção de saúde.
Os encontros de educação em saúde contribuí-ram com a formação dos estudantes a partir da inser-ção em projeto de extensão de serviços à comunidade e em reuniões técnico-científicas, instigando-os a pen-sar novas formas de assistir participativamente.

97APRENDIZAGEM PARTICIPATIVA DE MÃES E FAMILIARES SOBRE A SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] DELFINO, M. R. R. et al. O processo de cuidar participante com um grupo de gestantes: repercus-sões na saúde integral individual-coletiva. Ciência & Saúde Coletiva, v. 9, n. 4, p. 1057-1066, 2004.
[2] FONSECA, L. M. M.; SCOCHI, C. G. S. Inovando a assistência de enfermagem ao binômio mãe-filho em alojamento conjunto neonatal através da criação de um jogo educativo. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 8, n. 5, p. 106-108, 2000.
[3] FONSECA, L. M. M. et al. Cartilha educativa para orientação materna sobre os cuidados com o bebê prematuro. Revista Latino-Americana de Enfer-magem, v. 12, n. 1, p. 65-75, 2004.
[4] FONSECA, L. M. M.; SCOCHI, C. G. S. Cuidados com o bebê prematuro: orientações para a família. Ribeirão Preto: FIERP, 2009. 64 p.
[5] FREDERICO, P.; FONSECA, L. M. M.; NICO-DEMO, A. M. C. Atividade educativa no alojamento conjunto: relato de experiência. Revista Latino-Ame-ricana de Enfermagem, v. 8, n. 4, p. 38-44, 2000.
[6] FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 45. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006a.
[7] FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes neces-sários à prática educativa. 33. ed. São Paulo: Paz e Terra; 2006b.
[8] MACHADO, M. F. A. S. et al. Integralidade, for-mação de saúde, educação em saúde e as propostas do SUS - uma revisão conceitual. Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, n. 2, p. 335-342, 2007.
[9] MAFFACCIOLLI, R.; LOPES, M. J. M. Educação em saúde: a orientação alimentar através de ativida-des em grupo. Acta Paulista de Enfermagem, v. 18, n. 4, p. 439-445, 2005.
[10] PEREIRA, A. L. Educação em saúde. In: FIGUEI-REDO, N. M. A. (org.). Práticas de enfermagem: ensinando a cuidar em saúde pública. São Paulo: Di-fusão, 2003. p. 25-46.
[11] TOLEDO, M. M.; RODRIGUES, S. C.; CHIE-SA, A. M. Educação em saúde no enfrentamento da hipertensão arterial: uma nova ótica para um velho problema. Texto & Contexto Enfermagem, v. 16, n. 2, p. 233-238, 2007.
[12] TOMELERI, K. R.; MARCON, S. S. Práticas po-pulares de mães adolescentes no cuidado aos filhos. Acta Paulista de Enfermagem, v. 22, n. 3, p. 272-280, 2009.
[13] ZANATTA, E. A.; MOTTA, M. G. C. Saberes e prá-ticas de mães no cuidado à criança de zero a seis me-ses. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 28, n. 4, p. 556-563, 2007.


99AÇÕES DE NUTRIÇÃO NO PROJETO BANDEIRA CIENTÍFICA: ESTUDO DAS EXPEDIÇÕES DE 2005 A 2010
RESUMO
Bandeira Científica é um projeto de extensão universitária da Universidade de São Paulo, que consiste em expedições para cidades brasileiras com baixo Índice de Desenvolvimento Huma-no, a fim de melhorar as condições de saúde da população. Diversas áreas integram o Bandeira Científica, dentre elas, a Nutrição. Este artigo visa descrever e avaliar a participação da equipe de Nutrição no projeto Bandeira Científica. Foi realizada pesquisa do tipo avaliativa, desenvolvida por meio de análise de relatórios de cada expedição e entrevistas com ex-participantes da equipe de Nutrição do Bandeira Científica. As atividades realizadas em cada expedição em que houve participação da Nutrição (2005 a 2010) são descritas e comparadas com as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde. A participação da equipe de Nutrição vem se ampliando e estabilizan-do no Bandeira Científica. As experiências obtidas a cada ano de participação no projeto per-mitiram que as ações de Nutrição no Bandeira Científica buscassem, de maneira convergente ao preconizado pelo Ministério da Saúde, melhorar a saúde da população das cidades em que atua e desenvolver os participantes do projeto tanto no âmbito profissional quanto humano.
Palavras-chave: Extensão universitária. Nutrição. Atenção básica em saúde.
ABSTRACT
Bandeira Científica is a university extension project of São Paulo University, which consists in expeditions to Brazilian cities with low Human Development Index, intending to improve health conditions in the cities visited. Several undergraduate courses take part in the Bandeira Científica project, among them, Nutrition. This article aims to describe and evaluate the participation of the Nutrition team in the Bandeira Científica project. It was made an evaluative research, us-ing documentary analysis and interviews with former members of Nutrition team in Bandeira Científica project. The nutrition activities developed in the expeditions from 2005 until 2010 were described and compared to the food and nutrition actions in primary care preconized by Brazilian Ministry of Health. The participation of Nutrition team has been amplifying and set-tling. The experiences accumulated during the project expeditions converge with the preconized food and nutrition actions on primary care, resulting in activities that might improve the health condition of the population of the visited cities. These experiences also help to develop profes-sional and human skills and competencies among the students who are members of the project.
Key words: University extension. Nutrition. Basic health care.
AÇÕES DE NUTRIÇÃO NO PROJETO BANDEIRA CIENTÍFICA:
ESTUDO DAS EXPEDIÇÕES DE 2005 A 2010
ACTIONS OF NUTRITION IN “BANDEIRA CIENTÍFICA” PROJECT:
STUDY OF THE EXPEDITIONS FROM 2005 TO 2010
*Jaqueline Lopes Pereira, **Viviane Laudelino Vieira, ***Luiz Fernando Ferraz da Silva, ****Patricia Constante Jaime
* Graduanda em Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP) e participante do projeto Bandeira Científica – e-mail: [email protected]. ** Nutricionista, doutoranda em Nutrição em Saúde Pública da FSP-USP e discutidora do Projeto Bandeira Científica. *** Médico, professor doutor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau-lo (FM-USP) e coordenador do projeto Bandeira Científica. **** Nutricionista, professora doutora da FSP-USP e coordenadora geral de Alimentação e Nutrição da CGAN.

100 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
INTRODUÇÃO
Criado em 1957 pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e coordenado pelo Departamento de Patologia da FMUSP, o Bandeira Científica (BC) é um projeto de extensão universitária que consiste em expedições para cidades brasileiras com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), en-volvendo, atualmente, acadêmicos de múltiplas unida-des da Universidade de São Paulo, tais como Medicina, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia, Engenharia Civil e Ambiental, Audiovisual, entre outras.
Segundo informações oficiais do projeto [1], no período de 1957 a 1969, os focos eram a pesquisa científica e a educação. Devido a problemas políticos que ocorriam no Brasil nessa época, o projeto preci-sou ser interrompido e foi retomado apenas em 1998. Desde então, o BC se propõe a alinhar atividades edu-cacionais, científicas e assistenciais às necessidades das cidades que visita, procurando cumprir seu papel de projeto universitário, com atuação efetiva na forma-ção dos alunos de graduação, não apenas focalizando preceitos técnicos, mas também valorizando o desen-volvimento da cidadania ao futuro profissional.
O projeto busca atuar de forma a garantir o desenvolvimento da saúde das regiões em que atua, compreendido como o “completo estado de bem-estar bio-psico-social” [14], que inclui não apenas a abor-dagem das doenças, mas também dos aspectos ambien-tais e sociais a elas relacionadas. Devido a esse objetivo, foram incorporadas outras áreas além da Medicina, iniciando pela Fisioterapia, em 2002; a Nutrição, por sua vez, aderiu ao BC em 2005. Atualmente, diver-sos outros cursos integram o projeto, tais como Psi-cologia, Odontologia, Fonoaudiologia, Engenharia e Agronomia.
Com o objetivo de melhorar as condições de saúde da população da cidade visitada, percebeu-se que as emergentes e crescentes demandas de atenção à saúde decorrem, principalmente, dos agravos que acompa-nham as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e as deficiências nutricionais, ambas associadas a uma alimentação e a modos de vida não saudáveis [5].
Vários estudos mostram que o Brasil convi-ve com a transição nutricional, determinada fre-quentemente pela má alimentação [2, 9]. Algumas de suas consequências, as DCNT, são associadas às causas de morte mais comuns atualmente. Segundo
a Organização Mundial da Saúde, a hipertensão ar-terial e a obesidade correspondem aos dois principais fatores de risco responsáveis pela maioria das mortes e doenças no mundo [15]. No Brasil, as doenças car-diovasculares correspondem à primeira causa de mor-te há mais de 40 anos, acompanhada de um aumento expressivo da mortalidade por diabetes [7]. Além dis-so, esse crescimento da obesidade e suas complicações vêm ocorrendo de maneira significativa também na população de baixa renda do país [8].
Nesse contexto, a instituição da Política Nacio-nal de Promoção da Saúde pelo Ministério da Saúde em 2006, com o objetivo de promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde re-lacionados aos seus determinantes e condicionantes, tem como um dos seus eixos estratégicos a promoção da alimentação saudável [4].
De acordo com Burlandy, citado por Vasconcelos (2008), constatam-se distintas possibilidades de inter-venção em nutrição no âmbito da saúde coletiva, sendo a atenção básica em saúde, representada, sobretudo, pelo Programa de Saúde da Família (PSF), um espaço pri-vilegiado para se avançar na promoção da alimentação saudável e na conquista da Segurança Alimentar e Nu-tricional (SAN), para a qual a integralidade e a interse-torialidade representam princípios fundamentais [12].
Portanto, as ações de alimentação e nutrição na atenção básica tanto contribuirão para a qualificação como para a garantia da integralidade da atenção à saúde prestada à população [5]. Por essas razões, este trabalho tem como objetivo descrever e avaliar a parti-cipação da equipe de Nutrição no projeto de extensão universitária Bandeira Científica.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho consiste em pesquisa do tipo avaliativa, desenvolvido de agosto de 2010 a ju-lho de 2011 por meio de análise de relatórios de cada expedição, disponíveis na página eletrônica do proje-to, e em entrevistas com ex-participantes da equipe de Nutrição do BC.
Foram entrevistados 20 participantes, alguns presentes em mais de uma expedição. Foram obtidos dados de 14 alunos que fizeram parte do projeto du-rante a graduação, denominados bandeirantes, 7 alunos da graduação que desempenhavam, prioritariamente

101AÇÕES DE NUTRIÇÃO NO PROJETO BANDEIRA CIENTÍFICA: ESTUDO DAS EXPEDIÇÕES DE 2005 A 2010
funções de gestão do projeto, nomeados diretores e de 11 nutricionistas, cujo papel era o de supervisionar as atividades desenvolvidas pelos alunos, chamados discu-tidores. A “Tabela 1” (ver Anexo) descreve o número de participantes entrevistados e as cidades em que ocorreu o projeto desde o início da participação da Nutrição.
Os membros da equipe de Nutrição foram con-vidados a participar da pesquisa via e-mail e aqueles que aceitaram foram entrevistados pessoalmente. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, abordando os seguintes temas: caracterização do participante do projeto; preparação, treinamentos, atividades e ca-racterísticas da expedição a qual participou e opiniões sobre o projeto e a participação da nutrição. As entre-vistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas.
Para realização deste trabalho, houve análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Facul-dade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, pelo Protocolo de Pesquisa n. 2.161.
RESULTADOS
Em todos os anos, é realizado um complexo pro-cesso de preparo, com treinamentos e extenso plane-jamento da viagem. Sempre ocorre uma pré-visita, na qual alguns diretores vão até a cidade meses antes da expedição para averiguar as necessidades da mesma, e a infraestrutura necessária para que seja possível receber o projeto. O auge do BC ocorre durante a expedição, que é o período em que todos os integrantes vão para a cidade escolhida e realizam as atividades planejadas, durante cerca de dez dias. Aproximadamente seis me-ses após a expedição, alguns diretores retornam à cida-de a fim de expor os resultados obtidos com os dados coletados e propor debates e soluções entre represen-tantes da cidade, gestores e profissionais de saúde.
Porém, apesar de possuir uma estrutura previa-mente organizada, cada expedição tem características próprias; as atividades se adaptam às peculiaridades de cada município e, também, às dos participantes, que são responsáveis por elaborar tudo o que será reali-zado. A “Tabela 2” (ver Anexo) apresenta a caracte-rização geral de cada expedição, e a “Tabela 3” (ver Anexo), uma síntese das atividades realizadas pela equipe de Nutrição nesse período.
Em todas as expedições foram realizados trei-namentos técnicos para preparar os estudantes de
Nutrição no desenvolvimento das atividades propos-tas, como padronização em antropometria, aulas de dietoterapia e conduta em atendimento, entre outros, de acordo com as características de cada grupo e com o tipo de atividade.
Quanto ao planejamento e preparo das ativida-des, em 2005, este foi organizado pela nutricionista responsável pela pesquisa realizada. Nos anos poste-riores, os diretores coordenavam o grupo de bandei-rantes que, em conjunto, determinavam e elaboravam as ações a serem feitas na cidade, sob orientação dos discutidores.
Outra característica comum a todos os anos em que a Nutrição participou foi o levantamento de dados epidemiológicos e nutricionais, para possibilitar o co-nhecimento da população atendida, subsidiando rela-tórios fornecidos aos gestores da cidade, com propostas de soluções para os principais problemas encontrados.
EXPEDIÇÃO DE 2005, JOÃO CÂMARA (RN)
Esta expedição apresentou um único objetivo: coletar dados para realização de pesquisa científica que, por sua vez, visava à avaliação do estado nutricional dos moradores das diversas casas visitadas pelo projeto por meio de questionários e antropometria (peso e esta-tura). Tais informações subsidiaram, posteriormente, orientações nutricionais de acordo com a realidade e as possibilidades de cada região ou sub-região do mu-nicípio. Participaram da expedição 5 acadêmicos da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP) e 4 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), faculdade local convidada a participar, além de 1 nutricionista que supervisio-nava o trabalho dos estudantes. Com os dados coleta-dos nessa pesquisa, foi produzido um artigo científico [11], como mostra a “Tabela 4” (ver Anexo).
EXPEDIÇÃO DE 2006, MACHADINHO D’OESTE (RR)
Este foi o primeiro ano que a Nutrição incor-porou a figura do diretor. A equipe foi formada por 7 acadêmicos da FSP-USP, 5 de uma instituição de ensino local (Faculdade São Lucas) e 1 discutidora. A partir desse ano, os objetivos da Nutrição no PBC co-meçaram a mudar.
O foco principal da expedição de 2006 foram os atendimentos nutricionais individualizados (ANI), que ocorreram em postos de atendimento improvi-sados em escolas, para indivíduos com distúrbios ou

102 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
doenças cujo controle dietético contribui ao trata-mento, com avaliação nutricional seguida de orienta-ções práticas em relação aos alimentos e dietas.
Também ocorreram atividades de capacitação junto aos agentes comunitários de saúde (ACS), com temas como Higiene e Cuidados com Alimentos, Die-toterapia e Utilização do Sistema de Vigilância Alimen-tar e Nutricional (SISVAN). A escolha dos temas, em todos os anos, sempre é pautada pela alta prevalência das doenças e/ou suas complicações na comunidade, e pelo importante papel que os ACS desempenham no controle e prevenção destas afecções. O objetivo dessa atividade é consolidar conceitos sobre esses assuntos, compreender o contexto em que os ACS estão inseri-dos e construir, em conjunto, estratégias de ação.
Além das atividades planejadas, durante a expe-dição, surgiram oportunidades para atuar em outras atividades, tais como a participação nas Visitas Do-miciliares (VD), em que os participantes do projeto formavam equipes que atendiam indivíduos com al-gum tipo de dificuldade de locomoção em sua própria casa, e em uma atividade multidisciplinar num assen-tamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), na qual bandeirantes de Nutrição informavam a população local sobre como ter uma alimentação saudável. Outra atividade não planejada consistiu no desenvolvimento de oficinas de alimentação saudável para aqueles que se encontravam na fila de espera dos postos de atendimento. Essa ação surgiu a partir de observação pelos alunos da Nutrição das pessoas que permaneciam por longos períodos esperando pelo atendimento, sem participar de nenhuma atividade, e viram uma oportunidade de atuar nessa situação.
EXPEDIÇÃO DE 2007, PENALVA (MA)
As experiências de 2006 tornaram possível o desenvolvimento de outras atividades para a expedi-ção de 2007. Houve ampliação da equipe, com 8 gra-duandos da FSP-USP, 4 nutricionistas de São Paulo, 7 bandeirantes e 1 nutricionista da universidade lo-cal convidada, a Faculdade Santa Terezinha (CEST). Também houve ampliação das ações em Nutrição.
Dentre as atividades planejadas, destaca-se o atendimento nutricional em grupo (ANG) destinado a indivíduos com características semelhantes, que podem debater suas dúvidas e encontrar, em conjunto, solu-ções para problemas em comum. Porém, esta não ocor-reu devido à dificuldade em agrupar estas pessoas nos
postos de atendimento, dado que muitas não podiam esperar por muito tempo para serem atendidos.
Outras atividades que merecem destaque são a oficina de alimentação saudável e aproveitamento in-tegral de alimentos com merendeiras nas escolas, com elaboração de receitas para ilustrar o conteúdo; e o de-senvolvimento do projeto Horta na Escola em conjunto com a equipe da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da USP (ESALQ), cujo objetivo era cons-truir hortas em espaços nas escolas a fim de reduzir o custo da merenda escolar e estimular o consumo de fru-tas, verduras e legumes dos alunos e suas famílias.
Também se perspectivou o levantamento de dados sobre as condições higiênico-sanitárias dos distribuidores de alimentos da cidade (por exemplo, abatedouro e mercado local) a fim de avaliar riscos e sugerir melhorias para esses estabelecimentos, mas a ação foi inviabilizada por questões políticas e de acei-tação dos proprietários dos locais a serem visitados.
Este foi o primeiro ano em que a Nutrição re-alizou a administração das refeições para todos os integrantes do projeto, associada ao treinamento de higiene e manipulação de alimentos para as merendei-ras responsáveis por preparar essas refeições.
Por outro lado, durante a expedição, surgiram oportunidades de realizar outras atividades. A antro-pometria da população atendida nos postos, realizada até aquele momento pelos alunos de Medicina, contou com o apoio da equipe de Nutrição. Também se de-senvolveram atividades educativas com pescadores da região, que foram orientados sobre alimentação sau-dável e modo de preparo dos alimentos, e com profes-sores, sobre a importância da alimentação adequada para as crianças.
EXPEDIÇÃO DE 2008, ITAOBIM (MG)
A equipe foi formada por 6 acadêmicos da FSP-USP, 4 da universidade local convidada (Universidade Federal de Minas Gerais), 3 nutricionistas de São Pau-lo e outra atuante na rede pública do município visi-tado. Diversas atividades que foram bem sucedidas no ano anterior se repetiram neste ano, porém adaptadas às especificidades da região. A antropometria realiza-da nos postos de atendimento tornou-se atividade ex-clusiva da equipe de Nutrição. Surgiu, também, uma nova atividade: a oficina educativa com crianças, que ocorria nas escolas, em conjunto com a Odontologia, nas quais foram trabalhadas a questão da alimentação

103AÇÕES DE NUTRIÇÃO NO PROJETO BANDEIRA CIENTÍFICA: ESTUDO DAS EXPEDIÇÕES DE 2005 A 2010
saudável e prevenção de cáries com este público. Todas as atividades propostas nesse ano ocorre-
ram; porém, algumas delas tiveram que ser reduzidas em número de atuações, tais como as ações educati-vas em escolas, devido à indisponibilidade do próprio município.
Outra atividade prejudicada foi a VD, devido à ausência do paciente a ser visitado no momento em que a equipe chega a sua residência.
EXPEDIÇÃO DE 2009, IVINHEMA (MS)
A expedição contou com 11 graduandos em Nu-trição da FSP-USP, 1 da universidade local convidada, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp), e 5 discutidores. Dentre as atividades planejadas, foi proposta consul-toria para uma cooperativa da cidade que produzia do-ces caseiros, para elaboração de rótulos dos produtos, avaliação das condições higiênico-sanitárias do local de preparo e treinamento de higiene e manipulação de alimentos para os responsáveis pela elaboração dos doces. A consultoria para a cooperativa de doces não ocorreu, pois os dados solicitados no período anterior à expedição - como, por exemplo, as receitas elabo-radas - não foram fornecidos, e o representante da cooperativa com quem era feito contato parou de res-ponder às solicitações da equipe do projeto BC.
Também se planejou e desenvolveu atividade com pedagogas com o tema de alimentação e o desenvolvi-mento neuropsicomotor de crianças, em conjunto com a Fonoaudiologia, com a proposta de esclarecer dúvidas sobre o tema e ressaltar a importância da alimentação adequada para o desenvolvimento infantil.
Foi planejada uma pesquisa com os beneficiá-rios do Bolsa Família, para avaliação do cumprimento das condicionalidades do Programa, mas não se con-cretizou por dificuldades de encaminhamento da po-pulação para entrevista nos postos de atendimento.
Mais uma vez, surgiram novas atividades para o período da expedição: uma atividade com pais na Pastoral da Criança e uma gincana com crianças so-bre alimentação num evento que ocorria na cidade no mesmo período.
Dados coletados nessa expedição geraram um tra-balho [13], apresentado no Congresso Mundial de Nu-trição e Saúde Pública de 2010 (ver Anexo, Tabela 4).
EXPEDIÇÃO DE 2010, INHAMBUPE (BA)
Participaram 13 acadêmicos da FSP-USP, 2 da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 3 nutricio-nistas da USP e 1 da UFBA. Novamente, algumas ati-vidades de anos anteriores foram realizadas, de acordo com a realidade do município. Além destas, uma nova proposta de reuniões interdisciplinares ao longo do ano, anteriormente à expedição, possibilitou a reali-zação de diversas atividades com determinados grupos populacionais, com participação de diferentes áreas, enriquecendo os debates e a visão de cada uma delas.
Ocorreram atividades sobre saúde com jovens, gestante e nutrizes, idosos, professores, entre outros, e a participação da Nutrição, em conjunto com a Fi-sioterapia, num grupo de atendimento a hipertensos que já existia na cidade, o Hiperdia. A Fonoaudiolo-gia se integrou à oficina com crianças – que ocorria somente com a Odontologia e a Nutrição – e agregou novos conhecimentos a essa atividade.
Na atividade com os professores, o objetivo do encontro foi conhecer o cotidiano de trabalho dos professores da rede municipal, os desafios enfrentados e as soluções encontradas. Foram apresentadas técni-cas que podem ser utilizadas como atividades didáti-cas, para familiarizar as crianças sobre a importância de consumo de alimentos com alto valor nutricional.
Com os jovens, foram abordados temas conside-rados importantes a partir de questões que emergiram no momento da pré-visita, tais como os seus anseios, projetos de vida e suas perspectivas profissionais, o corpo e a sexualidade, o consumo de álcool e drogas, alimentação e as relações familiares e de amizade.
Na atividade direcionada a gestantes e nutrizes, as áreas participantes sortearam diversas perguntas com temas centrais do pré-natal e puerpério, com a finali-dade de promover uma discussão sobre o tema, com trocas de experiências e resolução de possíveis dúvidas.
Com os ACS foram abordados temas de die-toterapia na hipertensão, diabetes, dislipidemias e tabagismo, e também o tema de saneamento básico e higiene de alimentos.
Ocorreram atividades em conjunto com a En-genharia sobre utilização do hipoclorito de sódio e higienização de alimentos para homens e mulheres responsáveis pelo tratamento da água da família e tam-bém para o público infantil, com o foco em educação ambiental associada à higiene pessoal e de alimentos.
Em 2010, a proposta de ANG foi executada

104 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
com sucesso, sendo que nos postos de atendimento foi possível reunir pessoas com características em comum e realizar o atendimento. Nesses momentos, os indi-víduos podem compartilhar dificuldades e encontrar, em conjunto, soluções para problemas semelhantes.
Além disso, a nutrição foi novamente responsá-vel pela administração das refeições e treinamento de manipulação de alimentos com os funcionários que as preparavam, que eram, em sua maioria, merendeiras das escolas. Devido à demanda dos mesmos, no último dia da expedição foi realizada uma atividade com todos esses funcionários sobre alimentação saudável.
A experiência dessa expedição possibilitou a elaboração de um trabalho apresentado no X Con-gresso de Nutrição e Alimentação [10], conforme des-crito na “Tabela 4” (ver Anexo).
DISCUSSÃO
A atual situação epidemiológica brasileira, re-presentada pelo aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis e ainda com a presença re-levante de deficiências nutricionais, justifica a impor-tância de alunos e profissionais da área da Nutrição em uma equipe multidisciplinar que busca atender às necessidades em saúde da população do município vi-sitado de maneira integral. Compete ao nutricionis-ta, dentre suas atribuições na área de Saúde Coletiva, prestar assistência e desenvolver atividades educativas a coletividades ou indivíduos por meio de ações, pro-gramas, pesquisas e eventos, direta ou indiretamente relacionados à alimentação e nutrição, visando à pre-venção de doenças, promoção, manutenção e recupe-ração da saúde [3]. Com base nestes preceitos, a equipe de Nutrição vem buscando aprimorar sua atuação a cada ano que participa do projeto BC, contribuindo para o desenvolvimento de ações integradas às demais áreas, tal como expõe a Matriz de Ações de Alimen-tação e Nutrição na Atenção Básica de Saúde do Mi-nistério da Saúde [5], que propõe que as ações do nutricionista ocorram em conjunto com equipe mul-tiprofissional, com profissionais com conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitem o trabalho em equipe, competências compartilhadas e humanização no atendimento.
As ações de alimentação e nutrição no projeto têm ocorrido de maneira convergente e complementar
às demais atividades que vêm sendo realizadas nos municípios visitados, procurando, por meio de co-municação com gestores e nutricionistas, atender às necessidades do município sem ultrapassar as barreiras existentes entre um projeto de extensão universitária e o governo de cada cidade. Esse é um dos motivos pelo qual, algumas vezes, nem todas as atividades planeja-das no período anterior à expedição são executadas.
É possível notar que as atividades propostas pela Nutrição no BC buscam se aproximar ao máximo do preconizado na atenção básica em saúde, visto que se sabe que a baixa oferta de ações primárias de alimen-tação e nutrição na rede de unidades de saúde, ou sua baixa incorporação pelas equipes de saúde, implica em limitar o cumprimento dos princípios da integralidade, universalidade e resolubilidade de atenção à saúde [5].
Atualmente, vem sendo sistematizadas e orga-nizadas as ações de alimentação e nutrição e o cuidado nutricional de acordo com os sujeitos das ações [5]. O BC, neste contexto, apresenta algumas atividades com o foco no indivíduo, como os ANI, outras, a família, como as VD, e também, a comunidade, como nas ações educativas nas escolas, para fomentar hábitos alimen-tares adequados. Assim, as atividades conseguem tra-balhar assuntos importantes com todos os sujeitos, utilizando uma abordagem adequada para cada um.
Ao comparar os níveis de intervenção propos-tos pela Matriz [5] com o projeto, nota-se que as ativi-dades da BC buscam englobar todos eles. O diagnóstico, importante para caracterização da população a ser estudada, é realizado por meio da coleta de variáveis socioeconômicas, culturais e de saúde e avaliação nu-tricional no período da expedição e apresentado no momento da pós-visita, gerando discussões e propos-tas de ação para gestores e representantes da população da cidade, que possibilita desenvolvimento de ações no nível de gestão das ações de alimentação e nutrição. A pro-moção da saúde e a prevenção de doenças e distúrbios nutricionais são abordadas na realização de ações educativas para diversos públicos, com dinâmica e linguagem espe-cíficas para cada um. Já a assistência, tratamento ou cuidado ocorrem em atendimentos individuais, em grupo ou na VD, mediante as necessidades de cada indivíduo.
Quanto ao caráter das ações, vislumbrado como universais e específicas [5], a realização de atividades educa-tivas em espaços comunitários contemplam a primeira característica, enquanto que os grupos de atendimen-to para gestantes e nutrizes atendem à segunda.

105AÇÕES DE NUTRIÇÃO NO PROJETO BANDEIRA CIENTÍFICA: ESTUDO DAS EXPEDIÇÕES DE 2005 A 2010
Apesar de ter conseguido englobar ações tão am-plas, dificuldades para a execução do projeto são encon-tradas a cada ano. Porém, estas vêm sendo contornadas por meio de discussão e avaliação de cada expedição, con-tribuindo para o amadurecimento das ações planejadas.
Um ponto crítico para a realização do trabalho é a comunicação com a cidade onde ocorre a expedição. Algumas atividades tiveram que ser remanejadas ou, até mesmo, não puderam ocorrer devido à dificuldade de contato com a população, o que ocasionou falta de público, como, por exemplo, a atividade com os cui-dadores na expedição de 2010. Esse é um processo di-fícil, que demanda tempo para que haja sensibilização das lideranças comunitárias para direcionamento da população que possa se beneficiar das ações que ocor-rerão durante a expedição.
Outra questão complexa do projeto é o trabalho interdisciplinar. No início da participação da Nutri-ção no projeto BC, ele ocorria de maneira pontual. Entretanto, com o decorrer dos anos e o amadureci-mento dos novos cursos que passaram a integrar o pro-jeto, a interdisciplinaridade passou a ser uma questão muito trabalhada e valorizada, pois se percebeu a ri-queza de olhares diferentes sobre uma mesma situa-ção. As discussões geradas possibilitam que alunos e profissionais aprendam ainda mais e os resultados ob-tidos sejam melhores [6]. O papel da diretoria do BC nessa questão é de essencial importância, ao facilitar e estabelecer comunicação entre pessoas de diferen-tes cursos no período anterior à expedição e propor que trabalhem em conjunto; porém, a visão de cada participante do projeto interfere no resultado final. É interessante observar que, no início da expedição, o trabalho conjunto é mais difícil; contudo, com o pas-sar dos dias, a interdisciplinaridade ocorre de maneira mais natural, pois as pessoas passam a se conhecer me-lhor e têm maior facilidade para se comunicar.
Também é importante que exista preocupação com a continuidade do projeto depois do final de cada expedição. Por esse motivo, o BC propõe ações para que as atividades realizadas no período em que o projeto está na cidade não se percam, como, por exemplo: o encaminhamento adequado dos pacientes atendidos ao serviço de saúde da cidade; a capacitação de multiplicadores, como as crianças, os professores e os ACS; a parceria com a Universidade local, para que possa existir um acompanhamento mais próxi-mo e a utilização de tecnologia, como a Telemedicina,
possibilitando a troca de informações e discussão de casos. Dessa maneira, é possível que ações realizadas durante o período em que o projeto permaneceu na cidade se perpetuem e não desapareçam.
CONCLUSÕES
A participação da equipe de Nutrição vem se am-pliando e estabilizando no projeto BC. As experiências obtidas a cada ano de participação no projeto permitiram que as ações de nutrição no BC buscassem, de maneira convergente ao preconizado pelo Ministério da Saúde, melhorar a saúde da população das cidades em que atua e desenvolver os alunos e profissionais participantes do projeto tanto no âmbito profissional quanto humano.
Porém, é importante que exista um arquivo que detalhe as experiências da Nutrição em cada ano de atua-ção, pois como a diretoria muda a cada expedição, apesar de fornecer os conhecimentos necessários para seus su-cessores, dados muito anteriores podem acabar se per-dendo e deixando de enriquecer as expedições seguintes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] BANDEIRA CIENTÍFICA. Desenvolvido pelo proje-to Bandeira Científica da Universidade de São Paulo. Apresenta o histórico, as atividades e parcerias do pro-jeto Bandeira Científica. Disponível em: <http://www.bandeiracientifica.com.br>. Acesso em: 5 jul. 2011.
[2] BATISTA FILHO, M.; RISSIN, A. A transição nu-tricional no Brasil: tendências regionais e temporais. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, supl. 1, p. S181-S191, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/csp/v19s1/a19v19s1.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2011.
[3] BRASIL. Conselho Federal de Nutricionistas. Resolu-ção nº 380/2005. Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de referência, por área de atua-ção, e dá outras providências. Brasília, DF, 2005, 45 p.
[4] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política na-cional de promoção da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006, 60 p. Série B. Textos Básicos de Saúde.
[5] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção

106 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Matriz de ações de alimentação e nutrição na atenção básica de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009, 78 p. Série A. Normas e Manuais Técnicos.
[6] GOMES, R.; DESLANDES, S. F. Interdisciplinarida-de na saúde pública: um campo em construção. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Pre-to, v. 2, n. 2, jul. 1994. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11691994000200008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 13 jul. 2011.
[7] LESSA, I. Doenças crônicas não transmissíveis no Bra-sil: um desafio para a complexa tarefa da vigilância. Ci-ência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 9, n. 4, p. 931-943, out.-dez. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232004000400014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 6 jul. 2011.
[8] MONTEIRO, C. A.; CONDE, W. L. A. Tendência se-cular da obesidade segundo estratos sociais: Nordeste e Sudeste do Brasil, 1975-1989-1997. Arquivos Brasi-leiros de Endocrinologia & Metabologia, São Paulo, v. 43, n. 3, junho 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27301999000300004&lng=en&nrm=iso>.Acesso em: 14 jul. 2011.
[9] MONTEIRO, C. A. et al. Da desnutrição para a obe-sidade: A transição nutricional no Brasil. In: MON-TEIRO, C. A. (Org.). Velhos e novos males da saúde no Brasil, 2. ed. São Paulo: Editora Hucitec, 2000, p. 247-255.
[10] PEREIRA, J. L.; SILVA, G. M.; GIUDICI, K. V. Pro-jeto de extensão interdisciplinar como parte da for-mação pessoal e profissional de estudantes de Nutrição em universidade pública brasileira. In: X CONGRES-SO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO & II CON-GRESSO IBERO-AMERICANO DE NUTRIÇÃO, 2011, Lisboa. Anais do X Congresso de Nutrição e Alimentação & II Congresso Ibero-Americano de Nutrição. Lisboa: Associação Portuguesa de Nutricio-nistas, 2011. Não paginado.
[11] SALDIVA, S. R. D. M.; SILVA, L. F. F.; SALDI-VA, P. H. N. Avaliação antropométrica e consumo alimentar em crianças menores de cinco anos resi-dentes em um município da região do semiárido nordestino com cobertura parcial do programa bolsa família. Revista de Nutrição, Campinas, v. 23, n. 1, p. 211-229, mar.-abr. 2010.
[12] VASCONCELOS, A. C. C. P.; PEREIRA, I. D. F.; CRUZ, P J. S. C. Práticas educativas em nutrição
na atenção básica em saúde: reflexões a partir de uma experiência de extensão popular em João Pes-soa - Paraíba. Revista de APS, Juiz de Fora, v. 11, n. 3, p. 334-340, jul.-set. 2008. Disponível em: <http://www.aps.ufjf.br/index.php/aps/article/view/347/125/>. Acesso em: 12 jul. 2011.
[13] VIEIRA, V. L. et al. Health profile of the Family Grant Program (FGP) beneficiaries in the Munici-pality of Ivinhema, Mato Grosso do Sul, Brazil. In: II WORLD CONGRESS OF PUBLIC HEALTH NU-TRITION, 2010, Porto. Abstracts of II World Con-gress of Public Health Nutrition. Porto: Scientific Sponsorship, 2010. v. 13. p. 53.
[14] WHO - World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. Basic Documents. Geneva: World Health Organization, 1946.
[15] WHO - World Health Organization. The World Health Report 2002: reducing risks, promoting healthy life. Geneva: World Health Organization, 2002.
AGRADECIMENTOS
À Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Univer-sitária pelo apoio financeiro à bolsista e aos patrocina-dores do projeto Bandeira Científica.

107AÇÕES DE NUTRIÇÃO NO PROJETO BANDEIRA CIENTÍFICA: ESTUDO DAS EXPEDIÇÕES DE 2005 A 2010
ANEXO
TABELA 1
Número de ex-participantes da equipe de Nutrição do projeto BC entrevistados, de acordo com a expedição. São Paulo, 2011.
ANO CIDADE DA EXPEDIÇÃO BANDEIRANTES DIRETORES DISCUTIDORES TOTAL
2005João Câmara, Jandaíra
e Bento Fernandes (RN)1 0 0 1
2006 Machadinho D’Oeste (RO) 3 1 1 5
2007 Penalva (MA) 3 1 2 6
2008 Itaobim (MG) 3 2 3 8
2009 Ivinhema (MS) 4 2 5 11
2010 Inhambupe (BA) 0 1 0 1
Total 14 7 11 32
TABELA 2
Número de acadêmicos participantes e de atendimentos no projeto BC no período de 2005 a 2010. São Paulo, 2011.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 MÉDIA
Estudantes participantes (Todas as áreas) 118 143 236 154 166 175 165
Estudantes de Nutrição Participantes 9 12 15 10 12 15 12
Atendimentos Totais (Todas as áreas) 3.659 4.425 4.592 3.935 3.302 4.304 4.036
Atendimentos Individuais de Nutrição 504 359 458 284 413 331 392
Visitas Domiciliares - 13 35 26 28 22 25

108 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
TABELA 3
Síntese das atividades planejadas e realizadas pela equipe de Nutrição no período de 2005 a 2010. São Paulo, 2011.
CIDADE E ANO DA EXPEDIÇÃO
ATIVIDADES PLANEJADAS ATIVIDADES REALIZADAS
João Câmara, Jandaíra e Bento Fernandes
(RN) / 2005
AntropometriaAvaliação Nutricional de Crianças
AntropometriaAvaliação Nutricional de Crianças
Machadinho D’Oeste (RO) / 2006
ANICapacitação de ACS
ANICapacitação de ACS
Orientação Nutricional em assentamentoVD
Oficina em postos de atendimento
Penalva (MA) / 2007
ANI e ANGVD
Capacitação de ACSOficina com Merendeiras
Horta nas EscolasConsultoria Sanitária
Investigação sobre anemiaAdministração de refeições
AntropometriaANIVD
Capacitação de ACSOficina com Merendeiras
Horta nas EscolasAdministração de refeições
Orientação Nutricional com PescadoresOficina com Professores
Itaobim (MG) / 2008
AntropometriaANIVD
Capacitação de ACSOficina com Merendeiras e Pais
Horta nas EscolasEducação Nutricional com Crianças
Administração de refeições
AntropometriaANIVD
Capacitação de ACSOficina com Merendeiras e Pais
Horta nas EscolasEducação Nutricional com Crianças
Administração de Refeições
Ivinhema (MS) / 2009
AntropometriaANI e ANG
VDCapacitação de ACS
Educação Nutricional com CriançasConsultoria para desenvolvimento de rótulos
para doces caseirosOrientação Nutricional com Pedagogas
Avaliação Nutricional de EscolaresPesquisa PBF
Administração de refeições
AntropometriaANIVD
Capacitação de ACSEducação Nutricional com Crianças
Orientação Nutricional com PedagogasAdministração de refeições
Atividade Pastoral da CriançaAtividades lúdicas sobre Nutrição com
Crianças

109AÇÕES DE NUTRIÇÃO NO PROJETO BANDEIRA CIENTÍFICA: ESTUDO DAS EXPEDIÇÕES DE 2005 A 2010
Inhambupe (BA) / 2010
AntropometriaANI e ANG
VDAtividade com ACS
Educação Nutricional com CriançasOrientações sobre saúde com jovens, professo-
res, gestantes/nutrizes, idosos e cuidadoresHigiene de alimentos com Crianças e Adultos
Orientação Nutricional com HipertensosComposteira
Administração de refeições
AntropometriaANI e ANG
VDAtividade com ACS
Educação Nutricional com CriançasOrientações sobre saúde com jovens, pro-
fessores, gestantes/nutrizes e idosos Higiene de alimentos com Crianças e
AdultosOrientação Nutricional com Hipertensos
Capacitação com MerendeirasAdministração de refeições
ACS: Agentes Comunitários de SaúdeANG: Atendimento Nutricional em GrupoANI: Atendimento Nutricional IndividualPBF: Programa Bolsa FamíliaVD: Visita Domiciliar
TABELA 4
Produção Científica da equipe de Nutrição do projeto BC, de acordo com a expedição. São Paulo, 2011.
CIDADE DA EXPEDIÇÃO
TIPO DE PRODUÇÃO
TÍTULO PUBLICAÇÃO
João Câmara, Jandaíra e Bento Fernandes
(RN)Artigo Científico
Avaliação antropométrica e consumo alimentar em crianças menores de cinco anos residentes em um município da re-gião do semiárido nordestino com cober-
tura parcial do programa bolsa família.
Rev. Nutr., Campinas, 23(2):211-229, mar./abr.,
2010
Ivinhema (MS)Apresentação em
Congresso
Health profile of the Family Grant Program (FGP) beneficiaries in the
Municipality of Ivinhema, Mato Grosso do Sul, Brazil.
II World Congress of Public Health Nutrition, 2010,
Porto.
Inhambupe (BA)Apresentação em
Congresso
Projeto de extensão interdisciplinar como parte da formação pessoal e pro-fissional de estudantes de Nutrição em
universidade pública brasileira.
X Congresso de Nutrição e Alimentação & II Congresso Ibero-Americano de Nutri-
ção, 2011, Lisboa.


111GRUPO DE ATIVIDADES ESTRUTURADAS COM ESTUDANTES
RESUMO
Na Escola Estadual Professora Glete de Alcântra é desenvolvido um projeto de extensão que objetiva investir na promoção da saúde física, mental e social discente. São oferecidas ativida-des estruturadas: jogos, dinâmicas e vivências grupais. Neste estudo apresentamos os resultados de três encontros grupais realizados com vinte alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Os objetivos foram: verificar a opinião dos estudantes sobre a escola e os papéis de pessoas signifi-cativas; identificar conflitos existentes nestes alunos, segundo a tipologia dos atos violentos. A pesquisa qualitativa foi do tipo observação participante. A percepção dos alunos sobre a escola e os profissionais que fazem parte dela foi divergente. Consideraram os familiares como pes-soas importantes, cuidadoras, que impõem limites, xingam e batem. Tiveram dificuldades em estabelecer seu papel e o dos colegas na escola; os colegas são amigos para brincar. Os tipos de violência identificados foram física, psicológica e negligência. Trabalhar autoestima, tolerância e cooperação; aliviar conflitos com atitudes afetuosas que expressem respeito; oferecer espaços educativos onde os jovens possam se posicionar, facilitar seu entrosamento e exercitar sua cria-tividade e reflexão colaboram preventivamente com a diminuição da violência na escola. Assim, facilita-se a construção de modelos de convivência pacíficos em outros ambientes sociais.
Palavras-chave: Estudantes. Escolas. Violência.
GRUPO DE ATIVIDADES ESTRUTURADAS COM
ESTUDANTES: IDENTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA
NO AMBIENTE ESCOLAR
GROUP OF STRUCTURALIZED ACTIVITIES WITH STUDENTS:
IDENTIFICATION OF VIOLENCE IN THE SCHOOL ENVIRONMENT
*Zeyne Alves Pires Scherer, **Edson Arthur Scherer, ***Silvia Antunes Cocenas, ****Amanda Secco Gregorio
* Enfermeira, professora doutora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP), líder do Grupo de Estudos Interdisciplinar Sobre Violência (GREIVI), Centro Colaborador da OMS para o desenvolvimento da pes-quisa em Enfermagem – Av. Bandeirantes, 3900 – Ribeirão Preto - SP – 14040-902 – e-mail: [email protected]. ** Médico psiquiatra, professor doutor do Centro Universitário Barão de Mauá, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP), líder do GREIVI – e-mail: [email protected]. *** Terapeuta ocupacional, aluna do Progra-ma de Pós-graduação em Enfermagem Psiquiátrica, HC-FMRP-USP, integrante do GREIVI – e-mail: [email protected]. **** Graduanda do curso de bacharelado em Enfermagem da EERP-USP, bolsista do programa Aprender com Cultura e Exten-são, integrante do GREIVI – e-mail: [email protected].

112 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
ABSTRACT
In the State School Professora Glete de Alcântra is developed an Extension’ Project that objec-tive to invest in the physical, mental and social health promotion of the pupils. Structuralized activities are offered: games, dynamic and group experiences. In this study we present the results of three group meeting carried through with twenty pupils of 6º year of Basic Education. The objectives had been: to verify the opinion of the students on the school and the papers of sig-nificant people; and to identify existing conflicts in these pupils, according to the violent acts typology. Qualitative research, participant observation form. The perception of the pupils on the school and the professionals who were part of it had been divergent. They had considered family as important people, caregivers that impose limits, scold and beat. They had difficulties in estab-lishing its paper and of the colleagues in the school. The colleagues are friends to play. Types of violence identified: physics, psychological and carelessness. To work self-esteem, tolerance and cooperation; to relieve conflicts with affectionate attitudes that express respect; to offer educative spaces where the youngest can talk, to facilitate its integration and to exercise their creativity and reflection collaborate preventively with the reduction of the violence in the school. Therefore, the construction of pacific models of together living in other social environments is facilitated.
Key words: Students. Schools. Violence.

113GRUPO DE ATIVIDADES ESTRUTURADAS COM ESTUDANTES
INTRODUÇÃO
A escola como uma instituição social, possui-dora de objetivos e metas determinadas, é um espa-ço capaz de reelaborar conhecimentos socialmente produzidos e de permitir o exercício da ética e da ra-zão. Portanto, é esperado que seja um local saudável, propício ao aprendizado, um ambiente solidário que garanta o direito à educação, independentemente das diferenças individuais [3, 11]. Entretanto, esta mes-ma instituição, vista como um espaço multicultural, que abrange laços afetivos e prepara o indivíduo para a inserção na sociedade, reúne também diversos conhe-cimentos, atividades, regras e valores que são permea-dos por conflitos, brigas, invasões, depredações e, até mesmo, morte [11]. A diferente interação, contínua e complexa, que podemos encontrar no meio acadêmi-co pode ser reflexo da grande quantidade de pessoas com diferentes características que ali convivem.
Um dos problemas encontrados, portanto, nas instituições de ensino é a violência. Esta violên-cia é categorizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como interpessoal comunitária [9]. É enten-dida como toda ação de maus-tratos praticada, isolada ou em grupo, dentro destes estabelecimentos ou em suas redondezas. São protagonizadas pelos jovens com o envolvimento direto de alunos e outros atores como professores, funcionários, pais, entre outros [1].
No Relatório Mundial sobre Violência e Saúde da OMS [9] a violência foi classificada, quanto à natureza dos atos violentos, em física, sexual, psicológica e envolvendo privação ou negligência. Conhecer a natureza dos atos violentos, a relevância dos ambientes onde estes ocor-rem, a relação entre o perpetrador e a vítima e as possíveis motivações, mostram-se como ferramentas para melhor compreender a complexidade do fenômeno violência.
O tipo de violência mais registrado ou prati-cado pelos jovens é a física, caracterizada pelo uso de força ou atos visíveis (brigas, agressões físicas, depre-dações) praticados entre alunos, ou membros da esco-la portando facas, revólveres ou outros objetos. Outra forma comumente encontrada nas escolas é a violên-cia verbal, manifestada sob a forma de xingamentos e uso de palavras de baixo calão entre os próprios alu-nos dentro e fora da instituição. A violência simbóli-ca, discriminação praticada por alunos e/ou membros da escola e o bullying, manifestado por ofensas ver-bais, apelidos ofensivos e depreciativos, humilhação,
exclusão e discriminação, completam a lista de violên-cias presentes nas escolas [4, 5, 11,13].
Estas manifestações de violência podem ser re-flexo de fatores externos e, como consequência, têm gerado conflitos dentro do ambiente escolar, com-prometendo o aprendizado e as relações interpessoais entre educadores e educandos. Os relacionamentos ou vínculos são construídos entre as pessoas na con-vivência grupal. O grupo pode ser considerado como um espaço de trocas interativas, importante para o de-senvolvimento psicológico do ser humano. Favorece a exploração da subjetividade ao atuar como um “labo-ratório social” no qual os participantes reproduzem os papéis que ocupam no seu cotidiano [6,16].
Por conseguinte, tendo constatado que as rela-ções estabelecidas dentro da escola se dão por meio de grupo, iniciamos em 2009 o projeto de extensão Grupos de atividades estruturados com alunos do ensino fundamen-tal: promoção de saúde. Este projeto faz parte das múlti-plas ações de cultura e extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. O objetivo do projeto é oferecer conjun-tos de atividades estruturadas (pintura, desenhos, es-culturas, música, teatro, jogos, dinâmicas e vivências grupais) para trabalhar a autoestima, a tolerância e a cooperação entre estudantes do ensino fundamental; instrumentalizar os alunos de enfermagem para que se tornem agentes transformadores na implementação de estratégias educativas promotoras de aprendiza-gem, saúde, socialização e cidadania.
O referido projeto é desenvolvido na Escola Es-tadual Professora Glete de Alcântra (EEPGA), locali-zada no distrito oeste do município de Ribeirão Preto (SP). Esta instituição foi escolhida com base nos critérios a ela atribuídos pela Diretoria de Ensino, a saber: alta frequência de incidentes de violência; dificuldades na condução do processo de ensino-aprendizagem; grau de abertura da direção; disponibilidade e interesse dos pro-fessores para o desenvolvimento de pesquisas; coorde-nadores ou assistentes de direção atuantes, empenhados em promover ações de cidadania e cultura, além de orga-nizar o vínculo da universidade com os professores [8].
Os sujeitos do projeto são alunos matriculados no 6º ano do Ensino Fundamental da EEPGA. De um total de 230, distribuídos em sete salas, participam até 100 estudantes ao longo de um ano, distribuídos em cinco grupos compostos cada um de até vinte integran-tes (alunos). O critério para a seleção e participação

114 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
nestes grupos é aleatório. Para tanto, a partir da lista de frequência de cada turma é utilizada a progressão aritmética de razão três, contada a partir do primei-ro nome desta lista. Quando algum dos selecionados não aceita participar do estudo são selecionados os estudantes em posição imediatamente posterior ou anterior da lista, respectivamente. São realizados oito encontros com duração de dois meses para cada grupo, com frequência semanal, duração de uma hora, em sala reservada e organizada para as atividades. Por sugestão da coordenação pedagógica da escola e para garantir a participação dos alunos neste projeto, os encontros grupais ocorrem de forma concomitante à segunda aula, sendo os participantes liberados para tal.
Estes grupos de atividades estruturadas são coorde-nados por duas estudantes de graduação em enfermagem da EERP-USP, uma voluntária e outra bolsista do Progra-ma Aprender com Cultura e Extensão, com supervisão de uma terapeuta ocupacional, aluna de Pós-Graduação do Programa Enfermagem Psiquiátrica, e da coordenadora do projeto. No primeiro encontro grupal, os participan-tes são informados sobre o objetivo do grupo e é estabele-cido o contrato ou o conjunto de regras que sustentarão o desenvolvimento do trabalho.
O objetivo das atividades grupais é oferecer um espaço onde os estudantes possam expressar sua cria-tividade e espontaneidade, experimentando novos ou antigos papéis de formas diferentes; resgatar sua au-toconfiança, autoestima e percepção do seu próprio potencial; organizar visual e verbalmente suas expe-riências; fazer escolhas, e, com isso, tornarem-se su-jeitos ativos da própria história e menos vítimas das circunstâncias externas. As regras de funcionamento são: a frequência ao grupo não será obrigatória; os participantes com 75% ou mais de presença receberão um certificado de “participação”; caso, por algum mo-tivo, os estudantes não possam realizar um encontro, seus frequentadores serão avisados com antecedência; a data para o término do grupo é preestabelecida e será informada no primeiro encontro; cada encontro tem a duração de uma hora, com o horário predeterminado.
A cada encontro grupal é desenvolvida uma téc-nica estruturada de trabalho específica, escolhendo-se o tema relacionado com o grupo e com base em suas necessidades naquele momento. A utilização de diferentes estratégias e materiais justifica-se na pos-sibilidade de explorar as diversas formas de criar, de-senvolver e manifestar sentimentos, pensamentos e
fantasias. O uso de atividades expressivas serve como recurso para estimular o diálogo entre os participan-tes, propiciando trocas e aprendizados significativos.
No decorrer do desenvolvimento deste projeto de extensão foram surgindo questionamentos como:
• Qual experiência, expectativa e/ou motivação este aluno tem para realizar uma atividade em grupo?
• Como cada aluno percebe o colega, o professor, o coordenador, o diretor, outros profissionais da escola e a si mesmo?
• Como o aluno lida com as diferenças que surgem no grupo?
• Como o aluno se comunica no grupo e fora deste (ambiente da escola, na família)?
Diante destas questões surgiu o interesse em aprofundar o estudo de conflitos que podem emergir em um grupo de estudantes que participam de ativida-des estruturadas.
OBJETIVO
• Verificar a opinião dos estudantes sobre a institui-ção escolar e os papéis de pessoas significativas na escola e na família.
• Identificar conflitos existentes em alunos do en-sino fundamental participantes de atividades gru-pais, segundo a tipologia dos atos violentos.
MÉTODO
Pesquisa qualitativa na qual foi utilizada a ob-servação participante para absorver a realidade do local do estudo por meio das anotações no diário de campo que buscou compreender aquilo que o sujeito não consegue expressar [14].
Neste estudo foram apresentados os resultados re-ferentes a três dos encontros grupais: o primeiro, o ter-ceiro e o sétimo. Estes três grupos foram selecionados por contemplarem momentos diferentes do processo grupal (fase inicial, fase operacional e fase de término) desen-volvido junto aos estudantes, sujeitos desta pesquisa [10].
Fizeram parte do estudo vinte alunos do 6º ano, matriculados no ensino fundamental do ano letivo de 2010 que aceitaram participar do grupo de atividades

115GRUPO DE ATIVIDADES ESTRUTURADAS COM ESTUDANTES
do projeto de extensão. A faixa etária foi de 10 a 13 anos. Para coleta e acompanhamento das atividades foi
criado um “Protocolo de Acompanhamento das Ativida-des Realizadas”, preenchido por uma das pesquisadoras após cada encontro grupal. Este material serviu como instrumento para a supervisão do trabalho desenvolvido e como material de pesquisa. Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo temática [14] para analisar as três atividades grupais selecionadas para o estudo. Os nomes dos sujeitos apresentados nos resultados são fictícios.
O projeto de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EERP-USP, me-diante Protocolo n. 1144/2010. Os pais ou responsáveis pelas crianças que participaram do grupo de extensão as-sinaram termo de consentimento livre e esclarecido con-cordando com a participação dos mesmos na pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No trabalho com grupos, o próprio grupo se tor-na um modelo de abstração da realidade e fonte de dados para análise e estudo. Contudo, o grupo como modelo é uma simplificação da realidade e dificilmente incluirá todas as variáveis dessa realidade [15]. Nesta pesquisa, foi possível estabelecer uma analogia entre a realidade dos sujeitos e as atividades e interações propiciadas nos en-contros grupais. Isto permitiu a compreensão de uma situação relativamente complexa que é a experimentada por estes alunos, que sofrem influências dos meios so-cial, familiar e cultural nos quais se encontram inseridos.
Diante disto, o que encontramos foi um recorte de duas dessas representações.
OPINIÕES SOBRE A ESCOLA E OS PAPÉIS
DE PESSOAS SIGNIFICATIVAS
Uma das atividades previstas no projeto tem como temática “como os alunos veem a escola”. Nes-ta, os alunos deste estudo mostraram receio para se expressarem, preocupados com o destino de suas in-formações ou queixas. Para facilitar a realização da tarefa foi lembrado pelas coordenadoras do grupo que os encontros eram sigilosos (conforme contrato do grupo). A opinião de cada aluno sobre a escola e sobre aqueles que faziam parte dela, tanto no âmbi-to da administração quanto dentro das salas de aulas, foram divergentes. Ao mesmo tempo em que alguns participantes sabiam a importância da escola, outros a
definiam como ruim. Isto foi evidenciado em ativida-de na qual deveriam definir a escola em uma palavra:
- “Legal.” (Lais).- “Importante.” (Mario).- “Queria que todos trabalhassem juntos.” (Carolina).- “Interessante.” (Maria). - “Porcaria.” (Carla). - “Estúpida.” (Kátia).- “Chata.” (Rosa).- “Ruim.” (José).- “Horrível.” (Carlos).- “Insuportável.” (João).
Quando foi solicitado que definissem os pa-péis de cada pessoa, considerada importante para eles, tanto da escola como da família, as definições foram variadas. A inspetora foi lembrada como uma figura de autoridade que repreende (verbal e fisicamente) e controla (entrada e saída, distribuição de merenda). Estes papéis atribuídos à profissional em questão po-dem gerar sentimentos de descontentamento, às vezes expressos de forma indireta como visto no comentário pejorativo de uma aluna:
- “Abre o portão.” (Maria).- “A pessoa que dá bronca, que dá suspensão.” (Carlos).- “Aquela que dá tapa na orelha.” (Kátia).- “A pessoa que olha os alunos durante o in-tervalo.” (Carla).- “A que organiza a distribuição da merenda, é aquela que tem uma função importante na escola.” (João).- “A que tem cara de porca.” (Rosa).
O professor recebeu definições relacionadas ao papel de educador e figura de autoridade na sala de aula:
- “A pessoa que ensina.” (Carolina).- “A pessoa que não deixa sair da sala.” (Luisa).- “A que educa.” (Lais).
Em relação à diretora da escola, chamou a atenção o fato de que a maioria dos alunos disse que não a co-nhecia. Apenas um dos participantes a descreveu como aquela que é responsável por aplicar medida disciplinar:

116 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
- “É ela quem dá suspensão.” (Carlos).
A coordenadora foi identificada como a pessoa que define o que os professores fazem, aquela que es-tabelece contato com os pais e que, de fato, administra a escola:
- “Liga na casa dos alunos.” (José).- “Falam o que o professor tem que fazer.” (Rosa).- “É quem manda fazer a comida.” (Mario).- “Fica no lugar da diretora, organiza a escola.” (Carla).
Relacionaram seus familiares como pessoas im-portantes e presentes em suas vidas, que os cuidam, que são amigos, mas que também são responsáveis por impor limites ou mesmo xingar e bater quando não são obedecidos:
- “Mãe é aquela pessoa que te dá cintada quan-do você desobedece.” (Rosa).- “Pai é a pessoa que bate em você, trabalha para te cuidar, pra te dar comida.” (Luisa).- “Pai é aquele que não permite que namore.” (Carolina).- “Os irmãos são aqueles que batem em você todo dia, podem ser seus amigos ou inimigos, mas estão sempre perto de você.” (Carlos).
Demonstraram, no entanto, dificuldades em estabelecer o papel deles, enquanto alunos, e o dos co-legas dentro do contexto escolar. Percebem os colegas como amigos que estavam ali para brincar e se divertir:
- “Amigo é quem está com você todo dia.” (Lais).- “Aquele que brinca com você.” (Mario).
Ao definir o que é um amigo uma das partici-pantes relatou uma experiência que teve com uma das colegas fora da escola:
- “Eu e a Kátia fazemos parte de um núcleo e fomos para uma chácara apresentar um tra-balho, quando voltamos pegamos carona com um moço que a gente não conhecia e a gente mexia com todo mundo na rua.” (Carla).
Atitudes provocativas de pronunciar xingamen-tos, como a descrita acima, apareceram também ao lon-go do desenvolvimento das atividades realizadas, entre os participantes. Em alguns momentos, estudantes que não estavam participando do grupo atrapalhavam a ati-vidade, pronunciando xingamentos e chutando a porta da sala. Estes comportamentos configuram atos de vio-lência dos tipos psicológico (verbal) e físico.
A mudança de papéis sociais no contexto fami-liar levou à perda gradual da autoridade paterna e ao distanciamento da figura materna do núcleo familiar. Isto gerou uma ruptura do equilíbrio entre disciplina e afeto em relação aos filhos, consideradas funções fun-damentais dos papéis parentais para a autodetermina-ção futura. Esta ruptura precoce pode criar carências que dificilmente serão compensadas na vida. A con-vivência com atos agressivos e com a competitividade, a rivalidade nos relacionamentos e o individualismo – resultante das sensações de abandono e rejeição – vão sendo assimilados pelos jovens e se configurando na representação social da violência – doméstica ou não – como uma atitude de fuga e defesa [2].
Os resultados que se referem à observação de conflitos (violências) nos grupos objetos desta pesqui-sa estão apresentados na categoria a seguir.
TIPOLOGIA DOS ATOS VIOLENTOS
No início das atividades, mais especificamente no primeiro encontro, os alunos participantes trou-xeram questionamentos referentes ao grupo e seu funcionamento. Perguntaram como seriam realizadas as atividades, por quanto tempo durariam os encon-tros e solicitaram aumento de frequência e duração de cada encontro:
- “Poderia ser todo dia?” (Rosa).- “O que vamos fazer hoje? E semana que vem?” (Leila).- “A gente poderia ficar mais tempo?” (Pedro).
Os questionamentos relativos à duração, fre-quência e funcionamento da atividade são esperados no início de qualquer trabalho em grupo com pessoas, independente de sua faixa etária. A solicitação de au-mento de tempo de duração de cada encontro e da fre-quência dos mesmos pode ter sido influenciada pelo fato destes grupos ocorrerem em horário concorrente

117GRUPO DE ATIVIDADES ESTRUTURADAS COM ESTUDANTES
com o da grade escolar. Os alunos eram, como des-crito no método, dispensados de um horário de aula para participarem desta atividade. A demonstração de interesse, curiosidade e expectativa pode sugerir, por outro lado, que o novo pode ser recebido como algo bom. A inquietação e a esperança, presentes em todos os momentos do trabalho com este grupo, foram per-cebidas como algo inusitado no ambiente escolar.
Em grupos estruturados podem ser observadas condições variáveis de “calor humano, tensão, movi-mentos, equilíbrio, restrições, alegria, insegurança e crises”. Estas condições, em conjunto, formam a “at-mosfera” grupal, responsável pelo que os participantes do grupo sentem a seu respeito [15].
No grupo onde os estudantes emitiram suas opi-niões acerca da EEPGA, foram encontradas as seguin-tes manifestações: que os alunos eram dispensados das aulas, tanto devido à reforma da estrutura física que estava sendo realizada, quanto pela falta de professo-res; que não são submetidos às avaliações escritas, com exceção de um simulado no final do semestre; que tem colegas que não sabem ler; que presenciam brigas nos intervalos e recreio; que alunos fumam na escola.
- “A escola está uma bagunça, muito ruim.” (Carlos).- “Faltam professores.” (Laís).- “Tem muita violência entre os alunos. Vou mudar de escola no próximo ano.” (José). - “Ele”, referindo-se ao professor, “fica gri-tando com a gente, mandando a gente calar a boca, e até xingou minha mãe.” (Maria).- “Muito bagunçada, todos fumam.” (Luisa). - “Todos sabem de tudo o que se faz.” (Pedro).
Estas falas são exemplos de formas de violência comuns e enraizadas na prática educativa. A omissão em prover as necessidades básicas para o desenvol-vimento de uma pessoa, neste caso, a educação, ca-racteriza uma violência definida como privação ou negligência. Este é considerado um dos tipos mais su-tis e de menor visibilidade dos atos violentos, mas não menos importante. Faz parte do dia a dia das escolas, caracterizando desde o poder coercitivo de imposição de conteúdos distantes do interesse e sem significado na vida dos alunos, a precariedade dos mesmos, a coa-ção do poder de conferir notas, a desconsideração em relação às dificuldades dos estudantes, até tratamentos
pejorativos e ações de exposição do aluno ao ridículo quando este não compreende o conteúdo ensinado, passando pela falta de professores [7]. Outros tipos de violência referidos pelos participantes deste estu-do foram a verbal e a psicológica, praticados, também, pelos professores. Exemplo disto está na fala anterior, que mostra queixa do aluno de que um professor utili-zou este “artifício” para disciplinar a sala de aula.
Nos três encontros, objetos deste estudo, os alunos participantes trocaram agressões de tipo físi-co (empurrões, jogar objetos uns nos outros) e verbal (xingamentos). Expressões como “cala a boca” e “idio-ta” eram frequentemente proferidos pelos alunos.
- “Carla”, em tom bravo, “você molhou mi-nha argila que eu ia levar”. Em seguida, agre-diu Carla com tapas e a xingou. “Sua chata e idiota!” (Katia).
- “Não quero mais participar do grupo”, brava e jogando a argila em José, que a acusara de ter pegado sua argila. (Luiza).- “O José está zoando da Carla por que ela não sabe escrever direito. Agora ela não quer mais fazer a atividade.” (Carolina).
Durante os grupos foi perceptível a dificuldade de comunicação entre alguns participantes. Esta pode ser explicada, por exemplo, pela falta de simpatia en-tre os estudantes. Em quase todas as atividades, havia conflitos verbais decorrentes da deficiência de comu-nicação efetiva. O material solicitado por um não era cedido pelo outro, o qual justificou não ter escutado tal pedido. As dificuldades de comunicação em casa po-dem, por sua vez, influenciar as dificuldades apresen-tadas no ambiente escolar. Quando alguns alunos eram questionados sobre o porquê de não pedirem o material emprestado, ou por que gritavam, justificavam dizendo que, em suas casas, era este o tratamento que recebiam.
Estas atitudes agressivas necessitaram da inter-venção direta das coordenadoras do grupo no sentido de contê-las. Por terem ocorrido dentro do ambien-te do grupo foi aberto um espaço para os estudantes conversarem sobre as mesmas, sua provável origem e consequências. Os participantes concordaram com o incômodo que tais atitudes trazem para o convívio, atrapalhando o desenvolvimento da própria atividade. Fizeram alusões a outras situações em que aparecem comportamentos violentos no contexto escolar e fora

118 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
deste. Lembraram situação extrema de colega partici-pante do grupo que acabou por abandonar a escola em função de ameaça séria de agressão feita por colega:
- “O Bruno, aquele que vinha no grupo, saiu da escola porque ele brigou com um menino e esse menino ameaçou o Bruno na hora do recreio com uma tesoura. Aí a mãe dele o tirou da escola.” (Carolina).
No transcorrer das atividades grupais deste pro-jeto de extensão, exemplificados na apresentação dos resultados de três destes encontros, tem sido possível perceber a existência de relacionamentos conflituosos na escola. Uma das formas de manifestação destes é o bullying, que evidencia a repercussão negativa da vio-lência nas relações estabelecidas no ambiente escolar [11]. Jovens vítimas do bullying são geralmente indiví-duos com dificuldades para suportar situações agressi-vas, retraindo-se, o que pode contribuir para a evasão escolar, já que, muitas vezes, não conseguem reagir à pressão a que são submetidos. Os pais e a escola, por sua vez, parecem não saber lidar com este tipo de vio-lência, demonstrado nas dificuldades de agir frente a estas situações e em gerir a vida escolar.
Resultados de estudo comparativo entre alunos considerados agressivos e não agressivos de duas esco-las identificaram em ambas a existência de relação entre agressividade na adolescência e ser vítima de punição física doméstica. Os jovens considerados agressivos na escola eram mais punidos do que os não agressivos [12]. No nosso estudo, uma aluna agressiva relatou situações em que era vítima de violência em sua casa. Em um dos encontros estudados, fez o relato a seguir:
- “Vou apanhar da minha mãe se chegar com a roupa desse jeito, suja de argila.” (Kátia).
Não houve situação ou relato de violência sexual durante as atividades grupais objeto deste estudo.
A vulnerabilidade social refletida na vivência es-colar, como a vista neste estudo, pode reduzir a força socializadora da escola, interferindo no ambiente rela-cional e permitindo que os alunos construam a violên-cia como uma forma habitual de experiência escolar [3].
CONCLUSÃO
O fenômeno da violência que se expressa em instituições de ensino é resultante de modelos sociais e culturais, tanto do núcleo familiar primário, quanto do ambiente comunitário externo. Alguns tipos de violência são corriqueiros, até mesmo, aceitos na vida e comuns no contexto educacional. As instituições escolares con-vivem, portanto, com esta influência interna e externa de estressores e repressores sociais, representados pelos atos violentos. Os estudantes que participaram do nosso estudo identificaram a presença de violências do tipo fí-sica, psicológica e negligência no ambiente da EEPGA.
As ações desenvolvidas na e pela escola acabam, por vezes, contribuindo com a banalização ou legi-timação da violência como mecanismo para resolver conflitos. Diante disto, é esperado que os estabeleci-mentos de ensino encontrem mecanismos para se con-figurarem como instituições de referência no combate a este fenômeno. Isto pode ser alcançado mediante a construção de um trabalho com ênfase em abordagens preventivas e que busquem preparar os jovens para o convívio em uma sociedade menos violenta.
Estratégias que objetivem trabalhar a autoestima, a tolerância e a cooperação entre estudantes do ensino fundamental podem ter efeito positivo. Os conflitos co-muns a esta fase de vida (adolescência) podem ser ali-viados com atitudes afetuosas que expressem respeito. A oferta de espaços educativos nos quais os jovens possam se posicionar, facilitar seu entrosamento com os colegas e exercitar sua criatividade e capacidade de reflexão cola-bora de forma preventiva com a diminuição da violência dentro do ambiente escolar. Desta forma, mediante a inserção e participação dos alunos na resolução de con-flitos é facilitada a construção de modelos de convivência pacíficos reprodutíveis em outros ambientes sociais.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] ABRAMOVAY, M.; RUA, M. G. Violências nas es-colas. Brasília: UNESCO, 2002.
[2] BALISTA, C. et al. Representações sociais dos ado-lescentes acerca da violência doméstica. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 6, n. 3, p. 350-357. Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/revis-ta6_3/05_Original.html>. Acesso em: 25 ago. 2011.

119GRUPO DE ATIVIDADES ESTRUTURADAS COM ESTUDANTES
[3] CAMACHO, L. M. Y. Violência e indisciplina nas práticas escolares de adolescentes: um estudo das rea-lidades de duas escolas semelhantes e diferentes entre si. São Paulo, 2000, 265 p. Tese (Doutorado), Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo (USP).
[4] CHARLOT, B. A violência na escola: como os soció-logos franceses abordam essa questão. Sociologias, ano 4, n. 8, p. 432-43, 2002.
[5] FANTE, C. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz, 2. ed. Cam-pinas: Verus, 2005.
[6] GUANAES, C.; JAPUR, M. Fatores terapêuticos em grupo de apoio. Rev. Bras. Psiquiatria, v. 23, n. 3, p. 134-140, 2001.
[7] GUIMARÃES, A. M. A Escola e a ambiguidade. In: BORGES, A. S. et al. O papel do diretor e a esco-la de 1º grau. Série Ideias, n. 12. São Paulo: FDE, 1992, p. 51-74.
[8] KODATO, S. Observatório da violência e práticas exemplares: vínculos e estratégias. Observatório da Violência, n. 22, 2003.
[9] KRUG, E. G. et al. World report on violence and health: summary. Geneva: World Health Organiza-tion, 2002.
[10] LASALLE, P. C.; LASALLE, A. J. Grupos terapêu-ticos. In: STUART, G.W.; LARAIA, M.T. Enferma-gem psiquiátrica: princípios e prática. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 695-709.
[11] MARRIEL, L. C et al. Violência escolar e autoestima de adolescentes. Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 37, p. 35-50, 2006.
[12] MENEGHEL, S. N.; GUIGLIANI, E. J.; FALCE-TO, O. Relações entre violência doméstica e agressi-vidade na adolescência. Cadernos de saúde pública, v. 14, n. 2, p. 327-335, 1998.
[13] NETO; A. A.; SAAVEDRA, L. H. Diga NÃO para o bullying: programa de redução do comportamento agressivo entre estudantes. Rio de Janeiro: ABRAPI, 2004.
[14] MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde, 7. ed. São Paulo: HU-CITEC; Rio de Janeiro: ABRASCO, 2000.
[15] MOSCOVICI, F. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo, 6. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1997.
[16] SERRÃO, M.; BALEEIRO, M. C. Aprendendo a ser e a conviver. São Paulo: FTD, 1999.


121OCUPEMBA
RESUMO
Este artigo relata a experiência de um grupo de alunos de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo na idealização e condução de atividade de extensão na região de Sapopemba, zona leste do município de São Paulo. Descreve as principais dificuldades enfrentadas nas etapas de formulação e implementação do Projeto OCUPEMBA – Oficinas Culturais de Sapopemba, assim como nas fases de monitoramento e avaliação de seus resultados. O objetivo das oficinas, ainda em curso, é oferecer educação com-plementar para crianças e adolescentes entre cinco e doze anos em situação de risco que residem no bairro Pró-Morar. O projeto busca ser um vetor de incentivos para que o público alvo se reconheça como potencial agente transformador de seu ambiente.
Palavras-chave: Projeto de extensão. Cidadania. Política pública.
ABSTRACT
This article describes the experience of a group of students of Public Policy Management, School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, in creating and conducting educational acti-vities in Sapopemba, a region located at the East Side of São Paulo SP. It presents the main difficulties found not only to design and implement the Project OCUPEMBA – Cultural Workshops in Sapo-pemba, but also to monitor and evaluate its results. The aim of this project, which is still taking place, is to offer complementary education for children and teens from five to twelve years old who reside in the Pró-Morar district, and live at risk. The objective of this project is to become an array of in-centives, so as the audience may recognize itself as potential transforming agents in its environment.
Key words: Community based-learning project. Citizenship. Public policy.
OCUPEMBA: PROMOVENDO CIDADANIA
COM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
OCUPEMBA: PROMOTING CITIZENSHIP WITH
A COMMUNITY BASED-LEARNING APPROACH
*Bruno Azevedo de Andrade Barbosa, *Letícia Rigotti Li Puma, *Lucas Bruxellas Parra, *Talita Correa Santos, **Marta Maria Assumpção Rodrigues
* Alunos do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP). ** Cientista política, professora doutora da EACH-USP. Av. Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino Matarazzo – São Paulo - SP – 02838-080 – e-mail: [email protected].

122 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
INTRODUÇÃO
O QUE É O OCUPEMBA
O OCUPEMBA – Oficinas Culturais de Sapopemba é um projeto sociocultural voltado para crianças e adolescen-tes de cinco a doze anos que residem no bairro Pró-Mo-rar, localizado próximo ao Jardim São Rafael, na região de Sapopemba, zona leste de São Paulo. O projeto re-cebe fomento da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo e é executado desde setembro de 2010 por alunos do curso de Gestão de Políticas Pú-blicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, em local cedido por uma organização não gover-namental (ONG), situada no Ministério Restauração†.
O objetivo principal deste projeto de extensão é fomentar externalidades positivas no seu público alvo através da oferta de educação complementar. Para isso, busca estimular o desenvolvimento de uma consciência coletiva nos participantes, esclarecendo alguns aspec-tos básicos referentes aos direitos de cidadania. Desta forma, o OCUPEMBA procura ser um vetor de incen-tivos para que seus participantes se reconheçam como agentes transformadores potenciais em seu ambiente.
Durante as fases de formulação e realização do projeto ocorreram vários imprevistos. Para contor-ná-los, os alunos elaboraram diversas ações, que se-rão apresentadas ao longo do artigo. No momento, a proposta é desenvolvida por meio de duas atividades principais, as Oficinas de Cidadania e as Oficinas de Inglês, que acontecem uma vez por semana. Ne-las, busca-se promover a participação ativa do público alvo através da interatividade e socialização em grupo. Para estimular o senso crítico e o desenvolvimento cognitivo dos participantes, diversas atividades lúdicas (brincadeiras, teatrinhos, música, vídeos, produção de artesanato) e jogos cooperativos foram criados.
Este artigo‡ descreve o surgimento do Projeto OCUPEMBA – Oficinas Culturais de Sapopemba e
† Ministério Restauração é uma organização evangélica mundial, cujo público-alvo é constituído por crianças carentes e suas comunidades. A entidade oferece cursos de música, capoeira, computação, dança, inglês, entre outros, e busca desenvolver o autossustento através de parcerias e trabalho em rede com igrejas, missões e ministérios similares. Disponí-vel em <http://restaura.wordpress.com>. Acesso em: 4 set. 2011.
‡ O mesmo foi escrito durante a estada da docente no Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame (Guest Scholar Program).
analisa alguns resultados preliminares tanto com rela-ção à percepção que essas crianças e adolescentes têm adquirido sobre noções de cidadania quanto no que diz respeito ao aprimoramento educacional daqueles que têm participado do trabalho. Em função da ori-ginalidade e sucesso do Clubinho Fala-Matraca (que integra as Oficinas de Cidadania), o artigo dará ênfase aos resultados obtidos a partir dessa atividade.
OCUPEMBA: SURGIMENTO E DESDOBRAMENTO
A idéia de criar o Projeto OCUPEMBA surgiu durante visita que um grupo de alunos do curso de Ges-tão de Políticas Públicas da USP realizou, em outubro de 2009, ao 70° Distrito Policial da Vila Ema, região de Sapopemba, localizado à Rua Otávio Alves Dundas Ciriaco Cardoso, 390, durante a Semana de Visitas às Delegacias de Polícia, promovida por um pool de ONGs denominado Altus Global Alliance§. Naquela oportu-nidade, os discentes foram recebidos pelo então chefe dos investigadores, o doutor Carlos Roberto da Silva Vilanova, conhecido como dr. Vila, que, além de apre-sentar a repartição, expôs suas idéias para humanizar os espaços e serviços prestados pelo 70° DP à população da região, lamentando o fato de que, num ambiente tão carente de equipamentos de lazer, o espaço do deck e das quadras fosse subutilizado pela comunidade.
Conjuntamente aos ambientes padrões de uma delegacia de polícia, o 70° DP possui duas quadras esportivas, um pequeno deck e duas salas, onde fun-cionava um Telecentro Comunitário e onde aulas de artesanato e ginástica eram oferecidas para a comu-nidade local. As quadras e o deck eram frequentados esporadicamente por crianças para jogar bola; as ati-vidades promovidas nas duas salas eram desenvolvidas em parceria com a ONG Ministério Restauração.
A partir do diálogo estabelecido entre os alunos e o chefe dos investigadores surgiu a ideia do Proje-to OCUPEMBA, cuja intenção era suprir a demanda por atividades culturais para crianças em situação de risco, colocando à disposição os espaços do 70º DP.
§ A Semana de Visitas a Delegacias de Polícia (Polícia Semana) é um evento global anual que é organizado pela Altus Global Alliance, um conjunto de seis ONGs que atua em diversos países para melhorar o sistema de justi-ça criminal, avaliar a qualidade de serviços prestados por departamentos de polícia à comunidade, identificar boas práticas policiais, fortalecer a prestação de contas pela polícia, além de promover os direitos humanos. Disponível em <http://www.altus.org>. Acesso em: 4 set. 2011.

123OCUPEMBA
A expectativa era que essas ações pudessem gerar não apenas uma aproximação maior entre a comunidade e a Polícia Civil, mas principalmente uma diminuição dos índices de criminalidade local. A proposta foi bem rece-bida pelo dr. Vila, que autorizou prontamente a atuação dos universitários junto aos espaços da delegacia.
Com a ideia semiestruturada, alunos de Gestão de Políticas Públicas da USP formaram um grupo, o qual foi responsável pela redação do projeto de extensão. Iniciou-se, então, a busca pelo entendimento dos proce-dimentos burocráticos necessários para a sua apresenta-ção; primeiro, pelo site da USP e, em seguida, por visitas à Comissão de Cultura e Extensão (CCEx) da EACH. Funcionários da comissão disponibilizaram o formulá-rio a ser preenchido com dados do projeto (objetivos, público alvo, metodologia, cronograma, orçamento, etc.) e esclareceram a respeito da necessidade de o gru-po ter um professor responsável pelas atividades a serem desenvolvidas. A professora Marta Maria Assumpção Ro-drigues aceitou o convite e orientou o grupo a realizar um diagnóstico da região e do público alvo, além de ob-ter a autorização formal para uso do espaço da delegacia.
Contudo, já na fase de formulação do projeto, os alunos enfrentaram duas dificuldades principais. A pri-meira relacionou-se ao, talvez, frágil canal de comunica-ção que os alunos da EACH mantêm com a Comissão de Cultura e Extensão¶. A segunda dificuldade enfrentada deveu-se a um motivo de outra natureza. Entre o pro-cesso de elaboração e aprovação do projeto, o chefe dos investigadores do 70° Distrito Policial da região da Sapo-pemba, o dr. Vila, depois de ser transferido para o 73° DP (Jaçanã), foi a assassinado em 17 de fevereiro de 2010 [3].
Sua morte causou tal consternação no grupo que alguns membros decidiram pela desistência da emprei-tada. Essa perda acarretou também a inviabilidade de utilização do espaço da delegacia para realização das
¶ A expectativa dos alunos era que as atividades de extensão fossem ini-ciadas em meados de 2010. Para isso, entregaram o projeto à CCEx em janeiro de 2010, que recebeu parecer favorável do Comitê Executivo de Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão e foi aprovado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo em 22 de abril daquele ano. Entretanto, nem os discentes envolvidos no OCUPEMBA nem a professora responsável pelo projeto foram notifi-cados. Só em junho de 2010, quando um dos membros da equipe foi à CCEx da EACH buscar informações sobre o edital ProExt e mencio-nou o nome OCUPEMBA, um funcionário se lembrou do projeto e averiguou que ele já havia sido aprovado há quase dois meses. Esse fato resultou na alteração do cronograma inicial estabelecido pela equipe.
atividades planejadas. Essas dificuldades, somadas a não aprovação de bolsas de extensão para os integran-tes do projeto**, desmotivaram alguns componentes do grupo, que acabaram se envolvendo em outras ativida-des universitárias com remuneração (estágios, iniciação científica). Assim, apenas três discentes que iniciaram o projeto permaneceram na fase de sua realização.
Todavia, a ONG sediada no Ministério Restaura-ção, conhecendo a proposta do OCUPEMBA, apresentou convite para que o projeto fosse desenvolvido numa das cinco comunidades que a ONG atua (bairro Pró-Morar). Diante dessa nova situação, os objetivos, as atividades e a metodologia da pesquisa precisaram ser repensados.
REDESENHO DA PESQUISA,
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E
MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES
A versão original do projeto, em função da quantidade inicial de membros da equipe e do local acordado, previa que seriam desenvolvidas atividades de lazer e recreação nas quadras, além das Oficinas de Inglês e Espanhol na sala multiuso. O deck seria utili-zado para a realização das Oficinas de Cidadania e das Rodas de Leitura. As atividades ocorreriam três vezes por semana, e todos os membros da equipe seriam ofi-cineiros. No novo contexto, os objetivos da pesquisa tiveram de ser redesenhados e um novo diagnóstico foi elaborado. Essas atividades tomaram dois meses. As-sim, a implementação do projeto, prevista para março de 2010, aconteceu em setembro do mesmo ano.
As atividades dessa primeira etapa do OCUPEM-BA versaram sobre Oficinas de Cidadania e Inglês. A Oficina de Cidadania foi denominada para as crianças de Clubinho Fala-Matraca. Essa atividade, implemen-tada entre setembro e dezembro de 2010, consistiu, basicamente, em ouvir o que o público alvo teria a di-zer sobre o seu cotidiano, vida escolar e familiar, en-tre outros temas. Durante o período, as oficinas foram
** Vale enfatizar que funcionários da CCEx orientaram os alunos que inseris-sem no orçamento do projeto apenas os gastos referentes ao material a ser utilizado nas atividades e ao transporte, e assim foi elaborada a proposta or-çamentária do OCUPEMBA. Posteriormente à aprovação, os funcionários esclareceram que as bolsas de auxílio também deveriam ter sido incluídas no orçamento. Não é preciso dizer que a informação inadequada acarretou prejuízo para que o projeto fosse implementado como planejado.

124 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
desenvolvidas por três extensionistas, que haviam par-ticipado do projeto desde sua formulação preliminar.
Nos meses iniciais de 2011, o projeto foi reto-mado (segunda etapa) com algumas reformulações, inclusive nas atividades do Clubinho. Os debates (ou conversas) em sala passaram a ser direcionados para questões como respeito mútuo, cooperação, cuidado de si, autoestima, meio ambiente, ética e cidadania. No período, duas extensionistas se desligaram do gru-po e quatro novos membros foram incorporados, per-fazendo um total de cinco oficineiros.
O Clubinho Fala-Matraca ocorre uma vez por semana com crianças entre cinco e doze anos e tem carga horária de duas horas. Todas as atividades do clubinho têm sido desenvolvidas através de ações lú-dicas, jogos cooperativos, atividades musicais e artís-ticas. Mais recentemente (segundo semestre de 2011), novos temas foram incorporados às conversas, como racismo, relações de gênero, diversidade cultural e re-ligiosa, além de educação ecológica e ambiental. Sobre o tema educação ambiental, por exemplo, trabalhamos questões como o ciclo da água, a importância de tratar o lixo, de reduzir o consumo desnecessário, de reuti-lizar e reciclar materiais orgânicos e não orgânicos etc.
Contudo, a Oficina de Cidadania preserva a meta original do projeto: proporcionar um espaço de aprendizado, onde as crianças possam se expressar li-vremente, discutir seus problemas e compartilhar suas experiências. As Oficinas de Inglês, por sua vez, são realizadas uma vez por semana com carga horária de uma hora. As aulas de Inglês são ministradas através de músicas e brincadeiras. Desta forma, as oficinas são organizadas da seguinte forma: conversa inicial e re-latos da semana; recapitulação da temática trabalhada anteriormente; breve explicação sobre a temática do dia; abordagem lúdica do tema; considerações finais e recados sobre a próxima oficina.
PROCEDIMENTOS E RESULTADOS
A metodologia adotada no Projeto OCUPEM-BA tem como base os modelos dos ciclos das políticas públicas [6] e o incrementalista, que também é conhe-cido como método das ramas [4, 5]. O modelo dos ciclos das políticas públicas apresenta uma forma simples de compreender o processo (complexo) de produção das políticas e pode ser utilizado em qualquer situação.
Segundo Assumpção Rodrigues, “trata-se de uma in-terpretação que se serve muito mais como um recurso para fins de análise do que como referência a um fato real” [1]. Nessa ótica, as políticas públicas são conce-bidas como um processo que se compõe de um conjunto de atividades (“etapas” ou “estágios”): agenda, formu-lação, implementação e avaliação.
Já o modelo das ramas entende que, devido à complexidade de determinadas situações e às inúmeras restrições – de tempo, recursos financeiros e de capa-cidades humanas– envolvidas em uma política pública, o sucesso desta ocorrerá apenas de forma paulatina, a partir de uma ação inicial, seguida de aproximações sucessivas. Essas aproximações, por sua vez, contem-plarão valores não percebidos anteriormente e possi-bilitarão a adequação entre meios e técnicas necessárias ao enfrentamento de situações problemáticas. Nestes termos, ações incrementais, contínuas e permanentes constituem ingredientes fundamentais para nos apro-ximarmos das melhores soluções possíveis.
O Projeto OCUPEMBA iniciou suas atividades em condições e ambientes inesperados. Para suprir estes incidentes foram necessárias diversas adaptações. Assim, parte do trabalho de planejamento inicial foi perdida. Passou-se, então, a construir uma nova base de procedimentos que viabilizasse o desenvolvimento das atividades (oficinas) propostas. Todas essas infor-mações permitiram a modificação paulatina e segura do projeto, no momento de sua implementação.
A coleta de dados ocorreu por meio de diver-sos instrumentos: lista de presença; lista de tarefas de casa (realizadas pelos alunos); reuniões com registro em ata; relatórios semanais dos oficineiros; pesqui-sas bibliográficas; e entrevista com os participantes, orientada por roteiro.
LISTAS DE PRESENÇA
A partir de maio de 2011 passamos a contabi-lizar a presença das crianças nas oficinas. Esse proce-dimento nos mostrou quem participa com maior (ou menor) frequência e qual o grau de rotatividade das crianças que ali comparecem. Esse procedimento pos-sibilitou não apenas o redirecionamento da temática (e metodologia) utilizada, na medida em que adquirimos maior conhecimento sobre o perfil dos participantes, mas também a descoberta de que há um número de crianças que invariavelmente estão presentes em todas as oficinas. A atenção dedicada a esses alunos ajudou

125OCUPEMBA
o grupo a constatar que crianças mais presentes cap-tam melhor as mensagens das oficinas, aprendendo e se divertindo mais do que as que menos participam (Tabela 1, ver Anexo).
A média aritmética de crianças presentes nas oficinas durante o primeiro semestre de 2011 é 7,71 (desvio padrão 2,4997††). A frequência de meninas e meninos foi calculada separadamente. No período, a média de meninas presentes nas oficinas foi 5,7; a dos meninos foi 1,8 (Tabela 2, ver Anexo).
Já a média de crianças presentes nas oficinas no segundo semestre de 2011 é 14,66 (desvio padrão 4,04‡‡). A média de participação das meninas em agosto foi de 10,33; dos meninos, 4,6. A média to-tal das crianças presentes nas oficinas foi 11,19 (desvio padrão 4,34). Separando os sexos, observa-se a média total de 7,1 meninas e 2,7 meninos. Estamos reali-zando esforços para que essa discrepância de gênero seja eliminada ou bastante minimizada. Vale ressaltar, entretanto, que a média da presença dos meninos no segundo semestre aumentou.
GRÁFICO 1
Número de crianças presentes nas oficinas
0
A partir do gráfico acima, nota-se, no geral, que o número de crianças presentes nas oficinas aumen-tou. Mas atribuímos o decréscimo registrado entre a 1ª
†† O desvio padrão revela a variação de crianças nas oficinas.
‡‡ A partir do desvio padrão apresentado nas etapas 1 e 2 do projeto, ve-rificou-se que no primeiro semestre (etapa 1), apesar de registrar uma média menor de crianças presentes do que no segundo semestre (etapa 2), a variação média de frequência dessas crianças era menor.
e a 4ª oficinas à falta de experiência dos oficineiros e/ou motivos externos (como dias chuvosos ou festas na região). Após a quinta oficina o número de crianças aumentou significativamente, chegando a 18 crianças na penúltima Oficina contabilizada e a 17, na última. A média de crianças presentes nas oficinas no primeiro semestre era 7,71. No segundo semestre, este número saltou para 14,66. O aumento de comparecimento nas oficinas sinaliza uma satisfação por parte das crianças e uma conseqüente divulgação por parte delas§§.
LISTA DE TAREFAS
Junto à lista de presença, foi anexado o controle das atividades de casa. Essas tarefas procuram despertar o interesse sobre os assuntos trabalhados em sala e auxiliar na fixação do conteúdo. De forma prática, esses procedi-mentos exemplificam como os conhecimentos aprendi-dos nas oficinas podem ser utilizados na vida cotidiana.
Sobre as tarefas de casa, vale observar:
• a dificuldade que algumas crianças têm para ler e escrever; por isso, evita-se pedir tarefas que ne-cessitem de relatos escritos;
• no caso da criança não realizar a tarefa, os ofici-neiros reforçam a importância de fazê-la, mos-trando sua relevância para a fixação do conteúdo.
REUNIÕES E RELATÓRIOS
A partir de 2011, passamos a adotar a prática de re-latórios semanais sobre as atividades ministradas. Desde o início do projeto, o grupo realiza reuniões sistemáticas para discutir o andamento dos trabalhos. Essas reuniões, semanais e presenciais, são registradas em ata. A pauta, geralmente, segue o seguinte formato: leitura da ata an-terior; troca de impressões sobre a última oficina e de-bate sobre as melhorias que podem ser incorporadas nas atividades; discussão do tema e das atividades da próxima oficina; e responsabilidades de cada membro da equipe em relação às tarefas práticas e de gerência do projeto.
A criação de um modelo de ata facilitou consi-deravelmente a organização das reuniões, a divisão de tarefas, além de gerar um maior comprometimento da equipe. Além das atas de reuniões, também é feito,
§§ A entrevista com a menina Emile, por exemplo, indica a eficácia da divulgação (boca a boca), entre as crianças. Ao responder a pergunta: “O que te trouxe aqui?”, Emile disse que uma amiga havia lhe contado sobre as atividades do Clubinho.

126 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
semanalmente, um relatório sobre a última oficina, para registro das dificuldades, melhor compreensão da rea-lidade local e aprimoramento do projeto. Os relatórios são lidos em reunião e enviados por e-mail aos extensio-nistas. Para cada oficina é elaborado um relatório con-tando sobre o desenvolvimento das atividades do dia.
PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS
As pesquisas bibliográficas, por sua vez, têm como objetivo subsidiar os temas abordados com suporte científico e auxiliar na melhoria das técnicas pedagógi-cas adotadas. Alguns dos oficineiros possuem experiên-cia no desenvolvimento de atividades socioeducativas e recreativas, o que auxilia no processo de planejamento.
ENTREVISTA
No mês de agosto de 2011, elaboramos um questionário sintético, com perguntas muito simples e que foram dirigidas às crianças. Esse procedimento (entrevista) buscou descobrir o conteúdo adquirido durante as oficinas e como ele é relacionado e utiliza-do no cotidiano do público focado. Procurou-se veri-ficar também o(s) motivo(s) que leva(m) as crianças a participarem das oficinas (suas preferências sobre as-suntos específicos, conhecimentos adquiridos e o grau de acolhimento do ambiente ofertado). As perguntas que compunham o roteiro de entrevista eram:
• O que você acha do Clubinho? E das aulas de Inglês? • O que lhe trouxe aqui?• O que você aprendeu até agora?• Você usou o que aprendeu aqui? O que você
usou? Como você usou? • Qual a sua oficina preferida? Por que?
A pergunta “O que lhe trouxe aqui?” procu-
rou descobrir os motivos das crianças participarem das oficinas. As respostas eram abertas e nem sempre foram claras. Há, no entanto, alguns elementos co-muns que podem mostrar os motivos da participação. Classificamos estes elementos como diversão; simpa-tia com os oficineiros; aprendizado; inexistência de atividades mais atrativas no local; questões religiosas; e falta de um responsável para cuidar da criança em casa. Porém, a grande maioria respondeu que vai ao OCUPEMBA porque as atividades oferecidas são di-vertidas. Alguns disseram que comparecem porque os “tios” – oficineiros – são “legais”; outros, porque
“aprendem coisas”. Cinco disseram que vão, pois “não têm nada para fazer”. Duas crianças disseram que vão por questões religiosas; as mais novas (duas crianças) disseram que vão porque não têm com quem ficar em casa. Podemos observar que as influências de fa-tores de afinidade com o projeto são mais relevantes do que as pressões externas.As questões “O que você aprendeu até agora?” e “Você usou o que aprendeu no Clubinho? O que você usou? Como você usou?” pro-curavam descobrir o conteúdo absorvido pelas crian-ças e como elas se relacionaram, de forma prática, com esses conhecimentos. Verificou-se que sete das nove crianças que responderam a essas questões consegui-ram identificar conteúdos aprendidos. A criança mais nova (seis anos) não conseguiu relatar seu aprendi-zado, mas afirmou que aprendeu brincadeiras e mú-sicas. As crianças com idades entre nove e onze anos relacionaram o aprendizado sobre o meio ambiente com a interação humana e deram exemplos de como podem e como estão agindo para preservar o ambiente em que vivem e mantê-lo mais saudável. Diversos par-ticipantes mencionaram que aprenderam a não jogar lixo no chão/na rua, que a reciclagem pode ajudar a deter o consumo desnecessário e a poluição ambiental e ainda ser divertida (utiliza-se material reciclado nas aulas de artesanato). Alguns participantes menciona-ram as aulas de pintura do Clubinho Fala-Matraca. Essas falas demonstram que os resultados obtidos pelo OCUPEMBA são positivos e têm contribuído com a complementação educacional dessas crianças, pois estão vinculados ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e coordenação fina.
As respostas às questões “Qual a sua oficina pre-ferida? Por que?” esclareceram não só a preferência das crianças, mas nos ajudaram também a verificar a assi-milação e apreensão de conteúdo e o desenvolvimento de pensamentos complexos dos participantes. De sete crianças que responderam essa pergunta, seis tinham preferências pelas oficinas que tratavam de temas refe-rentes à educação ecológica e ambiental; uma preferiu a oficina sobre respeito; outra, as aulas de inglês e a ofici-na em que houve brincadeiras de mímica. É interessan-te notar o modo pelo qual as crianças fazem referência às oficinas que mais gostaram: algumas se referem à te-mática tratada, outras as brincadeiras e atividades e ou-tras ainda fazem relações entre temáticas e brincadeiras.
Além desses procedimentos, as conversas com as crianças - que ocorrem no início de cada oficina

127OCUPEMBA
- ajudam-nos a compreender melhor o ambiente em que essas crianças estão inseridas. A partir do diálo-go, é possível perceber a realidade local e as diversas necessidades e dificuldades que essas crianças enfren-tam no dia a dia, como violência familiar e social, di-ficuldades de aprendizado, relações (tensas) entre as crianças, ausência na oferta de atividades de lazer e de um responsável em casa, entre outas. Os relatos nos oferecem também algumas indicações sobre os efeitos das ações do projeto na vida cotidiana dessas crianças.
Além desses mecanismos descritos aqui, estão previstos ainda o desenvolvimento de outros para a co-leta e avaliação de dados, como registro do desempenho escolar, entrevistas com pais ou responsáveis e nova en-trevista com as crianças. Estas ações procurarão registrar a influência do projeto no desenvolvimento dos partici-pantes e seus impactos na comunidade onde eles se inse-rem. Entretanto, como as consequências dessa empresa dizem respeito à formação educacional e geração de ex-ternalidades positivas – variáveis medidas no longo prazo –, sua mensuração só poderá ocorrer pela continuidade do projeto e por comparações constantes e sequenciais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O exame dos relatórios dos oficineiros e das entrevistas com as crianças aguça a percepção de que o Projeto OCUPEMBA tem contribuído não apenas com a complementação educacional do público-alvo, mas também com um novo aprendizado que está sendo adquirido pelos próprios universitários. Nesse sentido, vale mencionar que a organização interna da equipe progrediu gradualmente na medida em que as ofici-nas foram se consolidando. Isso significa dizer também que, na medida em que o planejamento tornou-se mais bem estruturado, as oficinas foram ministradas de for-ma mais segura.
Em outras palavras, a produtividade das reuni-ões e a qualidade das atividades propostas melhoraram significativamente, na medida em que:
• o planejamento foi se tornando mais adequado;• a identidade do Clubinho Fala-Matraca (que fora
construída em conjunto com as crianças) foi se fortalecendo;
• as dificuldades, necessidades e demandas do pú-blico-alvo foram melhor compreendidas;
• a linguagem e os instrumentos utilizados pelos oficineiros foram aprimorados, o que possibili-tou, inclusive, uma melhor comunicação entre os participantes.
Vale notar também que o próprio grupo foi adquirindo uma dinâmica nova, na medida em que a afinidade entre os seus integrantes aprofundou-se progressivamente. Isto permitiu a cada participante do grupo conhecer melhor seus limites e capacidades.
A conclusão que extraímos a partir das experiên-cias relatadas neste artigo é muito simples. O exercício da cidadania depende da oferta de educação de quali-dade que permita, inclusive, relacionar o impacto que atitudes individuais têm no âmbito da coletividade. Em outras palavras, o exercício da cidadania depende da oferta de políticas públicas eficazes que, no contexto do bairro Pró-Morar, significa mais escolas, mais creches, saneamento básico, lazer, saúde pública e mais progra-mas sociais de combate à pobreza.
Notamos uma grande dificuldade que as crian-ças têm com relação à leitura, o que torna a situação do projeto mais delicada. O grupo procura ser extrema-mente cuidadoso com a programação das atividades, para não tornar essa situação um empecilho a algumas crianças que participam das oficinas. Neste sentido, o grupo está programando expandir o projeto para a área pedagógica, auxiliando as crianças no desenvolvi-mento de suas habilidades escolares.
Pelo que foi dito aqui, podemos concluir que o objetivo do Projeto OCUPEMBA – levar à comunida-de do entorno da USP Leste educação complementar – está sendo atingido; do mesmo modo, o princípio que rege todo e qualquer projeto de extensão – o de con-tribuir para a aplicação de políticas públicas com ên-fase na inclusão social – também está sendo atingido.
O Programa de Extensão Universitária tem o objetivo de apoiar as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de pro-gramas ou projetos de extensão que contribu-am para a implementação de políticas públicas.
Criado em 2003, o ProExt abrange a extensão universitária com ênfase na inclusão social. [2]
Afinal, ao mesmo tempo em que levamos co-nhecimento (ou, no nosso caso, educação complemen-tar) para o bairro Pró-Morar, estamos incrementando

128 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
nosso conhecimento sobre essa comunidade.Fazer parte da vida dessas crianças representa
para os integrantes grupo uma oportunidade ímpar tan-to sob a perspectiva profissional quanto emocional. Os momentos vividos com elas mostra-nos uma face da re-alidade do país que futuros profissionais de Gestão de Políticas Públicas terão de enfrentar em seu cotidiano, sempre vislumbrando a diminuição, mesmo que paulati-na, da desigualdade socioeconômica do país. A esperança de que os trabalhos descritos aqui estejam contribuindo para consolidar o caminho para uma sociedade mais jus-ta explica, em parte, a alegria que sentimos quando rea-lizamos as oficinas, e a serenidade que nos guiou quando enfrentamos o desestímulo para prosseguir.
Está claro para nós que os oficineiros se tor-naram um exemplo (modelo) para as crianças da co-munidade. Por isso, temos o cuidado permanente de pensar com cautela extrema cada atitude a ser tomada, pois elas podem nortear as crianças em sua manei-ra de agir no futuro. Mais do que para falar, o grupo está ali para ouvir o que essas crianças têm a nos dizer, sem fazer julgamentos, apenas compreendendo as ne-cessidades de cada uma delas. Essa atitude transmite uma intimidade às crianças para dizerem o que pen-sam e sentem. Por isso, o Clubinho também oferece um momento de desabafo e um lugar onde as crianças percebem que, nele, elas têm voz. Nesse ambiente, va-mos exercitando, em conjunto, a cidadania.
Com relação às ações futuras, vale observar que o grupo aspira ter maior atuação no bairro, fazendo a di-ferença em questões como a coleta seletiva, na tentativa de sair do campo das ideias para ingressar no campo da ação coletiva mais ampla. Sob a perspectiva universitá-ria, o objetivo é transformar a experiência agregada pelo OCUPEMBA na formatação de uma proposta que possa ser replicada por outros extensionistas da EACH-USP para outros bairros pobres da zona leste de São Paulo. Nessa direção, nossa proposição é finalizar este projeto – que permanece em curso –, com a sistematização das experiências adquiridas (gestão de conhecimento) sob a forma de um “manual” que possa facilitar outras inter-venções semelhantes no entorno da USP Leste.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] ASSUMPÇÃO RODRIGUES, Marta M. Políticas Públicas. São Paulo: Publifolha, 2010. p.47.
[2] BRASIL. Ministério da Educação. ProExt. Apresen-tação do PROEXT 2011: MEC/SESu. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12241&Itemid=488>. Acesso em: 5 set. 2011.
[3] INVESTIGADOR do 73º DP é assassinado no Li-mão. Jornal da Tarde, São Paulo, 18 fev. 2010. Cidade. Disponível em <http://www.jt.com.br/edito-rias/2010/02/18/ger-1.94.4.20100218.15.1.xml>. Acesso em: 10 set. 2011.
[4] LINDBLOM, C.E. The Science of Muddling Through. Public Administration Review, 19. p.78-88. 1959.
[5] LINDBLOM, C.E. Still Muddling, Not Yet Through. Public Administration Review, 39. p.317-336. 1979.
[6] RIPLEY, R.B. Stages of the Policy Process. In: Mc-COOL, D.C., ed., Public Policy Theories, Models, and Concepts: an anthology. New Jersey: Prentice Hall, 1995.
DEDICATÓRIA
Dedicamos o artigo à memória de Carlos Ro-berto da Silva Vilanova, o dr. Vila.

129OCUPEMBA
ANEXO
TABELA 1
Presenças Registradas – Maio-Julho, 2011
SEXO 6/MAIO 13/MAIO 20/MAIO 27/MAIO 3/JUN 10/JUN 17/JUN 24/JUN 1/JUL
Meninos 3 1 3Não
houve
2 1 0Não
houve
3
Meninas 9 7 5 5 4 7 5
Total 12 8 8 7 5 7 8
TABELA 2
Presenças Registradas – Agosto, 2011
SEXO 5/AGO 12/AGO 19/AGO 26/AGO
Meninos 3 5Não
houve
6
Meninas 7 13 11
Total 10 18 17


131
INSTRUÇÕES PARA O PREPARO E ENCAMINHAMENTO
DOS TRABALHOS
PREPARAÇÃO
Os trabalhos devem ter no mínimo 10 e no máximo 15 páginas, incluindo a referência biblio-gráfica. Se no trabalho houver a inclusão de imagem(s), esta (s) deverá (ão) ser enviada (s) em outro arquivo e com resolução de, no mínimo, 400 dpis.
TÍTULO DO TRABALHO
Deve ser breve e indicativo da finalidade do trabalho. O título deverá ser apresentado em por-tuguês e em inglês.
AUTOR (ES)
Por extenso, indicando a (s) instituição (ões) à (s) qual (ais) pertence (m). O autor para correspon-dência deve ser indicado com asterisco, fornecendo endereço completo, incluindo o eletrônico.
RESUMO EM PORTUGUÊS
Deve apresentar, de maneira resumida, o conteúdo, a metodologia, os resultados e as conclusões do trabalho, não excedendo a 200 palavras.
PALAVRAS-CHAVE
Observar o limite máximo de 3 (três). As palavras-chave em inglês (key words) devem acompa-nhar as em português.
RESUMO EM INGLÊS
Deve conter o título do trabalho e acompanhar o conteúdo do resumo em português. No caso de trabalhos escritos em língua inglesa, deverá ser apresentado um resumo em português.
INTRODUÇÃO
Deve estabelecer com clareza o objetivo do trabalho. Extensas revisões de literatura devem ser substituídas por referências aos trabalhos bibliográficos mais recentes, onde tais revisões tenham sido apresentadas.
MATERIAIS E MÉTODOS
A descrição dos métodos usados deve ser breve, porém suficientemente clara para possibilitar a perfeita compreensão e repetição do trabalho. Estudos em humanos devem fazer referência à aprovação do Comitê de Ética correspondente.
INSTRUÇÕES PARA O PREPARO E ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHOS

132 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
RESULTADOS
Deverão ser acompanhados de tabelas e material ilustrativo adequado.
DISCUSSÃO
Deve ser restrita ao significado dos dados e resultados alcançados.
CONCLUSÕES
Quando pertinentes, devem ser fundamentadas no texto.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
A exatidão das referências bibliográficas é de responsabilidade dos autores. Elas devem ser orga-nizadas de acordo com as instruções da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR-6023 e ordenadas alfabeticamente no fim do artigo, incluindo os nomes de todos os autores.
CITAÇÕES NO TEXTO
As citações bibliográficas inseridas no texto devem ser indicadas por numerais arábicos entre colchetes. Quando for necessário mencionar o(s) nome(s) do(s) autor (es) no texto, a seguinte deverá ser obedecida:
• Até 3 (três) autores: citam-se os sobrenomes dos autores;• Mais que 3 (três) autores, cita-se o sobrenome do primeiro autor, seguido da expressão latina et al.;• Caso o nome do autor não seja conhecido, a entrada é feita pelo título.
CITAÇÕES NA LISTA DE REFERÊNCIAS
A literatura citada no texto deverá ser listada em ordem alfabética e numerada de forma sequen-cial, usando numerais arábicos entre colchetes. A lista de referências deve seguir os padrões mí-nimos estabelecidos pela ABNT NBR-6023, de agosto de 2002, resumidos a seguir:
LIVRO NO TODO
Autor (es), título em negrito, edição, local, editora e ano de publicação.Exemplo: BACCAN, N.; ALEIXO, L. M.; STEIN, E.; GODINHO, O. E. S. Introdução à se-mimicroanálise qualitativa. 6. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1995.
LIVRO EM PARTE
Autor (es) e título da parte, acompanhados da expressão in:, da referência completa do livro, do capítulo e da paginação.Exemplo: SGARBIERI, V. C. Composição e valor nutritivo do feijão Phaseolus vulgaris L. In: BULISANI, E. A. (Ed.). Feijão: fatores de produção e qualidade. Campinas: Fundação Cargill, 1987. cap. 5, p. 257-326.

133
ARTIGO EM PUBLICAÇÃO PERIÓDICA
Autor (es) e título da parte, título da publicação em negrito, volume, fascículo, paginação, data de publicação.Exemplo: KINTER, P. K.; van BUREN, J. P. Carbohydrate interference and its correction in pectin analysis using the m-hydroxydiphenyl method. Journal Food Science, v. 47, n. 3, p. 756-764, 1982.
ARTIGO APRESENTADO EM EVENTO
Autor (es), título da parte, seguido da expressão in:, título do evento, numeração do evento (se houver), local (cidade) e ano de realização, título da publicação em negrito, local, editora, data de publicação e paginação.Exemplo: BRAGA, A. L.; ZENI, G.; MARTINS, T. L.; STEFANI, H. A. Síntese de calcogenoeni-nos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 18, Caxambu, 1995. Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1995. res. QO-056.
DISSERTAÇÃO, TESE E MONOGRAFIA
Autor, título em negrito, ano da defesa, número de páginas, descrição do trabalho acadêmico, grau e área de conhecimento, a vinculação acadêmica, local e ano de aprovação.Exemplo: CAMPOS, A. C. Efeito do uso combinado de ácido láctico com diferentes pro-porções de fermento láctico mesófilo no rendimento, proteólise, qualidade microbiológi-ca e propriedades mecânicas do queijo minas frescal. 2000. 80p. Dissertação (Mestre em Tecnologia de Alimentos) - Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.
TRABALHO EM MEIO ELETRÔNICO
As referências devem obedecer aos padrões indicados, acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquete, CD-ROM, on-line etc.), de sua localização (em caso de páginas eletrônicas) e data de acesso. Exemplo: SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações am-bientais em matéria de meio ambiente. In: _______. Entendendo o meio ambiente. São Pau-lo: SMA, 1999. p. 7-14. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar. 1999.
LEGISLAÇÃO
Jurisdição e órgão judiciário competente, título, numeração, data e dados da publicação. Exemplo: BRASIL. Portaria nº. 451, de 19 de setembro de 1997. Regulamento técnico princí-pios gerais para o estabelecimento de critérios e padrões microbiológicos para alimentos. Diá-rio Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 set. 1997, Seção 1, n. 182, p. 21005-21011.
AGRADECIMENTOS
Agradecimentos e outras formas de reconhecimento devem ser mencionados após a lista de referências.
INSTRUÇÕES PARA O PREPARO E ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHOS

134 REVISTA CULTURA E EXTENSÃO USP VOLUME 6
Manuscritos devem ser enviados para:
Revista Cultura e Extensão USPPró-Reitoria de Cultura e Extensão da USPRua da Praça do Relógio, 109 – Edifício Anexo ICidade Universitária – São Paulo - SP – [email protected] – www.usp.br/prc
TERMO DE CONCORDÂNCIA E CESSÃO DE DIREITOS DE REPRODUÇÃO
O (s) abaixo assinado (s) _______________________________, autor (es) do artigo intitulado _______________________________________, declaram tê-lo lido e, aprovando-o na sua totalidade, concordam em submetê-lo à Revista Cultura e Extensão USP para avaliação e possível publicação como resulta-do original. Esta declaração implica que o artigo, independente do idioma, não foi submetido a outros periódicos ou revistas com a mesma finalidade.
Declaro (amos) que aceito (amos) ceder os direitos de reprodução gráfica para a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP (PRCEU-USP), no caso do artigo com o título descri-to acima, ou com o título que posteriormente venha a ser adotado para atender às sugestões de editores e revisores, venha a ser publicado pela Revista de Cultura e Extensão USP ou quaisquer periódicos e meios de comunicação e divulgação da PRCEU-USP. Em adição (necessário se existir mais que um autor), concordamos em nomear _______________ como o autor a quem toda a correspondência e separatas deverão ser enviadas.
Cidade:Endereço:Data:Nome(s) e assinatura(s):


TítuloRevisão de texto
Revisão dos resumos em inglês
Projeto gráficoCoordenação de produção gráfica
Editoração eletrônica
FormatoFontePapel
Número de PáginasTiragem
CTP, Impressão e Acabamento
Revista Cultura e Extensão USPJosé Antonio Capellari
Luize RochaHomem de Melo & Troia Design
Vitor BorysowLuana Farias
205 x 265 mmBlair e Mrs. EavesAlta Alvura 90 g/m2
1361.000 exemplares
Rettec Artes Gráficas Ltda.