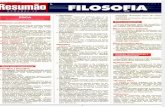Revista do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ - Volume 2
-
Upload
ricardo-nicolay -
Category
Documents
-
view
235 -
download
0
Transcript of Revista do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ - Volume 2
CFCHAno 1 N 2 Dezembro 2010CENTRO DE FILOSOFIA E CINCIAS HUMANAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ISSN: 2177-9325
R E V I S TA D O
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROReitor Vice-Reitora Pr-Reitora de Graduao Pr-Reitora de Ps-Graduao e Pesquisa Pr-Reitora de Extenso Pr-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Pr-Reitor de Pessoal Superintendente de Administrao e Finanas
Alosio Teixeira Sylvia da Silveira de Mello Vargas Belkis Valdman Angela Uller Laura Tavares Ribeiro Soares Carlos Antonio Levi da Conceio Luiz Afonso Henrique Mariz Milton Reynaldo Flres de Freitas
CENTRO DE FILOSOFIA E CINCIAS HUMANASDecano Vice-decana Coordenadora de Integrao Acadmica de Graduao Coordenadora de Integrao Acadmica de Ps-Graduao Coordenadora de Integrao Acadmica de Extenso Superintendente Administrativa Diretora do Colgio de Aplicao (CAp) Diretora da Escola de Comunicao Diretora da Escola de Servio Social Diretora da Faculdade de Educao Diretor do Instituto de Filosofia e Cincias Sociais Diretor do Instituto de Histria Diretor do Instituto de Psicologia Diretora do Ncleo de Estudos e Polticas Pblicas em Direitos Humanos (NEPP-DH) Suely Souza de AlmeidaREVISTA DO
Marcelo Macedo Corra e Castro Llia Guimares Pougy Sheila Backx Llia Guimares Pougy Anna Marina Madureira de Pinho Barbar Pinheiro Maria Goretti Mello Celina Maria de Souza Costa Ivana Bentes Mavi Pacheco Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro Marco Antonio Teixeira Gonalves Fbio de Souza Lessa Marcus Jardim Freire Marila Venancio Porfrio
CONSELHO EDITORIALAnita Prestes (UFRJ) Antonio Fausto Neto (Unisinos) Carlos Nelson Coutinho (UFRJ) Francisco Carlos Teixeira (UFRJ) Jos Paulo Neto (UFRJ) Luiz Alfredo Garcia Roza (UFRJ) Muniz Sodr (UFRJ) Raquel Goulart Barreto (UERJ) Virgnia Fontes (UFF)
CFCH
ISSN: 2177-9325
CONSELHO EXECUTIVOAndreia Frazo Anita Handfas Clia Anselm Eduardo Granja Coutinho Fernanda Estevam Hiran Roedel Leila Rodrigues Madalena da Silva Garcez Marcelo Braz Marcelo Macedo Corra e Castro Nilma Figueiredo Paulo Csar Castro Sara Granemann Editor-chefe Reviso Projeto Grfico Capa Diagramao:
Paulo Csar Castro Natrcia Rossi Paulo Csar Castro Fbio Portugal Clia Anselm e Paulo Csar Castro
Av. Pasteur, 250 Praia Vermelha Urca CEP 22.290-240 Rio de Janeiro RJ www.cfch.ufrj.br (21) 3873-5162 [email protected]
Centro de Filosofia e Cincias Humanas (CFCH)
EditorialOlhares mltiplos em tempos de fragmentaoMarcelo Macedo Corra e CastroDecano do CFCH
H
um amplo consenso nos estudos sobre o ensino superior no Brasil acerca do carter fragmentado e fragmentador que marca a histria das nossas universidades. Superar as consequncias limitadoras desse carter constitui um dos principais desafios para que as universidades brasileiras de fato se configurem como algo alm de aglomerados de escolas superiores. A reforma operada na ditadura civil-militar, por meio da Lei 5540/68, props uma srie de mudanas, das quais se destacou a extino da ctedra e a sua substituio, como unidade bsica, pelo departamento. O fim dessa mesma ditadura tambm resultou em transformaes importantes, com a conquista de mecanismos e prticas decisrias mais democrticas, ainda que constrangidas formalmente pela legislao autoritria que permanece, em parte, nos estatutos das IFES. J os anos 90 e, em especial, os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso com sua agenda neoliberal representaram para as IFES um tempo de ameaas e cortes, com perdas importantes de recursos e, sobretudo, de pessoal. Diante desse quadro, a retomada de investimentos nas universidades pblicas ope-
rada nas duas gestes de Luiz Incio Lula da Silva representou a possibilidade de recuperarmos prticas de planejamento, o que nos conduziu necessariamente discusso acerca da identidade e da misso da UFRJ. Nesse contexto, ressurgiu com destaque o desafio de superarmos a fragmentao. Durante cerca de dois anos, tendo como base o projeto de Plano de Desenvolvimento Institucional elaborado pela administrao central, discutimos a UFRJ e seus rumos. Essa discusso, todavia, ficou abandonada to logo iniciamos o debate sobre o Plano de Reestruturao e Expanso das Universidades Federais (REUNI). Quase quatro anos aps nossa adeso ao REUNI, comeamos a ter de lidar com algo mais do que os recursos oramentrios e a contratao de pessoal docente e tcnico. Esto evidentes diversas questes, com destaque para a insuficincia de espaos e de infraestrutura para a realizao das atividades de ensino, pesquisa e extenso da universidade. Talvez no esteja to claro, porm, o quanto a fragmentao, retirada dos debates bruscamente, avanou nesse mesmo perodo. Hoje, ela est no somente na condio de ensimesmamento poltico-acadmico-ad-
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
3
ministrativo das unidades, mas tambm na distncia entre o tratamento dado graduao e ps-graduao; na diferena que h entre as regras e os recursos que dizem respeito ao ensino, pesquisa e extenso; no esvaziamento da participao, nos colegiados e nos movimentos organizados, dos trs segmentos que compem nosso corpo social; no atendimento obediente s polticas desagregadoras e produtivistas das agncias de fomento e de seus editais. nesse contexto que a retomada do enfrentamento do carter fragmentado e fragmentador das IFES se impe como uma condio indispensvel para que a UFRJ, como outras universidades pblicas, evite que o
processo de pulverizao do conhecimento e das aes se instale de vez como marca de uma instituio que no soube aproximar-se de seus problemas para enfrent-los com coragem e lucidez. A Revista do CFCH busca contribuir para a aproximao dos diversos nichos de que se compem atualmente as reas de conhecimento na UFRJ. Ao definirmos grandes temas para a chamada de artigos e, ao mesmo tempo, recepcionarmos textos de todos esses nichos, procuramos fazer nossa parte para o enfrentamento da fragmentao e estimular a multiplicidade de olhares, marcas que a UFRJ precisa desenvolver de forma mais plena como universidade.
34i
4
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
sumrio3A Educao e as Cincias HumanasAna Maria Monteiro
EDITORIAL
Olhares mltiplos em tempo de fragmentao
6 9 20 34 55 72 93 103 118 139
depoimentoUniversidade: integrao em tempo de fragmentaoMarcelo Coutinho
em PautaTecnologia e capitalismo ps-industrialSrgio de Souza Brasil Silva
A escola como espao multicultural de e para a cidadaniaErnesto Candeias Martins
Desafios e superaes do ensino superior no mundo globalizadoMaria Ceclia Marins de Oliveira
Os egressos de Cincias Sociais de uma universidade pblica, na perspectiva da sociologia das profisses: formao e insero no mercado de trabalhoTania Steren dos Santos e Raquel A. C. Muniz Barreto
art gos
Da epistemologia ontologia atravs da hermenutica fenomenolgicaMaddi Damio Jr.
i
Educao, cidadania e incluso: um caminho para mudana?Natlia Regina de Almeida
Representao e memria do fado e do samba no quotidiano da cidadeRicardo Nicolay de Souza
Tropa de Elite: percepes de espectadores sobre a violncia policialFbio Ozias Zuker
155 TESES E DISSERTAES - 2010 171 NORMAS DE PUBLICAO
depoimento
A Educao e as Cincias HumanasAna Maria MonteiroDiretora da Faculdade de Educao da UFRJ
ducao prtica social, realidade complexa constituda por mltiplos e diferentes processos, objetivos e subjetivos, pelos quais o educando se transforma ou se pretende que se transforme em um ser mais completo e melhor. Processos estes muito variados nos indivduos e nos contextos scio-histricos nos quais se inserem. Constitutivos de subjetividades porque o ser humano aberto, plural, no programado realizam-se atravs da apropriao de idias, valores, sensibilidades, interpretaes que integram em estruturas e esquemas sociais, psicoafetivos e racionais. Educao prtica sociocultural, pois implica o desenvolvimento da capacidade de atribuio de sentidos aos processos e fenmenos vivenciados nas interaes sociais. Prtica sociocultural poltica porque implica compreender, situar/ocupar/contestar lugares e posies de poder. A educao, processo de grande complexidade, implica no apenas a constituio pela cultura, mas tambm transformao, desenvolvimento, contradio, diferena. Pela educao, cada ser humano produto e produtor de cultura. As prticas educativas algumas vezes so espontneas, intuitivas, no conscientes; outras vezes, resultam de objetivos pr-definidos, subordinam-se a um plano de ao de acordo com certas representaes que se tm do ser humano.
E
Sociedades complexas e diferenciadas, diferentes culturas, mltiplas e diferenciadas formas de educar. Educar para homogeneizar? Educar para reconhecer/negociar com a diferena? O que se faz ao educar? O que se sabe sobre o que se faz? O que se faz/o que fazemos com o que se sabe sobre o que se faz? Essas questes geram reflexes que expressam/resultam em compreenses, explicaes, interpretaes sobre o educar. A Pedagogia se constitui em conhecimentos, resultados de estudos sistemticos sobre o ato educativo, constitui-se em teoria da educao. Educao como prtica de pesquisa, lugar de produo de conhecimentos. Para isso, a contribuio de estudos e pesquisas da filosofia e das diferentes cincias humanas constituinte estratgica. A Filosofia e a Antropologia, a Cincia Poltica, a Epistemologia, a Histria, a Psicologia, a Sociologia, atravs de suas diferentes abordagens sobre os processos e fenmenos humanos, oferecem contribuio necessria e fundamental para a compreenso dos processos educativos. Alm disso, a complexidade inerente a estes processos, reconhecida na atualidade pelos pesquisadores das diferentes reas de conhecimento, induz a ampliao do escopo dos estudos e a incluso de reas inter/transdisciplinares, como os estudos culturais, os estudos sobre a linguagem, sobre a arte, no mbito dos referenciais terico-metodolgicos diversos e de grande potencial para a in-
6
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
vestigao e anlise educacional. Um alerta, no entanto, se faz relevante. A constituio das Cincias Humanas, ao longo dos sculos XIX e XX, ao ampliar as possibilidades de anlise e compreenso dos processos educativos, abriu tambm possibilidades de racionalizar cientificamente a educao. A fronteira entre as diretrizes e orientaes necessrias e prescries/normalizaes abusivas tnue e escorregadia. A educao como rea de conhecimento, ao se constituir, dialoga necessariamente com a Filosofia e as diferentes Cincias Humanas para a anlise dos processos em tela. No entanto, necessrio o reconhecimento da especificidade do ato educativo, permeado estruturalmente pela dimenso axiolgica. Esta caracterstica exige, do pesquisador, rigor e sensibilidade na escolha dos referenciais terico/metodolgicos que possam dar conta dos desafios que se apresentam nesta rea de fronteira, onde os limites entre compreender e prescrever, muitas vezes, podem gerar posturas autoritrias e excludentes. A educao como prtica de liberdade o desafio que nos anima e incita a prosseguir. A Faculdade de Educao, ao se constituir como unidade integrante do Centro de Filosofia e Cincias Humanas (CFCH) da UFRJ, reconhece a pertinncia e a potencialidade de sua insero como rea de conhecimento que dialoga e articula contribuies das diferentes Cincias Humanas, e da Filosofia, na formao de professores, de pesquisadores em educao e de gestores de projetos educacionais misso fundamental de sua atuao como instituio. O lugar estratgico que ocupa ao oferecer o curso de Pedagogia e na parceria com as demais 26 Licenciaturas da UFRJ, bem como
o Programa de Ps-graduao em Educao, possibilita que o dilogo com a Filosofia e com as Cincias Humanas se articule, por meio das aes de formao e de pesquisa, com conhecimentos de outras reas que so objeto de ensino/aprendizagem nos currculos: as Artes, Lnguas e Literaturas, as Cincias da Natureza, a Matemtica, a Educao Fsica, as Cincias Biolgicas, as Cincias da Sade, entre outras. O desenvolvimento de estudos e pesquisas inovadores voltados para problemas relacionados a aspectos didticos, aprendizagem em diferentes contextos sociais e culturais e em diferentes linguagens, s polticas educacionais, s aes de incluso, histria das instituies e processos educacionais, entre outros, induz realizao de estudos interdisciplinares que viabilizam a articulao de docentes e estudantes de diferentes Centros, contribuindo para o fomento da perspectiva humanista e crtica nos projetos e aes da Universidade. Por outro lado, a articulao que se realiza atravs dos estgios e de diferentes projetos educativos possibilita o estabelecimento de conexes de grande potencial transformador nas escolas dos diferentes nveis de ensino e na sociedade de forma ampla. A universidade, instituio de pesquisa, de desenvolvimento tecnolgico e de formao profissional, tambm tempo/espao de ao educacional. Tempo/espao que no se restringe aos seus limites fsicos, tem no dilogo crtico com a sociedade que a constitui, a sustenta e dela se nutre um processo estruturante e transformador de si e do mundo. Educao como prtica poltica de liberdade o desafio que nos anima e incita a prosseguir.
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
7
em PautaREVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
9
integrao em tempos de fragmentaoMarcelo CoutinhoProfessor de Relaes Internacionais da UFRJ, onde fundou e coordena o Laboratrio de Estudos da Amrica Latina (LEAL). Doutor em Cincia Poltica pelo Instituto Universitrio de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e mestre em Relaes Internacionais pela Universidade de Braslia (2001)
Universidade:
O
tema Integrao em tempos de fragmentao muito oportuno porque a fragmentao tem se dado, nas ltimas dcadas, tanto na universidade quanto no mundo, nas relaes sociais e internacionais. Eu gostaria de construir o meu argumento sobre a idia de que o conhecimento hoje, tal como ele se apresenta, fragmentado, departamentalizado, gera cada vez nais pontos cegos. Esses pontos cegos tm se acumulado a ponto de ser criado, s vezes, um verdadeiro borro sobre a realidade social e mundial, chegando, em determinados momentos, a ser at mesmo algo dramtico. Vou usar como exemplo um problema que foi experimentado pelo campo das relaes internacionais como prova das consequncias destes pontos cegos, dessa limitao crescente de viso. Em particular, uma dessas grandes mudanas ocorridas no incio dos anos 1990, que foi o fim do bloco sovitico, o fim da antiga Unio Sovitica e que teve todos os seus desdobramentos a partir de ento. As relaes internacionais sempre foram centradas em explicaes de carter sistmico, posto que sempre se preocuparam com as
relaes entre os Estados, como uma certa estrutura permanente na ordem, independente da poca, e que se mantm inalterada, que, de certa maneira, o que explica ou explicaria o comportamento dos atores e os resultados da cena internacional, seja do presente, passado ou futuro. Pois bem, esta viso antiga das relaes interancionais, muito centrada em explicaes sistmicas, foi completamente incompetente em antecipar, em prever ou mesmo explicar, medida que os acontecimentos se desdobravam, a dissoluo da Unio Sovitica, justamente por causa da sua incapacidade ou dificuldade em observar, de acordo com seus paradigmas tradicionais, os processos que vinham ocorrendo dentro da Unio Sovitica, uma vez que se olhava muito para as relaes sistmicas entre os Estados e, sobretudo naquela ocasio, para a bipolaridade, para a Guerra Fria e os seus padres. Assim, foi gerado um enorme ponto cego, observado a partir de todo o processo j em andamento e intensificado ao longo dos anos 1980, culminando com o fim da Unio Sovitica. Um processo completamente encoberto por este paradigma, por esta maneira
10
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
tradicional do campo, at ento. J existiam perspectivas concorrentes ao realimo, prespectivas liberais ou institucionalistas, que tentavam lidar com a questo da poltica domstica, das instituies domsticas e mesmo com papis dos indivduos, das suas lideranas e tambm com os chamados atores transacionais. Estes so os atores no estatais, que desempenham papis importantes nas relaes internacionais. Mas alm destas, houve o crescimemto de novas perspectivas francamente em razo desta dificuldade do campo em lidar com o processo histrico que modificou plenamente o mundo, levando ao fim da bipolaridade, ao fim da Guerra Fria, dando origem a um novo cenrio global. Houve uma grande incapacidade no campo das relaes internacionais de dar algumas explicaes sociedade sobre o que estava ocorrendo, e muito menos em prever o que tinha acontecido. Alm desses paradigmas institucionalistas, liberais, concorrentes ao paradigma realista dominante, em razo desse colapso da Unio Sovitica, da impossibilidade do campo em prev-lo, em explic-lo, fortalecem-se tambm outras novas perspectivas. Em particular, eu destacaria o construtivismo, que mais uma abordagem do que, digamos, uma teoria muito bem estabelecida. Uma abordagem porque ela enfoca, sobretudo, os processos, entre eles os processos domsticos, e tambm valoriza muito os aspectos da cultura e da identidade. Essas correntes alternativas ao paradigma dominante, ao mainstream acadmico das relaes internacionais, passam ento a ganhar maior flego medida que os anos 1990 evoluem e outros fenmenos vo acontecendo. Estas teorias vo ganhando cada vez mais espao dentro da disciplina, ao ponto de alguns autores ultimamente sugerirem,
inclusive, a modificao da prpria idia de relaes internacionais, j que esta traz consigo a noo de relaes entre Estados/Naes, empobrecendo, com isso, toda uma gama diversa de relaes globais hoje j existentes, e que muitas vezes desempenham um papel ainda mais valioso. Outro exemplo muito concreto e mais recente o 11 de setembro de 2001. O ataque terrorista matou mais pessoas do que o ataque japons a Pearl Harbor em 1941. Ou seja, em 2001, atores transacionais, no estatais, fora dessa concepo sistmica, foram capazes de criar um dano maior populao da maior potncia do mundo do que um Estado rival durante a 2 Guerra mundial. Esse um exemplo muito claro da importncia que assumem outros atores, em outras dimenses que no s aquelas observadas tradicionalmente pelas relaes internacionais, muito centradas na relao entre Estados. Ento o que se observa, ultimamente, a idia de ampliar a viso que se tem de relaes internacionais. O campo nasceu com o propsito de analisar o sistema de Estados soberanos e o seu equilbrio de poder. Foi assim desde 1648, com a Paz de Westphalia, passando pelo Congresso de Viena de 1815 e, de modo diferente, pelo Tratado de Versalhes e a formao da ONU no sculo XX. Como se v, o colapso da Unio Sovitica representou para as relaes internacionais o que o Titanic representou para a engenharia naval. Foi preciso que o campo se reorientasse, fizesse uma autocrtica e passasse a perceber outros aspectos. Essa discusso, como eu disse, avanou muito a ponto de hoje se propor que o foco recaia sobre estudos globais ou estudos sobre a sociedade global, sem diminuir a importncia dos Estados nacionais.
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
11
Alm dos Estados, preciso observar tambm o papel dos atores transnacionais, as ONGs, as multinacionais e as redes, tanto as legais quanto as ilegais, conforme mencionado no exemplo dos ataques terroristas de 2001. Mas tambm observando outros aspectos, no s os aspectos de segurana e de economia, mas tambm os da cultura, dos direitos humanos, do meio ambiente, enfim, um vasto leque de novas questes. Houve, digamos, uma reviso paradigmtica dentro do campo e esse debate paradigmtico acontece at hoje. E o principal objetivo da rea tornou-se justamente tentar diminuir isto que chamei de ponto cego. As anlises ortodoxas no campo de RI acabaram, na verdade, por levar a sua cegueira tambm para os tomadores de deciso da poca e, portanto, para toda a sociedade. O mundo mudou e a principal rea de conhecimento dedicada a ele se mostrou completamente incompetente em apresentar uma soluo analtica para a questo. Este um exemplo que me parece muito til, porque esse ponto cego parece que tambm se introduz nas outras areas do conhecimento. Mas antes de fazer uma observao sobre isso, importante ainda destacar que o colapso da Unio Sovitica, o fim da Guerra Fria, tambm inicia um processo de fragmentao mundial conforme mencionado no incio. A fragmentao no acontece s no conhecimento, na Universidade, mas tambm no mundo prtico. Existem outros pontos iniciais, conjunes crticas, mas o principal Big Bang do processo de fragmentao global , sem sombra de dvidas, o fim da Guerra fria, o colapso da Unio Sovitica. Existem outros processos muito importantes que j vinham acontecendo desde os
anos 1970, que levaram ao que depois ns chamamos de globalizao. Nos anos 1990, e isso se intensificou nos anos 2000, ns passamos a verificar uma srie de fenmenos. Imediatamente com a dissoluo da Unio Sovitica, houve uma pulverizao, uma fragmentao territorial da antiga Unio Sovitica, o surgimento de uma srie de movimentos de independncia, movimentos nacionalistas, no s na antiga Unio Sovitica, no s na sua zona de influncia, mas tambm em outros pases que tiveram tradicionalmente divises internas, mas que ficaram, ao longo da Guerra Fria, abafados pela bipolaridade, pela questo da segurana que acabava por impedir que algumas divises culturais, tnicas, de todo tipo, aflorassem. Retirada a tampa que impedia que esses movimentos florescessem, eles passam a eclodir em srie ao longo dos anos 1990 e 2000, compondo, assim, uma das caractersticas dessa fragmentao mundial. A outra, de certa maneira, a uniformizao trazida pelo processo de globalizao, que tende a uma certa homogeinizao cultural, poltica e econmica. Esses movimentos locais tendem, justamente, a apresentar toda a sua diversidade, pressionando o sistema e entrando em choque com o que seria o espectro global. Alm disso, temos ainda como outras caractersticas dessa fragmentao as redes transnacionais ligadas ao terrorismo, narcotrfico, trfico de armas e todo tipo de relaes transnacionais ilcitas que acabam alimentando a violncia nas nossas cidades, outro sinal de que algo no vai bem. Essas redes tambm se intensificam nos anos 1990 e encontram seu pice justamente no atentado de 2001. Tambm temos o movimento das estruturas de poder, das correlaes de fora
12
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
entre os pases. Imaginavam que, com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos seriam potncia hegemnica e nica por muito tempo, o que no aconteceu. Ficou comprovado que, na verdade, havia j um processo de difuso do poder mundial, que hoje, podemos dizer, se deslocava cada vez mais e continua se deslocando do hemisfrio Norte Ocidental, das antigas potncias coloniais, para o mundo emergente, localizado principalmente no Pacfico oriental, com a China frente. Outros pases como o Brasil tambm passam a ter um papel importante, mas esses deslocamentos de poder mundial, essa difuso que pode tambm ser lida como uma fragmentao de poder, tambm ocorre, sobretudo, em direo sia, que se torna uma potncia econmica cada vez maior. A China, por exemplo, hoje a segunda maior potncia mundial, superando uma srie de outras potncias antigas. Desenvolveu-se uma simbiose entre China e Estados Unidos. Ento, esse processo de difuso do poder outra caracterstica, a da desconcentrao, rompendo com o que se imaginava, de que haveria s uma hegemonia plena, uma nica grande potncia. Hoje vemos um mundo mais multipolar. Na verdade, h uma nica grande potncia no campo militar, mas no campo econmico hoje h uma ramificao, uma pulverizao, uma fragmentao cada vez maior. Alm disso, h ainda outro sinal dessa fragmentao mundial que eu destacaria: a fragmentao das instituies e organismos internacionais, isto , a dificuldade destes em acompanhar todas essas mudanas pelas quais vm passando as relaes globais. H uma dessintonia entre a ordem institucional, entre os organismos internacionais oriundos do fim
da 2 Guerra mundial e o mundo no sculo XXI. E essa dessintonia gera um problema que vem se acumulando numa crise de representatividade, numa crise de legitimidade crescente. No toa, h todo um descontentamento citando um exemplo muito concreto com o Conselho de Segurana das Naes Unidas, que tem como membros permanentes com poder de veto cinco potncias, os Estados Unidos, Gr-Bretanha, Frana, China e Rssia. Esses cinco pases so os membros permanentes e configuram uma ordem internacional ultrapassada, mas que se cristalizou e se mantm a despeito de todas as mudanas pelas quais o mundo passou. A crise da governana global vem dessa fragmentao, desse descompasso institucional progressivo. O pleito do Brasil de querer um assento permanente no Conselho de Segurana , nesse quadro apresentado, muito importante, pertinente mesmo. No s do atual governo; na verdade, do Estado brasileiro. O Brasil h dcadas trabalha por uma reforma nas instituies e organismos internacionais. Sempre trabalhou para que se mantivesse no Conselho de Segurana como membro temporrio, constantemente procurando voltar s cadeiras rotativas e tentando colocar essa agenda de mudanas de reformas internacionais. Ultimamente, tendo em vista o aprofundamento dessas mudanas todas, h um aumento da demanda brasileira por uma reforma e para que, finalmente, as reformas venham a acontecer. Nesse sentido, acho que legtima a posio brasileira. A ONU vai fazer 70 anos em 2015 - 200 anos tambm do Congresso de Viena - e, com isso, abre-se provavelmente uma nova oportunidade para que, aproveitando essa celebrao, sejam feitas algumas reformas
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
13
que passem, digamos assim, a corresponder a sua nova estrutura, a sua distribuio de poder real. Reformas que faam a ONU estar mais de acordo com a atual distribuio do poder no mundo e na qual o Brasil tenha um papel mais diferenciado. Aps a luta pela descolonizao e articulao internacional do mundo em desenvolvimento, hoje a principal agenda multilateral para o Brasil deve ser a reforma da governana global, alm da defesa da democracia, dos direitos humanos e da lei internacional. medida que as instituies internacionais se distanciam da realidade do mundo, elas perdem legitimidade e capacidade de atuao. Toda vez que necessrio ativ-las, cria-se uma celeuma, uma polmica ou mesmo uma crise em torno delas. E medida que o processo continua sem as reformas, as crises tendem a aumentar, aprofundando a fragmentao. Finalmente, no podemos esquecer tambm da prioridade entre as prioridades: a integrao regional, que passa pelo Mercosul, Unasul e Celac. A nossa regio deve ser o item nmero 1 da poltica externa brasileira. No pode ser diferente. Podemos trabalhar para diminuir a fragmentao na nossa vizinhana, com a qual temos laos no s territoriais, mas tambm histricos, polticos e culturais. Sob determinado ponto de vista, o regionalismo tambm sintoma da fragmentao mundial, uma vez que assistimos h pelo menos duas dcadas a formao de blocos econmicos que disputam entre si. Mas essa regionalizao , por outro lado, um componente da globalizao. Seja como for, bom ou ruim, vivemos em um mundo de regies. Pois bem, voltando aos chamados pontos cegos. Parece que a academia desempenha um papel muito importante. Nas ltimas dcadas,
ela enveredou pela sua especializao, pela especializao das areas, pela departamentalizao. Isso j vem acontecendo como um processo de longa data. Surtiu muitos efeitos, foi importante por uma srie de razes que no vm ao caso agora falarmos a respeito, mas no foi um movimento gratuito e no diria que foi errado. Acontece que, nas atuais circunstncias, de acordo com o meu argumento dos pontos cegos e frente a esse mundo cada vez mais complexo e abrangente, uma cincia ou uma universidade cada vez mais especfica, mais especializada, no parece em sintonia tambm com o mundo em que vivemos, cada vez mais complexo no sentido das suas interconexes. E agora interconexes no s dentro das unidades nacionais, dos pases, das sociedades nacionais, mas tambm dentro dessa sociedade global a qual me referi. Portanto, parece-me inadequada a tendncia da academia, da cincia, saber cada vez mais sobre cada vez menos. Se no passado isso foi importante, hoje gera e aumenta os tais pontos cegos. Saber mais e mais sobre menos e menos me parece agora ser contraproducente para a prpria sociedade em que vivemos. preciso estabelecer pontes entre as diferentes teorias e ramos cientficos, respeitando, claro, os departamentos. Houve na universidade vrios debates sobre a objetividade do conhecimento. Eu no quero aqui levantar esse debate, mas s falar sobre alguns aspectos que tm ligaes com o que eu estou dizendo. A universidade precisa procurar o conhecimento objetivo, no no sentido de uma verdade absoluta, mas no sentido de perseguir ideais humanistas e iluministas desse saber objetivo, porque afinal de contas ela precisa responder s demandas sociais, frente a esses novos desafios, produ-
14
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
zindo conhecimento que possam ser teis sociedade na busca pela paz, justia e democracia. Agora, ao mesmo tempo em que existe o conhecimento objetivo j houve tambm um debate muito grande sobre isso , espera-se que ele no esgote o trabalho feito na universidade. Na verdade, so muitas crticas feitas a esse tipo de viso cientfica restrita. necessrio, ento, tambm pensar na idia de conhecimento subjetivo ou intersubjetivo, ou mesmo na idia de conhecimento evolutivo, no no sentido da evoluo do progresso positivo ou progresso positivista, mas no sentido da mudana. medida que a realidade social a realidade mundial , se altera, preciso que o conhecimento e a universidade se adaptem a ela. Num determinado momento, a sociedade e os processos de modernizao estimularam a especializao da universidade. Hoje me parece que a sociedade demanda o oposto, frente a essa fragmentao no mundo e dentro da prpria universidade. A sociedade quer de ns, acadmicos, que enfrentemos o desafio do conhecimento objetivo, mas ao mesmo tempo intersubjetivo e evolutivo; um conhecimento que se adapte s mudanas, um conhecimento que v alm das mudanas. A sociedade no quer uma universidade conservadora, imvel, que simplesmente reproduza e reforce a fragmentao existente no mundo. Ela quer que a academia ajude a construir pontes entre os fragmentos sociais, pontes de concreto e de smbolos. Muitas vezes a sociedade quer que a universidade lhe diga verdades incovenientes, apontando os problemas, por mais duros que eles sejam. preciso que a universidade desenvolva um caminho oposto ao da feudalizao. No de reverso do que j foi construdo, nada disso, mas que se trabalhe no sentido contr-
rio ao da fragmentao, que cria mais pontos cegos. Caso no mude, a universidade pode incapacitar-se e perder valor social. Insisto que no falo no sentido de interromper a especializao das reas, mas no sentido de fazer com que passemos a desenvolver canais, redes, espaos de integrao entre essas mais diversas reas do conhecimento. Foi muito importante, num determinado momento, a universidade especializar sociolgos, cientistas polticos, economistas, historiadores, antroplogos, educadores, assistentes sociais, entre outros. Enfim, o que eu estou argumentando no que devamos acabar com isso, mas que preciso agora criar outro espao de maior interao entre todas essas disciplinas, uma maior interdisciplinaridade ou, enfim, o termo que seja mais apropriado. O campo das relaes internacionais prova de que se ganha muito trabalhando sob diferentes perspectivas. No obstante a multidisciplinaridade, RI encontra sua disciplina prpria justamente no seu corpo terico. Dialoga com vrios ramos do conhecimento ao ponto de quase perder personalidade prpria, mas se qualifica para compreender o mundo contemporneo de uma forma mais abrangente e integrada. A disciplina de relaes internacionais redescobre sua identidade na diversidade. Uma explicao, por exemplo, apenas econmica do processo de globalizao uma explicao insuficiente, parcial, limitada demais. Por outro lado, uma viso apenas poltica ou apenas cultural tambm vai revelar somente parte dessa realidade, gerando os tais pontos cegos e agora numa escala global. Portanto, parece que o desafio maior da universidade o desafio da integrao nestes tempos de fragmentao na qual a prpria universidade se inseriu.
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
15
O processo de mudana do modelo histrico de organizao da universidade difcil. Se eu fosse apostar, diria que teramos mais chances de fracassar do que ser bem sucedidos, porque medida que esse processo aumentou, posies, costumes, tradies, feudos foram consolidados. O que acontece na universidade no muito diferente das relaes de poder, no muito diferente do que acontece na sociedade. Nesse sentido, no uma reverso o que eu estou propondo, mas a existncia de canais que integrem essas reas, preservando a sua integridade especfica, mas ao mesmo tempo criando espaos de conhecimento comum. Sugiro, por exemplo, colocar socilogos, antroplogos e internacionalistas juntos, debruados sobre um mesmo tema, mas verdadeiramente integrados, possibilitando inclusive o ensino superior compartilhado. O problema que as pessoas esto muito arraigadas, no s s suas posies departamentais, polticas, mas tambm aos seus paradigmas, s suas teorias, e isso torna o desafio duplamente difcil. Antes de tudo, precisamos nos abrir para a universidade, precisamos estar abertos integrao acadmica. Uma importante questo atual para a universidade tambm a formao de profissionais. Qual o perfil do profissional que a universidade vai formar? Atendendo ao atual modelo econmico ou pensando em outros caminhos possveis? Este o debate que leva a um aspecto bastante sensvel, porque se a universidade no fizer sua mudana e essa mudana significa maior integrao do conhecimento visando diminuir os pontos cegos outros meios faro ou j vm fazendo, sobretudo nos setores da sociedade que tm mais recursos financeiros; e neste caso eu estou especificamente falando do mercado, do sistema
econmico. Se a universidade no capaz de dar a resposta que a sociedade precisa, a sociedade passa a buscar as respostas em outros lugares, pois a universidade no uma ilha sozinha no mbito do conhecimento; existem outros concorrentes, digamos, da universidade, como as ONGs e os chamados think tanks, que produzem estudos muito condicionados, de acordo com os interesses dos seus financiadores, sejam pblicos ou privados. Com isso, as universidades correm o risco de perder a sua utilidade duplamente, no s porque no respondem, do ponto de vista do conhecimento, a esses desafios novos, mas tambm porque perdem a sua capacidade de apontar as contradies dessa sociedade, que passa a gerar outros centros disseminadores do conhecimento comprometidos com setores fragmentados. A despeito de toda dificuldade pela qual passa, a universidade ainda o melhor espao para gerar no o conhecimento neutro, mas o conhecimento plural e global, o conhecimento que capaz, justamente, de integrar todas essas diversas correntes e segmentos sociais. Mas a universidade tambm tem os seus compromissos, distintos daqueles especficos de uma organizao vinculada ou patrocinada por uma determinada empresa com fins especficos. O que torna ainda muito valiosa a universidade o fato de ela ainda ser um espao por excelncia do conhecimento para a sociedade, embora no venha necessariamente desempenhando bem esse papel. Dito isso, qual o profissional que a universidade precisa gerar? Que profissional que a sociedade espera que a universidade gere? Eu acho que difcil descrever, delinear com preciso esse profissional. Talvez seja interessante partirmos do que no deve ser. Talvez excluindo certas caractersticas nos facilite
16
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
na busca de qual profisssional a universidade precisa formar. Eu acho que existem alguns modelos dos quais a universidade precisa escapar. O primeiro o modelo da torre de marfim, ou seja, acadmicos isolados discutindo muitas vezes o sexo dos anjos, desenvolvendo teorias no tenho nada contra contra a abstrao, muito pelo contrrio , mas teorias to abstratas que muitas vezes no tm qualquer conexo com a realidade e os problemas. O modelo da torre de marfim, do acadmico isolado, sozinho, produzindo para um pequeno grupo, que fala para meia dzia de pessoas, publica em uma ou duas revistas especficas, que s tm no mximo vinte leitores, daquela rea especfica, discutindo mais e mais sobre menos e menos. Precisamos mudar algo, escapar desse padro. Outro padro que devemos escapar o da universidade como um partido poltico ou como um movimento social. J existem outros setores, outros atores, outros agentes sociais mais competentes, cujo objetivo este na sociedade. No me parece ser este o papel da universidade, o de ONG, de movimento social, de partido poltico, muito menos de um nico partido poltico. No s porque h uma pluralidade de pensamentos, mas tambm porque a discusso intelectual depende da liberdade. J existem muitas instncias doutrinrias, coercitivas e autoritrias na sociedade, a Universidade no deve ser mais uma, pois seria um desastre. Sem a liberdade fica muito difcil a universidade gerar essas mudanas que ela precisa gerar dentro de si mesma. Ento esse o segundo padro, o sectarismo. No podemos cair na universidade dos partidos polticos, porque ela no vai ser s menos competente, como corre o risco, inclusive, de passar a gerar desconfiana por parte da so-
ciedade, que pode um dia olhar para a academia e ver um ator parcial, comprometido, partido, fragmentado. O modelo partidarizado da universidade nos distancia da tarefa de alcanar uma viso mais global dos problemas. Isso tambm est muito relacionado com os desafios individuais dos professores e pesquisadores. Precisamos estar abertos a uma reflexo terica, paradigmtica, intelectual de verdade, que transcenda as preferncias partidrias. Por isso que muito difcil, pois essa predisposio para a mudana comea num nvel individual. Ento tem que sair do padro torre de marfim, do padro partido poltico ou ONG, tem que escapar ainda do padro da universidade como escola tcnica. A universidade no uma escola tcnica. Ela bem mais do que isso. Uma universidade gera profissionais teis para a sociedade, engenheiros, mdicos, advogados e assim por diante. Mas ela no se esgota na tcnica. Assim como ela tem um pedao de torre de marfim, um pedao de mobilizao social, ela tambm tem um pedao muito significativo, bvio, de gerao de mo-de-obra qualificada para o desenvolvimento do pas e, sobretudo, um pas como o Brasil, que ainda tem muito por fazer no campo do desenvolvimento. Mas a reproduo e transmisso da tcnica no deve ser o objetivo maior da Universidade. O nosso maior objetivo a universalizao do conhecimento, diminuindo, de preferncia, os pontos cegos aos quais j me referi. O fornecimento de mode-obra especializada um objetivo que tem que ser perseguido, mas a Universidade no pode se restringir a isso, at mesmo porque existem escolas tcnicas que formaro profissionais com muito mais rapidez, menos custos e conectadas s exigncias do mercado.
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
17
A Universidade precisa gerar profissionais, aumentar a empregabilidade, digamos assim, dos seus estudantes, mas ela tambm no pode tornar isso uma camisa de fora. Acho que temos que escapar do modelo de torre de marfim, do modelo partido poltico e do modelo tcnico, pois o objetivo principal da univerdade a produo de conhecimento novo e a formao plena dos alunos. Na universidade, a anlise do contexto to ou mais importante que a tcnica utilizada dentro dele. A anlise de uma situao-problema e todos os seus significados muito valiosa para deixar-se dominar pela tcnica, que um instrumento. Enfim, a tcnica no esgota a inteligncia que a universidade precisa estimular. No iremos muito longe se no fizermos boas perguntas realidade fsica e social. A tcnica depende disso. E h finalmente outro modelo, o quarto, que na verdade est muito relacionado ao terceiro, mas vale a pena salient-lo, que a Universidade como forma de renda para setores dentro dela. Uma Universidade pblica que passa a exigir, a obter renda, oferecendo sociedade cursos pagos, uma forma de privatizao. Esse um problema muito grande porque nisso a Universidadee corre o risco de ser capturada por, justamente, essas outras formas de conhecimento muito condicionadas a certos interesses encontrados no mercado. Fora o aspecto tico, evidentemente. Universidade pblica pblica. Compreendo que h uma defasagem salarial muito grande no Brasil dos professores doutores em comparao a outras carreiras
34i
do Estado, como a dos gestores governamentais, reguladores e diplomatas, que s exigem ensino superior completo e, embora sejam importantes, no tm a centralidade adquirida na era do conhecimento em que estamos entrando. Mas privatizar os cursos talvez no seja o melhor caminho para resolver essa distoro. O caminho passa pela valorizao da educao, a comear pela remunerao condizente dos seus profissionais e uma maior flexibilidade. Penso que a Universidade deva procurar formas de financiamento alternativo. H toda uma dificuldade salarial dos professores, e se nada for feito provvel que tenhamos que buscar mesmo uma maneira complementar de fazer acontecerem as condies ideais para o trabalho acadmico. Existem, claro, processos em andamento e eu acho que no se pode fazer vista grossa a eles, e muito menos estigmatiz-los no ensino superior, mas me parece que vai ser uma armadilha perigosa se deixarmos esse tipo de modelo de Universidade crescer muito, se disseminar, de muitas vezes se tornar mais importante do que o trabalho de formao bsica, pblica e de qualidade oferecido pela Universidade. Para enfrentar o desafio de integrao em tempos de fragmentao, precisamos de uma instituio para todos, que forme no s engenheiros de pontes de concreto, atraentes para o capital, mas tambm arquitetos de pontes simblicas, capazes de reunir os fragmentos sociais. A superao dos pontos cegos comea com o reconhecimento das nossas prprias dificuldades.
18
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
artigosREVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
19
Tecnologia e capitalismo ps-industrialTechnology and post industrial capitalism Tecnologa y capitalismo post industrial
Sergio de Souza Brasil SilvaDoutor, professor aposentado da UFRJ
ResumoO artigo tenta compreender as relaes atuais entre o desenvolvimento tecnolgico e o capitalismo ps-industrial. O autor adverte para o fato de que as novas tecnologias produzem um novo controle do pensamento humano.
Palavras-chave:Novas tecnologias; controle do pensamento; capitalismo
AbstractThe article tries to understand the modern relations between technological development and post industrial capitalism. The author warns how these technologies produce a new meaning of thought control.
Key words:New technologies; thought control; capitalism
Palabras clave:Nuevas tecnologas; control del pensamiento; capitalismo
V
ivemos a computopia. Um peculiar entorno social fundado no complexo computo-infotrnico produz, hoje, um tipo singular de engenharia de invenes ao mesmo tempo em que configura novos jogos de saberes, de valores declaradamente desterritorializados e comportamentos que se estruturam e se manifestam sem levar em conta os referenciais clssicos de tempo e espao. O atual processo de interao pessoal e comunicativo se d, sobretudo, nas redes telemticas das quais, ento, afloram novos delineamentos de sujeitos culturais. Estamos experimentando, na verdade, um peculiar estado civilizatrio organizado em torno de um projeto de poder baseado na revoluo dos sistemas interativos e, portanto, sob uma determinao histrica que manifesta condies de concepo e instalao tpicas de um novo momento do capital. Esta nova expresso civilizatria se chama cultura da tecnologia espao de valores e representaes dependente dos recursos tcnico-operacionais para viver ou at mesmo sobreviver e no qual cada nova realizao pode ser controlada e gerenciada de maneira quase absoluta. Sob condio imperativa, a vida contempornea do dia a dia se organiza socioculturalmente por intermdio dos artefatos-mercadorias e neles repousa, sobretudo, sua concepo de bem-estar. A ltima dcada do sculo passado viu nascerem, crescerem e se desenvolverem os sistemas tecnolgicos miditicos, e sua amplificao na vida do homem cotidianizado faz com que hoje seja impensvel uma sociedade sem a existncia destes suportes transmissores e geradores da audincia e da opinio pblica. O aqui/agora vive ento o otimismo e as delcias de um mundo em que as tecnologias informticas se transformaram efetivamente em tecnologias do pensamento, isto , onde tudo pode ser possvel, bastando que os intelectuais orgnicos (no sentido expresso por Gramsci) desta nova gerao deliberem que essas tecnologias do pensamento se materializem em tecnologias sociais, e que estas integrem a experincia vivida de cada um.
Sergio
de
Souza BraSil Silva
La tarea de inventar una nueva forma de pensar y de relacionarse los hombres entre s, en la que no se simula nada en presencia, es otra cosa totalmente diferente.(...) La labor del inventor social es, por tanto, ms compleja y delicada que la del inventor ingeniero (...) La eficacia del inventor social depende en gran medida de que el grupo humano a quien dirige su propuesta de diseo acabe comprometido en una invencin (...),convencido de que tiene que cambiar sus anteriores valores y comportamientos. (ROJO, 1992, p. 185)
Assim que este novo sistema de inveno social expresso, sobretudo, na difuso de artefatos pensantes (mquinas lgico-tericas que operam como processadores de smbolos e, em essncia, de ideias) assume mbito planetrio impulsionado pelos modismos de categorias to acolhedoras quanto imprecisas, como os termos globalizao, sociedade telemtica, ps-fordismo, sociedade do cio etc. Os fatores diferenciadores e contextualizadores so, por outro lado, tratados superficialmente pelos estudos de multiculturalidade (uma divertida questo a ser ainda corretamente teorizada), onde, inclusive intencionalmente, se marginaliza a ideia de que a questo central da multivocalidade se encontra na plena aplicao do discurso democrtico e no nas investigaes etnogrficas; o que no indica obrigatoriamente o modelo de democracia poltica hoje existente, ou seja, uma concepo de democracia excludente, formalizada somente enquanto espao burgus parlamentar. De indiscutvel ou indubitvel s uma certeza: a de que a hipertrofia dos fluxos internacionalizados de capital e mercadorias (global market place) nos oferece hoje uma sociedade to amplificada e univocalizada que qualquer busca das diferenas e das contradies generosamente manipulada, haja vista que as operaes pragmticas de carter universal assumiram a condio de sistemas tericos de explicao. As formas narrativas so agora determinadas pelos processos instrumentalizados e, por tal motivo, miticamente corporificam a condio de sujeitos enunciadores do real. Em poucas palavras: o mundo social se confunde com o mundo tcnico-tecnolgico; os homens se reificam na contnua reproduo das prteses instrumentais e no consumismo indicador de um prazer de efeito insacivel e onde tudo, absolutamente tudo, das coisas s estruturas simblicas, se converte continuamente em peas de uma gigantesca concepo utilitarista de mundo e de abusiva materializao do conceito de mercado. A ideologia da Grande Sociedade organizada na abundncia e na li-
22
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
Te c n o l o g i a
e
capiTaliSmo pS-induSTrial
vre troca se constitui, pois, na farsa liberal do mundo nico das mltiplas oportunidades. As tcnicas e a cultura tecnolgicas, ou seja, esta tecnoutopia explicativa e legitimadora do capitalismo contemporneo apresenta intensa expresso poltica; at porque j aceito por todos que a inovao tcnica contempornea como todo o curso da histria das transformaes no se apresenta como fenmeno isolado, mas, pelo contrrio, como fator crucial para explicar os mecanismos de ajuste dinmico das trocas e dos investimentos financeiros, das modificaes ocorridas nas instituies sociais e nas suas formas de manifestaes culturais. Em que pese o jbilo de alguns pesquisadores (scheer, 1994; negroponte, 1995; koelsch, 1995; mitchell, 1995) para com as chamadas tecnologias digitais, os problemas decorrentes dessas novas tecnologias de inveno esto produzindo sensveis questes para o ciclo econmico e para a dinmica do crescimento sustentado com base em um mercado policompetitivo. Hoje nos colocamos frente a uma pergunta fundamental: Qual ser o limite ou limites polticos do progresso tecnolgico? Estudos realizados na dcada dos 80 (martin, 1980; madec, 1984; beniger, 1986; schiller, 1986) e dos 90 (king, 1991; barnet & cavanagh, 1995; lachat, 1995) j indicavam, direta ou indiretamente, que nos aproximvamos perigosamente da tendncia assinttica do progresso tecnolgico nos pases considerados economicamente mais expressivos. Tais indicaes no apontavam somente para a geomtrica escassez de recursos naturais ou para a deteriorao do meio ambiente, mas para um efetivo esgotamento das prprias modelagens de desenvolvimento. Ou seja, os avanos cientficos e tecnolgicos aplicados produtividade industrial e comercial, os investimentos e legislaes acolhedoras de uma competitividade por adio de high value, a mundializao financeira sem fronteiras (organizada principalmente em torno dos capitais especulativos e das diretrizes estabelecidas pelo Consenso de Washington) e a crescente convergncia entre os complexos sistemas de transmisso da informao, armazenamento e processamento colocam-nos, hoje, em um estgio to alto de possibilidades disponveis que quase impossvel que sigam otimizando no mesmo ritmo observado. Isso nos permitiria concluir que, estando as foras impulsionadoras do progresso tecnolgico em estado de atrofiamento, no nos caberia supor melhorias avassaladoras no padro de vida dos pases centrais e, mais ainda, nos considerados como em desenvolvimento. Se observarmos do ponto de vista histrico, constataremos que a institucionalizao da OMC determinou drasticamente a morte da regulamentao de tarifas, pois, no mundo do contemporneo, os jogos tarifrios
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
23
Sergio
de
Souza BraSil Silva
no se apresentam obrigatoriamente como fatores impeditivos grandiosidade alcanada pela expanso comercial. Os produtos industriais, por exemplo, considerando diacronicamente as trocas internacionalizadas, tiveram suas tarifas reduzidas nos ltimos vinte anos, de uma mdia de 40% para 4,7%. Isso indica que somente de forma muito problemtica o desenvolvimento dos pases considerados de terceiro mundo poderia ampliar, nas atuais circunstncias em todo caso de maneira muito lenta e com custos sociais dolorosos seus horizontes comerciais. Mesmo que no tivessem experimentado a forte crise econmica atual, os economistas dedicados a analisar os relatrios internacionais podem, por exemplo, observar as dificuldades que encontraro os Estados Unidos da Amrica para manter seus oramentos em pesquisa e desenvolvimento ao nvel de 2,5% do PIB, j que se evidencia um efetivo cansao nos processos de inovao mesmo sob os estmulos do mercado de armamentos de ataque e defesa. Por outro lado, constatvel que todos os pases da ocde, sem nenhuma excluso, experimentaram fortes declnios em suas taxas de produtividade na primeira dcada dos anos 2000, se comparados aos anos 80, o melhor de todos. E mesmo que os atuais investimentos em otimizao tecnolgica se mantivessem aos nveis mdios dos anos 80, notaramos que tais recursos levariam cada vez mais tempo para atingir uma promissora utilidade social. Mesmo na rea da biotecnologia, cujos investimentos em pesquisas tm sido altamente concentrados, tem-se experimentado uma estabilizao da inovao se relacionarmos esta aos benefcios materiais alcanados. Hoje, portanto, as possveis grandes descobertas que podem intervir na vida do homem cotidianizado se realizam em ritmo cada vez mais lento e demonstram no passar de variaes melhoradas de recursos anteriormente j disponveis. Ou seja: como afirmar que o principal j foi essencialmente descoberto e que qualquer nova e radical transformao no mbito da tecnologia comprometer elevado custo de tempo e dinheiro. A acelerao da engenharia das inovaes est, pois, estabilizada ou em descenso, o que evidencia resultados cada vez mais modestos e, considerando a expresso mundializada do mercado atual, no seria nenhum absurdo afirmar que a expansividade tecnolgica ir conhecer nos prximos dez anos seus limites mximos. No terreno da liberalizao econmica, a poltica do livre fluxo de mercadorias, inclusive as financeiras, trouxe ao circuito tecnolgico possibilidades de otimizao crescente, mas, em contrapartida, tem-nos oferecido situaes definitivas. Isto : em que pese a oferta liberal de se dispor de uma extensa variedade de produtos tecnolgicos de alto valor agrega-
24
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
Te c n o l o g i a
e
capiTaliSmo pS-induSTrial
do, somente os pases detentores de engenharia de inovao continuaro sendo os principais determinadores do modo de consumo, reconstruindo, em outro contexto histrico, a jamais superada questo entre pases centrais na produo de inovao e pases perifricos no consumo mercadolgico destas inovaes. Os chamados setores modernos dos pases perifricos, originrios em sua maioria de uma economia exportadora de acumulao induzida, atuam privilegiadamente como reprodutores de bens tecnolgicos j consolidados e, portanto, com baixos nveis de investimentos em inovao, ao mesmo tempo em que, em desrespeito s reais necessidades de suas populaes locais, funcionam como indutores mercadolgicos de bens tecnolgicos suprfluos atravs da articulao de uma publicidade fundada em valores burgueses de consumo individualista e dentro de uma concepo universalista de origem europeia e norte-americana, cujo efeito normativo estes pases ainda no se dispuseram a avaliar. Tal evidncia confirma a indicao de que aos pases em desenvolvimento obstrudas que foram as suas chances de intervir como coenunciadores no mercado da engenharia de inovao capitalista no lhes restar outra oportunidade seno a de operarem fora do curso das tecnologias de ponta e de atuarem, basicamente, como inovadores do estado da arte nos limites de sua funcionalidade; lumpendesenvolvimento nem sempre reconhecido pelos exaltados tecnoburocratas de planto. E mesmo estes pases que j estejam experimentando modificaes no setor industrial e de servios, dando lugar a um capitalismo de efeitos internacionais com modernas tcnicas de produo, operrios mais qualificados e um grupo expressivo de empregados tercirios urbanos, seguem em virtude das prprias especificidades dos centros hegemnicos enunciadores submetidos a uma participao marginal que os obriga a conviver com um importante exrcito industrial de reserva de mo de obra e com salrios continuamente declinantes. No caso especfico dos salrios declinantes, o espao mundial capitalista criado pelas novas tecnologias determinou significativa reviso na diviso internacional do valor de troca do trabalho, ou seja, que o tempo de trabalho socialmente necessrio para produzir uma mercadoria passa agora a ser aquele que uma determinada fbrica utiliza em qualquer parte do mundo a partir dos meios tecnolgicos adequados ao seu uso. A situao se objetiva no momento em que tal fbrica enquanto fbrica mundializada utiliza a mesma tecnologia em seus segmentos internacionalizados, o que implica, pois, um tempo de trabalho mundializado, socialmente necessrio.
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
25
Sergio
de
Souza BraSil Silva
Portanto, o fator nodal para minimizar o tempo de trabalho e no perder competitividade ser o capital varivel, ou o tema dos salrios nacionais diferenciados. Desta forma se nos apresenta a seguinte condio: mundializao do valor, a partir de corporaes multinacionais de efeitos globais que fabricam em pases com custos salariais estruturalmente distintos. Como concluso lgica: a produo de mercadorias em pases com tempo de trabalho menor ser mais competitiva, e, assim, para reduzir o capital varivel e aumentar a taxa de mais valia, ou se barateiam os bens salariais ou se declinam os salrios. Na segunda alternativa, mesmo que se crie uma crise de subconsumo, a soluo ter sempre como fator manipulador a flexibilizao do trabalho (contratos temporrios com eliminao de direitos trabalhistas ou diminuio da carga horria de trabalho), combinada ou no com a precariedade do emprego. Este quadro de generalizao internacional do atual ciclo capitalista propiciar, ainda, o seguinte mecanismo: enquanto a tecnologia de inovao produzida nos pases capitalistas centrais assegura a explorao dos pases capitalistas em desenvolvimento, a prpria tecnologia perifrica (uma tecnologia de teste de produtos e, por isso, de extrema funcionalidade) tambm existe para reproduzir a prpria condio de explorao dos chamados, otimisticamente, pases em forte processo de crescimento econmico. Esta situao hoje uma das chaves para o entendimento dos processos de submisso cultural e ideolgica. O atual panorama econmico e tecnolgico permite ainda deduzir que a engenharia de inovao em uso est cada vez mais orientada para produtos e servios feitos sob medida e , sobretudo, com este propsito que se intenta o encontro de solues de alto valor agregado diretamente articuladas a uma tecnologia particular e um mercado demandante especfico. Assim, a velha competitividade fundada nas economias de escala gerencialmente substituda por uma no verticalizao dos processos industriais e por uma competitividade baseada na aplicao intensiva de conhecimento tecnolgico e, portanto, com tais exigncias, os empregos fixos nointelectuais retrocedero para um desemprego estrutural suprassistmico.El primer problema importante que surge de la nueva revolucin tecnolgica es el de cmo asegurar el mantenimiento de un ejrcito de personas estructuralmente desempleadas, que han trabajo e perdido sus puestos de causa de la automatizacin de la produccin y los servicios (SCHAFF, 1984, p. 201).
26
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
Te c n o l o g i a
e
capiTaliSmo pS-induSTrial
Este quadro, considerado inevitvel pelos pesquisadores (no caso dos pases em desenvolvimento e at mesmo nos considerados perifricos, em que a situao se agravar em face da progressiva bipolaridade na distribuio da renda), est se confirmando atravs de ndices estatsticos crescentes de perdas de postos de trabalho, em razo da poltica econmica de internacionalizao competitiva por uso incrementado de valor tecnolgico. Tal fenmeno j , inclusive, constatvel nos Estados Unidos da Amrica (em Chicago, um em cada dois jovens no conseguem obter emprego) e, em outro exemplo, no Canad, onde 25% dos trabalhadores perderam suas ocupaes nos cinco primeiros anos deste sculo. A tentativa mais frequente para administrar o problema tem sido a de se concordar empresrios e sindicatos (a chamada poltica para preservao do emprego e criao de novas ofertas de postos de trabalho) com uma reduo gradativa das horas de trabalho individual, acompanhada de sensvel modificao nos salrios recebidos e equivalentes a um crescimento dos ganhos laborais em ritmo menor do que as taxas obtidas pela inflao anual. Outra soluo seria (como propem os empresrios que se consideram social-democratas) uma reforma no mercado de trabalho que permita maior flexibilidade na contratao e um significativo barateamento no custo das demisses. Estas deliberaes, j frequentes nos pases centrais em engenharia de inovao, tendem a ser aplicadas aos outros pases dependentes de tecnologia de inveno que, como bons subalternos, reproduzem com sofreguido as diretrizes do pensamento liberal, ao mesmo tempo em que no se preocupam e nem consideram a necessidade de aes que modifiquem os dispositivos jurdicos que asseguram direitos de propriedade socialmente injustos ou at mesmo de uma diretriz poltica que produza paralelamente a redistribuio dos postos de trabalho e que favorea a eficaz distribuio da renda. Por outro lado, no mbito empresarial, a busca da opulncia tecnolgica estimulada pela filosofia do mercado liberal tem provocado problemas na esfera dos custos industriais. A partir do momento em que se fixa como palavra de ordem a competitividade extremada e, como consequncia, a procura contnua por preos mais acessveis ao grande pblico consumidor, passamos a observar uma reconfigurao, agora bem polarizada, da eficcia produtiva. As explicaes economtricas com suas variveis pretensamente neutras devem esclarecer tais aumentos e redues, mas, no campo da poltica, as empresas europeias e norte-americanas, em que pese suas velhas teorias de livre concorrncia, reclamam o retorno de medidas protecionistas fundadas numa poltica industrial (a) que reduza mais ainda
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
27
Sergio
de
Souza BraSil Silva
1
A principal tendncia do empresariado contemporneo e com base no uso crescente dos servios automatizados ser a de transferir tarefas para os consumidores, fazendo com que estes realizem funes antes executadas por seus empregados.
os custos de mo de obra, (b) que determine crescimento da oferta de investimentos subsidiados a longo prazo e (c) que proclame e estimule a necessidade da populao consumir, pondo fim ao paradoxo da poupana, isto , onde todos poupam e se tornam economicamente austeros, destri-se a produo industrial e a economia vir abaixo. Ressalte-se ainda a sugesto feita pelos empresrios norte-americanos e europeus de que considere-se Davos/2010 deve-se incrementar um sistema de concorrncias no predatrias acompanhadas de formas protecionistas do Estado, ou melhor, que este seja o gestor poltico das concorrncias intrablocos, mas, tambm, que estimule a permanncia do processo de mundializao da economia como caminho para manuteno de ndices otimizados de engenharia de inovao e decrscimo de preos. Ampliando os paradoxos: se h algo de que no gosta o empresrio dos pases centrais competir. No momento em que perdem suas vantagens competitivas, se apressam em construir barreiras de proteo por meio da cumplicidade de seus governos, quer por subvenes ou homologao de cotas, ou ainda por arranjos internacionais que faam seus produtos circularem sem grandes riscos. Por outro lado, os idelogos da concorrncia cristalina se instalaram nos pases em desenvolvimento, estimulando a reduo a qualquer custo do dficit pblico como condio para se atingir participao meritria num mercado de segunda categoria. E o mais interessante que os empreendedores da banda subalterna se agregam a esta pantomima, esperando que da Caixa de Pandora saiam novas surpresas que favoream seus meios de acumulao. Na esfera dedicada aos consumidores e considerando a grande variedade de inovaes tecnolgicas (imagem, voz, multimeios, realidade digital), os produtores dos pases centrais esto redefinindo suas estratgias comerciais1. Acostumados a ganhar muito dinheiro com o crescente peso que os produtos informticos assumem na vida do homem cotidianizado, os empresrios esto agora experimentando uma fragmentao da indstria que vem determinando a busca por uma especializao crescente. O excesso de oferta provocado por um exagero na capacidade de produo tem determinado acirrada guerra de preos e uma presso para que se renuncie s margens brutas elevadas. Com isso, tem-se procurado uma modificao nos modelos de demanda pelas tendncias descentralizadoras com conceitos como rightsizing, downsizing ou pelo uso de redes locais unidas tecnologia cliente/ servidor, em processo totalizador de posicionamento equilibrado entre os computadores centrais e as redes agregadas. Some-se a tais esforos a importncia que vem adquirindo a oferta de servios substitutivos de produ-
28
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
Te c n o l o g i a
e
capiTaliSmo pS-induSTrial
tos, como o caso do outsourcing. A busca, portanto, de nichos de oportunidades no mercado de produtos eletrnicos de consumo tem favorecido a criao de novos princpios de administrao dos recursos humanos como: (a) implantar uma polivalncia ocupacional dos empregados e (b) reorganizar os empregados em equipes multidisciplinares ou em incentivar o autoemprego pelo uso de novos locais/espaos de trabalho. No primeiro caso, estimulam-se os empregados a assumir tarefas/ atividades mais complexas por intermdio de uma gradual pluriespecializao e multifuncionalidade, o que determina formao de conhecimentos mais amplos e esforo contnuo de atualizao. As tarefas que anteriormente eram realizadas por distintas categorias profissionais so, nesta nova condio, intercambiveis por profissionais qualificados em assuntos diversos, principalmente em tarefas de gesto e em captao de clientes. Em outro extremo, observamos a permanncia de enorme quantidade de profissionais no especializados ou de formao educacional mdia no atendida pelos programas de qualificao privados e sem nenhum apoio pblico de curto ou longo prazo. Este grupo ento conduzido ao desemprego crescente ou ao emprego com salrios aviltados em relao experincia pessoal j adquirida, quando no se instalam como massa pouco produtiva no mercado informal de trabalho. No segundo caso, a criao de equipes multidisciplinares permite acesso amplo ao conjunto das informaes tcnicas e gerenciais, favorecendo a dissoluo de pontos crticos mensurados no processo produtivo. Tal reorganizao das tarefas laborais impe a utilizao extensiva das tecnologias de informtica, com a criao de bases de dados compartidas que favoream aos grupos produtivos o acesso ao volume de informaes necessrias em seus postos de trabalho. Algumas organizaes internacionais j fazem uso de redes de comunicao por satlite que unem cada ponto de venda com os diversos centros de distribuio, ampliando o conhecimento multidisciplinar de suas equipes. Por outro lado, a incluso destes princpios provoca diminuio do nmero de empregados por unidade produtiva e potencializa ainda mais o desemprego estrutural suprassistmico. Outra possibilidade o uso de novos espaos/locais de trabalho e, como soluo ao desemprego, a proposta do tele trabalho. Os idelogos das solues imediatistas afirmam que com o teletrabalho se criaro efetivas oportunidades de emprego na medida em que se considere: (a) o interesse das organizaes em reduzir seus custos administrativos com manuteno de escritrios e estruturas de apoio operacional, e (b) as facilidades a priori encontradas por quem desejar iniciar seu prprio trabalho, pois no
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
29
Sergio
de
Souza BraSil Silva
necessitar de grandes requisitos infraestruturais. Considerado, portanto, como condio ideal para o desenvolvimento das autopistas de informao, o emprego em casa determinar, por outro lado, que o trabalhador, para ser competitivo, possa oferecer ao mercado requisitos fundamentais e nem sempre disponveis, como formao atualizada (pois as atividades profissionais para serem eficazes devero incorporar um componente intelectual que permita operar e se reciclar frente aos avanos tcnicos sempre constantes), aptides para o pensamento abstrato e aprendizagem de processos decisoriais. bem verdade que a economia e a poltica liberais no possuem experincia mensurada com o sistema de teletrabalho, j que a demanda por esta ocupao poderia ficar muito diluda, o que agravaria o crescimento dirigido das redes eletrnicas; ambos os elementos prejudiciais economia de escala procurada. Por outro lado, problemas operacionais complexos tambm deveriam ser administrados, como (a) a disponibilidade e baixo custo dos aparatos de informao e uso das redes; (b) a acelerao da indistino entre espao pblico de trabalho e espao privado pessoal, e (c) uma correta flexibilizao das leis que regulam o contrato de emprego. Neste ltimo caso, o encontro de novas regras laborais e fiscais ficaria dependente de uma legislao transnacional constantemente solicitada pelas corporaes multinacionais com interesses globais que favorecesse ao teletrabalho realizar suas atividades sem fronteiras geogrficas. Todavia o interesse principal do capital na universalizao do teletrabalho o enfraquecimento da luta sindical, pois o caminho mais rpido para que se instaure uma individualizao nas relaes de trabalho, e o teletrabalhador, sem contrato coletivo, acabar como um autnomo precrio, assumindo todos os custos sociais de sua atividade. Alm disso, esta autonomia e liberdade de gerir seu prprio tempo ocupacional acabariam por se voltar contra o prprio trabalhador: quando a mundializao comandar o processo, as empresas podero facilmente trocar seus postos de teletrabalho por outros situados em pases onde os salrios sejam mais baixos e a legislao mais permissiva. A Texas Instruments, por exemplo, decidiu, desde o incio dos anos 90, deslocar seus postos de teletrabalho dos Estados Unidos para a ndia. Motivo: os projetistas hindus cobram, anualmente, dez vezes menos que os mesmos profissionais norte-americanos. No obstante os aspectos apresentados at agora sejam indissociveis e frutos no s dos vetores tecnolgicos, mas, tambm, de desequilbrios internacionais estruturais e conjunturais da acumulao e reproduo capitalistas, h um elemento particular que opera sombra e funciona
30
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
Te c n o l o g i a
e
capiTaliSmo pS-induSTrial
como um dos polos de univocalidade barbrica: a mundializao sem lei (mesmo depois do chamado evento catastrfico de 2008!) do movimento financeiro, apoiada nas estratgias propcias ao dumping social patrocinado por corporaes internacionalizadas e ratificada pelas polticas desenvolvimentistas de livre comrcio dos tecnoburocratas do Fundo Monetrio Internacional e do Banco Mundial (ambos frutos dos acordos de Bretton Woods, em 1944, em que os Estados Unidos da Amrica dominavam a esfera poltica e econmica, frente a uma Europa subalternizada pela Segunda Guerra Mundial e um Japo conquistado)2. O mundo das finanas rene hoje uma concepo perfeitamente adequada cultura tecnolgica, isto , a de que necessita planetariedade, imaterialidade e imediaticidade para reproduzir-se ao ritmo do non-stop. Para tanto, torna-se relevante o sistema de alianas entre os intelectuais orgnicos (ressaltamos novamente o contedo gramsciniano desta categoria) das corporaes financeiras e seus companheiros gestores pblicos internacionais e nacionais responsveis pela definio das regras de funcionamento e controle do suprassistema. Aprendizes bem comportados dos mesmos doutorados frequentados por seus colegas das corporaes privadas transnacionais, a cultura da acumulao amoral e da inovao tecnolgica sensibilizam muito de perto os tecnoburocratas dos Ministrios da Economia, do FMI e do Banco Mundial, pois guardam os mesmos iderios de progresso dos senhores univocais. Assim que, constituindo-se em nova oligarquia, os intelectuais orgnicos do sistema financeiro mundial adquiriram um poder de interveno que desconsidera as formas de representao e legitimao polticas da vida social comunitria, e que obedece a uma lgica de conquista edificada nos critrios da competitividade do mercado cuja outorga assegurada pelo conhecimento cientfico e seus recursos tecnolgicos. A partir de tal constatao no difcil concluir que os poucos patres da Terra, e tendo em conta seus sistemas de alianas com as empresas de eletrnica, informtica, telecomunicaes e radio televiso, se transformaram utilizando a ideologia de um mundo multiculturalmente nico naqueles que verdadeiramente decidem os recursos mundiais, os valores sociais, as prioridades polticas, as regras de estabilidade e os ndices de felicidade. Isto , atravs da reconstruo do conceito de imperialismo um imperialismo consentido, de base multinacional, com efeitos mundiais criam como nova fantasia superestrutural a idia de que poderemos, individualmente, ser mais felizes no momento em que possamos tudo consumir num mundo que seja espao comum do desejo de todos.
Devemos observar que estas duas instituies globais no s foram determinantes na organizao do capitalismo mundial, como tambm produziram concepes ideolgicas sobre o desenvolvimento econmico e poltico que se transformaram em verdadeiros autos de f dos intelectuais burocratas.
2
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
31
Sergio
de
Souza BraSil Silva
Mas, em que pese a inteno de uma sociedade construda no liberalismo integral, no totalitarismo do mercado e na tirania da mundializao (na verdade um novo modo de produo colonialista), as taxas de desemprego seguem se avolumando e demonstram a falcia da oferta do progresso a todo vapor e de um mundo nico edulcorado pelo consumismo fundado no eterno retorno mesmice. Nos encaminhamentos at agora propostos vrios deles j reconhecem o interesse comum de repensar as formas pelas quais se utilizam os recursos tecnolgicos atualmente disponveis, pois, mesmo com o rigoroso controle dos oramentos nacionais, j no h mais como corrigir a realidade do poder mundial, que escapa amplamente ao controle dos Estados e cujas decises macroeconmicas se situam no restrito mbito das corporaes privadas de interesses globais. De resto e em que pese o mixing de vozes a debater sobre as relaes tecnologia e desemprego, bem como os limites polticos do progresso ainda no se percebem encaminhamentos que propiciem efetiva minimizao dos problemas. O Grupo dos Oito, o Conselho da Unio Europia, os Governos que integram o Nafta ou mesmo o Mercosul no tm oferecido perspectivas polticas, salvo as manifestaes verbais de sempre. Sabemos, por outro lado, que interessa ao sistema poltico e econmico destas instituies comunitrias a manuteno de uma Bolsa de Desempregados com a evidente inteno de baratear o nvel dos salrios e manter amedrontados os extratos sociais que lutam por transformaes substanciais na poltica econmica, isto , interessa a estas instituies comunitrias seguindo os declarados interesses dos acumuladores de capital operar dentro de um premeditado espao de coao econmica e poltica. J os grupos de pesquisa coordenados por economistas, politiclogos, socilogos e profissionais da teoria da comunicao esto cuidando de temas perifricos vinculados problemtica terico/tcnica da informtica e das telecomunicaes, mas no dos problemas sociais decorrentes. Os Sindicatos, por outro lado, quando no se pem perplexos, apresentam propostas que no encontram vnculos na slida tradio das lutas dos trabalhadores, preferindo assim a imediaticidade da defesa do posto de trabalho e nenhum srio interesse por desvendar as interaes entre tecnologia, a taxa de acumulao do capital e as novas formas degradantes de realizar o processo de mais valia. Estamos, portanto, todos ns, frente ao enorme desafio terico prtico na luta anticapitalista. Caber esquerda revolucionria aquela compromissada com a mudana radical das relaes de opresso produzir uma praxis em tudo diferente da esquerda simplria e subalterna aos es-
32
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
Te c n o l o g i a
e
capiTaliSmo pS-induSTrial
quemas reducionistas; diferente tambm daquelas solues preconizadas pelos movimentos sociais atrelados ao dirigismo partidrio populista e, sobretudo, das prticas assistencialistas das ONGs sodomizadas pelos favores estatais. Ou seja: relembrar a proposta irredutvel de condies sociais mais justas e solidrias, jamais olvidando as orientaes de luta que encaminham para a derrocada da ordem existente.
RefernciasBARNET, R. J. & CAVANAGH, J. Sueos globales: multinacionales y el nuevo orden mundial. Barcelona: Flor del Viento Ediciones, 1995. BENIGER, J. R. Control revolution: technological and economic origins of the information society. Cambrigde: Harvard University Press, 1986. BRETON, P; RIEU, A-M; TINLAND, F. La techno-science en question: lments pour une archologie du XXIe. sicle. Paris: Institut National de la Communication Audiovisuelle, 1993. FALK, R. On human governance: toward a new global politics. Oxford: Polity Press, 1995. GOLDBERG, D. T. Multiculturalism a critical reader. Oxford: Blacwell, 1994. KING, A. D. (ed.). Culture globalization and world-system. London: Macmillan, 1991. KOELSCH, F. The infomedia revolution. Montreal: McGraw Hill Ryerson, 1995. LACHAT, P. Lconomie mondiale des tlcommunications. Paris: Rseaux, juillet/octobre, n 72-73, France Telecon CNET, 1995. MADEC, A. El mercado internacional de la informacin: los flujos transfronteras de informaciones y datos. Madrid: Fundesco, 1984. MARTIN, J. La sociedad informatizada. Madrid: Fundesco, 1980. MITCHELL, W. J. City of bits: space, place and the infobahn. Cambridge: The MIT Press, 1995. NEGROPONTE, N. Lhomme numrique. Paris: Laffont, 1995. ROJO, A. Carnegie Mellon University: culturas de invencin ingeniera informtica. Culturas de invencin social. Barcelona: Universidad de Barcelona (Tese de Doutorado), 1992. SCHAFF, A. El marxismo a final de siglo. Barcelona: Editorial Aril, 1984. SCHEER, L. La dmocratie virtuelle. Paris: Flammarion, 1994. SCHILLER, H. Informacin y economia en tiempo de crises. Madrid: Fundesco, 1986.
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
33
A escola como espao multicultural de e para a cidadaniaLa escuela como espacio multicultural de y para la cidadania The school as multicultural space of and for the citizenshipErnesto Candeias MartinsLicenciado em Filosofia e Pedagogia, Mestre em Educao e doutor em Cincias da Educao (rea da Histria da Educao Social/Teoria da Educao). docente do ensino superior do Instituto Politcnico de Castelo Branco desde 1987, tendo exercido vrios cargos diretivos e de coordenao de cursos Mestrado em Educao. Tem inmeras de publicaes na rea das Cincias da Educao (Filosofia e Histria da Educao; estudos da criana, formao professores).
ResumoO artigo trata quatro pontos fundamentais da temtica. No primeiro ponto aborda as questes conceituais relacionadas com o conceito de cidadania e da formao do cidado, para num segundo ponto aprofundar o papel da escola nessa educao para a cidadania. No ponto seguinte defende a ideia de que a escola, com os seus espaos educativos, promove uma cultura comunitria. No ltimo ponto destaca a importncia dos espaos multiculturais na construo da cidadania, como uma tarefa educativa em toda a comunidade, por razes de identidade e vnculo social.
Palavras-chave:Escola; multicultural; idade; educao para a cidadania; espaos educativos; cidado.
AbstractThe article approaches four basic points of the thematic one. In the first point it approaches the conceptual questions related with the concept of citizenship and of the formation of the citizen, it stops in as a point deepening the role of the school in this education for the citizenship. In the following point it defends the idea that the school, with its educative spaces, promotes a communitarian culture. In the last point it develops the multicultural spaces in the construction of citizenship, as an educative task in all the community, for reasons of identity and social bond.
Key words:School; multiculturalism; education for the citizenship; educative spaces; citizen.
reconhecido por todos ns que a educao para a cidadania uma preocupao atual das sociedades, de cada pas, das instituies escolares e das famlias. O investimento na educao e, em especial, na formao para a cidadania, converte os futuros cidados em homens ativos e responsveis capazes de preservar os valores humanos fundamentais, assegurar e controlar os conflitos provenientes das relaes pessoais, sociais e profissionais. Os valores da cidadania impelem participao na vida da comunidade local e na sociedade. A cidadania, sendo um estatuto poltico, cvico e de prtica social, constitui o que melhor ilustra o suporte tico moral do mundo atual. Este conceito esteve sempre presente na histria da humanidade, desde Plato e Aristteles e foi evoluindo, unindo-se ao aparecimento dos estados modernos com a definio dos direitos e deveres do ser humano. Por isso, est onipresente em muitas publicaes pedaggicas e nos discursos e linguagens dos responsveis educativos em toda a Unio Europeia. Historiograficamente, Portugal viveu ao longo do Estado Novo (19261974) um perodo no qual a poltica educativa constituiu uma parte menor das polticas pblicas quer no mbito da organizao do sistema escolar quer nos padres de ensino adotado, impregnado por uma orientao autoritria, doutrinria e conservadora (figueiredo e silva, 1999, p. 27-30). Naquele arco histrico, a escolarizao era um objetivo subalterno na qual a origem de classe, do sexo e do meio de residncia determinavam os trajetos escolares dos alunos. A transio para a democracia, ps 25 de Abril de 1974, fez-se num ambiente de estabilizao e normalizao democrtica, culminando com a adeso Comunidade Econmica Europeia, em 1985, que representou um novo quadro de modernizao e internacionalizao do pas. Mais tarde, a participao de Portugal no Projeto de Educao para a Cidadania Democrtica, do Conselho da Europa, entre 1997-2000, constituiu uma nova experincia para a poltica educativa, j iniciada com a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986), com a consagrao de atividades extracurriculares e de valorizao do modelo pluridimensional da escola portuguesa. neste contexto que surge a preocupao das aprendizagens ligadas
erneSTo candeiaS marTinS
cidadania, associada ao papel formador e reformador da escola. O conceito de cidadania, emergido no Ps 25 de Abril, corresponde ao conceito de cidadania democrtica das sociedades ocidentais, pautado pelas declaraes dos Direitos Humanos e dos Direitos da Criana, numa liberdade de opo ideolgica e por um sentido de participao ativa na vida pblica que fez conjugar os discursos polticos e educativos ao propsito de formao cvica e de promoo dos valores democrticos. Tratou-se, pois, de uma conjugao entre cidadania e democracia com efeitos diversos, na medida em que essas situaes democrticas acarretam preocupao cvica e de integrao na sociedade civil (roldo, 1999, p. 10-14). verdade que a educao para a cidadania no se esgota na formao do cidado nos valores democrticos, pois exige outras vertentes, como, por exemplo, as prticas construtoras da identificao cultural, a insero nas rotinas sociais e convenes de uma poca, os rituais sociais, que podem no ser necessariamente valorveis em termos ticos (roldo, 1999, p. 12). Historicamente essas prticas sempre foram correntes, mas com discursos e linguagens diferentes do mesmo ato simblico. Assim, a educao para a cidadania expressa-se na diversidade de modos de incorporao curricular de dimenses que lhes esto associadas, como, por exemplo, pela presena de disciplinas com programas especficos, pela organizao de temas transversais (temas problema) por reas interdisciplinares de projeto de escola (rea Escola na dcada de 90), por programas educativos orientados formao pessoal e social do aluno, pela convivncia institucional (clima escolar e mecanismos de participao), por reas curriculares como instrumentos de formao para a cidadania, etc. Reforar a educao para a cidadania constitui um direito a viver em sociedade que pressupe o exerccio cvico dos indivduos, a promoo da autonomia individual de modo a cederem informao e a tornarem-se livres, ativos e conscientes para tomarem decises coerentes, ticas, morais e justas. Ou seja, a cidadania permite a relao entre o indivduo e a comunidade e o estabelecimento de interaes dentro dela. Toda esta nova tica cvica assenta no princpio da participao e da responsabilizao coletiva. Cabe escola promover nos seus espaos a construo dessas relaes interpessoais solidrias e cvicas. Reconhecemos que a educao para a cidadania se processa em estreita relao com a escola, principalmente em reas interdisciplinares curriculares e no curriculares de formao bsica. Cada aluno ao entrar na escola deve, desde cedo, comear a ser protagonista do seu projeto de vida, provendo-se dos instrumentos e dos espaos educativos favorecedores dessa plena realizao, atravs de uma participao motivada e competen-
36
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
eScola
como eSpao mulTiculTural
de
e
para
a cidadania
te, numa simbiose de interesses pessoais e sociais ou comunitrios, numa pr-disposio de conhecer melhor os problemas do mundo e contribuir para suas resolues. As polticas de cidadania promovem os direitos e os deveres devido ao valor da educao (formal, no formal) na formao do cidado. De fato, a educao e a cidadania constituem um binmio no ser humano que, segundo Gimeno Sacristn (2001), apresenta trs coordenadas: universo discursivo sobre a cidadania, que determina o contedo semntico do seu significado no mbito educativo; o quadro de referncias, normas e valores, pelos quais o indivduo atua na relao ao interveno; e a participao educativa nessa tarefa de cidadania, promovendo suportes bsicos unidos democracia e ao exerccio cvico (beiner, 1995). Intentaremos em trs pontos desenvolver a nossa temtica. No primeiro ponto, abordaremos as questes conceituais relacionadas com o conceito de cidadania e de formao do cidado, para num segundo ponto aprofundar o papel da escola nessa formao para a cidadania. No ponto seguinte, defendemos a ideia de que a escola com os seus espaos educativos promove uma cultura comunitria que implica a construo da cidadania como uma tarefa educativa em toda a comunidade, por razes de identidade e vnculo social.
Conceitualizao do termo cidadania na formao do cidadoReconhecemos que o termo cidadania complexo e que se expressa pela interao e tenso entre os direitos e os deveres (individuais) e as concepes de cultura, comunidade e de bem-estar social. Para alm de conter uma dimenso nacional, h nela a dimenso transnacional como, por exemplo, o da Comunidade Europeia. , por isso, que se fala de cidadanias, para marcar a diversidade de identidades no contexto local e global. O surgimento de uma cidadania global coincide com a Carta dos Direitos do Homem, sendo exercida mais no mbito das sociedades civis democrticas do que no marco restrito das soberanias nacionais. No dizer de Adela Cortina (1998), os direitos, os sentimentos de pertencimento, a participao, a colaborao, etc. so elementos determinantes para definir a cidadania, pois unem a racionalidade da justia com o calor do sentimento de pertencimento e, simultaneamente, exigem do indivduo uma formao vinculada sociedade local, regional, nacional, europeia e/ou mundial, podendo desenvolver a sua prpria identidade e a sua vida. Por isso, o cidado aquele indivduo que pertence, como membro de pleno direito, a uma determinada comunidade poltica e tendo para com ela umas especiais obrigaes de lealdade. Consequentemente,
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
37
erneSTo candeiaS marTinS
ao indivduo so reconhecidos os direitos e os deveres, relacionados com a sua participao na sociedade civil, o que implica um vnculo (poltico). Ou seja, o cidado ativo deve expressar uma prtica responsvel, uma atividade tico-moral desejvel na sua convivncia social. Ilda Figueiredo (2001, p. 12-25) define cidadania como qualidade do indivduo livre que usufrui dos seus direitos civis e polticos e assume as obrigaes que a condio de cidado lhe acarreta. No se impe a cidadania. Ela se constri num processo permanente de aprendizagens escolares e extraescolares (comunidade de aprendizagem). Aprender a ser cidado ou aprender a cidadania , para Oliveira Martins (1999), uma forma de olhar o mundo que nos rodeia, assumindo as identidades e as diferenas na sociedade plural, com um sentido de participao efetiva. O ser cidado estar desperto para com o mundo, participando e sendo responsvel na vida pblica e na sociedade. Neste sentido, entendemos a educao para a cidadania como a capacitao de cada indivduo para estruturar a sua relao com a sociedade, na base de regras e normas essenciais de convivncia que valorizem os princpios da autonomia, da responsabilidade individual e da participao informada. Convm, tambm, esclarecer semanticamente algumas expresses educativas que utilizamos, quando nos referidos cidadania: Educao sobre a cidadania. Determina o processo ensino/ aprendizagem de contedos (conceitos) curriculares e no curriculares dentro do projeto curricular de escola, orientados ao conhecimento e compreenso das estruturas sociais e do seu funcionamento. Educao pela cidadania. a aprendizagem ativa e participativa do indivduo e dos grupos, quer na escola, quer na comunidade/ sociedade. Educao para a cidadania. a dotao de capital cvico (e moral) ao indivduo para exercer a sua cidadania de forma ativa e responsvel, comprometendo-se com as prticas e os valores pblicos (cvicos). Todas estas expresses inter-relacionam-se entre si no grande objetivo da formao do cidado nas diversas instncias e instituies sociais e educativas. S a educao poder ser a fonte propulsora para que o indivduo possa dispor dos seus direitos tendo plena conscincia dos seus deveres. verdade que h dependncia entre cidadania e a cultura de um povo (tradies, ideias, crenas, smbolos, normas, etc.), transmitida de gerao em gerao, outorgando identidade e que constitui uma orien-
38
REVISTA DO CFCHAno 1 N 2 Dez/2010
eScola
como eSpao mulTiculTural
de
e
para
a cidadania
tao que d sign