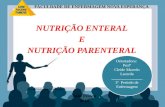Revista Nutrição Profissional (Edição 34)
-
Upload
instituto-racine -
Category
Documents
-
view
224 -
download
4
description
Transcript of Revista Nutrição Profissional (Edição 34)

Ano VII - Janeiro/Fevereiro/Março 2012ISSN 1808-7051
Número 34
Jan
eiro
/Feve
reiro
/Ma
rço 2
01
2
Uma publicação do Grupo Racine
Nu
trição
Pro
fission
al 3
4
•
Co
zinh
a E
xpe
rime
nta
l Ho
spita
lar: A
çõe
s Ap
licad
as à
Ga
stron
om
ia
•
Seção em Destaque
Cozinha Experimental Hospitalar: Ações Aplicadas à Gastronomia
Gastronomia
Nutrição ClínicaTerapia Nutricional
na Doença Hepática
Nutrição ClínicaEquipe Multidisciplinar
de Terapia Nutricional (EMTN) e Suas Aplicações
Alimentação ColetivaDesperdício de Água
em Unidade Produtora de Refeições (UPR)
de São Paulo (SP)
UANPorcionamento de Alimentos em Unidades de Alimentação
e Nutrição (UAN) com Distribuição Self-Service
Nutrição no EsporteMecanismo de
Termoregulação e Balanço Hidroeletrolítico
no Exercício
Saúde ColetivaPolíticas Públicas
em Nutrição



A preparação dos alimentos para refeições é um misto de técnica, arte e dom. Utilizar esta tríade em favor dos indivíduos que necessitam de cuidados especiais exige do nutricionista habilidades e conhecimentos sobre técnicas culinárias e ingredientes que podem fazer com que a dieta seja aceita pelo paciente e que este tenha, a partir dela, uma rotina mais prazerosa, mesmo frente à dor e ao sofrimento.
A cozinha experimental hospitalar visa o desenvol-vimento de testes que podem apoiar o processo de aquisição de alimentos, bem como favorecer a melhoria da qualidade de produtos e de receitas para dietas nor-mais, modificadas e especiais, aprimorando a dieta de pacientes internados e ambulatoriais. Este é o tema de capa da 34ª edição da revista Nutrição Profissional, cujo artigo, da seção Nutrição Clínica, apresenta a ciência que atualmente está presente em diversos campos e que exige, do nutricionista, o aperfeiçoamento dos co-nhecimentos da culinária, da gastronomia e da ciência experimental dos alimentos.
Ainda na área de nutrição clínica, destaca-se a atua-ção da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN). A Terapia Nutricional (TN) se constitui em um importante procedimento para a recuperação ou a ma-nutenção do estado nutricional do paciente. Para que haja segurança para o paciente e eficácia no tratamen-to, a atuação da EMTN, que inclui, além do nutricionista, o médico, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, o assistente social e o farmacêutico, é imprescindível.
Cuidar do ser humano perpassa, inclusive, pelos cuidados que são dispensados ao meio ambiente. As questões ambientais devem ser consideradas inclusive
pelos estabelecimentos voltados à alimentação coletiva, como os restaurantes. Dados da Companhia de Sanea-mento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) demons-tram que a perda de água média no município de São Paulo é de 30,8% em relação ao volume produzido. Seja em restaurantes ou nas demais unidades que produzem e servem alimentos, a preocupação não deve se restringir ao alimento, mas também à água, à energia e outros fatores. Práticas e processos de trabalho ambientalmente corretos devem ser priorizados e aplicados, para que não gerem danos ao meio ambiente.
Esta edição da NP traz ainda um estudo realizado na região metropolitana de São Paulo (SP), cujo objetivo foi quantificar o porcionamento médio de alimentos nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) com sistema self-service, avaliando, desta forma, a contribuição em relação ao valor energético da refeição. A tendência a um maior consumo de alimentos com maior densidade energética foi comprovada.
Por fim, o leitor poderá conhecer mais a respeito dos me-canismos de termoregulação e balanço hidroeletrolítico que ocorrem durante a prática de exercícios físicos, além da seção Perfil, que traz a história da nutricionista Yara Carnevalli Baxter.
Boa Leitura!
Nilce BarbosaPresidente do Grupo Racine e
Coordenadora Técnico-Editorial da Revista Nutrição Profissional
Serviços em Nutrição: Qualidade Aprimorada
A revista Nutrição Profissional é uma publicação técnico-científica aberta à colaboração de interessados em publicar artigos relacionados às seções, com enfoque na área de alimentação e nutrição.
Artigos assinados devem ser enviados para o e-mail [email protected].
Todas as colaborações são avaliadas.
34 Ano VII Janeiro/Fevereiro/Março de 2012
Editorial

Serviços em Nutrição: Qualidade AprimoradaAno VII
Janeiro/Fevereiro/Março de 2012
A revista Nutrição Profissional (ISSN 1808-7051) é uma publicação
trimestral da RCN Comercial e Editora Ltda., dirigida a empresas e profissionais na área
da nutrição.
PresidenteNilce Barbosa
Diretores ExecutivosArnivaldo DiasMarco Quintão
Renato CintraSérgio Slan
Coordenação Técnico-EditorialNilce Barbosa
Editor André Policastro - MTb 42.774
Conselho EditorialDaniela Fagioli, Glaucia Figueiredo Braggion, Jose Peralta, Lísia de Melo Pires Kiehl, Marcia Nacif, Maria Carolina Gonçalves Dias, Nicole
Cihlar Valente, Nilce Barbosa, Rita Maria Monteiro Goulart, Roselaine Maria Coelho de
Oliveira, Sonia Tucunduva Philippi, Welliton Donizeti Popolim
Colaboraram Nesta EdiçãoAna Célia Oliveira dos Santos, Ana Claudia
Dias Rezende, André Dong Wong Lee, Andréa Luiza Jorge, Carolina Borges Duarte, Edeli
Simioni de Abreu, Eni Ramos, Geralda Altamires Batista Oliveira, Lidiane A. Catalani, Livia
Beatriz Siqueira Rosa Bento, Marcia Samia Pinheiro Fidelix, Maria Carolina Gonçalves
Dias, Mônica Glória Neumann Spinelli, Monize Aydar Nogueira Santos, Nivia Cristiane de
Macedo, Shirley dos Santos Bandeira, Sonia Lucena Sousa de Andrade, Vanessa Della Bella
Ferreira, Virgínia Nascimento, Viviane Corrêa do Nascimento, Welliton Donizete Popolim e Yara
Carnevalli Baxter
Direção de Arte/ Projeto Gráfico Percepção Design
Assinaturas e CorrespondênciasRua Padre Chico, 93, Pompéia
CEP 05008-010 - São Paulo - SPTel/Fax: (11) 3670-3499
E-mail: [email protected]
Para AnunciarTel./Fax: (11) 3670-3499
E-mail: [email protected]
Artigos e matérias assinadas não refletem necessariamente a opinião da
RCN Comercial Editora Ltda.
Crédito de foto: Arquivo Racine e divulgação.
34
Correspondências
Filiada
Envie-nos sua opinião sobre a revista Nutrição Profissional
Envie suas críticas, sugestões e elogios sobre a revista Nutrição Profissional para o e-mail [email protected]
Agradecemos as manifestações enviadas de:
Faculdade de Medicina de Campos, Campos dos Goytacazes (RJ)
Fundação Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (FURI),
Frederico Westphalen (RS)

08 Terapia Nutricional na Doença Hepática
16 Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) e Suas Aplicações
22 Desperdício de Água em Unidade Produtora de Refeições (UPR) de São Paulo (SP)
29 Porcionamento de Alimentos em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) com Distribuição Self-Service
39 Cozinha Experimental Hospitalar: Ações Aplicadas à Gastronomia
46 Mecanismo de Termoregulação e Balanço Hidroeletrolítico no Exercício
54 Políticas Públicas em Nutrição
61
64 Korin e Fleischmann
65
66
Nutrição Clínica
Nutrição Clínica
Alimentação Coletiva
UAN
Gastronomia
Nutrição no Esporte
Saúde Coletiva
Painel ASBRAN
Produtos em Destaque
Perfil
Agenda
Índ
ice
Eu L
eio
a N
P
Carolina Borges Duarte é graduada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em suplementação nutricional no esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (USP), especialista em gestão estratégica em foodservice pela Escola Su-perior de Propaganda e Marketing (ESPM) e especialista em ciência e tecnologia de alimentos pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA/UNICAMP). Atualmente
atua no departamento de marketing da Tirolez Queijos.
“Eu leio a Nutrição Profissional, pois a revista é uma fonte rica em informações sobre as diferentes áreas da nutrição, apresentando temas recentes, mostrando-se uma importante ferramenta para o meu crescimento pessoal e profissional.
Atualmente trabalho na área de marketing da Tirolez Queijos e observo que o conteúdo da revista auxilia bastante na prática profissional. Conheci a revista na época da faculdade e ainda hoje se mostra indispensável, com ótimos autores e artigos impecáveis. Gostei muito da seção Perfil que apresentou a nutricionista Sônia Háfez, publicada na 31ª edição da NP.”
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012


Lidiane A. Catalani, André Dong Wong Lee e Maria Carolina Gonçalves Dias
Terapia Nutricional na Doença Hepática
Nu
triç
ão C
línic
a
8
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Nu
triç
ão C
línic
a
9
terapia nutricional para paciente com doença hepática é um tema complexo. O fígado é o prin-cipal centro regulador da homeostase nutricional
e, por isso, pacientes com doença hepática podem desenvolver deficiências nutricionais importantes. Os tradicionais métodos de avaliação do estado nutricional geralmente não refletem a realidade desses pacientes. Além disso, existe uma enorme variedade nas causas e na gravidade da doença hepática. Essas razões tornam o manejo da terapia nutricional em pacientes hepato-patas particularmente mais complicado e dificultam o estabelecimento de recomendações para a terapia nutricional em pacientes com hepatopatias 1. Desnutrição na doença hepática
A Desnutrição Energético-Proteica (DEP) está asso-ciada à doença hepática independente de sua etiolo-gia. A prevalência de DEP é alta, principalmente no estágio avançado da doença hepática. Segundo relatos da literatura, a desnutrição em pacientes com cirrose descompensada varia de 60 a 100% e em pacientes com cirrose compensada é no mínimo 20%. Em pa-cientes candidatos a transplante hepático, quase 100% apresentam algum grau de desnutrição 2. Entretanto, devido às dificuldades de avaliação do estado nutri-cional em pacientes cirróticos, esses números podem estar mascarados 3.
A etiologia da desnutrição na cirrose é multifatorial, porém pode-se classificá-las em três principais grupos: a) Causas que limitam a ingestão oral; b) Causas que reduzem a digestão e a absorção;c) Causas que interferem no metabolismo dos
nutrientes.
A maioria dos pacientes cirróticos sofre de sintomas gastrointestinais como anorexia, saciedade precoce secundária a ascite, alteração do paladar, náuseas e vômitos que limitam a ingestão oral. A prevalência de perda de peso, náuseas e anorexia em pacientes cirróticos é relatada em 60%, 55% e 87% respecti-vamente 4. Alterações no paladar têm sido associa-das com deficiência de zinco e magnésio 5. Efeitos colaterais de medicamentos e de dietas excessiva-mente restritivas em proteína e sódio parecem ser causas comuns da redução da ingestão e conseqüente desnutrição na cirrose, entretanto, poucos estudos avaliaram a magnitude deste problema 1.
Entre as causas que reduzem a digestão e a absorção de nutrientes, cita-ser a deficiência de sais biliares, supercrescimento bacteriano, redução da absorção intestinal de proteínas e alteração da permeabilidade intestinal 6, 7. Ocorre má-absorção de gorduras, de vi-taminas lipossolúveis e de cálcio devido à colestase ou insuficiência pancreática concomitante. A esteatorreia tem sido descrita em 40% dos cirróticos, sendo que 10% apresentam esteatorreia grave (mais de 30g/dia). Cita-se também a má-absorção de vitaminas hidrossolú-veis, devido ao abuso do álcool 1.
São descritas alterações no metabolismo dos nutrientes. Alterações no metabolismo dos carboidratos estão associadas com resistência a insulina, redução na gliconeogênese e redução nos estoques de glicogênio hepático e muscular. Como resultado, ocorre aumento na lipólise e oxidação preferencial de lipídeos para produção de energia 8, 9. Entre as alterações no metabolismo das proteínas há redução na síntese de uréia e de proteínas hepáticas, redução na absorção intestinal de proteínas e aumento na excreção urinária de nitrogênio. A doença hepática está associada a uma menor razão de aminoácidos aromáticos por aminoácidos ramificados 10.
Ainda são necessários mais esclarecimentos sobre a causa do contínuo estado hipercatabólico em pacien-tes cirróticos. Mensurações do gasto energético basal nesses pacientes demonstram diferenças significativas em relação a controles saudáveis 8, 11, 12. Sabe-se que o hipercatabolismo nesses pacientes é mediado por citocinas, mais especificamente pelo fator de necrose tumoral (TNF) e interleucinas 1 e 6 (IL-1 e IL-6), que encontram-se aumentadas em pacientes cirróticos e apresentam efeito catabólico no músculo, no tecido adiposo e no fígado 13. Também tem sido descrita a influência de endotoxinas produzidas pelas bactérias intestinais gram-negativas, que freqüentemente são encontradas na corrente sanguínea de pacientes cirró-ticos. Acredita-se que essas endotoxinas desencadeiem a liberação de citocinas e óxido nítrico, que podem ser os mediadores do estado catabólico assim como da circulação hiperdinâmica do paciente cirrótico(14). Estudos sugerem que a presença de ascite pode con-tribuir para o aumento no gasto energético e que a redução por parecentese resultaria em uma redução significativa no gasto energético de repouso, avaliado por calorimetria 15.
A
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Nu
triç
ão C
línic
a
10
Avaliação do estado nutricional
Independente da etiologia da des-nutrição, vários estudos relataram que está associada a maiores taxas de complicações e de mortalidade, principalmente em pacientes cirró-ticos descompensados e candidatos a transplante, assim como maior mortalidade após o transplante he-pático 2, 16-21. Desta forma, torna-se extremamente importante e desa-fiador o diagnóstico da desnutrição nesses pacientes.
Os pacientes com doença hepática apresentam alterações nos comparti-mentos corporais, devido à retenção de água e sódio, edema e ascite. Isso dificulta a utilização de métodos tradicionais de avaliação nutricional, pois a maioria deles engloba a água corporal como massa magra.
Para a identificação da desnutrição à beira do leito, as diretrizes da ESPEN 2006 recomendam métodos simples como a Avaliação Subjetiva Global (ASG), a antropometria ou a Força do Aperto de Mão (FAM) - (Nível de evidência C) 22.
Outros especialistas na área suge-rem que pacientes com cirrose de-vem ser submetidos a uma avaliação da história clínica e do exame físico, focando na perda de peso, na inges-tão alimentar, nos sintomas gastroin-testinais, na gravidade da doença hepática e nos sinais e sintomas de deficiências de micronutrientes (Ní-vel 2B). Para uma avaliação nutricio-nal mais formal, os autores também sugerem a Avaliação Nutricional Subjetiva Global 10.
A avaliação nutricional com acu-rácia é dificultada pela presença
de alterações hídricas e de síntese prejudicada de proteínas hepáti-cas 23, sendo necessários métodos sofisticados, de alto custo (DEXA, contagem de potássio corporal total, isótopo marcado, entre outros), que não estão disponíveis para prática clínica na maioria dos serviços. Entre os métodos mais dis-poníveis na realidade dos serviços, a determinação do ângulo de fase ou da massa celular corporal, de-terminados por meio de bioimpe-dância elétrica, parece ser superior a métodos como antropometria ou creatinina urinária de 24 horas 24-26, embora ainda apresentem limita-ções para pacientes com ascite 27.
Quando o estado de hidratação é normal no paciente com doença hepática, o peso atual deve ser utilizado para o cálculo das neces-sidades energéticas. Porém, em pacientes com ascite ou edema, deve ser utilizado o peso ideal para o cálculo das necessidades 28.
Terapia nutricional na doença hepática
Os conceitos de necessidades de proteínas e de calorias na doen-ça hepática modificaram-se nos últimos 30 a 40 anos. Antigamente, acreditava-se que o ideal seria for-necer uma dieta rica em calorias e pobre em proteínas, com o objetivo de prevenir a encefalopatia hepáti-ca. Este conceito data do início da década de 1950, período em que foi descrito que alguns pacientes com doença hepática quando recebiam substâncias nitrogenadas, incluindo ingestão excessiva de proteína, de-senvolviam um estado de pré-coma
29. Entretanto, estudos recentes demonstram que as necessidades de proteína estão aumentadas
nesses pacientes e que dietas ricas em proteínas podem ser bem toleradas e benéficas, principalmente em pacien-tes hepatopatas desnutridos 30-32.
Pacientes com doença hepática compensada e estável
Apesar de alguns pacientes com do-ença hepática compensada apresen-tarem defeitos no metabolismo das proteínas, a maioria destes pacientes é capaz de tolerar uma ingestão pro-téica normal sem dificuldades 1.
Pacientes cirróticos freqüentemente apresentam redução da síntese de proteínas pelo fígado, redução na síntese de uréia e alteração na pro-dução dos aminoácidos. Entretanto, apesar dessas alterações no metabo-lismo, existem mínimas diferenças no turnover protéico de pacientes cirróticos estáveis em comparação com indivíduos normais 33.
Vários autores avaliaram o efeito da ingestão de proteína em doses normais a elevadas (50 gramas ou mais) e encontraram adequada tole-rância, balanço nitrogenado positivo e nenhum relato de encefalopatia, confirmando que pacientes cirróticos estáveis podem tolerar doses relativa-mente normais de proteína sem au-mentar o risco de encefalopatia 34-36. A ESPEN recomenda, para pacientes com doença hepática compensada e função renal normal, sem ence-falopatia pré-existente, uma oferta protéica diária de 1,0 a 1,2g/kg/dia. Em pacientes desnutridos com boa função renal pode ser ofertado até 2g/kg/dia 37. Essas quantidades podem ser consumidas de qualquer fonte protéica de alto valor bioló-gico, sendo que suplementação de N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

Nu
triç
ão C
línic
a
11
mistura de aminoácidos, como aquelas com alto teor de aminoá-cidos aromáticos, raramente são necessárias para esses pacientes.
Referente à oferta de energia, apesar de ainda controverso, a maioria dos especialistas na área concorda que pacientes estáveis possuem necessidades energéticas próximas a de indivíduos saudá-veis. Desta forma, a oferta de 25 a 35 kcal/kg/dia seria adequada. Para pacientes estáveis, porém desnutridos, uma oferta de 30 a 40 kcal/kg/dia pode ser necessária para prover anabolismo 37.
Alguns pacientes com doença colestática podem se beneficiar de uma redução na oferta de lipíde-os, sem reduzir a oferta calórica diária total. Alguns pacientes cirróticos podem apresentar in-tolerância à glicose, que algumas vezes pode ser grave o suficiente para o paciente ser considerado diabético 38. Nesses casos o manejo pode se tornar um pouco mais difícil devido à redução dos esto-ques de glicogênio hepático.
Deficiências de vitaminas hidro e li-possolúveis, zinco e selênio freqüen-temente são observadas na doença hepática compensada, devendo ser suplementadas nesses pacientes 37. Além disso, para paciente com histó-ria de etilismo ou doença hepática que seja atendido em serviço de emergência, recomenda-se a admi-nistração de folato e tiamina, para prevenir a encefalopatia de Wer-nickie 39. Caso para esses pacientes seja necessária nutrição parenteral, deve-se atentar para não oferecer doses excessivas de magnésio ou de cobre, pois esses elementos traços são eliminados pelo fígado 1.
Pacientes com doença hepática descompensada
A terapia nutricional para pacien-tes com doença hepática descom-pensada pode ser de difícil ma-nejo devido à presença de ascite, encefalopatia e maior freqüência de diminuição na função renal 1. Cirrose descompensada é defi-nida como cirrose com ascite e/ou encefalopatia. A bioquímica hepática geralmente demonstra albumina <3g/dL e bilirrubina total >2,5mg/dL. Pacientes com encefalopatia podem apresentar alterações de comportamento, alterações de sono, dislalia, de-sorientação ou coma. Episódios de encefalopatia aguda podem ocorrer intermitentemente em pacientes em estágio avançado da doença hepática como resul-tado de infecções, sangramento gastrointestinal, desidratação, distúrbios de eletrólitos, medica-ções sedativas, baixa aderência à terapia com lactulose ou consti-pação grave. Não é comum que a encefalopatia aguda ocorra apenas devido à alta ingestão de proteína, devendo sempre ser investigadas outras causas. Entre-tanto, se a causa da encefalopatia aguda não for aparente, a aderên-cia à dieta e à terapia com lactulo-se deve ser questionada 1.
Nos anos 1970, propôs-se a hipó-tese do “falso neurotransmissor”, em que se acreditava que o desba-lanço de aminoácidos plasmáticos observados nos pacientes cirró-ticos causaria aumento anormal de neurotransmissores cerebrais, levando à disfunção neurológica observada na encefalopatia 40. Esse desbalanço de aminoácidos na N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12
cirrose se referia a baixos níveis de aminoácidos ramificados (AAR - leucina, valina e isoleucina) e altos níveis de aminoácidos aro-máticos (AAA - tirosina, fenilala-nina e triptofano). A hipótese era que a redução nos níveis de AAR facilitaria o transporte de AAA através da barreira hemato-ence-fálica. Com base nessa hipótese, muitas fórmulas nutricionais enri-quecidas com AAR foram desen-volvidas e ainda estão disponíveis no mercado.
Entretanto, nenhuma evidência clara que comprovasse a hipóte-se do falso neurotransmissor foi publicada 40-42. Em uma revisão sistemática, avaliaram-se onze tra-balhos randomisados (556 pacien-tes) comparando o efeito dos AAR versus outras terapias (neomicina/lactulose, ou dieta normoprotei-ca). Os autores não encontraram evidências convincentes de que os AAR apresentem efeito significa-tivamente benéfico em pacientes com encefalopatia hepática, pois os trabalhos desenvolvidos nesse campo apresentam pequeno nú-mero de pacientes e curto período de acompanhamento, sendo que a maioria ainda apresenta falhas metodológicas 43. Tais resultados haviam sido encontrados em uma metánalise prévia, de estudos comparando dieta com perfil de aminoácidos padrão versus dieta rica em AAR. Não se encontrou diferença alguma na eficácia para o tratamento da encefalopatia 44.
No entanto, abordagem clínica razoável seria a utilização de AAR se o paciente apresentar encefa-lopatia hepática grave (grau III e IV) e for considerado refratário ao tratamento clínico convencional.

Currículos
Lidiane Aparecida Catalani é graduada em nutrição e especia-lista em nutrição parenteral e enteral pela Sociedade Brasileira de
Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE) e especialista em nutri-ção infantil pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Atualmente é nutricionista da equipe multiprofissional de terapia nutricional do Instituto Central (IC) do HCFMUSP.
André Dong Wong Lee é graduado em medicina e doutor em cirurgia do aparelho digestivo. Atualmente é integrante da
Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) e médico assistente do Departamento de Transplante de Órgãos do Apare-
lho Digestivo do HCFMUSP.
Maria Carolina Gonçalves Dias é graduada em nutrição pela Universidade do Sagrado Coração de Jesus (USC), especialista em
nutrição parenteral e enteral pela Sociedade Brasileira de Nutri-ção Enteral e Parenteral (SBNPE), especialista em nutrição clínica
pela Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN) e especialista em administração hospitalar pelo Instituto de Pesquisas Hospitalares
(IPH), e mestre em nutrição humana pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é nutricionista chefe da Divisão de Nutri-ção e Dietética do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Fa-culdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IC-HCFMUSP)
e coordenadora administrativa da equipe multiprofissional de Terapia Nutricional do Hospital das Clínicas (EMTN-HC).
Nu
triç
ão C
línic
a
12
A terapia nutricional deve ser o menos invasiva pos-sível, sendo que a via oral deve ser a primeira opção. Se a suplementação oral não tiver sucesso, a nutrição enteral deve ser administrada por meio de sonda na-sogástrica ou nasojejunal de pequeno calibre. Varizes esofágicas sem sangramento não contra-indicam a alo-cação e a utilização de sondas nesses pacientes. Entre-tanto, se houver varizes de esôfago com sangramento ativo, não deve ser realizada alocação de sondas para nutrição enteral 45. A nutrição parenteral é indicada se o trato gastrointestinal não puder ser utilizado para suprir as necessidades nutricionais 1.
O fracionamento das refeições é fortemente recomen-dado para pacientes cirróticos. Estudos indicam que a realização de lanche noturno associado a outras qua-tro a seis refeições diárias promove balanço nitrogena-do positivo em pacientes cirróticos 46.
Tabela 1 - Terapia nutricional na cirrose hepática
Cirrose sem encefalopatia
- Sem restrição de proteína (1 a 2g/kg/d);- Dieta hipercalórica (25 a 35 kcal/kg/d), rica em carboidratos complexos;- Dieta fracionada em pequenas refeições com lanche noturno;- Restrição hídrica somente se hiponatremia;- Restrição de sódio somente se presença de ascite ou edema;- Suplementação de vitaminas e minerais se necessário.
Cirrose com encefalopatia aguda
- Restrição protéica temporária (0,6 a 0,8g/kg/dia), até a causa da encefalopatia ser diagnosticada e eliminada. BCAA caso encefalopatia refratária ou balanço negativo de nitrogênio;
- Retornar ingesta protéica normal (1 a 1,2 g/Kg/dia) assim que possível;- Oferecer fórmulas hipercalórica 35 Kcal/Kg/dia, via enteral ou parenteral;- Restrição hídrica somente se hiponatremia;- Restrição de sódio somente se presença de ascite ou edema.
Cirrose com encefalopatia crônica
- Restrição de proteína padrão (0,6 a 0,8g/kg/d);- Estimular dieta vegetariana ou dieta rica em fibras com baixa
quantidade de proteína animal;- Dieta fracionada em pequenas refeições com lanche noturno;- Restrição hídrica somente se hiponatremia;- Restrição de sódio somente se presença de ascite ou edema;- Suplementação de vitaminas e minerais se necessário.
Adaptado de Delich et al, 2007 1.
Conclusão
A desnutrição na doença hepática é prevalente e está associada a desfechos negativos. Todos os esforços de-vem ser realizados para melhora do estado nutricional.
Não deve ser recomendada restrição protéica em contexto de encefalopatia hepática episódica. O uso de AAR deve ser restrito a pacientes com encefalopatia hepática grave e refratários ao tratamento clínico.
As deficiências de vitaminas e minerais devem ser investigadas e a suplementação realizada de forma individualizada. NP
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

13
Nu
triç
ão C
línic
aN
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12
1. Delich PC SJ, Parker P. Liver Disease. In: Nutrition. ASfPaE, editor. The ASPEN Nutition Support Core Curri-culum: A case-base approach - the adult patient; 2007.
2. Alberino F, Gatta A, Amodio P, Merkel C, Di Pascoli L, Boffo G, et al. Nutrition and survival in patients with liver cirrhosis. Nutrition. 2001 Jun;17(6):445-50.
3. Mendenhall CL, Moritz TE, Roselle GA, Morgan TR, Nemchausky BA, Tamburro CH, et al. Protein energy malnutrition in severe alcoholic hepatitis: diagnosis and response to treatment. The VA Coo-perative Study Group #275. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1995 Jul-Aug;19(4):258-65.
4. McCullough AJ, Tavill AS. Disordered energy and protein metabolism in liver disease. Semin Liver Dis. 1991 Nov;11(4):265-77.
5. Madden AM, Bradbury W, Morgan MY. Taste perception in cirrhosis: its relationship to circulating micronutrients and food preferences. Hepatology. 1997 Jul;26(1):40-8.
6. Bode C, Bode JC. Effect of alcohol consumption on the gut. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2003 Aug;17(4):575-92.
7. Vlahcevic ZR, Buhac I, Farrar JT, Bell CC, Jr., Swell L. Bile acid metabolism in patients with cirrhosis. I. Kinetic aspects of cholic acid metabolism. Gastroen-terology. 1971 Apr;60(4):491-8.
8. Merli M, Riggio O, Romiti A, Ariosto F, Mango L, Pinto G, et al. Basal energy production rate and substrate use in stable cirrhotic patients. Hepatolo-gy. 1990 Jul;12(1):106-12.
9. Owen OE, Trapp VE, Reichard GA, Jr., Mozzoli MA, Moctezuma J, Paul P, et al. Nature and quantity of fuels consumed in patients with alcoholic cirrhosis. J Clin Invest. 1983 Nov;72(5):1821-32.
10. Tandon P GL. Nutritional assessment in chronic liver disease. 2010 [updated 2010 28 Abril, 2010 cited 2010 10/09/2010]; Available from: www.uptodate.com.
11. Heymsfield SB, Waki M, Reinus J. Are patients with chronic liver disease hypermetabolic? Hepa-tology. 1990 Mar;11(3):502-5.
12. Shanbhogue RL, Bistrian BR, Jenkins RL, Jones C, Benotti P, Blackburn GL. Resting energy expen-diture in patients with end-stage liver disease and in normal population. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1987 May-Jun;11(3):305-8.
13. Khoruts A, Stahnke L, McClain CJ, Logan G, Allen JI. Circulating tumor necrosis factor, interleukin-1 and interleukin-6 concentrations in chronic alcoho-lic patients. Hepatology. 1991 Feb;13(2):267-76.
14. Bigatello LM, Broitman SA, Fattori L, Di Paoli M, Pontello M, Bevilacqua G, et al. Endotoxemia, encephalopathy, and mortality in cirrhotic patients. Am J Gastroenterol. 1987 Jan;82(1):11-5.
15. Dolz C, Raurich JM, Ibanez J, Obrador A, Marse P, Gaya J. Ascites increases the resting energy ex-penditure in liver cirrhosis. Gastroenterology. 1991 Mar;100(3):738-44.
16. Caregaro L, Alberino F, Amodio P, Merkel C, Bo-lognesi M, Angeli P, et al. Malnutrition in alcoholic and virus-related cirrhosis. Am J Clin Nutr. 1996
Apr;63(4):602-9.
17. Figueiredo F, Dickson ER, Pasha T, Kasparova P, Therneau T, Malinchoc M, et al. Impact of nutritio-nal status on outcomes after liver transplantation. Transplantation. 2000 Nov 15;70(9):1347-52.
18. Harrison J, McKiernan J, Neuberger JM. A pros-pective study on the effect of recipient nutritional status on outcome in liver transplantation. Transpl Int. 1997;10(5):369-74.
19. Merli M, Riggio O, Dally L. Does malnutrition affect survival in cirrhosis? PINC (Policentrica Italiana Nutrizione Cirrosi). Hepatology. 1996 May;23(5):1041-6.
20. Pikul J, Sharpe MD, Lowndes R, Ghent CN. Degree of preoperative malnutrition is predicti-ve of postoperative morbidity and mortality in liver transplant recipients. Transplantation. 1994 Feb;57(3):469-72.
21. Selberg O, Bottcher J, Tusch G, Pichlmayr R, Henkel E, Muller MJ. Identification of high- and low-risk patients before liver transplantation: a prospective cohort study of nutritional and me-tabolic parameters in 150 patients. Hepatology. 1997 Mar;25(3):652-7.
22. Plauth M, Cabre E, Riggio O, Assis-Camilo M, Pirlich M, Kondrup J, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Liver disease. Clin Nutr. 2006 Apr;25(2):285-94.
23. Prijatmoko D, Strauss BJ, Lambert JR, Sievert W, Stroud DB, Wahlqvist ML, et al. Early detection of protein depletion in alcoholic cirrhosis: role of body composition analysis. Gastroenterology. 1993 Dec;105(6):1839-45.
24. Guglielmi FW, Contento F, Laddaga L, Panella C, Francavilla A. Bioelectric impedance analysis: experience with male patients with cirrhosis. Hepatology. 1991 May;13(5):892-5.
25. Pirlich M, Schutz T, Spachos T, Ertl S, Weiss ML, Lochs H, et al. Bioelectrical impedance analysis is a useful bedside technique to assess malnutrition in cirrhotic patients with and without ascites. Hepato-logy. 2000 Dec;32(6):1208-15.
26. Pirlich M, Selberg O, Boker K, Schwarze M, Muller MJ. The creatinine approach to estimate skeletal muscle mass in patients with cirrhosis. Hepatology. 1996 Dec;24(6):1422-7.
27. Selberg O, Selberg D. Norms and correlates of bioimpedance phase angle in healthy human sub-jects, hospitalized patients, and patients with liver cirrhosis. Eur J Appl Physiol. 2002 Apr;86(6):509-16.
28. Plauth M, Schuetz T. Hepatology - Guidelines on Parenteral Nutrition, Chapter 16. Ger Med Sci. 2009;7:Doc12.
29. Phillips GB, Schwartz R, Gabuzda GJ, Jr., David-son CS. The syndrome of impending hepatic coma in patients with cirrhosis of the liver given certain nitrogenous substances. N Engl J Med. 1952 Aug 14;247(7):239-46.
30. Kearns PJ, Young H, Garcia G, Blaschke T, O’Hanlon G, Rinki M, et al. Accelerated improve-ment of alcoholic liver disease with enteral nutri-tion. Gastroenterology. 1992 Jan;102(1):200-5.
31. Morgan TR, Moritz TE, Mendenhall CL, Haas R. Protein consumption and hepatic encephalopathy in alcoholic hepatitis. VA Cooperative Study Group #275. J Am Coll Nutr. 1995 Apr;14(2):152-8.
32. Nielsen K, Kondrup J, Martinsen L, Dossing H, Larsson B, Stilling B, et al. Long-term oral refeeding of patients with cirrhosis of the liver. Br J Nutr. 1995 Oct;74(4):557-67.
33. Matos C, Porayko MK, Francisco-Ziller N, DiCecco S. Nutrition and chronic liver disease. J Clin Gastroenterol. 2002 Nov-Dec;35(5):391-7.
34. Kondrup J, Nielsen K, Juul A. Effect of long-term refeeding on protein metabolism in patients with cirrhosis of the liver. Br J Nutr. 1997 Feb;77(2):197-212.
35. Stickel F, Hoehn B, Schuppan D, Seitz HK. Review article: Nutritional therapy in alcoholic liver disease. Aliment Pharmacol Ther. 2003 Aug 15;18(4):357-73.
36. Swart GR, van den Berg JW, Wattimena JL, Rie-tveld T, van Vuure JK, Frenkel M. Elevated protein requirements in cirrhosis of the liver investigated by whole body protein turnover studies. Clin Sci (Lond). 1988 Jul;75(1):101-7.
37. Plauth M, Merli M, Kondrup J, Weimann A, Ferenci P, Muller MJ. ESPEN guidelines for nutrition in liver disease and transplantation. Clin Nutr. 1997 Apr;16(2):43-55.
38. Petrides AS, DeFronzo RA. Glucose and insulin me-tabolism in cirrhosis. J Hepatol. 1989 Jan;8(1):107-14.
39. Koontz DW, Fernandes Filho JA, Sagar SM, Rucker JC. Wernicke encephalopathy. Neurology. 2004 Jul 27;63(2):394.
40. Fischer JE, Funovics JM, Aguirre A, James JH, Keane JM, Wesdorp RI, et al. The role of plasma amino acids in hepatic encephalopathy. Surgery. 1975 Sep;78(3):276-90.
41. Marchesini G, Dioguardi FS, Bianchi GP, Zoli M, Bellati G, Roffi L, et al. Long-term oral branched--chain amino acid treatment in chronic hepatic encephalopathy. A randomized double-blind casein-controlled trial. The Italian Multicenter Study Group. J Hepatol. 1990 Jul;11(1):92-101.
42. Reilly J, Mehta R, Teperman L, Cemaj S, Tzakis A, Yanaga K, et al. Nutritional support after liver trans-plantation: a randomized prospective study. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1990 Jul-Aug;14(4):386-91.
43. Als-Nielsen B, Koretz RL, Kjaergard LL, Gluud C. Branched-chain amino acids for hepatic encephalopa-thy. Cochrane Database Syst Rev. 2003(2):CD001939.
44. Naylor CD, O’Rourke K, Detsky AS, Baker JP. Parenteral nutrition with branched-chain amino acids in hepatic encephalopathy. A meta-analysis. Gastroenterology. 1989 Oct;97(4):1033-42.
45. de Ledinghen V, Beau P, Mannant PR, Borderie C, Ripault MP, Silvain C, et al. Early feeding or enteral nutrition in patients with cirrhosis after bleeding from esophageal varices? A randomized controlled study. Dig Dis Sci. 1997 Mar;42(3):536-41.
46. Chang WK, Chao YC, Tang HS, Lang HF, Hsu CT. Effects of extra-carbohydrate supplementation in the late evening on energy expenditure and subs-trate oxidation in patients with liver cirrhosis. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1997 Mar-Apr;21(2):96-9.
Referências Bibliográficas



Nu
triç
ão C
línic
a
16
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) e Suas AplicaçõesMonize Aydar Nogueira Santos
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Nu
triç
ão C
línic
a
17
assistência ao paciente em Terapia Nutricional se ini-ciou, no Brasil, em meados de
1970. Em 1996, realizou-se o estudo IBRANUTRI, cujos principais ob-jetivos foram diagnosticar o estado nutricional por meio da técnica de Avaliação Nutricional Subjetiva (ANS) e verificar a preocupação das equipes de saúde com o estado nutricional dos doentes e a utiliza-ção da Terapia Nutricional (TN). Porém, apenas em 1998 a TN foi re-gulamentada no Brasil por meio da portaria nº 272 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Entende-se como TN um conjunto de procedimentos terapêuticos para a manutenção ou a recupe-ração do estado nutricional do paciente por meio da Nutrição Enteral (NE) e/ou da Nutrição Parenteral (NP). A complexidade da TN exige o comprometimento e a capacitação de uma equipe multi-profissional para garantir a eficácia e a segurança para os pacientes. Esta equipe é chamada de Equi-pe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN), segundo a Portaria n° 272 e a Resolução n° 63 da ANVISA. A EMTN é o grupo formal e obrigatoriamente constitu-ído de pelo menos um profissional de cada categoria, a saber: médico, nutricionista, enfermeiro e farma-cêutico, podendo ainda incluir profissionais de outras categorias, habilitados e com treinamento específico para a prática da TN.
A EMTN deve possuir um coor-denador técnico-administrativo e um coordenador clínico, ambos membros integrantes da equipe e escolhidos pelos seus componen-tes. O coordenador técnico-admi-nistrativo deve, preferencialmen-
te, possuir título de especialista reconhecido em área relacionada com a TN e o coordenador clínico deve ser médico e atuar em TN. O coordenador clínico pode ocupar, concomitantemente, a coordena-ção técnico-administrativa, desde que haja consenso da equipe.
No caso da Terapia de Nutrição Enteral (TNE) compete à EMTN estabelecer as diretrizes técnico--administrativas que devem nor-tear as atividades da equipe e suas relações com a instituição, criar mecanismos para triagem e vigilância nutricional em regime hospitalar, ambulatorial e domici-liar, para identificar pacientes que necessitam de TN a serem enca-minhados aos cuidados da EMTN; atender às solicitações de avaliação do estado nutricional do pacien-te, indicando, acompanhando e modificando a TN, se necessário, em comum acordo com o médico responsável pelo paciente, até que se atinja os critérios de reabilita-ção nutricional preestabelecidos; assegurar condições adequadas de indicação, prescrição, preparação, conservação, transporte e adminis-tração, controle clínico e labora-torial e avaliação final da TNE e Terapia de Nutrição Parenteral (TNP), visando obter os benefícios máximos do procedimento e evitar riscos; capacitar os profissionais en-volvidos, direta ou indiretamente, com a aplicação do procedimento, por meio de programas de edu-cação continuada, devidamente registrados; estabelecer protocolos de avaliação nutricional, indicação, prescrição e acompanhamento da TNE e TNP; documentar todos os resultados do controle e da avaliação da TNE e TNP visando a garantia da qualidade; estabele-
cer auditorias periódicas a serem realizadas por um dos membros da EMTN para verificar o cumprimen-to e o registro dos controles e da avaliação da TNE e TNP; analisar o custo e o benefício no processo de decisão que envolve a indicação, a manutenção ou a suspensão da TNE e TNP; além de desenvolver, rever e atualizar regularmente as diretrizes e procedimentos rela-tivos aos pacientes e aos aspectos operacionais da TNE e TNP.
Compete ao coordenador técnico--administrativo assegurar condições para o cumprimento das atribui-ções gerais da equipe e dos profis-sionais da mesma, visando priorita-riamente a qualidade e eficácia da TNE e TNP, representar a equipe em assuntos relacionados com as atividades da EMTN, promover e incentivar programas de educação continuada, para os profissionais envolvidos na TNE e TNP, devi-damente registrados, padronizar indicadores da qualidade para TNE e TNP para aplicação pela EMTN, gerenciar os aspectos técnicos e administrativos das atividades de TNE e TNP e analisar o custo e o benefício da TNE no âmbito hospi-talar, ambulatorial e domiciliar.
Compete ao coordenador clínico estabelecer os protocolos de avalia-ção nutricional, indicação, prescri-ção e acompanhamento da TNE e TNP, zelar pelo cumprimento das diretrizes de qualidade estabeleci-das nas BPPNE/NP e BPANE/NP, assegurar a atualização dos conhe-cimentos técnicos e científicos relacionados com a TNE e TNP e a sua aplicação, garantir que a quali-dade dos procedimentos de TNE e TNP, prevaleçam sobre quaisquer outros aspectos.
A
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

18
Nu
triç
ão C
línic
a
Compete ao médico indicar e pres-crever a TNE e TNP, assegurar o acesso ao trato gastrointestinal para a TNE e estabelecer a melhor via, incluindo ostomias de nutrição por via cirúrgica, laparoscópica e en-doscópica ou estabelecer o acesso intravenoso central, para a admi-nistração da NP, proceder o acesso intravenoso central, assegurando a correta localização, bem como orientar os pacientes e os familia-res ou o responsável legal sobre os riscos e benefícios do procedimen-to, participar do desenvolvimento técnico e científico relacionado ao procedimento, além de garantir os registros da evolução e dos procedi-mentos médicos.
Compete ao farmacêutico selecio-nar, adquirir, armazenar e distri-buir criteriosamente os produtos necessários ao preparo da NP e NE industrializada de acordo com os critérios estabelecidos pela EMTN, se estas atribuições em relação à NE, por razões técnicas e/ou operacionais, não forem da responsabilidade do nutricionista, e participar da qualificação de for-necedores e assegurar que a entre-ga da NP e da NE industrializadas seja acompanhada de certificado de análise emitido pelo fabricante. O farmacêutico deve ainda parti-cipar das atividades do sistema de garantia da qualidade, respeita-das suas atribuições profissionais legais, participar de estudos para o desenvolvimento de novas formu-lações para NE, avaliar a formu-lação das prescrições médicas e dietéticas quanto à compatibilida-de físico-química, droga-nutriente e nutriente-nutriente, avaliar a formulação da prescrição médica sobre a adequação, concentração e compatibilidade físico-química
dos componentes e a dosagem de administração da NP, participar de estudos de farmacovigilância com base em análise de reações ad-versas e interações medicamento--nutriente e nutriente-nutriente da NE e NP, a partir do perfil farmacoterapêutico registrado, uti-lizar técnicas preestabelecidas de preparação da NP que assegurem: compatibilidade físico-química, esterilidade, apirogenicidade e ausência de partículas, determinar o prazo de validade para cada NP padronizada, com base em crité-rios rígidos de controle de quali-dade, assegurar que os rótulos da NP apresentem, de maneira clara e precisa, todos os dizeres exigidos pela ANVISA, assegurar a correta amostragem da NP preparada para análise microbiológica e para o arquivo de referência, atender aos requisitos técnicos de manipula-ção da NP, participar de estudos para o desenvolvimento de novas formulações para NP, organizar e operacionalizar as áreas e ativi-dades da farmácia, participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e de educação continuada, garantindo a atualização dos seus colaborado-res, bem como para todos os pro-fissionais envolvidos na preparação da NP. Deve fazer o registro, que pode ser informatizado, constando no mínimo: a) Data e hora de preparação da NP;b) Nome completo do paciente e número de registro quando hou-ver; c) Número seqüencial da prescri-ção médica; d) Número de doses preparadas por prescrição; e) Identificação (nome e registro) do médico e do manipulador.
Deve ainda desenvolver e atualizar regularmente as diretrizes e pro-cedimentos relativos aos aspectos operacionais da preparação da NP e supervisionar e promover auto- inspeção nas rotinas operacionais da preparação da NP.
Compete ao enfermeiro orientar o paciente, a família ou o res-ponsável legal sobre a utilização e o controle da TN, preparar o paciente, o material e o local para o acesso enteral ou a inserção do cateter intravenoso, prescrever os cuidados de enfermagem na TN em nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar, proceder ou assegurar a colocação da sonda oral/naso-gástrica ou transpilórica, e na TNP punção venosa periférica, incluin-do a inserção periférica central (PICC), assegurar a manutenção da via de administração, receber a NE e NP e assegurar a conservação até a completa administração, proce-der à inspeção visual da NE e NP antes de sua administração, avaliar e assegurar a instalação e adminis-tração da NE e NP observando as informações contidas no rótulo, confrontando-as com a prescri-ção médica, avaliar e assegurar a administração da NE e NP obser-vando os princípios de assepsia, detectar, registrar e comunicar à EMTN e/ou ao médico responsável pelo paciente as intercorrências de qualquer ordem técnica e/ou administrativa, assegurar a infusão do volume prescrito por meio do controle rigoroso do gotejamento, de preferência com uso de bomba de infusão para NP, zelar pelo per-feito funcionamento das bombas de infusão, assegurar que qualquer outro medicamento e/ou nutriente prescritos não sejam infundidos na mesma via de administração da NP N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

19
Nu
triç
ão C
línic
a
sem a autorização formal da EMTN, garantir o registro claro e preciso de informações relacionadas à adminis-tração e à evolução do paciente sobre o peso, os sinais vitais, a tolerância digestiva à NE, o balanço hídrico, a glicosúria e a glicemia, principalmente para NP, entre outros que se fizerem necessários, garantir a troca do curativo e ou fixação da sonda enteral e a troca de curativo de catéter, com base em procedimentos preestabelecidos, participar e promover atividades de treinamento operacional e de educação continuada, garantindo a atualização de seus colaboradores, ela-borar e padronizar os procedimentos de enfermagem relacionadas à TN, participar do processo de seleção, padronização, licitação e aquisição de equipamentos e materiais utilizados na administração e controle da TNE e assegurar que qualquer outro medicamento e/ou nutrientes prescritos sejam administrados na mesma via de administração da NE, conforme procedi-mentos preestabelecidos.
Ao nutricionista compete realizar a avaliação do estado nutricional do paciente utilizando indicadores nutri-cionais subjetivos e objetivos com base em protocolo preestabelecido, identificando o risco ou a deficiência nutricional e a evolução de cada paciente até a alta nutricional conforme estabelecido pela EMTN. O nutricionista deve avaliar qualitativa e quantitativamente as necessidades de nutrientes baseadas na avaliação do
estado nutricional do paciente, elaborar a prescrição dietética com base nas diretrizes estabelecidas na prescri-ção médica, formular a NE estabelecendo a composição qualitativa e quantitativa, o fracionamento segundo ho-rários e formas de apresentação, acompanhar a evolução nutricional do paciente em TN, independente da via de administração até alta nutricional estabelecida pela EMTN, adequar a prescrição dietética em consenso com o médico com base na evolução nutricional e na tolerân-cia digestiva apresentadas pelo paciente, garantir o regis-tro claro e preciso de todas as informações relacionadas à evolução nutricional do paciente, orientar o paciente, a família ou o responsável legal quanto à preparação e à utilização da NE prescrita para o período após a alta hos-pitalar, utilizar técnicas preestabelecidas de preparação da NE que assegurem a manutenção das características organolépticas e a garantia microbiológica e bromato-lógica dentro dos padrões recomendados pela ANVISA, selecionar, adquirir, armazenar e distribuir, criteriosa-mente, os insumos necessários ao preparo da NE, bem como a NE industrializada, qualificar fornecedores e as-segurar que a entrega dos insumos e NE industrializada seja acompanhada do certificado de análise emitido pelo fabricante, assegurar que os rótulos da NE apresentem, de maneira clara e precisa, todos os dizeres exigidos pela ANVISA, assegurar a correta amostragem da NE prepa-rada para análise microbiológica, atender aos requisitos técnicos na manipulação da NE, participar de estudos N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

Nu
triç
ão C
línic
a
20
Currículo
Monize Aydar Nogueira Santos é graduada em medicina e cursou residência médica em nutrologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), pós-doutoranda pelo Departamento de Gastroente-rologia do HCFMUSP. Atualmente é médica nutróloga do Instituto Central do HCFMUSP e vice-presidente da Comissão de Terapia Nutricional do HCFMUSP.
Referências Bibliográficas
Dan L Waitzberg et al, Hospital Malnu-trition: The Brazilian National Survey (IBRANUTRI): A Study of 4000 Patients; Nutrition 17:573-580, 2001.
BRASIL, RDC/ANVISA no 63, de 6 de julho de 2000 - Aprova o Regulamen-to Técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Enteral.
Brasil. Portaria MS/SVS nº 272, de 8 de abril de 1998 - Aprova o Regula-mento Técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Parenteral.
para o desenvolvimento de novas formulações de NE, organizar e operacionalizar as áreas e atividades de preparação, participar, promover e registrar as atividades de treina-mento operacional e de educação continuada, garantindo a atualização dos colaboradores, bem como para todos os profissionais envolvidos na preparação da NE, fazer o registro, que pode ser informatizado, no qual conste, no mínimo: a) Data e hora da manipulação da
NE; b) Nome completo e registro do
paciente; c) Número seqüencial da manipu-
lação; d) Número de doses manipuladas
por prescrição; e) Identificação (nome e registro)
do médico e do manipulador;f) Prazo de validade da NE.
Também deve desenvolver e atu-alizar regularmente as diretrizes e procedimentos relativos aos as-
pectos operacionais da preparação da NE e supervisionar e promover auto-inspeção nas rotinas operacio-nais da preparação da NE
Para garantir o atendimento com qualidade total na TN é necessário o acompanhamento em todas as etapas do processo, que se inicia com a indicação da TN e estende-se até a alta do paciente. É de funda-mental importância que a EMTN estabeleça e monitore as normas, os protocolos e os indicadores de qualidade em TN, para o melhor acompanhamento do paciente, ma-ximizando os resultados benéficos e minimizando efeitos adversos da TN, minimizando possíveis desper-dícios e racionalizando gastos.
Todo membro que compõe a EMTN possui função bem estabelecida e es-tas se complementam de forma que a falta de um destes ou mesmo a falta de interação da equipe prejudica a adequada atuação da EMTN. NP
Figura 1 - Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN)
Nutricionista
EnfermeiroFonoaudiólogo
Médico
TerapiaNutricional
Assistente social
Farmacêutico
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Figura1
segunda-feira, 18 de abril de 2011 11:06:59

Shirley dos Santos Bandeira, Vanessa Della Bella Ferreira e Welliton Donizeti Popolim
Desperdício de Água em Unidade Produtora de Refeições (UPR) de São Paulo (SP)
Alim
enta
ção
Co
leti
va
22
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Alim
enta
ção
Co
leti
va
23
O modelo atual de desenvol-vimento econômico está gerando enormes dese-
quilíbrios sociais, degradação ambiental e esgotamento dos recursos naturais 1. O conceito de sustentabilidade abrange objetivos múltiplos, incluindo aspectos am-bientais referentes à redução de consumo de recursos naturais.
Desenvolvimento sustentável é a capacidade de se sustentar, de se manter e de atender as necessi-dades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades.
Atualmente as empresas estão valorizando as questões ambientais, para as quais as metas de cresci-mento estão associadas aos esforços de redução dos efeitos nocivos ao meio ambiente.
Dentre as questões ambientais, uma das preocupações refere-se às alterações significativas que ocor-rem com a utilização dos recursos naturais (solo, água e ar).
O recurso natural água torna-se cada vez mais escasso para atender as crescentes demandas nas cida-des. A água é um bem limitado que passou a possuir valor econômico, custa cada vez mais caro e sua conservação se tornou uma preocu-pação mundial.
Assim como a fome, a falta de água ameaça o futuro do planeta. Em 2025, 2⁄3 da população mundial estarão sujeitos a problemas de abas-tecimento, correspondendo a cerca de 2,8 bilhões de indivíduos vivendo em regiões de seca crônica, estando o nordeste do Brasil incluído.
O Brasil ainda é um País privile-giado quando se refere a recursos hídricos, porém, esta abundância criou, na população, a cultura do desperdício.
Conforme dados fornecidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), a perda de água média no Muni-cípio de São Paulo é de 30,8% em relação ao volume produzido.
A economia e o uso racional da água ganham atenção especial, de-vido ao valor econômico que vem sendo atribuído à água.
A preocupação com a qualidade da água e a redução da demanda motivam a implantação de progra-mas de uso racional em diversos países. No Brasil, a SABESP, ado-tou uma política de incentivo do uso racional da água. O objetivo do programa é combater o des-perdício e harmonizar o desen-volvimento humano com o meio ambiente de modo a obter um desenvolvimento sustentável.
No mercado moderno, no qual a concorrência é cada vez mais acirrada, as empresas devem cons-tantemente reduzir o desperdício, com a finalidade de permanece-rem competitivas. Para se reduzir o desperdício é fundamental conhecê-lo. Mensurá-lo mostra o quanto pode ser reduzido e como agir para corrigir o problema. As ações contra o desperdício devem ser compartilhadas e estabelecidas como meta comum da empresa, visando à obtenção de resultados concretos.
A atuação de restaurantes no com-bate ao desperdício não é comum
na atualidade. O segmento de restaurantes cresce acentuada-mente desde o final do século XX. O setor está sujeito às influências externas, pois pode ser afetado por avanços tecnológicos e aumen-to do preço da energia. Em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), a preocupação não deve se restringir apenas ao alimento, mas também à água, à energia e outros fatores. Devem ser aplicadas práticas e processos de trabalho ambientalmente corre-tos, pois como os demais sistemas produtivos essas unidades lançam resíduos no meio ambiente e utili-zam recursos naturais para chegar ao seu produto final.
A proposta do presente estudo con-sistiu em identificar e mensurar o desperdício de água em um serviço de alimentação de São Paulo (SP), propor ações contra o desperdício de água e contribuir com o desen-volvimento sustentável.
Metodologia
O trabalho caracterizou-se como um estudo de caso exploratório realizado em um restaurante e pizzaria, instalado em um shopping center da cidade de São Paulo.
A pesquisa baseou-se na metodolo-gia aplicada no Programa de Uso Racional da Água (PURA) para UAN, proposto pela SABESP. O PURA é baseado em uma política de incentivo ao uso racional da água que envolve ações tecnológi-cas e a conscientização da popula-ção sobre o desperdício de água 17.
Os dados foram coletados por meio da observação direta do local, N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

Alim
enta
ção
Co
leti
va
24
durante o horário de produção. Foram localizadas instalações hidráulicas para identificar os pontos de uso da água e de possíveis vazamentos.
O consumo de água foi monitorado durante vinte dias antecedentes à intervenção e durante os vinte dias após a intervenção, período no qual se realizou a leitura diária do hidrômetro. Os dados da leitura fo-ram registrados em uma planilha, contendo os dados referentes à data, ao consumo em metros cúbicos e aos horários das anotações.
Durante a avaliação preencheu-se um formulário contendo informações sobre o local, a quantidade de torneiras e os equipamentos e por meio de foto-grafias registrou-se os pontos de utilização da água e a ocorrência de desperdícios. Após o término da coleta de dados propuseram-se ações para a redução do desperdício. Para análise dos dados, utilizou-se o software específico.
Utilizou-se como referência a estimativa de consumo para restaurante comercial, estabelecida pela Norma Técnica (NTS) nº 181 da SABESP 16.
Para verificar a existência de diferença significativa entre o consumo anterior e posterior à intervenção, aplicou-se o teste t pareado de amostras dependentes.
Resultados e discussão
O estabelecimento possuía um hidrômetro e quinze pontos de utilização de água, distribuídos nas áreas de produção, higienização e consumação. Todas as tornei-
ras eram acionadas manualmente e possuíam aerador redutor de vazão.
Higienização dos vegetais
A torneira utilizada para a higienização de vegetais não possuía bocal com chuveiro dispersante e sugeriu-se a instalação. Os chuveiros dispersantes aumentam a área de contato da água com os vegetais e poderiam resultar em uma redução de vazão de até 12 litros/minuto 15.
Recomendou-se o reaproveitamento da solução clorada para higienização do piso, pois a mesma era descartada.
Higienização dos utensílios
Durante a higienização dos utensílios, os resíduos não eram removidos antes da lavagem, sendo colocados dentro da pia com restos de alimentos. O procedimen-to, além de aumentar o esforço físico, de desperdiçar água e de demandar tempo para a realização da tarefa, poderia entupir a pia.
A higienização das louças e dos talheres era realizada na máquina de lavar. As louças eram colocadas na máquina sem passar por uma prévia higienização, a máquina era ligada sem preencher sua capacidade máxima. A utilização inadequada da máquina poderia acarretar desgaste e danos ao equipamento, como tam-bém contribuir com o aumento dos gastos com manu-tenção, água, energia elétrica e produtos de limpeza.
Higienização ambiental
Para a higienização do piso da cozinha foram utili-zados cinco baldes de água (capacidade de 15 litros) com detergente e espuma. Em seguida, jogaram-se mais cinco baldes de água para enxaguar. A água, a espuma e os resíduos foram puxados com rodo até o ralo. Este procedimento foi realizado duas ou mais vezes ao dia. Recomendou-se a racionalização do uso da água, pois a modificação no procedimento propor-cionaria também economia de tempo, de esforço físico e de detergente.
Detectou-se a ocorrência de desperdício de água devi-do à torneira aberta indevidamente durante a higieni-zação dos vegetais, dos utensílios e da pia do bar. N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

Alim
enta
ção
Co
leti
va
25
Realizou-se palestra para colabo-radores para conscientizá-los e orientá-los sobre o desperdício de água. Elaboraram-se cartazes orien-tativos para afixar nas áreas de utilização da água e um folder para ser entregue aos funcionários.
O treinamento e a conscien-tização dos colaboradores são instrumentos fundamentais para a redução dos desperdícios. Além das questões ambientais, o conhecimento sobre os custos associados ao uso de materiais e de insumos pode despertar uma maior conscientização 21.
Detectou-se a presença de vaza-mento no sistema de lavagem da fumaça do forno da pizzaria. Leitura do hidrômetro
Identificou-se que a média do con-sumo diário correspondia a 3,9m3 antes da intervenção. A leitura do hidrômetro realizada no mês posterior à intervenção mostrou consumo médio de 3,4m3/dia.
Após a aplicação do teste t pareado constatou-se o valor de p = 0,14, indicando que não houve diferença estatisticamente significativa entre o consumo an-terior e posterior à intervenção, no entanto os dados obtidos da leitura do hidrômetro revelaram que houve redução na média de consumo de 3,9m3 para 3,4m3. Tal redução gerou economia de 500 litros de água por dia. A média de consumo de água por refeição foi de 21 litros. Este resul-tado é menor do que a estimativa de 25 litros de água por refeição, preconizada pela NTS nº 181.
1600140012001000
800600400200
0
Valor
es em
Reais
(R$)
Meses
1162,01
set/10
1177,39
out/10
1426,39
nov/10
1292,14
dez/10
1315
jan/11
Gráfico 1 - Gasto mensal com água em um serviço de alimentação de São Paulo, 2011
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Alim
enta
ção
Co
leti
va
26
Conforme o valor da conta obtido após a intervenção, observou-se que não houve redução de consu-mo em termos financeiros.
Constatou-se que no mês de no-vembro de 2010 o valor pago pela conta de água foi maior do que nos demais meses. Entretanto, no mesmo mês, observou-se a ocor-rência de vazamento no sistema de lavagem de fumaça.
No mês de dezembro de 2010 verificou-se o aumento de 24% no número de clientes atendidos e o aumento de 30% no faturamento bruto, porém, o valor da conta pago neste mês foi menor se com-parado com os outros meses.
Observou-se que as propostas de intervenção não foram implemen-tadas no local e que os cartazes orientativos não foram afixados nas áreas de utilização da água.
Além das intervenções do PURA, pode haver variação do consumo de água devido ao clima, às mudan-ças de atividades, à ocorrência de vazamentos e à falta de comprome-timento dos usuários 21.
Os resultados do PURA implantado na cozinha da sede da SABESP em 2006 constatou uma redução de 65% no consumo 19.
A implantação do PURA na Universidade de São Paulo (USP) atingiu a redução de 19% do consumo. A implantação do PURA requer uma gestão permanente, estruturada e que vise a modifica-ção de comportamento e o com-prometimento dos usuários 19.
Muitas ações para reduzir o consu-
Tabela 1 - Número de clientes, faturamento bruto e consumo de água mensal de um serviço de alimentação de São Paulo, 2010 e 2011
Mês Nº clientes Faturamento bruto (R$)
Conta de água (Valor R$) % Faturamento
Setembro/2010 4.603 180.056,42 1.162,01 0,65
Outubro/2010 5.589 206.199,26 1.177,39 0,57
Novembro/2010 5.386 187.688,77 1.426,39 0,76
Dezembro/2010 6.690 244.567,27 1.292,14 0,53
Janeiro/2011 5.443 191.763,96 1.315,00 0,69
Média 5.777 202.055,14 1.274,59 0,64
mo de água não geram custo para a unidade. Ações que envolvem algum investimento podem gerar retorno em poucos meses de implantação 15.
Conclusão
A água é um bem natural que deve ser preservado e sua utilização deve ocorrer de maneira consciente.
As atividades do serviço de ali-mentação demandam uma grande quantidade de água e é freqüente a ocorrência de desperdício.
O treinamento dos colaboradores, o monitoramento do consumo de
água e o acompanhamento contí-nuo são ferramentas fundamentais para promover a conscientização e gerar resultados positivos na economia de água. Para que a redução de desperdícios seja efetiva, torna-se imprescindível a participação e o comprometimen-to de todos os colaboradores, desde o superior até aqueles com nível hierárquico menor.
A implantação do PURA em servi-ços de alimentação e a manutenção do consumo reduzido promoverá, ao longo do tempo, benefícios am-bientais, econômicos e sociais. NPN
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12


Alim
enta
ção
Co
leti
va
28
Currículos
Shirley dos Santos Bandeira é graduada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo e pós-graduada em Gestão da Qualidade e Controle Higiênico-Sanitário de Alimentos pelo Instituto Racine. Atualmente é nutricionista do controle de qualidade do Club Athlético Paulistano.
Vanessa Della Bella Ferreira é graduada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo e pós-graduada em Gestão da Qualidade e Controle Higiênico-Sanitário de Alimentos pelo Instituto Racine. Atualmente é nutricionista do controle de qualidade do Club Athlético Paulistano.
Welliton Donizeti Popolim é graduado em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), doutor em nutrição humana aplicada pelo programa de pós-graduação interunidades (FCF/FEA/FSP) em Nutrição Humana Aplicada da Universidade de São Paulo (PRONUT-USP). Especialista em Alimentação Coletiva pela Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN). Coordenador de cursos e docente do Instituto Racine.
Referências Bibliográficas
1. Araújo GC, Bueno MP, Sousa AA, Mendonça PSM. Sustentabilida-de Empresarial: Conceito e Indicadores. III CONVIBRA - Congresso Virtual Brasileiro de Administração. Disponível em > http://www.convibra.com.br/2006/artigos/61_pdf.pdf < Acesso em 13/05/2010.
2. Bellen HMV. Indicadores de sustentabilidade: uma análise compa-rativa. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 253 p.
3. Bornia AC. Análise Gerencial de Custos: aplicação em empresas modernas. 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 204p.
4. Cortez RJH. Gestão ambiental e ecoeficiência. Disponível em: > http://www.camaradecultura.org/Gestao%20Ambiental-Salvador.pdf < acesso em 31/05/2010.
5. Correa TAF, Soares FBS, Almeida FAA. Índice de resto-ingestão antes e durante a campanha contra desperdício em uma Unidade de Alimentação e Nutrição. Revista Higiene Alimentar v.20 n.140. São Paulo. Abri/2006.
6. Gaião LFB. Redução de desperdícios de alimentos- através do uso de práticas de qualidade: Um enfoque do TPM num restaurante industrial. Universidade de Salvador. Salvador- BA 2003. Disponivel em > http://tede.unifacs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=235 Acesso em 13/05/2010.
7. Hasegava CC. Escassez da água: Impactos e alternativas na produção de medicamentos. São Paulo. Centro Universitário São Camilo, 2008.
8. Júnior Moraes, et .al.. Custos da qualidade: a experiência de um restaurante potiguar no Programa Turismo Melhor. Associação Brasileira de Custos - Vol. IV n° 2 – Mai./Ago. 2009. ISSN 1980-4814. Disponível em: http://www.unisinos.br/abcustos/_pdf/16 pdf 6. Acesso em 13/05/2010.
9. ISA- Instituto Socioambietal. Consumo e perda de água na cidade de São Paulo. Disponível em > http://www.mananciais.org.br/uplo-ad_/saopauloconsperdassp.pdf. < Acesso em 31/05/2010.
10. Kinasz TR, Werle HJS. Produção e composição física de resíduos sólidos em alguns serviços de alimentação e nutrição, nos municí-pios de Cuiabá e Várzea Grande, Mato Grosso do Sul: Questões am-bientais. Revista Higiene Alimentar v.20 n. 144. São Paulo. Set./ 2006.
11. Kinasz TRA produção de resíduos sólidos em serviços de alimen-tação e nutrição e a educação ambiental: Uma abordagem sobre a percepção, atuação e formação do nutricionista. Revista Higiene Alimentar. n. 168/169. Jan./Fev. 2009.
12. Macedo JAB. A crise da falta de água x Indústria de Alimentos x Fonte Alternativa. Revista Higiene Alimentar - Edição temática v.22 n.1. São Paulo. Out/2008.
13. Marques AC, Frizzo ST, Heckthever LH. Educação ambiental: En-fatizando a problemática do lixo e do desperdício de alimentos, em uma Unidade de Alimentação e Nutrição. Revista Higiene Alimentar. v. 23 n. 168/169. São Paulo. Jan./Fev. 2009.
14. Neto RC, Santos LU, Franco RM. Água: Escassez e qualidade. Revista Higiene Alimentar - Edição temática v.22 n.1 São Paulo. Out/2008.
15. Prefeitura de São Paulo. Cartilha consumo água. Disponível em > http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/gestaopublica/projeto/0008/Cartilha_Consumo-Agua.pdf < Acesso em 28/08/2010.
16. SABESP- Norma Técnica NTS 181 Dimensionamento de ramal predial de água e do hidrômetro. Disponível em: > http://www2.sabesp.com.br/agvirtual2/tarifas/Comunicado%2007-2010.pdf < Acesso em 22/10/2010.
17. SABESP – PURA – Programa de Uso Racional da Água. Disponível em: > http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=3&proj=sabesp&pub=T&nome=Uso_Racional_Agua_Generico&db < Acesso em 22/10/2010.
18. Silva CC, Ideata EAB, Leite MFA. Revisão sobre Reuso da água: Proposta para a implantação do sistema de reuso na EASC Itanha-nhém. São Paulo. Centro Universitário São Camilo. 2009.
19. Silva Jr. EA. Manual de Controle Higiênico-Sanitário em Serviços de Alimentação. 6ed. São Paulo. Varela. 2007. 623p.
20. Silva LSA, Quelhas OLG. Sustentabilidade empresarial e o im-pacto no custo de capital próprio das empresas de capital aberto. Revista Gestão & Produção v.13 n.3. São Carlos. Set./Dez. 2006.
21. Silva GS, Tamaki HO, Gonçalves OM. Implantação de programas de uso racional da água em campi universitários. Disponível em: > http://www.pura.poli.usp.br/download/ENTAC_2004.pdf < Acesso em 18/12/2010.
22. Sisinno CLS, Moreira JC. Ecoeficiência: um instrumento para a redução da geração de resíduos e desperdícios em estabelecimentos de saúde. Cad. Saúde Pública v.21 n.6. Rio de Janeiro. Nov./Dez. 2005.
23. Tcauhen J, Brandli LL. A gestão ambiental em instituições de ensino superior: modelo para implantação em campus univer-sitário. Gestão & Produção vol.13 n.3 São Carlos. Set./Dez. 2006 Disponível em: > http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 30X2006000300012 < Acesso em 13/05/2010.
24. Tenser CMR, Ginani VC, Araújo VM. Ações contra o desperdício em restaurantes e similares. Revista Higiene Alimentar. v.21 n.154. São Paulo, Set./2007.N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

29
UA
N -
Un
idad
e d
eA
limen
taçã
o e
Nu
triç
ão
Porcionamento de Alimentos em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) com Distribuição Self-ServiceMônica Glória Neumann Spinelli, Edeli Simioni de Abreu, Ana Claudia Dias Rezende e Geralda Altamires Batista Oliveira
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

UA
N -
Un
idad
e d
eA
limen
taçã
o e
Nu
triç
ão
30
Introdução
No Brasil, o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foi criado em 1976 pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil para combater a carência alimentar do trabalhador de baixa renda, por meio de incentivos fiscais às empresas, de modo que estas garantissem aos trabalhadores o acesso a uma alimentação adequada.
Com o passar dos anos, uma grande parte dos res-taurantes vinculados ao PAT passaram a distribuir as refeições na modalidade self-service parcial ou total. Esse tipo de atendimento permite que o cliente exerça autodeterminação na escolha e na montagem de sua refeição. Tal possibilidade de escolha, no entanto, deixou de ser garantia de elaboração de um prato sau-dável, adequado às necessidades individuais e à manu-tenção de peso saudável. Estudos prévios demonstram que esta inadequação das refeições é decorrente de excesso de proteínas e de gorduras e baixa quantidade de fibras, de frutas e de hortaliças.
Neste sentido, o PAT, cujas exigências se baseavam na quantidade de calorias e no Net Dietary Protein Calorie Percent (NDPcal), sofreu alterações com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) no intuito de servir uma alimentação saudá-vel, tentando conter o avanço das doenças crônicas e da obesidade, pois o ambiente de trabalho é, hoje, reconhecido como um local propício para a promoção da saúde e para as modificações de comportamento precursor de doenças.
Mesmo que os cardápios elaborados pelo nutricionis-ta sejam balanceados de modo que a quantidade de energia e nutrientes possa ser atendida, para assegurar a adequação da alimentação fornecida é necessário estabelecer o quanto do consumo médio corresponde às recomendações.
Dentre as formas de oferecer mais qualidade no servi-ço e mais atenção nutricional seria necessária a padro-nização de porções alimentares, porém poucos estudos relatam o comportamento alimentar do trabalhador no que se refere à escolha dos alimentos e ao tamanho das porções em locais cuja distribuição dos alimentos é realizada por self-service. Este estudo teve por objeti-vo quantificar o porcionamento médio de alimentos em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) com
distribuição self-service e avaliar a sua contribuição em relação ao valor energético da refeição.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal e quantitativo reali-zado durante a refeição almoço, em três Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) terceirizadas, situadas em três locais diferentes, em dois Municípios da região metropolitana de São Paulo (SP), que serão denomi-nadas Unidade 1, 2 e 3.
As três unidades juntas são diferentes plantas perten-centes a uma única empresa e fornecem aproximada-mente 2.150 refeições por dia, com uma média de 960 almoços. O tipo de distribuição de refeições é centra-lizado, com padrão trivial médio, conforme definido por Kinasz e Spinelli (2008), atendendo tanto funcio-nários administrativos quanto operacionais.
Para o desenvolvimento do estudo, pesaram-se as preparações do cardápio do almoço em dias aleatórios e consecutivos no período de março a junho de 2009, totalizando seis dias em cada local. Pesaram-se as prepa-rações prontas para o consumo, com o auxílio de uma balança com capacidade para 300kg e sensibilidade de 100g. As sobras foram quantificadas após a distribuição da refeição e para a identificação da porção considerou--se apenas a quantidade porcionada pelo cliente e não a consumida, por meio da seguinte fórmula:
Porção = quantidade produzida - sobras n° de indivíduos que se serviram
Para a determinação do peso total de alimentos pro-duzidos pesou-se um recipiente de cada preparação pronta, descontando-se o peso do utensílio e posterior-mente multiplicando-se pelo número de recipientes utilizados na refeição, admitindo-se que os valores de cada recipiente eram semelhantes.
Para se verificar a adequação das porções em relação ao Guia Alimentar comparou-se a porção média em gramas com a recomendada e calculou-se a porcenta-gem de adequação. Os valores de macronutrientes e de energia das três Unidades foram calculados utilizando--se a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO). Estes foram comparados às recomendações dietéticas estipuladas pelo PAT e às recomendações do N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

31
UA
N -
Un
idad
e d
eA
limen
taçã
o e
Nu
triç
ão
Guia Alimentar para a População Brasileira de 2005.
Com relação às questões éticas, solicitou-se a autorização e o Termo de Consentimento Esclarecido à ter-ceirizada e à empresa, ficando garan-tido o sigilo do nome das empresas e o retorno dos resultados obtidos.
Resultados e discussão
As Unidades 1 e 3 servem, em média, 384 e 390 almoços/dia, respectivamente, tanto de padrão operacional quanto administrativo.
Na Unidade 2 a média de clientes foi de 188 por almoço e os fun-cionários operacionais em maior escala do que administrativos. Nes-sa Unidade a maioria dos funcio-
nários possui nível de escolaridade mais baixo e exerce um trabalho que exige esforço físico, fazendo o carregamento de caminhões.
Os estudos publicados que tratam da questão das porções são escassos e, geralmente, quando há, se refe-rem ao consumo e não ao porcio-namento realizado pelo próprio cliente. Os porcionamentos médios e os respectivos desvios-padrão encontrados foram: carnes - 186g (dp54g), feijão - 89g (dp15g), arroz - 194g (dp63g), frutas - 51g (dp19g), saladas - 59g (dp11g), guarnição - 181g (dp46g). Comparando-se o peso das porções médias (Tabela 1) com o estudo de Carlos et al,. 2008, que estima porções de consumo para homens e mulheres adultos, as Unidades 1 e 3 apresentaram
quantidades servidas entre peque-nas e médias de arroz, considerado--se o sexo masculino, e porções de médias a grandes se comparadas às porções para o sexo feminino. A Unidade 2 apresenta média de porção maior para ambos os sexos. Ao se avaliar o feijão, comparando--se os dois trabalhos, este estudo apresenta médias superiores para o sexo feminino. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, o feijão carioca apresenta recomendação de consumo ideal de 90g e, comparativamente, nas unidades estudadas, essa adequação atingiu 102%, 114% e 82 % respec-tivamente. A terceira Unidade deve ser avaliada de outra maneira, pois oferece diariamente feijão carioca e feijão preto, adequando-se, dessa forma, às recomendações do Guia N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

UA
N -
Un
idad
e d
eA
limen
taçã
o e
Nu
triç
ão
32
Alimentar. Com relação ao arroz branco cozido, ao se comparar as porções (Tabela 1) com as recomen-dações do Guia Alimentar, observa--se que nas três Unidades os valores excedem ao recomendado (125g), em 107%, 207% e 148% respectiva-mente. O arroz e o feijão são itens básicos do padrão alimentar dos brasileiros e os resultados encon-trados corroboram os de Sichieri (1998) e Mattos e Martins (2000).
Ainda na Tabela 1, observa-se, em duas unidades, um porcionamento maior de saladas com hortaliças cozidas em detrimento de hortali-ças cruas.
Em relação aos pratos proteicos, verificou-se uma maior freqüência de oferta de carne bovina e de frango, preparados principalmente na forma cozida e frita. Os dados encontrados nesse estudo são seme-lhantes aos de Savio et al.(2005).
No item guarnição (Tabela 1), nota-se maior freqüência das mas-sas (46%), com pequena partici-pação das hortaliças. Observou-se também uma maior preferência por guarnição do tipo massa com uma porção média de 167g, item que engloba o macarrão, panqueca e outros tipos de massas.
A porção de macarrão (Tabela 2), que está entre as porções de ali-mentos mais consumidos, compara-do com as porções encontradas no estudo de Carlos et al. (2008) ficam na classificação de porções peque-nas a médias.
Observando-se a Tabela 2 e compa-rando-se os resultados deste traba-lho com os de Amorim, Junqueira e Jokl (2005), observou-se um
Tabela 1 - Peso médio das porções, por grupo de componentes do cardápio, das Unidades avaliadas. Região Metropolitana de São Paulo, 2009.
Componentes do cardápio Preparação Porção (g)
UAN 1 UAN 2 UAN 3
Prato baseArroz 134 259 188
Feijão 92 103 73
Prato proteico1ª Opção 60 91 89
2ª Opção 65 138 114
GuarniçãoMassas 70 167 160
Refogados 60 26 60
Saladas
Folhas 20 27 13
Grão 20 6 16
Cozidas 30 26 19
SobremesasFrutas 60 64 30
Elaboradas 40 50 91
Tabela 2 - Porção média (g) de preparações mais freqüentes nas Unidades. Região Metropolitana de São Paulo, 2009.
Preparação Porção média (g)
UAN 1 UAN 2 UAN 3
Arroz 134 259 188
Feijão 92 103 73
Ovo - 10 11
Omelete - 13 22
Salada de alface 21 14 5
Salada de acelga 21 23 13
Salada de grão de bico 19 6 13
Salada de beterraba 38 41 5
Salada de repolho 16 4 20
Macarrão 69 214 233
Frango 159 36 118
Carne vermelha 61 142 94
Carne de porco 67 59 92
Melancia 88 72 38
Sobremesas elaboradas 40 50 81
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012


UA
N -
Un
idad
e d
eA
limen
taçã
o e
Nu
triç
ão
34
porcionamento menor apenas para salada: 59g x 120g respectivamente. Os demais alimentos tiveram um con-sumo maior: pratos proteicos 186g x 138g, feijão 89g x 72g, arroz 194g x 115g e guarnição 181g x 65g.
Observou-se um menor porcionamento para carnes, feijão e frutas se comparados aos descritos por Abreu, Spinelli e Souza Pinto (2011), que avaliaram as por-ções a partir da média de vários serviços self-service.
Verifica-se que apesar de existir disponibilidade diá-ria de frutas na refeição, a porção média observada de 51g fica abaixo da recomendação do Guia Ali-mentar para a População Brasileira, que estipula um mínimo de 80g.
Conforme observado na Tabela 3, o maior peso médio de refeição encontrado foi na UAN 2 no quarto dia (1089g) e o menor valor apresentado foi de 530g no sexto dia na UAN 1. As médias são maiores na UAN 2 - 782g (DP 183) e a menor média é de 571g (DP 35) na UAN 1. Estudo realizado por Salas et al. (2009), na mesma região, refere peso médio de refeição variando de 628g a 795g. Segundo Magnée (1996), o per capita médio em restaurantes self- service que cobram por peso de comida costuma ser em torno de 420g/pessoa, dificilmente ultrapassando 1 quilo, levando a crer que o preço fixo praticado nas UAN induza a um maior porcionamento.
Para explicar o porquê dos resultados encontrados poder-se-ia citar a teoria da escolha alimentar de Courbeau e Poulain (2002) que refere que as escolhas são manifestadas por representações simbólicas dos
alimentos ao homem. Os funcionários estudados se identificam culturalmente com esses alimentos ofer-tados juntamente com a possibilidade de comerem de tudo. Segundo Santos (2008), a sobreposição da abundância e da privação alimentar, principalmente entre os funcionários de padrão socioeconômico menor, podem trazer características peculiares na desestruturação alimentar.
O valor calórico total do almoço das três Unidades, 1059Kcal, 1666Kcal e 1589Kcal, corresponderam a 53%, 83% e 79% das 2000kcal diárias estimadas para a população, dados que se apresentam elevados quando comparados ao estudo de Savio et al.(2005). Se for considerado o valor máximo de 40% pro-posto pelo PAT, para a refeição almoço, a média de energia das refeições das unidades atingirá, respecti-vamente, 132%, 208% e 199% de adequação.
Na população estudada, o porcionamento dos pra-tos é excessivo, compondo um padrão de dieta nas Unidades que pode ser classificado como hiperpro-teico, hiperlipídico, hipoglicídico e hipercalórico (Figura 1), semelhante aos resultados relatados por Fausto et al.(2001) em restaurante para população universitária. Esses resultados demonstram que possivelmente a adequação dos porcionamentos traria benefícios nutricionais. Outros trabalhos recentes demonstraram a inadequação das refeições oferecidas e entre os principais pontos se destacam o excesso de gorduras totais e a baixa quantidade de fibras e carboidratos, reforçando a importância de aumentar a oferta de frutas e hortaliças em refeições oferecidas por empresas pertencentes ao PAT.N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

35
UA
N -
Un
idad
e d
eA
limen
taçã
o e
Nu
triç
ão
Figura 1 - Adequação calórica dos nutrientes do almoço em relação às recomendações diárias. Região Metropolitana de São Paulo, 2009.
Conforme a Tabela 3, a Unidade que apresenta as porções mais adequadas em relação às recomen-dações do Guia Alimentar para a População Brasileira é a Unidade 1 para carnes, feijão, arroz e guarni-ção. As Unidades 2 e 3 necessitam incentivar um maior consumo de frutas, verduras e legumes e um menor consumo de ovos, carne ver-melha, preparações fritas e massas.
Com o contínuo aumento das taxas de obesidade, é importante entender como o tamanho das porções dos alimentos pode in-fluenciar a ingestão de energia e o ganho de peso. Como o tamanho da porção é um fator relacionado
Kcal
140012001000
800600400200
0HC Prot Lip
UAN 1 UAN 2 UAN 3 Recomend. diária Recomend. almoço
Tabela 3 - Peso médio(g), da refeição porcionada. Região Metropolitana de São Paulo, 2009.
Peso médio da refeição (g)
Dia UAN 1 UAN 2 UAN 3
1 582 840 681
2 624 642 786
3 544 836 791
4 554 1089 690
5 593 710 691
6 530 576 842
Média 571 782 758
D.P. 35 183 70
ao meio em que o indivíduo se insere, deve ser avaliado com aten-ção, para o tratamento e a pre-venção da obesidade, fornecendo alimentos em porções que satisfa-çam os consumidores em relação à quantidade e à qualidade.
A questão do porcionamento deve ser uma preocupação das empre-sas, que devem encarar o desafio de adotar programas de qualidade de vida, com ênfase na questão da alimentação, lembrando que uma alimentação inadequada, em curto e médio prazo, poderá ter uma interferência significativa na saúde dos funcionários. É necessário lembrar que uma intervenção de
diminuição do porcionamento por parte do nutricionista, sem o res-pectivo respaldo e apoio da empre-sa, poderá parecer contenção de despesas ou aumento de lucro para o serviço de alimentação.
Deve-se considerar também que uma alimentação com uma maior quantidade de hortaliças e de frutas poderá implicar em maiores gastos para a terceirizada, pois estes produtos costumam apresentar va-lor elevado e alto índice de perdas.
Para proteínas, de acordo com a Figura 1, observa-se que o valor calórico excedeu, em uma única refeição, as recomendações para o almoço em 390%, 397% e 354% respectivamente, representado prin-cipalmente pelo alto porcionamen-to das carnes. O consumo ideal de calorias provenientes de proteínas para esta refeição seria de aproxima-damente 100 calorias. A recomen-dação de porcionamento, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, é de 90 gramas, portan-to, nas três Unidades deveria haver algum trabalho com os clientes para a redução do porcionamento.
Sabe-se que o excesso de carnes pode representar aumento no colesterol e nas gorduras saturadas e que estas devem ser consumidas com moderação. Sugere-se a troca da nomenclatura prato principal por prato proteico para evitar subli-minarmente a idéia de prato mais importante e que deva ser consumi-do em maior quantidade.
Para lipídios, apenas a Unidade 1 se aproxima das 200 calorias espe-radas para consumo no almoço e as porcentagens de adequação ficam em 109%, 194% e 177%. N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

UA
N -
Un
idad
e d
eA
limen
taçã
o e
Nu
triç
ão
36
Segundo Abreu et al., 2000, as preparações mais consumi-das em restaurantes self-service de São Paulo são as mesmas observadas neste estudo, ou seja, carnes e massas.
Ainda na Figura 1, observa-se que, em relação aos carboidratos, somente a Unidade 1 apresenta um valor aproximado de adequação - 94% contra 184% nas Uni-dades restantes. Segundo o PAT, são recomendadas para o almoço 500 calorias oriundas de carboidratos.
A Figura 2 demonstra que há inadequação também entre os nutrientes das refeições servidas.No estudo de Jomori et al. (2006) salienta-se que as modificações da estrutura dos cardápios parecem ser uma das conseqüências dos sistemas de bufês, em que se pretende apresentar os alimentos e as preparações de forma aparentemente abundante, induzindo o cliente a misturar diversos tipos de alimentos em seu prato. Esse fato pode dificultar tanto o planejamento e a análise dos cardápios quanto a escolha alimentar pelos clientes. O homem come não o que quer, mas o que o meio lhe oferece, então se o meio lhe oferece alimentação hipercalórica, hiperproteica ou hipoglicí-dica, essas porções devem ser modificadas com a fina-lidade de melhorar a qualidade nutricional. Portanto,
% 60
50
40
30
20
10
0UAN 1 UAN 2 UAN 3
CH Prot. Lip.
os resultados do presente estudo devem colaborar com novas pesquisas para determinar uma possível tendência em relação ao tamanho das porções.
A adequação do porcionamento em UAN traria benefícios nutricionais para milhões de brasileiros, pois, para o ano de 2011, a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas (ABERC) estima que as concessionárias tenham produzido em torno de 10,5 milhões de refeições/dia.
Conclusões
As UAN apresentam padrão de porção maior que o recomendado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira para arroz, feijão, carnes e guarnição e me-nor nos itens de cardápio como salada, frutas e guar-nições à base de hortaliças, que devem ser consumi-das em maiores quantidades, favorecendo o aumento do risco para doenças crônicas não-transmissíveis. As Unidades apresentam pratos hipercalóricos, hiper-proteicos, hiperlipídicos e hipoglicídicos se compara-dos às recomendações do PAT.
O estudo mostra que o sistema self- service reforça a tendência de um consumo maior de alimentos com maior densidade energética e menor de legumes, ver-duras e frutas. Espera-se que este estudo, juntamente com outros realizados anteriormente, ou que venham a ser desenvolvidos, possa colaborar na determinação de uma possível tendência em relação ao tamanho das porções. NP
Figura 2 - Adequação calórica dos nutrientes na refeição. Região Metropolitana de São Paulo, 2009.
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012


UA
N -
Un
idad
e d
eA
limen
taçã
o e
Nu
triç
ão
38
Currículos
Mônica Glória Neumann Spinelli é graduada em nutrição, mestre e doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP).
Edeli Simioni de Abreu é graduada em nutrição, mestre e doutora em saúde pública pela FSP-USP.
Ana Claudia Dias Rezende é graduada em nutrição.
Geralda Altamires Batista Oliveira é graduada em nutrição.
Referências Bibliográficas
Abreu ES, Kitagawa MM, Raggio GP, Moita Neto JM, Torres EAFS. Adequação nutricio-nal das refeições oferecidas em restaurantes de comida “por quilo”. In: XII Congresso Latino Americano de Nutrición, Buenos Aires. Libro de resúmenes de trabajos libres ... Buenos Aires, 2000.
Abreu ES, Spinelli MGN, Souza Pinto AM. Gestão de Unidades de Alimentação e Nu-trição: um modo de fazer. 4ª ed. São Paulo : Metha; 2009. 342p.
Abreu ES, Spinelli MGN, Souza Pinto AM. Gestão de Unidades de Alimentação e Nu-trição: um modo de fazer. 4ª ed. São Paulo : Metha; 2009. 352p
Amorin MMA, Junqueira RG, Jokl L. Adequa-ção nutricional do almoço self-service de uma empresa de Santa Luzia, MG. Rev. Nutr., Campinas, v. 18, n.1,p.45-156, jan/fev. 2005.
Bandoni DH, Jaime PC. A qualidade das refeições de empresas cadastradas no PAT na cidade de São Paulo. Rev. Nutr.,Campinas, v.21,n.2,p.177-184, mar/abr. 2008.
Carlos JV, Rolim S, Bueno MB, Fisberg RM. Porcionamento dos principais alimentos e preparações consumidos por adultos e ido-sos residentes no município de São Paulo. Rev. Nutr., Campinas, v.21, n.4,p.383-391, jul/ago. 2008.
Courbeau JP, Poulain JP. Libres mangeurs? In: Penser l’alimentation: entre imaginaire et rationalité. Toulouse: Éditions Privat, 2002.p.137-156.
Fausto MA, Ansaloni JÁ, Silva ME, Garcia Júnior J, Dehn AA, César TB. Determinação do perfil dos usuários e da composição química e nutri-cional da alimentação oferecida no restauran-te universitário da Universidade Estadual Pau-lista, Araraquara, Brasil. Rev. Nutr., Campinas, v.
14, n. 3, p.171-176 set/dez. 2001 .
Freire RBM, Salgado RS.; Avaliação de car-dápios oferecidos a trabalhadores horistas. Mundo Saúde. V.22,n.5,p.298-301,1995.
Gambardella AMD. O programa de alimen-tação do trabalhador frente às recomen-dações nutricionais para esse segmento específico da população: área metropolitana de São Paulo. 1990. Dissertação (Mes-trado em Nutrição)-Faculdade de Saúde Pública,Universidade de São Paulo,São Paulo.
Guia Alimentar para a população brasileira. Promovendo a Alimentação Saudável Edição Especial, Série A. Normas e Manuais Técni-cos. Distrito Federal, 2005, p. 33-137.
Jomori MM, Proença RPC, Calvo MCM. Determinantes de escolha alimentar. Rev. Nutr., Campinas, 2008,v. 21,n.1,p.:63-73, jan./fev.2006.
Kinasz TR, SpinelliPINELLI, M. G. N. . Clas-sificação de Serviços de Alimentação e de Padrão de Cardápios: um referencial teórico. Rev. Nutrição em Pauta, São Paulo, n.92, p. 53-58, set./out.2008.
Magnée HM. Manual do self-service. São Paulo:Livraria Varela,1996.p.14.
Mattos L, Martins IS. Consumo de fibras ali-mentares em população adulta. Rev Saúde Pública,São Paulo,v. 34,n.1,p. 50-55. 2000.
Moura JB. Avaliação do programa de alimentação do trabalhador no estado de Pernambuco. Rev Saúde Pública, São Paulo, v.20,n.2,p.115-28. 1986
Nonino-Borges CB; et al. Desperdício de alimentos intra-hospitalar. Rev. Nutr. Campinas,v.19,n.3,p.349-356, mai./jun.2006.
Salas CSK, Spinelli MGN, Kawashima LM. Te-ores de sódio e lipídios em refeições almoço
consumidas por trabalhadores de uma em-presa do município de Suzano, SP. Rev. Nutr. Campinas,v.22,n.3,p.331-339, mai./jun.2009.
Santos LAS. O corpo, o comer e a comida - um estudo sobre as práticas corporais e alimentares do mundo contemporâneo. Salvador: EDUFBA, 2009.327p.
Savio KEO, Costa THM, Miasaki E, Schmitz BAS. Avaliação do almoço servido a parti-cipantes do programa de alimentação do trabalhador. Rev Saúde Publica, São Paulo, v. 39, n. 2, p.148-155,abr. 2005.
Sichieri, R. Epidemiologia da obesidade. Rio de Janeiro: Editora da Universidade do Rio de Janeiro; 1998. p. 140.
NEPA. Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação. TACO – Tabela brasileira de composição de alimentos. Versão 2. Campi-nas, SP, 2006.113p.
Veloso IS, Santana VS, Oliveira NF. Programas de alimentação para o trabalhador e seu impacto sobre ganho de peso e sobrepeso. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 41, n. 5, p.769-776, out. 2007.
Veloso IS, Santana VS. Impacto nutri-cional do programa de alimentação do trabalhador no Brasil. Rev Panam Salud Publica,Washington,v. 11,n.1.p.24-31. 2002
WHO - World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO expert consultation. WHO Technical Report Series, 916. Geneva,2003.
WHO - World Health Organization. Preven-ting noncommunicable diseases in the workplace through diet and physical activi-ty. WHO/ World Economic Forum report of a joint event, 2008. Disponível em URL:http://www.who.int.N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

Gas
tro
no
mia
39
Cozinha Experimental Hospitalar: Ações Aplicadas à GastronomiaAndréa Luiza Jorge
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Gas
tro
no
mia
40
Introdução
A cozinha experimental é uma área de atuação específica e abrangente, que visa principalmente desenvolver e aperfeiçoar preparações culinárias e produtos alimentícios.
Em instituições de pesquisa, em editoras de publicações culinárias e na indústria de alimentos caracteriza-se como área de apoio para aperfeiçoamento de técnicas de processamento de alimentos e de estratégia de mar- keting, com a finalidade de assegurar a qualidade do produto final e atender às expectativas do consumidor.
Conforme Silva & Castro (1991), Gonsalves (1996) e Guazelli (1997), citados por Bernardes (2001), a cozinha experimental pode ser definida como um laboratório com características de cozinha doméstica, no qual se testa e avalia o comportamento dos produtos para o consumo sob diferentes visões, realizando testes com o próprio consumidor ou futuros consumidores.
Bernardes (2001) realizou pesquisa exploratória realizada por meio de entrevista em cinco empresas,
com o objetivo principal de caracterizar a cozinha experimental nas indústrias de alimentos do Estado de São Paulo, nas quais se encontra a maior concentração destes serviços. Concluiu que a cozinha experimental pode ser definida como a área estratégica para a promoção da política de qualidade e de atenção, de informação e de orientação ao cliente em uma atitude proativa, por meio de ferramentas diversas, visando informar e retroalimentar áreas como Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), marketing, Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), vendas e logística, comunicação e/ou assessoria de imprensa e diretorias. Conforme resultados desse estudo, as atividades mais freqüentes encontradas nas cozinhas experimentais são: •Participaçãonodesenvolvimentoenotestede
receitas que servirão para impressão de embalagens de produtos, folhetos de divulgação, folders, catálogos, livros e revistas;
•Realizaçãodetestesdeperformancedosprodutos,com a finalidade de analisar os produtos da empresa e testes de concorrência para avaliação das características do concorrente, além de servirem como apoio para o desenvolvimento de novos produtos; N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

Gas
tro
no
mia
41
•Avaliaçãodaembalagem;•Avaliaçãodoprodutorecall
tradicional por troca de produto com defeito;
•Desenvolvimentodepromoçãoe Demonstração em Pontos de Venda (DPV), com culinaristas e outros;
•Promoçãodeeducaçãoculinária(aulas e cursos de culinária) objetivando o merchandising culinário;
•Participaçãodocontroledequalidade na fábrica;
•Participaçãodoatendimentoprée pós-venda quando solicitado pela indústria;
•Prestaçãodeatendimentoaclientes internos e externos;
•Desenvolvimentodetreinamento de equipe de vendas e promocional;
•Orientaçãosobreousoculinárioem rótulos e embalagens;
•Participaçãodoplanejamentoe da organização de eventos diversos e oferecer suporte técnico em nutrição e gastronomia;
•Fornecimentodesubsídiosculinários online e abastecimento de bancos de informações no suporte para dúvidas culinárias.
Para o marketing são desenvolvidos protótipos caseiros para servirem de base no desenvolvimento de novos produtos, estudos do produto (uso culinário, aplicações etc.), desenvolvimento e testes de receitas para ações diversas e degustações para análise contínua dos produtos.
Na área hospitalar, a abrangência de atuação passou a ser definida e divulgada no meio científico a partir de 1991, com objetivos de
desenvolvimento de testes experi-mentais para apoio ao processo de aquisição de alimentos, à melho-ria da qualidade de produtos e de receitas com implementação na linha de produção de dietas normais, modificadas e especiais, desenvolvimento de receitas para aprimorar a dieta de pacientes internados e desenvolvimento de receitas para aprimorar a orien-tação dietética a pacientes de ambulatório.
Atualmente, a inserção da cozinha experimental é ampla e está presente em indústrias de alimentos, instituições de ensino, editoras de publicações culinárias, empresas fabricantes de equipamentos para cozinhas, hospitais e unidades de saúde. Nos vários campos de atuação da cozinha experimental, destacam-se a atividade de desenvolvimento de produtos e o foco no cliente, com primordial necessidade de aperfeiçoamento de conhecimentos da culinária, da gastronomia e da ciência experimental dos alimentos.
Cozinha experimental hospitalar
Preparar alimentos destinados a pacientes em dieta especial exige habilidade e conhecimentos básicos do nutricionista sobre técnicas culinárias e ingredientes que podem tornar uma dieta mais facilmente aceita pelo paciente. Conhecer tecnicamente a função dos ingredientes em uma receita culinária faz com que menos tempo seja perdido ao se procurar, por meio de experimentação sem base científica e técnica, modificar um produto culinário.
A ciência experimental dos ali-mentos baseia-se no estudo das operações a que são submetidos os mesmos durante os processos culi-nários, bem como às modificações resultantes, de forma que os conhe-cimentos adquiridos possibilitem o aperfeiçoamento do produto final. Na área hospitalar, tal ciência abrange o estudo dos aspectos nutricionais, dietéticos, culinários e sensoriais dos alimentos por meio da aplicação prática e da integra-
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Gas
tro
no
mia
42
ção entre as disciplinas de técnica dietética e culinária, de dietoterapia e de análise sensorial. O objetivo é pro-mover o desenvolvimento de preparações dietéticas e culinárias para uma clientela diversificada e especiali-zada no âmbito de suas necessidades nutricionais.
A instalação de uma cozinha experimental dentro da unidade hospitalar é considerada um passo importan-te para a discussão e a adequação de técnicas gastronô-micas às dietas especiais e vice-versa, mas também para o treinamento e a atualização dos profissionais da cozi-
nha e da copa, inclusive da equipe de nutricionistas da unidade. Na área hospitalar a atuação especializada da cozinha experimental como tendência atual e inovado-ra nesse meio e principalmente como instrumento de promoção da qualidade é especialmente designada e equipada como área de apoio para o aprimoramento de pessoal e de técnicas de trabalho de áreas de produ-ção, assistência, ensino e pesquisa. Na área hospitalar, como área destinada ao apri-moramento de pessoal e de técnicas de trabalho, N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

Gas
tro
no
mia
43
X
implantou-se, de forma pioneira, em 1977, a Seção de Cozinha Experimental na Divisão de Nutrição e Dietética Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IC-HCFMUSP) pelo Decreto nº 9720/1977. Como atividade de produção experimental há evi-dências de formulações diversas a partir da década de 1960. A partir de 1985, a eficácia aumentou ao inaugurarem-se as novas instalações no 2º andar, ala D Sul, do Instituto Central, com área própria de 66m2. A partir de 1991, com redimensionamento de atividades, ampliou sua atuação como área inovado-ra no meio hospitalar, divulgando artigos técnicos e trabalhos científicos.
A cozinha experimental hospitalar apresentou-se como tendência dinâmica e inovadora a partir da década de 1990 no HCFMUSP, com premiação de menção honrosa no Concurso ABERC (Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas) Ali-mentos 91 - melhor trabalho de contribuição social. A proposta descrita como desafio com criatividade,
percepção e análise crítica para atividades de pes-quisa e treinamento intensivo com a finalidade de auxiliar nutricionistas e pessoal auxiliar a manter e/ou recuperar o estado nutricional de indivíduos sinalizava a necessidade de atender às especificidades dietoterápicas associadas ao aperfeiçoamento da pala-tabilidade das preparações dietéticas, desmistificando a imagem negativa da refeição hospitalar.
A partir de 1998 desenvolveu-se programa de estágio curricular em marketing de alimentos com as faculdades de nutrição interessadas e em 2000 iniciou-se programa de capacitação em serviço em cozinha experimental. A partir de 2000 desenvolveu-se um plano estratégico para a implementação da gastronomia hospitalar em conjunto com a Diretoria DND, por meio de várias ações descritas internamente e divulgadas em congressos e eventos especializados do mercado. Desde 2004 desenvolve a atividade prática de Oficinas de Culinária, destinada à Educação Nutricional de funcionários e de pacientes, conforme pesquisa de temas junto à
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Gas
tro
no
mia
44
equipe de nutricionistas. A atividade associa noções de alimentação equilibrada, dietética, culinária e dietoterapia aplicada a cada tema. Desde 2005, planejou e implantou na DND o programa de estágio curricular, além de programa de capacitação em serviço para alunos do curso técnico em nutrição.
A cozinha experimental hospitalar aplica e associa conceitos e práticas de técnica dietética e culinária, dietoterapia e análise sensorial com o objetivo de promover o desenvolvimento de preparações dietéticas e culinárias para uma clientela diversificada e especializada no âmbito de suas necessidades nutricionais, auxiliando na valorização da terapia nutricional oral. Um dos atributos da cozinha experimental hospitalar é planejar, orientar, executar e avaliar testes experimentais com alimentos ou preparações dietéticas, com a finalidade de auxiliar no parecer técnico ao adquirir alimentos e no controle de qualidade dos produtos alimentícios, desenvolver receitas para variação do cardápio de pacientes internados e dos funcionários do refeitório, fornecer subsídios práticos para orientação dietética a pacientes internados ou de ambulatório, treinamento de funcionários na confecção de preparações, entre outros. Realiza demonstrações de produtos, desenvolvimento de receitas e promove degustação de produtos por meio de aplicação da análise sensorial, estimulando a prática dos nutricionistas a situações que envolvem a utilização da terapia nutricional oral.
No IC-HCFMUSP a cozinha experimental tem se mostrado excelente aliada na implantação da gastronomia hospitalar promovendo o treinamento da equipe para que as refeições sejam servidas em temperatura adequada e com apresentação atraente, o desenvolvimento de novas preparações, os testes de sensibilização destinados a nutricionistas como o projeto de calibração de degustadores, a realização de eventos de gastronomia e culinária, os concursos de receitas entre colaboradores e o concurso de receitas para pacientes.
Embora existam várias notícias veiculadas em sites de instituições de saúde, com citação de atividades interativas e cursos oferecidos a pacientes e a cuidadores em cozinhas experimentais, há restritas citações na literatura nacional acerca das atividades e da atuação prática da cozinha experimental hospitalar.
Em 2007, trabalho apresentado no Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Assistência Domiciliar (CIAD), desenvolvido na cozinha experimental do Hospital de Clínicas de Uberlândia (MG), foi premiado com o relato da atuação da cozinha experimental no ensino aos cuidadores dos pacientes de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) para a elaboração de receitas hiperprotéicas, hipercalóricas e de textura abrandada à base de ingredientes de baixo custo para facilitar a ingestão e a suplementação da dieta habitual. As preparações ensinadas têm facilitado a oferta de energia e de nutrientes aos pacientes. O sabor e a aparência agradáveis resgatam o paladar e o prazer da alimentação que muitas vezes estão esquecidos, contribuindo assim para melhoria da qualidade de vida.
Em 2007, relato de experiência citando a relevância da cozinha experimental na educação nutricional de pacientes foi descrito com evidências de forma escrita e filmada da desmistificação gradativa do medo de degustar preparações à base de carne em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica.
Em 2008, publicou-se artigo sobre as oficinas de culinária em cozinha experimental hospitalar como estratégia de educação nutricional e gastronomia. Na prática, a cozinha experimental hospitalar ocupa espaço de atuação especializada do nutricionista e direciona ações focadas em gastronomia associada à dietoterapia.
Nos hospitais públicos existem trabalhos para a identificação de prioridades da gastronomia hospitalar e estratégias para o envolvimento de pessoal. Além disso, ênfase a melhorias de dietas restritas tem sido o foco de atuação e de ação prática da gastronomia. Há integração da cozinha experimental para o desenvolvimento de projetos e o alinhamento com a produção especializada de dietas e com a área clínica. Nos hospitais em geral, as perspectivas apontam para a implementação de práticas educacionais em nutrição realizadas em espaços destinados à cozinha experimental e à valorização do nutricionista e à necessidade de integrar atividades da ciência experimental dos alimentos e gastronomia à atuação deste profissional para aprimorar o cuidado nutricional oferecido aos pacientes. NPN
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

Gas
tro
no
mia
45
Currículo
Andréa Luiza Jorge é graduada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em nutrição hospitalar e em administração pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), especialista em qualidade e produtividade
pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini e em padrões gastronômicos pela Universidade Anhembi Morumbi. Atualmente é nutricionista chefe da seção de cozinha experimental e coordenadora da equipe de ações corretivas e preventivas qualidade da divisão de nutrição e dietética
do Instituto Central do HCFMUSP, certificada pela NBR ISO 9001. Docente de cursos do Instituto Racine.
Referências Bibliográficas
Jorge AL, Maculevicius J. Desenvolvimento de projetos com alimen-tos - experiência em uma cozinha experimental hospitalar - VI Con-gresso Nacional da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição,
Santa Catarina, 2001.
Jorge AL et AL. Prioridades da gastronomia hospitalar na visão de nutricionistas em hospitais públicos. Congresso Internacional de
Gastronomia, Nutrição e Qualidade de Vida, 3, 2002. São Paulo: Anais... Núcleo - Consultoria, Comércio e Representações Ltda, 2002. p. 32.
Jorge AL et al. Estratégias para o envolvimento de pessoal na gastro-nomia hospitalar. Congresso Internacional de Gastronomia, Nutrição e Qualidade de Vida, 3, 2002. São Paulo: Anais... Núcleo - Consultoria,
Comércio e Representações Ltda, 2002. p. 34.
Jorge AL et al. Desafios da gastronomia nas dietas hospitalares. Congresso Internacional de Gastronomia, Nutrição e Qualidade de
Vida, 4, 2003. São Paulo: Anais... Núcleo - Consultoria, Comércio e Representações Ltda, 2003. p. 17 - 18.
Jorge AL. História e evolução da gastronomia hospitalar. Revista Nutrição em Pauta, Ano XIII n.70, p. 6-14, jan/fev 2005.
Jorge AL, Maculevicius J. Gastronomia hospitalar - como utilizá-la na melhoria do atendimento da unidade de nutrição e dietética. In:
Guimarães NVR et al. Hotelaria hospitalar - uma visão interdiscipli-nar. São Paulo, Atheneu, 2007
Jorge AL. Oficinas de culinária em cozinha experimental hospitalar como estratégia de educação nutricional e gastronomia. Revista
Nutrição Profissional, Ano IV n.21,p.38-46, set/out 2008.
Scabim VM, Jorge AL, Silva MM, Garrido Jr. AB, Cecconello I. Relato de experiência da cozinha experimental na educação nutricional de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. IX Congresso da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. 2007. Curitiba (PR): Anais p. 056.
Silva RS, Castro DM. Sistema de atendimento a cliente: um instru-mento para a melhoria da qualidade. Congresso Internacional de
Normalização da Qualidade. São Paulo, Anais ABNT, 1991.
Villar MH. Dietética e Gatronomia - Cozinha experimental (p.483-4) In: Silva SMCS & Mura JDP. Tratado de Alimentação, Nutrição e Dieto-
terapia. São Paulo, Editora Roca, 2007
Bernardes SM. O papel gerencial da cozinha experimental nas indús-trias de alimentos Programa de pós-graduação em Administração
( Tese de Mestrado). Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2001.
Chaul DN, Borges Jr. LH, Martins LZ, Almeida AECG, Oliveira VP, Andrade GR. Cozinha experimental para cuidadores dos pacientes
de um programa de assistência domiciliar. 10º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Assistência Domiciliar (CIAD). Pôster premiado
2007 - 1º lugar. [acesso em 2011 jul 09]. Disponível em : http://ciad.com.br/2007/11/cozinha-experimental-para-cuidadores-dos-pacien-
tes-de-um-programa-de-assistencia-domiciliar
Dias MCG, Steluti J, Yoshimura TM, Maculevicius J. Dietas Orais Hos-pitalares (p.657). In: Waitzberg DL. Nutrição oral, enteral e parenteral
na prática clínica. São Paulo, Editora Atheneu, 4º edição, 2009.
Divisão de Nutrição Diétetica do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. DND-ICHC Manual de Organização, Boas Práticas e de Qualidade
(MOBPQ) - São Paulo, 1998.
Guazelli, D Serviço ao Consumidor: a prática brasileira do rela-cionamento on line, Faculdade de Comunicação Social (Tese de
mestrado). Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 1997.
Gonsalves MIE. Marketing nutricional, Epísteme, São Paulo, v.1,n 1,p.239-48, jan/jun,1996.
Jorge AL, Battaglia C. Cozinha experimental na área hospitalar, uma prática inovadora. Concurso Alimentos 91 - Trabalhos selecionados,
p.191-205, 1991.
Jorge AL. Perspectivas da Ciência Experimental dos alimentos na área hospitalar. Higiene alimentar, v. 6, n. 24, p.42-44, dez. 1992.
Jorge AL, Maculevicius J. Cozinha experimental na área hospitalar: novas propostas de atuação. O mundo da saúde, v. 19, n. 9, p. 299 -
302, out. 1995.
Jorge AL, Santos FC, Scabim VM, Maculevicius J. Proposta de meto-dologia para calibração de degustadores em uma UND - V Congres-so Nacional da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, São
Paulo, 1999. Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Mecanismo de Termoregulação e Balanço Hidroeletrolítico no ExercícioNivia Cristiane de Macedo, Eni Ramos e Viviane Corrêa do Nascimento
Nu
triç
ão n
o E
spo
rte
46
Introdução
O principal fator para a queda da performance em um exercício com duração superior a 1 hora é a depleção de glicogênio muscular e, principalmente, os problemas relacionados com a termorregula-ção e o balanço hídrico. Os seres humanos podem sobreviver apenas a dois ou três dias sem água.
Para a termorregulação, um indi-víduo consegue tolerar uma queda na temperatura corporal profunda de 10ºC, porém não uma elevação de apenas 5ºC.
O objetivo deste estudo é realizar uma revisão bibliográfica sobre o mecanismo de termorregulação e balanço hidroeletrolítico durante o exercício.
Mecanismos de termorregulação
O corpo humano é constituído de
Figura 1 - Mecanismos para o balanço térmico
Fonte: McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Nutrição para o Desporto e o Exercício. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
40 a 70% de água, sendo que os mús-culos constituem-se de 65 a 75% de água e o tecido adiposo constitui-se de apenas 10% de água.
Durante a contração muscular,
cerca de 70% da energia produ-zida pelo organismo é dissipada na forma de calor e apenas 30% desta energia é utilizada na contra-ção muscular. O calor produzido pode chegar até 100 vezes ao calor
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Nu
triç
ão n
o E
spo
rte
47
produzido pelos músculos inativos. No repouso, por exemplo, a taxa de produção de calor do corpo é baixa, cerca de 1kcal/minuto mas em altas intensida-des de exercício a produção de calor metabólico pode exceder 20kcal/minuto.
Se o organismo armazenasse esse calor ao invés de dissipá-lo, a temperatura interna se elevaria à ra-zão de 1°C (1,8°F) a cada 5 a 8 minutos (durante exercícios moderados), resultando em hipertermia (superaquecimento) e colapso em 15 a 20 minutos. Isto não costuma acontecer, pois o organismo possui um sistema muito sofisticado que indica o aumento na temperatura interna e conseqüentemente ativa os reflexos associados à perda de calor.
Regulação hipotalâmica da temperatura central
O corpo também absorve calor a partir do meio ambiente por radiação solar e a partir de objetos mais quentes que o corpo, como demonstra a Figura 1.
O hipotálamo contém o centro coordenador para a regulação da temperatura, que ajusta habitualmente e regula com extremo cuidado para 37ºC a temperatura corpórea. No entanto, o hipotálamo consegue apenas iniciar respostas destinadas a proteger o corpo do aumento ou da perda de calor.
A regulação do esfriamento do corpo pela evaporação, além da modificação do ritmo de produção de calor pelo organismo, pode ser ativada pela pele por meio de receptores térmicos ou por alterações na temperatura sanguínea. Ao atingir o hipotálamo ocorre o estímulo no centro de termorregulação de forma direta. Assim, induz os indivíduos a procurarem conscientemente alívio contra o desafio térmico.
As células na porção anterior do hipotálamo identifi-cam diretamente as modificações na temperatura do sangue, além de receberem um influxo periférico. A seguir essas células ativam o hipotálamo posterior para iniciar respostas coordenadas para a conservação do calor ou o hipotálamo anterior para a perda de calor. Enquanto os receptores periféricos identificam princi-palmente o frio, o hipotálamo monitora o calor corpo-ral por meio da temperatura do sangue que perfunde essa área, como exemplificado nas Figuras 2 e 3.
Figura 2 - Hipotálamo e a perda de calor (hipertermia)
Fonte: Wilmore JH, Costill DL. Fisiologia do esporte e do exercício. São Paulo: Manole, 2001.
Figura 3 - Hipotálamo e conservação de calor (hipotermia)
Fonte: Wilmore JH, Costill DL. Fisiologia do esporte e do exercício. São Paulo: Manole, 2001.
1. Sangue e temperatura interna aumentados
2. São enviados impulsos para o hipotálamo
3. Ocorre vasodilatação nos vasos sangüíneos assim o calor excessivo é perdido através da pele
5. Temperatura corporal diminuída
1. Diminuição do sangue ou da temperatura interna
2. Impulsos vão para o hipotálamo
3. Ocorre vasoconstrição nos vasos sangüíneos, assim a perda de calor ocorre para o meio ambiente
4. Músculo esquelético é ativado, causando tremor, havendo o aumento geral do metabolismo e do calor
5. Temperatura corporal aumentada
4. Glândulas de suor favorecem muito a atividade, aumentando a perda de calor pela evaporação
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Nu
triç
ão n
o E
spo
rte
48
Termorregulação no estresse térmico: perda de calor
As formas de transferência de calor ocorrem de quatro maneiras: 1. Radiação;2. Condução; 3. Convecção; 4. Evaporação.
Perda de calor por radiação
Considerando-se que geralmente o corpo humano é mais quente do que o meio ambiente, a troca efetiva de energia térmica radiante ocorre do corpo através do ar para objetos sólidos mais frios existentes no meio ambiente, fazendo com que o esfriamento evaporativo seja o único meio para a perda de calor.
Perda de calor por condução
Para que ocorra o processo de condução é necessário o contato da pele com um líquido, um sólido ou um gás e assim sendo a dissipação do calor ocorre tanto pela circulação que transporta o calor do centro do corpo para a periferia quanto pelo aquecimento de ambiente que circunda a pele do corpo.
Perda de calor por convecção
A perda de calor por convecção é o primeiro meio utilizado para remover o calor dos músculos durante o exercício. É transferência para o sangue. A eficácia da perda de calor por convecção depende da rapidez com que o ar próximo do corpo é permutado depois de se tornar aquecido, atuando em zona de isolamen-to (Figura 4). Inversamente, se o ar mais frio substitui continuamente o ar mais quente que circunda o corpo (como ocorre em um dia com muita brisa, em um quarto com um ventilador ou durante a corrida), a perda de calor aumenta, pois as correntes convectivas carreiam o calor para longe.
A pressão do vapor de água sobre a pele representa o principal estímulo para a produção do suor, sendo que esta produção é controlada fisiologicamente. A sudore-se entre indivíduos varia de acordo com as condições ambientais, as roupas, a intensidade e a duração da atividade física.
Perda de calor por evaporação
A evaporação proporciona a principal defesa fisiológica durante o exercício realizado em ambientes quentes, ocorrendo pela ativação das glândulas sudoríparas que secretam suor na superfície cutânea, permitindo que este evapore. Cada grama de água que se evapora da super-fície do corpo remove cerca 0,6 Kcal. O volume de suor necessário para dissipar calor pode resultar em grande perda de água corporal associada à perda de eletrólitos.
As glândulas sudoríparas podem produzir até 30g de suor por minuto e a água consumida durante o exer-cício no calor pode se mover para as glândulas sudo-ríparas dentro de 9 a 18 minutos depois da ingestão, ficando disponível para refrescar o corpo.
Quando o suor permanece na superfície da pele torna-se excelente condutor de calor. Por ser com-posto basicamente de água, e em situações em que a temperatura corporal é inferior à do ambiente, existe fluxo de calor do meio para o indivíduo, aumentando a temperatura corporal. Este fato intensifica os estí-mulos para a produção de suor e, em última instância, aumenta a desidratação (Figura 4).
Figura 4 - Remoção do calor da pele
Fonte: WILMORE, J. H.; COSTILL, D. L. Fisiologia do esporte e do exercício. São Paulo: Manole, 2001.
Evaporação de suor
Condução
Calor produzido em músculosCalor em
sangue
Glândula de suor
Convecção
Radiação
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

0
5
25
75
95
100
0
5
25
75
95
100
0
5
25
75
95
100
0
5
25
75
95
100
17
sexta-feira, 10 de setembro de 2010 17:10:04

Nu
triç
ão n
o E
spo
rte
50
Em um dia quente e úmido, a perda de calor por radiação e por convec-ção é pequena devido a uma menor diferença de temperatura entre a pele e o meio ambiente e ocorre uma menor dissipação do calor por evaporação. Assim, vale salientar que secar o suor com toalhas antes da evaporação diminui a eficiência do resfriamento do corpo.
Temorregulação e estresse ambiental durante o exercício
O processo de desidratação e sua influência sobre os mecanismos de termorregulação é um importante fator determinante da fadiga.
Se a atividade física for realizada na água, as perdas de calor durante a prática da natação são de 25 a 30 vezes mais rápidas comparativa-mente ao ciclismo e às corridas em temperaturas ambientais semelhan-tes. Considerando a espessura da camada subcutânea de gordura, quanto maior for sua espessura me-lhor a prevenção do calor, especial-mente no meio aquático.
Durante o exercício prolongado o processo não está ligado somente à manutenção de um débito cardíaco ameaçado pelo volume de sangue enviado para a periferia, mas nas perdas contínuas de água, devido à evaporação do suor, que pode com-prometer o retorno venoso. Portan-to, a diminuição do débito cardíaco máximo trará como consequência a redução no VO2 Máx. e no desem-penho. O primeiro reflexo contra a queda da pressão sanguínea venosa central aparece na distribuição do fluxo de sangue para a periferia, diminuindo o volume venoso perifé-rico, acompanhado de desidratação.
Esta hipertermia combinada com a diminuição do débito cardíaco máximo e a redução do VO2 Máx. comprometem a capacidade de se exercitar por um período prolon-gado em alta intensidade.
Desidratação em ambiente quente e frio
A desidratação é o processo de perda de água pelo corpo, sen-do comum durante a prática de exercícios decorrente da produção de suor.
A sudorese depende de peso corpo-ral, de predisposição genética, do estado de aclimatação, da eficiência metabólica, do tipo de atividade física e das condições ambientais, entre outros. Para Murray, Eichner; Stofan (2003), a desidratação é a maior causa de desempenho em atletas por falta de experiência, porém é facilmente evitado.
Na desidratação progressiva, perde--se água de todos os compartimen-tos corpóreos, incluindo o sanguí-neo. A perda de água através do suor que vem do plasma pode ser de até 18% no volume plasmático. A desidratação severa pode levar à redução do volume sanguíneo e ao aumento da osmolalidade plasmáti-ca, podendo reduzir a sudorese e a dissipação do calor.
As exigências hídricas existem, mas a sede é um mau indicador do estado de hidratação. A sede intensa é ge-ralmente observada com uma perda de 5 a 6% do peso corpóreo devido a uma desidratação. Nesse momento, compromete-se o desempenho físico.
As principais formas de enfermi-dade induzida pelo calor são as cãibras, a exaustão e a intermação (hipertermia). Com 1 a 2% de desidratação a temperatura cor-poral aumenta em até 0,4ºC para cada percentual subsequente de desidratação, em 3% há redução do desempenho, com 4 a 6% pode ocorrer fadiga térmica e a partir de 6% existe risco de choque tér-mico, coma e morte.
Os efeitos nocivos da desidrata-ção demoram mais para se mani-festar se o indivíduo estiver bem hidratado (eu-hidratado) antes de se exercitar.
Quanto à desidratação, se for leve a moderada, se manifesta com fadiga, perda de apetite e sede, pele vermelha, intolerância ao calor, tontura, oligúria e aumento da concentração urinária. Se for severa, ocorre dificuldade para en-golir, perda de equilíbrio, a pele se apresenta seca e murcha, os olhos afundados e a visão fosca, disúria, pele dormente, delírio e espasmos musculares. Os mesmos princípios referentes à reidratação valem também para a pré-hidratação.
Hidratação
A água é o nutriente mais impor-tante para aprimorar o desempe-nho se houver a combinação de exercício e estresse térmico, além de estar facilmente disponível, apresentar baixo custo e ocasionar esvaziamento gástrico relativamen-te rápido. O consumo de água, duas horas antes do exercício, deve ser de 250 a 500 ml. Deve-se iniciar a hidratação nos primeiros 15 minutos e continuar bebendo a cada 15 a 20 minutos.N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

Nu
triç
ão n
o E
spo
rte
51
Para as atividades intermitentes, de mais de uma hora de duração, ou para as atividades de elevada intensida-de, a água se torna uma desvantagem por não conter sódio e carboidratos, além de ser insípida.
Em exercícios com duração superior a uma hora, ou de intensidade maior e em menor tempo, devem ser consumidas bebidas com 6% de carboidratos, pois há aumento da velocidade de absorção e esvaziamento gástrico, devendo-se utilizar uma mistura de glicose, frutose e sacarose. A reposição necessária de carboi-dratos para manter a glicemia e retardar a fadiga é de 30 a 60g por hora, com concentração de 4 a 8g/deci-litro. Mesmo com uso combinado de diversos carboi-dratos, a ingestão não deve exceder 80g/hora.
A inclusão de sódio nas bebidas promove maior ab-sorção de água e carboidratos pelo intestino durante e após o exercício porque o transporte de glicose na mucosa do enterócito é acoplado com o transporte de sódio, resultando em maior absorção de água.
De acordo com ACSM (2007), a individualização das es-tratégias de reidratação é recomendada, respeitando a variabilidade entre os indivíduos, observando-se a perda de peso durante o treinamento e as competições.
Aclimatação ao calor
A aclimatação ao calor é um conjunto de adaptações fisiológicas que permite ao indivíduo suportar estres-se maior ao calor ambiental. Incluem aumento da capacidade de sudorese, suor mais diluído e habili-dade aumentada de sustentar uma taxa de sudorese alta durante exercícios prolongados. Os indivíduos aclimatados possuem maior taxa de sudorese, devendo prestar mais atenção na hidratação.
A duração e a intensidade das sessões de exercícios devem ser aumentadas gradualmente a cada dia à medida que a tolerância ao calor melhora. Adaptações significativas ocorrem dentro dos primeiros 7-14 dias de exposição ao calor.
Os indivíduos podem se adaptar aos desafios fisioló-gicos da atividade física e ao estresse do calor, porém não existe evidência que demonstra ser possível se adaptar à hipohidratação, comprometendo as adapta-ções ocorridas durante o processo de aclimatação.
Grupos de populações especiais
Idosos
A intolerância ao calor apresentada por indivíduos idosos se deve à vida sedentária, que prejudica o desempenho aeróbico e a aclimatação. Independente do estilo de vida, a diminuição do fluxo sanguíneo para a pele e a produção de suor são modificações inevitáveis da idade.
Os adultos mais velhos não se recuperam da desi-dratação com a mesma eficácia dos adultos mais jovens, provavelmente por causa de um impulso da sede abafado. Como a percepção da sede em idosos é relativamente menor para um determinado grau de hipohidratação, deve-se estimulá-los a beber água mesmo que não sintam sede.
Crianças e adolescentes
Não somente a perda de calor em ambientes frios, mas também o ganho de calor em climas muito quentes são mais acelerados em crianças. As potenciais desvantagens da regulação térmica em crianças são a menor taxa de sudorese por área de superfície corporal e por glândula N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

Currículos
Nivia Cristiane de Macedo é graduada em nutrição pela Universidade Guaru-lhos (UNG), especialista em nutrição desportiva e qualidade de vida pela Faculdades Integradas de Santo André (FEFISA), especialista em obesidade e emagrecimento pela Universidade Gama Filho (UGF), licenciada na área de saúde pelo Programa Especial de Formação Pe-dagógica de Docentes para as disciplinas do currículo da educação profissional em nível médio pela Faculdade de Tecnolo-gia de São Paulo (FATEC) e pós-gradu-anda em nutrição clínica funcional pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). Atualmente é docente do Centro Paula Souza e da FEFISA.
Eni Ramos é graduada em nutrição pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), licenciada pelo Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo da educação profissional em nível médio pela FATEC, mestre em nutrição humana aplicada pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduanda em nutrição clínica Funcional pela UNICSUL. Atualmente é docente do Centro Paula Souza.
Viviane Corrêa do Nascimento é técnica em nutrição pela ETEC Júlio de Mesquita, graduada em nutrição pela Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN), licenciada na área de saúde pelo Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo da Educação profissional em nível médio da FATEC e especialista em nutrição esportiva pela UGF. Atualmente é docente do Centro Paula Souza.
Nu
triç
ão n
o E
spo
rte
52
A lista contendo as Referências Bibliográficas deste artigo
encontra-se à disposição dos leitores da Revista Nutrição Profissional e
pode ser solicitada pelo email [email protected]
sudorípara, assim como um maior aumento da temperatura central à medida que elas se desidratam.
Rossi, Reis e Azevedo (2010) realiza-ram uma revisão bibliográfica e con-cluíram que diversos estudos com amostras de crianças e adolescentes demonstram que a reidratação é mais eficiente com a oferta de bebi-das aromatizadas, coloridas, geladas e com o acréscimo de carboidrato a 6%, além de eletrólitos, embora não haja consenso sobre a adequada formulação destas soluções.
Gestantes
A temperatura fetal é cerca de 0,5°C maior do que a da mãe no repouso, havendo assim maior risco para a hipertermia do bebê durante o exer-cício. A hipertermia pode prejudicar a formação e o crescimento do feto.
Após liberação médica e recomen-dações específicas, a gestante deve evitar a hipohidratação e o exercício em condições de muito calor, para manter a temperatura corporal central abaixo de 38,5°C.
Portadores de doenças crônicas
Indivíduos com diabetes mellitus não devem praticar exercício em temperaturas extremas devido aos potenciais problemas com a regulação térmica relacionadas às neuropatias autonômicas.
Bebidas esportivas equilibradas com o carboidrato da dieta nor-mal podem ser consumidas pelos indivíduos com diabetes mellitus, prevenindo a hipoglicemia indu-zida pelo exercício e mantendo a hidratação. As bebidas esportivas
possuem alto índice glicêmico, mas normalmente não causam ou contribuem para a hiperglicemia durante o exercício.
Em estudo de Andrade, Laitano e Meyer (2005), conclui-se que a ingestão de bebidas contendo 6% de carboidrato atenuou a queda da glicemia induzida por uma hora de exercício de intensidade moderada em adolescentes diabéticos tipo 1.
É importante a reposição hídrica em indivíduos hipertensos que utilizam bloqueadores, pois estes podem piorar a desidratação. A ingestão ade-quada de líquido e a suplementação de potássio podem evitar os prejuízos durante o exercício.
Os indivíduos hipertensos que estão em dietas com restrição de sódio de-vem incluir o sódio proveniente das bebidas esportivas nos seus cálculos de ingestão total de sódio.
Considerações finais
Todos os indivíduos, inclusive os atletas, ao iniciarem atividade física com um volume de água corporal abaixo do normal estão sujeitas aos seus efeitos adversos.
O mecanismo de evaporação do suor é a principal via de perda de calor do corpo, devendo-se evitar a hipertermia.
É importante que a hidratação ocorra antes da desidratação e antes do estímulo da sede. Em exercícios prolongados deve-se promover a reidratação com bebi-das contendo carboidratos e sódio. O assunto necessita de maiores questionamentos para as popula-ções especiais. NPN
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12


Saú
de
Co
leti
va PolíticasPúblicas emNutriçãoMarcia Samia Pinheiro Fidelix, Virgínia Nascimento, Sonia Lúcia Lucena Sousa de Andrade, Lívia Beatriz Siqueira Rosa Bento e Ana Célia Oliveira dos Santos
54
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Saú
de
Co
leti
va
55
om a promulgação da Constituição da Repúbli-ca Federativa do Brasil, em 1988, a democracia participativa passou a ocupar lugar, de fato, no
cenário brasileiro. Conselhos foram criados nas mais variadas áreas e o controle social começou a ser efeti-vado. Uma onda crescente levou instituições represen-tativas a tomarem acento em debates importantes para a construção de políticas públicas e para a retomada de direitos, entre eles o da alimentação adequada.
Desde a época de Josué de Castro, a Associação Brasi-leira de Nutrição (ASBRAN) se empenha para ampliar sua participação na formulação de políticas públicas que interfiram diretamente na saúde do brasileiro e que aperfeiçoem a formação profissional. Nos últimos anos, a ASBRAN, apoiada por suas Associações Filiadas Estadu-ais, mais que dobrou sua participação em várias frentes, entre elas a da segurança alimentar e nutricional.
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA)
Em 2003, foi criado o Conselho Nacional de Segu-rança Alimentar e Nutricional (CONSEA), ligado à Presidência da República, o qual a ASBRAN integra como membro titular. De caráter consultivo, o CON-SEA é um instrumento de articulação entre governo e sociedade civil na proposição de diretrizes para políticas e ações na área da alimentação e nutrição. Por sua natureza consultiva e de assessoramento, o CONSEA não é gestor ou executor de programas, projetos, políticas ou sistemas. Em determinadas plenárias do CONSEA, há a presença do presidente da República se o tema for relevante, a exemplo da assinatura da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
Ao longo destes anos, a ASBRAN participou das ple-nárias, contribuindo no planejamento e na avaliação das atividades do CONSEA, avaliando projetos de Lei relacionados à SAN, acompanhando a execução orçamentária anual para SAN, participando de audi-ências públicas, mobilizações e campanhas, visando garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Discutiu-se, dentre outros temas, a aquisição de alimentos, a alimentação do escolar, a regulação da propaganda de alimentos, os preços dos alimentos, os agrotóxicos, a erradicação da pobreza extrema, a agricultura familiar e a educação nutricional.
Atualmente, a ASBRAN participa de comissões per-manentes, de Grupos de Trabalhos (GT) e de outras instâncias nas áreas que são inerentes à competência do nutricionista. Há voz no debate sobre o Sistema Na-cional e Política Nacional de SAN, no GT de Nutrição e gênero, e também no GT de Abastecimento. Com firmeza, consolidou-se a ação da entidade e contribuiu--se para a Organização da IV Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que ocorreu em Salvador (BA), de 7 a 11 de novembro de 2011. De fato, o controle social é uma conquista da sociedade, que cresce com a participação dos diferentes atores envolvi-dos nos desafios da segurança alimentar e nutricional.
Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN)
A ASBRAN também atua na Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN), braço importante do Conselho Nacional de Saúde (CNS), responsável por integrar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) em observância aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e à Política Nacional de Saúde.
Como integrante da CIAN, acompanha-se o plano de metas e ações da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN), o relatório final apresentado por técnicos do Programa Bolsa Alimentação, as ações desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), a legislação da área de alimen-tos e seus desdobramentos, os programas de monito-ramento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os programas dos diferentes setores rela-cionados a área de alimentação e nutrição (educação, trabalho, agricultura, meio ambiente, saúde indígena, ciência e tecnologia), as ações voltadas para alimentação e saúde do escolar, a implementação das deliberações da III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nu-tricional, ocorrida em julho de 2007, a criação das CIAN estaduais e municipais, além da divulgação das análises e recomendações deliberadas pela CIAN e CNS.
Desenvolvimento e exercício profissional no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)
A ASBRAN integra ainda o Fórum Permanente MERCOSUL para o Trabalho em Saúde, criado em 13 de abril de 2004 e institucionalizado por meio da
C
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Saú
de
Co
leti
va
56
Portaria/GM nº 929, de 2 de maio de 2006. Espaço de diálogo e cooperação entre gestores e trabalhado-res da saúde, sob a responsabilidade institucional do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (DEGERTS) do Ministério da Saúde (MS), constitui-se também em uma instância colaboradora da atuação da Coordenação da Subcomissão de Desen-volvimento e Exercício Profissional nas reuniões ordi-nárias do Subgrupo de Trabalho (SGT) nº 11 - “Saúde” do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
Esta subcomissão se ocupa das relações coletivas e individuais de trabalho, “do livre trânsito” de traba-lhadores, da formação profissional, do processo da compatibilização dos currículos de formação, do regis-tro profissional, da regulação do trabalho, dos pré-re-quisitos para o exercício profissional no MERCOSUL e do que for relativo à seguridade social. Há grandes desafios a serem vencidos, como a diversidade cultural regional, o idioma, o desequilíbrio do quantitativo de profissionais, as diferentes estruturas de organização e de fiscalização destes profissionais, a definição de po-lítica no setor de saúde para as áreas de fronteiras e a inadequação de programas de educação permanente.
Vale destacar que importantes resoluções foram publi-cadas pelo Grupo Mercado Comum do MERCOSUL referentes à saúde, a partir de recomendações da Co-missão de Saúde do SGT 11. A Resolução nº 27/2004, que aprovou a Matriz Mínima de Registro de Profis-sionais da Saúde do MERCOSUL, trata do registro de profissionais de saúde do MERCOSUL que atuam ou queiram atuar no exterior e/ou que trabalham em
Municípios ou jurisdições de fronteira. A Resolução nº 66/2006 inicia a exigibilidade do preenchimento da matriz mínima pelas profissões de grau universitário consideradas comuns na área da saúde nos Estados Partes. A Matriz Mínima se apresenta sob forma de dados sobre o profissional da saúde e sua formação (graduação e pós-graduação, lato e stricto sensu) e sobre a conduta ética e disciplinar.
Considerando a interface com o nutricionista, a ASBRAN participa do Fórum visando auxiliar a formu-lação de políticas de gestão e educação na saúde, da padronização da legislação do exercício profissional, da compatibilização dos critérios de formação profissional, da implementação da Matriz Mínima visando ao regis-tro profissional único para o exercício no MERCOSUL, e na promoção de programas conjuntos de capacitação em serviço e fortalecimento das entidades de saúde formadoras de recursos humanos.
Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde (CRTS)
A atuação efetiva da ASBRAN pelo aprimoramento da prática profissional pode ainda ser identificada na participação que exerce na Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde (CRTS).
Criada pela Portaria do Ministério da Saúde nº 827, de 5 de maio de 2004, com a competência privativa para legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego e as Condições de Trabalho em Saúde, a CRTS possui a finalidade de debater, produzir e reco-N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

Saú
de
Co
leti
va
57
mendar ao Ministro da Saúde nor-mas sobre a regulação do exercício profissional, bem como a regulação de novas ocupações no setor.
A Câmara de Regulação do Tra-balho em Saúde possui vínculo com o DEGERTS da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do MS. É integrada por representantes dos Ministérios da Saúde, da Educação, do Trabalho e Emprego, do Conselho Nacio-nal dos Secretários Estaduais de Saúde, do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, dos Conselhos Federais da área de saúde (biologia, biomedicina, edu-cação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, nutrição, odontologia, psicolo-gia, serviço social), do Conselho Nacional de Técnicos em Radio-logia, representantes de entidades científicas das profissões da área de saúde e das entidades nacionais dos trabalhadores da área da saúde.
De caráter consultivo e natureza colegiada, a Câmara interage em consonância com a Lei Orgânica da Saúde lei nº 8.080/90, em equi-pes multiprofissionais.
Em uma análise mais aprofundada, procura-se preservar monopólios de regulação do trabalho, para evitar a disseminação de conflitos que promovam a competição entre as profissões da saúde, vislumbrando o fortalecimento do trabalho no SUS.
Como integrante da CRTS, a ASBRAN participa efetivamente dos encontros mensais e de iniciativas de debates ampliados, como o Semi-nário Nacional das Profissões, opor-tunidade em que colaborou ativa-mente na construção do programa,
em 2010. A proposta de realização do seminário foi discutir a regulação e regulamentação de profissões de saúde no Brasil, devido à deman-da de projetos de lei, de trâmite constante no Congresso Nacional e muitas vezes sem discussão prévia aprofundada sobre as reais necessi-dades dessas profissões no SUS.
Como associação técnico-cien-tífica, a ASBRAN trata de temas como as recentes modificações no processo de trabalho nas equi-pes de saúde, nas quais o perfil do profissional da área da saúde apresenta necessidades específicas para sua produção. A atuação am-pliada na saúde permite o maior enfrentamento dos determinantes sociais da saúde e o nutricionista é profissional imprescindível.
As discussões e debates sobre a formação profissional e tecnológica para a área de saúde são também temas recorrentes na CRTS e
envolvem o Ministério da Educa-ção, que, assessorando o grupo, orienta para um mesmo objetivo social, com níveis de complexidade para a inserção precoce na prática do SUS. A ASBRAN, que possui responsabilidade com o Título de Especialista para os nutricionistas, participa ativamente buscando a compreensão dos limites de cam-pos de atividades.
Em trabalho atento à não frag-mentação das profissões da saúde, a CRTS conta com seus pares, reforçando o papel dos conselhos de profissões e as relações com as associações técnico-científicas, para que o exercício profissional esteja sempre afinado com o SUS. A interdisciplinaridade norteia os de-bates e evidencia a humanização do acolhimento, da responsabilização do cuidado com diversos olhares no processo saúde-doença amplia-do para o “ser social”, no qual a ASBRAN muito bem se insere.
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Saú
de
Co
leti
va
58
Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN) e a residência multiprofissional
Para que o exercício profissional tratado acima seja pleno há que se aprimorar a formação. Programas de residência por área profissional de saúde e também multiprofissio-nais ocorrem no Brasil há vários anos, sem amparo do Ministério da Educação (MEC), respaldados apenas por legislação própria de cada Estado e por resoluções dos conselhos de classe. Apenas a residência médica era reconheci-da pelas instâncias federais como processo de formação. Havia um grande anseio pela regulamenta-ção desta modalidade de ensino pelas demais profissões, especial-mente pela enfermagem, odonto-logia e nutrição.
A publicação da Lei nº 11.129, em 30 de junho de 2005, veio atender a esta expectativa ao instituir a Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Pro-fissional da Saúde como modali-dades de ensino de pós-graduação lato sensu destinado às profissões da saúde, sob a forma de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço.
O artigo nº 14 desta mesma Lei criou, no âmbito do MEC, a Comis-são Nacional de Residência Multi-profissional em Saúde (CNRMS), cuja organização e funcionamento são disciplinados em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educa-ção e da Saúde. A CNRMS, em con-sonância com a Política Nacional de Educação (PNE) e com a Política Nacional de Saúde (PNS), é respon-sável pelos processos de avaliação, supervisão e regulação de progra-
mas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde. Esta comissão possui o processo de trabalho instituído pela Portaria nº 1077/2009, que pressupõe a implantação das Câmaras Técnicas, formadas por um representante de cada conselho profissional e de associações de ensino e sociedades científicas das áreas profissionais envolvidas com a respectiva área temática, como a ASBRAN.
Estas Câmaras funcionam por prazo indeterminado, nos termos do ato de sua criação, e apresentam como competência subsidiar a CNRMS na elaboração de diretrizes curri-culares gerais para Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde e dire-trizes curriculares específicas para as áreas profissionais e de concen-tração referendadas pela comissão. Devem também apreciar processos que lhe forem distribuídos e sobre eles emitir parecer, subsidiando as
decisões do Plenário da CNRMS, assim como responder às consultas por ele encaminhadas.
As Câmaras Técnicas estão or-ganizadas em seis áreas - Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Espe-cialidades Clínicas, Especialidades Cirúrgicas, Intensivismo e Urgên-cia e Emergência, Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade/ Saúde Coletiva, Saúde Mental, Saú-de Funcional, Saúde Animal.
A ASBRAN integra algumas destas Câmaras e coordena a Câmara Téc-nica Apoio Diagnóstico e Terapêuti-co, Especialidades Clínicas, Especia-lidades Cirúrgicas, que iniciou os trabalhos em agosto de 2010.
Atualmente, o maior foco dos trabalhos é evoluir no processo de avaliação dos Programas de Resi-dência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, definindo critérios de qualidade para a auto-N
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12


Saú
de
Co
leti
va
60
Currículos
Marcia Samia Pinheiro Fidelix é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), especialista em nutrição em cardiologia pelo Instituto do Coração (InCor) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), especialista em nutrição enteral e parenteral pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE), especialista em alimentos funcionais e marketing pelo Instituto Racine, especialista em nutrição clínica pela Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN), mestre em nutrição humana aplicada pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades da USP. Funda-dora da Rede de Nutricionistas do Brasil (NDB). Atualmente é consultora nas áreas de nutrição clínica e saúde pública, diretora executiva do Instituto Nutrição Brasil, editora gerente da Revista da ASBRAN e presidente da ASBRAN.
Virginia Nascimento é graduada em nutrição pela Faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista em fisiologia digestiva pelo Instituto de Biofísica da UFRJ e mestre em tecnologia educacional pela UFRJ. Atuou como nutricionista clínica da Rede de Saúde Federal (INAMPS), docente de nutrição clínica no Instituto de Nutrição da UFRJ, professora adjunta da Universidade Estácio de Sá (UNESA). Atualmente é diretora presidente da Clínica de Orientação Nutricional - CLION (Rio de Janeiro), nutricionista voluntária e vice-presidente da Associação de Diabéticos da Lagoa (ADILA).
Sonia Lúcia Lucena Sousa de Andrade é graduada em nu-trição, especialista em nutrição materno infantil pela Univer-sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre e doutorada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente é professor associado da UFPE. Possui experiência na área de nutrição com ênfase em nutrição em saúde pública. Atuou como coordenadora de gestão do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição do Escolar. Atualmente é membro titular do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutri-cional (CONSEA).
Livia Beatriz Siqueira Rosa Bento é graduada em nutrição pela Universidade do Brasil, especialista em nutrição pela Universidade Pierre e Marie Currie/Sorbonne (França). Atuou em auditoria em serviços de alimentação e dietética, como chefe de seção e serviço no Hospital Materno Infantil Presiden-te Vargas, como presidente do Conselho Regional de Nutri-cionistas 2ª Região (CRN2), presidente da Associação Gaúcha de Nutrição (AGAN) e como 2ª Secretária da ASBRAN - gestão 2007-2010. Atualmente é conselheira titular do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul (CONSEA- RS), membro da diretoria e conselheira suplente do CONSEA.
Ana Célia Oliveira dos Santos é graduada, licenciada e mes-tre em nutrição e doutorada em ciências biológicas pela UFPE. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Ciências Bio-lógicas da Universidade de Pernambuco (ICB/UPE), integrante do Programa de Mestrado em Biologia Celular e Molecular Aplicada do ICB/UPE, coordenadora e professora do Progra-ma de Residência em Nutrição Clínica HUOC/PROCAPE/UPE, tutora e professora da Residência Multiprofissional Integrada em Saúde da Família da FCM/UPE, avaliadora institucional e de curso do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior do Ministério da Educação e Cultura (INEP/MEC) e presidente da Associação Pernambucana de Nutrição.
rização e a abertura de novos programas e reconheci-mento dos existentes.
A CNRMS instituiu um programa nacional de cadastro para todos os programas, o SisCNRMS, e, partindo das informações que constam neste banco de dados, os projetos políticos pedagógicos, o corpo docente e dis-cente e os cenários de prática serão conhecidos. Utili-zando as informações contidas no sistema e as obtidas no relatório gerado pela avaliação in loco, as Câmaras Técnicas então emitirão pareceres para subsidiar as decisões da CNRMS.
O trabalho da CNRMS vem evoluindo. Muito foi reali-zado, mas ainda há muito a se fazer. A ASBRAN, como entidade de classe com finalidade científico-cultural, participa ativamente deste momento de discussão tão importante para cada vez mais valorizar a formação do nutricionista.
Considerações finais
Não se pode esquecer do papel que a ASBRAN assu-miu no Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), principal articula-dor de entidades, movimentos sociais da sociedade ci-vil organizada, indivíduos e instituições que se ocupam da questão da segurança alimentar e nutricional. O assento da entidade no fórum é permanente e houve participação ativa na construção, tramitação e aprova-ção da Lei nº 11947/2009 que regulamenta o Progra-ma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
A ASBRAN também esteve presente na mobilização para aprovação da Emenda Constitucional nº 064/2010, que trata da inserção da alimentação como direito social no artigo 6º da Constituição Federal. Significativa foi a contribuição ao grupo interinstitucional criado pelo Ministério de Desenvolvimento Social para organizar atividades que visam qualificar atores para atuar nos programas de educação nutricional em diferentes áreas.
Seja em câmaras, fóruns ou conselhos, as representa-ções da ASBRAN mostram que e associação atua com olhar no futuro mantendo as raízes do passado compro-metidas com a ética. Entende-se que o papel de influen-ciar as políticas públicas em favor da saúde do cidadão somente se justifica se forem ouvidas as bases sem que se distancie da sociedade e da missão da entidade. NPN
utr
ição
Pro
fissi
on
al 3
4 - J
anei
ro/F
ever
eiro
/Mar
ço d
e 20
12

PainelASBRAN
Edição 26 - Ano VII - Janeiro/Fevereiro/Março 2012 Referente a Julho/Agosto/Setembro 2011
ASBRAN: 62 Anos de Juventude
Esta edição do Painel ASBRAN é de celebração. Não somente em relação aos 62 anos de força da Associação e pelo Dia do Nutricionista - 31 de agosto, mas também porque a ciência que exercemos na prática e abraçamos é a palavra de ordem mundial para dias sombrios de doenças e de insegurança alimentar.
Não há dúvida de que o segundo semestre de 2011 coroou a nutrição, com o aniversário da instituição, com o Dia Mundial da Alimentação, com a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o esperado o lançamento do Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade.
Ao vislumbrar tantos debates e ações em torno da alimentação adequada, percebe-se o quanto é importante e fundamental o envolvimento dos
profissionais nestas discussões. Fala-se muito em políticas públicas, por vezes criticando a ausência de tantas, mas cabe ao nutricionista ocupar seu lugar no Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nutricional (CONSEA) municipais e estaduais, na defesa e implantação da LOSAN e não calar-se diante do vazio de ações que combatam a fome e garantam a segurança alimentar e nutricional.
É hora de festejar, sim. Façamos isso com a vontade de fazer diferente e a diferença!
Dra. Marcia FidelixPresidenteAssociação Brasileira de Nutrição (ASBRAN)
Nesta Edição
Parabéns Nutricionista!
Plano de Prevenção e Controle da Obesidade
Nutricionistas e as Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional
Dia Mundial da Alimentação
Você no XXII CONBRAN
Painel ASBRAN 26 - Janeiro/Fevereiro/Março 2012 61

O
PainelASBRAN
62 Painel ASBRAN 26 - Janeiro/Fevereiro/Março 2012
Parabéns Nutricionista!
Plano de Prevenção e Controle da Obesidade
Dia do Nutricionista, 31 de agosto, é sempre motivo de dupla comemoração: a celebração da
categoria e o marco da fundação da Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN). Ao comemorar mais um aniversário, a ASBRAN parabeniza a todos os profissionais comprometidos com a erradicação da fome, com a promoção de hábitos alimentares saudáveis e chama para que se engajem a movimentos sociais da categoria.
O Dia do Nutricionista foi lembrado em todo País por meio de várias atividades. Em Minas Gerais, a homenagem aconteceu na Assembléia Legislativa, momento em que o Conselho Regional de Nutricionistas - 9ª Região (CRN9) lançou a Campanha Fome, Obesidade, Desperdício: Não Alimente este Problema. A iniciativa compõe a agenda nacional dos nutricionistas brasileiros, contribuindo com uma ação pública e de intervenção propositiva para o bem-estar e qualidade de vida da sociedade.
Em São Paulo, a Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP), por
meio do Centro Acadêmico Emílio Ribas, juntamente com o Centro de Referência em Nutrição (CRNutri) e com o Departamento de Nutrição da FSP/USP, promoveu um debate sobre segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada, produção e abastecimento de alimentos, atuação do nutricionista em saúde pública e ações de promoção da saúde em nutrição.
O CRN4, a Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro (ANERJ) e o Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro (SINERJ) se uniram para realizar a tradicional festa do Dia do Nutricionista, no dia 2 de setembro de 2011. No Distrito Federal a data também mobilizou a cidade, com descontos especiais para nutricionistas durante o mês de agosto em restaurantes e cafés, graças ao acordo firmado pelo CRN1. A data foi ainda marco do evento Bem Viver Nutrição 2011, promovido pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região.
Nutricionistas e as Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional
ASBRAN convoca nutricionistas de todo o País a participarem
das conferências estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional, que acontecem até o final de setembro de 2011 em vários locais. As pré-conferências antecedem a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que acontece de 7 a 10 de novembro de 2011, em Salvador (BA) com o tema Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos. A ASBRAN, como membro do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), integra a comissão organizadora do evento.
“É fundamental que estejamos engajados nos debates que servirão de base para a formulação de políticas públicas nesta área. Conquistou-se o direito humano à alimentação adequada e demos passos significativos na construção da soberania e segurança alimentar e nutricional no Brasil, mas os nutricionistas devem possuir posições mais firmes, ser mais presentes desenvolvendo a consciência social e fazendo propostas concretas”, defende a presidente da ASBRAN, Marcia Fidelix.
A 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional reunirá 2 mil participantes, entre representantes do governo e da sociedade civil, observadores e convidados nacionais e internacionais. A escolha da delegação é realizada durante as etapas preparatórias, que envolvem conferências municipais, regionais ou territoriais, distrital e estaduais.
Acesse o site http://www4.planalto.gov.br/consea/conferencia/conferencias-estaduais para acompanhar o calendário dos encontros.
A
A
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) prepara-se para lançar, em outubro
de 2011, o Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade que envolve a participação de vários ministérios e conta com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA).
Membro titular do CONSEA, a ASBRAN também participa dos debates que envolvem a formatação do plano em seis eixos: aumento da disponibilidade de alimentos in natura (frutas, verduras e legumes) básicos e minimamente processados, ações de educação, comunicação e informação, promoção de modos de vida saudáveis, atenção integral à saúde do indivíduo com sobrepeso ou obesidade, regulação e controle da qualidade e inocuidade de alimentos, contemplando medidas relacionadas à publicidade de alimentos, rotulagem nutricional e melhora do perfil nutricional de alimentos industrializados, e medidas fiscais que favoreçam o acesso e o aumento do consumo de alimentos mais saudáveis, como as frutas e as hortaliças.
O Plano Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade promete ser uma resposta à preocupante realidade que aponta o aumento
da população brasileira com excesso de peso e obesidade. Pesquisas recentes mostram que a cada ano há aumento médio de 1% da população adulta com excesso de peso e 0,72% de obesidade. A vice-presidente da ASBRAN, Virginia Nascimento, avalia que ações que promovam um estilo de vida mais saudável na população são urgentes, um dos focos do Plano, mas acredita que é necessário o comprometimento de vários setores para que de fato este objetivo seja alcançado. “Este Plano não deve ser entendido como uma peça de publicidade ou de experimentos, mas sim um desafio em defesa da saúde pública”, disse, ressaltando que as ações promovidas no presente podem resultar positivamente no próprio sistema de saúde que entrará em colapso caso nada seja feito.
Vale lembrar que a obesidade, principal distúrbio de nutrição da atualidade, afeta mais de 15% da população mundial e atinge aspectos alarmantes segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O excesso de peso é responsável por grande parte das doenças cardíacas e respiratórias e também pelo aparecimento de preocupantes alterações no fígado, problemas na tireóide e até mesmo câncer.

H
C
A
AExpediente
Presidente:
Dra. Marcia Fidelix
Vice-Presidente:
Dra. Virginia Nascimento
Secretário Geral:
Drª Ana Paula F. Silva
1º Secretária:
Drª Eliane Moreira Vaz
2º Secretária:
Drª Karina L. Pimentel
1º Tesoureiro:
Dr. Welliton Popolim
2º Tesoureira:
Drª Jacira Conceição
Conselho Fiscal Efetivo:
Dra. Maria José de Lira
Drª Adriana S. Orro
Drª Ana Mª Rezende
Conselho Fiscal Suplente:
Drª Zaíra T. Salerno
Drª Claudia M. Santos
Drª Cintia Mendes
Colaboradores:
Drª Elke Stedefeldt
Drª Evelyn Spinoza
Drª Lívia Rosa Bento
Drª Pamela C. David
Drª Sônia Lucena
Dr Rogério Melo
Coordenação Editorial:
Diretoria ASBRAN
Contato:
ASBRAN - Rua Bela Cintra, 968, cj 62
Cerqueira César, CEP 01415-000
São Paulo, SP
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Envie notícias de sua associação para [email protected]
PainelASBRAN
Dia Mundial da Alimentaçãoá mais de 20 anos, o dia 16 de outubro costuma unir a mídia em torno do tema fome. Pesquisas indicam os milhões de
miseráveis que vivem em situação de insegurança alimentar e campanhas são promovidas com alarde em dezenas de países. Sim, de fato o Dia Mundial da Alimentação, celebrado todo dia 16 de outubro, é sempre um chamado à mobilização, mas não basta lembrar a data.
Segundo a nutricionista Maria José de Lira, da diretoria da ASBRAN, a celebração deve provocar
ações mais práticas, pois o combate à fome não é tarefa única do poder público. “Esta luta implica no Estado, organizações, iniciativa privada e sociedade atuarem em parceria. Isso pode ser realizado em pequenas localidades, repensando a maneira de produzir e distribuir alimentos, de modo mais sustentável”, avalia.
O Dia Mundial da Alimentação é comemorado há 27 anos e lembra a criação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).
Você no XXII CONBRAN Título de EspecialistaComissão Organizadora do Título de Especialista em Nutrição está avaliando todos os documentos
encaminhados pelos candidatos participantes do processo no segundo semestre de 2011 e deve anunciar em setembro de 2011 os aprovados por mérito. Aqueles que não conseguirem atingir o mínimo de 70 pontos, como prevê o edital, terão de realizar a prova de conhecimentos ainda neste segundo semestre. Esteja atento e confira no site os informes.
O Título de Especialista em Nutrição é conferido pela ASBRAN conforme Resolução CFN 416/2008. Abrange as áreas de alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva e nutrição em esportes.
FiliadasAssociação Paulista de Nutrição (APAN) estimula o desenvolvimento e a união dos profissionais e acadêmicos, visando
atender suas expectativas e necessidades, de forma ética e sustentável, contribuindo para o crescimento da ciência da nutrição e alimentação. Com isso, no segundo semestre de 2011, a APAN promoverá cursos com carga horária de 8 horas/aula (aplicadas em dois sábados), possibilitando aos participantes o crescimento e o aprimoramento científico e profissional, além da possibilidade de acumular pontos para a obtenção do Título de Especialista da Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN).
Outubro - Alimentos fitoterápicos e funcionais, o diferencial para o seu atendimento nutricional(Palestrante: Vanderli Marchiori)
Novembro - Especiarias e sabores da cozinha orgânica(Palestrante: Luciana Marchetti)
A APAN mantém grupos de estudos que abordam diferentes temas relacionados à alimentação e a nutrição, e que propiciam a troca de experiências entre profissionais e estudantes: Grupo APAN de Atualização em Inovações Tecnológicas em Alimentação e Nutrição (GRAITAN), com a participação apenas de profissionais; Caldeirão Universitário, grupo destinado a estudantes de nutrição e profissionais recém formados; Gastronomia, Nutrição, Arte e Ciência (GANAC).
Para obter mais informações sobre os cursos APAN e os grupos de estudos acesse o site www.apanutri.com.br e o blog www.apanutriblog.blogspot.com.
Painel ASBRAN 26 - Janeiro/Fevereiro/Março 2012 63
ada vez maior e cada vez melhor. Este tem sido o objetivo da ASBRAN na
organização do XXII Congresso Brasileiro de Nutrição que acontece de 26 a 29 de setembro de 2012, em Recife (PE). O evento reunirá ainda o III Congresso Ibero-Americano de Nutrição, o II Simpósio Ibero-Americano de Nutrição Esportiva, e inovará com a realização do I Simpósio Ibero-Americano de Produção de Refeições e I Simpósio de Nutrição Clínica Baseada em Evidências.
Confira as datas de inscrição de trabalhos no site www.conbran.com.br.

64
Pro
du
tos
em D
esta
qu
e
Sopa Instantânea Saudável da Korin
Fleischmann Amplia Linha de Creme Tipo Chantilly
hega ao mercado a linha de sopas da Korin Agropecuária - uma das maiores produtoras
de orgânicos e produtos naturais do
e olho nas tendências do mercado de consumo e pensando em atender às
necessidades de seus clientes, a
natural. A Soupi, nome comercial do produto, também apresenta quantidades de sódio controladas de 27% do consumo ideal diário para um indivíduo adulto
As sopas podem ser encontradas nos sabores: frango com batata, frango com legumes e frango com fubá de milho. É preparada com legumes e verduras convencionais, com corante natural (cúrcuma) e tempero de ervas e condimentos naturais sem uso dos tradicionais realçadores de sabor glutamato monossódico e dissódico. O preparo é instantâneo.
KorinSite: www.korin.com.br
Fleischmann ampliou sua linha de Creme Tipo Chantilly lançando a versão do produto em sabor Chocolate. Com esse lançamento a linha passa a possuir quatro versões do produto.
O Creme Tipo Chantilly Sabor Chocolate é mais uma opção inovadora, prática e saudável ao consumidor. Apresentada em embalagens assépticas tipo longa vida, de 200ml, a nova versão é ideal para boleiras e para o consumidor final. Livre de colesterol, gordura trans e lactose, o produto, além de trazer benefícios para a saúde do consumidor, garante facilidade
C
D
Brasil. As sopas são feitas a base de frango certificado orgânico. É uma linha que conserva o sabor natural dos ingredientes e reduz drastica-mente a utilização de componentes químicos na fabricação.
Entre os diferenciais do produto está a conservação sem a necessidade de aditivos químicos, o que preserva o sabor original dos ingredientes, e o frango orgânico, um produto especial da Korin. Isso é possível graças ao processo de produção de liofilização, que consiste em retirar toda a água dos alimentos. Quando colocados em contato com água quente, retornam praticamente ao seu estado
na hora de preparar qualquer receita. Com menos gordura, o Creme Tipo Chantilly Sabor Chocolate não perde o ponto e sua consistência é garantida.
O produto é econômico e rende até quatro vezes o seu volume inicial e tem excelente textura, podendo ser utilizado em decorações finas, coberturas, recheios de bolos, tortas, doces, sorvetes e sobremesas diversas, garantindo o sabor ideal para cada receita.
FleischmannSAC: 0800 704 1931
Site: www.fleischmann.com.brNu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Yara Carnevalli Baxter
Da Área Hospitalar à Industrial:
Amor pela Nutrição
Auto-retratoProfissional exemplar
Momento histórico na carreira
Um mestre
Um livro
Um desafio
Um sonho
Um prato
Atividade de lazer
Uma receita de felicidade
Nina da Costa Corrêa Uma jornada, repleta de muitos bons momentos Dra. Maria Lucia Ferrari CavalcantiO Presente Precioso, de Spencer Jonhson A responsabilidade em ser nutricionista no sentido plenoEntender e cumprir a “missão” Nada melhor que um bom arroz com feijão da mamãe Correr com música e surfar com a família Estar genuinamente presente no aqui e agora
empre quis ser nutricionista, mesmo sem entender muito bem a abrangência desta pro-
fissão”. Com esta frase, a nutricionista Yara Carnevalli Baxter inicia suas refle-xões acerca da carreira que escolheu: “Penso que confundia um pouco a área de tecnologia dos alimentos com a área de nutrição. Gostaria de desenvolver alimentos como um delicioso leite con-densado de chocolate que, em 1980, sequer existia”.
Graduada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP), especialista em terapia nutricional enteral e parenteral pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE), mestre em ciência dos alimentos pela Faculda-de de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP, doutora em ciências pela FMUSP, Yara atualmente “desbrava”, como diz, a área farmacêutica, atuando em indús-tria, na área de oncologia.
Para a nutricionista, os estágios são momentos marcantes na carreira pro-fissional. Por isso, receber um estagiário é uma responsabilidade muito grande “pois pode-se estar norteando a carreira dele”. Yara relembra os grandes mestres que a acompanharam em estágios, que, somados aos professores, fizeram com
que gostasse de todas áreas da nutrição disponíveis no início da década de 1980. “O estágio no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) foi curioso na minha carreira. Adorei a matéria de die-toterapia ministrada pela Maria Lucia F. Cavalcanti. Mas possuía absoluta certeza que a área hospitalar não seria a minha vocação. Até que fui para o estágio e tive como supervisora direta a nutricionista Vera Silvia Frangella. Adorei o estágio e inicie minha carreira na área hospitalar no Instituto Central do HCFMUSP, na qual fiquei 12 anos ao invés de dois”.
Yara relata que nos 12 anos em que atuou no IC-HCFMUSP conheceu mestres que marcaram sua carreira. “A Nina Correa - tirar três cópias de cada documento, caso extravie! -, a Janete Maculevicius e Linda K. Bussadori, o doutor Dan L. Waitzberg, amigo e men-tor, que sempre primou pela exigência e inovação, a nutricionista Maria Carolina G. Dias, minha amiga de sempre. Quan-tas estórias a serem lembradas”.
Yara analisa que as mudanças foram todas realizadas com muitas dificuldades e medo: “Por trás do medo era a paixão que havia por cada um dos lugares. Mudar da atuação em clínica-internação para a clínica-ambulatório gerava preo-
cupações, porém crescimento. Sem falar na dificuldade para deixar o ambiente hospitalar e atuar na área industrial, em marketing em nutrição enteral. Na épo-ca, função questionável e ainda insipien-te, hoje a tão bem estabelecida função do nutricionista em desenvolvimento de produtos, apresentação do conceito técnico-científico para a comunidade da área da saúde e a padronização dos produtos como integrantes de protoco-los clínicos de tratamento”. São 28 anos de profissão entre pacien-tes, clientes, alunos, esportistas, crian-ças, idosos, enrre outros, ministrando aulas, publicando, inventando e testan-do, atuando em equipes compostas por nutricionistas, médicos, farmacêuticos, engenheiros de alimentos, enfermeiras, consultores, administradores, gestores, pesquisadores e inventores: “Além daqueles que nos divertem enquanto criamos, produzimos e trabalhamos nesta grande jornada”.
A nutricionista ressalta que a carreira é muito dinâmica e basta que o profissio-nal seja desbravador para que se amplie o leque de atuação. Além disso, não se deve esquecer dos amigos, dos mestres e da história criada pelos antecessores, pois os feitos passados são a base para a construção do futuro. NP
Perfi
l
65
S
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012

Ag
end
a
66
área de atuação para o nutricionista vem sendo ampliada a cada dia e o Instituto Racine, acompa-nhando as tendências do setor, realiza Cursos de
Cursos do Instituto Racine na Área de Nutrição: Foco na Atuação Prática do Profissional
ACursos Presenciais - Datas de Início e Locais
Faça sua inscrição para os Cursos de Pós-Graduação - Especialização Profissionalizante e os Cursos Intensivos com início em 2012. Condições especiais para inscrições antecipadas.
Mais informações no www.racine.com.br/institutoracine ou pelo telefone (11) 3670-3499.
Pós-Graduação - Especialização Profissionalizante
Fisiologia do Exercício Físico e Nutrição Esportiva 26/Junho - Turma 1 - São Paulo (SP)
Gestão da Qualidade e Controle Higiênico - Sanitário de Alimentos 24/Agosto - Turma 1 - Rio de Janeiro (RJ)
Gestão de Unidades Produtoras de Refeições 19/Setembro - Turma 1 - São Paulo (SP)
Cursos Intensivos
Semiologia Geral para Profissionais da Saúde 05/Maio - Turma 2 - São Paulo (SP)
Nutrição Esportiva 05/Maio - Turma 2 - São Paulo (SP) 25/Agosto - Turma 1 - Rio de Janeiro (RJ)
Gestão de Restaurantes 08/Maio - Turma 1 - São Paulo (SP)
Atualização em Legislação Sanitária de Alimentos 19/Maio - Turma 1 - Rio de Janeiro (RJ)
Cuidados Paliativos 22/Maio - Turma 1 - São Paulo (SP) 06/Outubro - Turma 1 - Rio de Janeiro (RJ)
Farmacoterapia para Profissionais da Saúde 02/Junho - Turma 2 - São Paulo (SP)
Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição 12/Junho - Turma 2 - São Paulo (SP)
Logística e Cadeia de Suprimentos 14/Junho - Turma 2 - São Paulo (SP)
Farmacologia Básica 23/Junho - Turma 3 - São Paulo (SP)
Elaboração do Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padrões em Unidades de Alimentação e Nutrição 26/Junho - Turma 2 - São Paulo (SP)
Gestão de Projetos em Educação Nutricional 14/Julho - Turma 3 - São Paulo (SP)
Nu
triç
ão P
rofis
sio
nal
34
- Jan
eiro
/Fev
erei
ro/M
arço
de
2012
Capacitação de Profissionais da Saúde para a Formação de Cuidadores de Pessoas Enfermas em Domicílio 25/Julho - Turma 1 - São Paulo (SP)
Nutrição Clínica Aplicada 28/Julho - Turma 5 - São Paulo (SP)
Auditoria em Alimentação e Nutrição 10/Agosto - Turma 6 - São Paulo (SP) 14/Setembro - Turma 2 - Rio de Janeiro (RJ)
Planejamento de Cardápios 14/Agosto - Turma 2 - São Paulo (SP)
Nutrição Clínica em Pacientes com Doença Renal 18/Agosto - Turma 3 - São Paulo (SP)
Gestão de Projetos de Educação em Saúde 21/Agosto - Turma 1 - São Paulo (SP)
Análise de Risco, Segurança do Paciente e Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde 25/Agosto - Turma 1 - Belo Horizonte (MG)
Assistência Domiciliar 1º/Setembro - Turma 2 - São Paulo (SP)
Planejamento de Cozinha Industrial: Equipamentos, Normas, Projeto e Layout 22/Setembro - Turma 2 - São Paulo (SP)
Você escolhe se assiste no local ou pela internet - aulas ao vivo e gravadas Cursos Intensivos
Alimentação Escolar: Planejamento e Avaliação 01/Junho - Turma 1 - São Paulo (SP)
Controle de Infecções Hospitalares 01/Junho - Turma 1 - São Paulo (SP)
Seminários de Atualização em Diabetes 01/Junho - Turma 1 - São Paulo (SP)
Complicações Crônicas do Diabetes 01/Setembro - Turma 1 - São Paulo (SP)
Pós-Graduação - Especialização Profissionalizante e Cursos Intensivo direcionados à atuação prática destes profissio-nais. Consulte abaixo os cursos que iniciam em 2012.
Cursos Presenciais com Transmissão Online - Datas de Início e Locais

7
sexta-feira, 15 de abril de 2011 15:06:33

Julho 2012das 10hSábado: das 10h às 18h
às 20h05 a 07Expo Center Norte - Pavilhão Vermelho - São Paulo
:à adailiF Promoção e Organização:Apoio: :
VISITE O PRINCIPAL ENCONTRODO SETOR FARMACÊUTICO PARA
ATRAÇÕES ESPECIAIS:
• Arena do Saber
• Projeto Empreendedor
• Lounge Comprador
Garanta já sua participação!
Tendências, Lançamentos e Oportunidades de Negócios
Relacionamento e Qualificação Profissional
Contato com os Principais Fornecedores Nacionais
Congressos simultâneos:•
www.expofarmacia.com.br
DROGARIAS, FARMÁCIAS HOSPITALARES, PÚBLICAS E MAGISTRAIS
A ExpoFarmácia 2012 reunirá empresas líderes do segmento e profissionais com alto poder de influência e decisão de compra. Participe!
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
627-215x285.pdf 1 26/4/2012 14:53:50