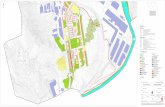Ricardo Bas Baum
description
Transcript of Ricardo Bas Baum

Ricardo Basbaum
Além da pureza visual
Zouk

Migração das palavras para a imagem
Dentro do campo específico de produção de visualidade delimitado pelas artes visuais, a relação entre imagem e linguagem tem se colocado como uma das questões mais instigantes e provocadoras para artistas, teóricos, críticos e comentadores em geral, por colocar em jogo justamente os limites do que se convenciona designar como regiões do visual e do verbal. É verdade que a arte contemporânea vem exercitando, há pelo menos meio século, as chamadas formas híbridas do objeto, instalação, ambiente, happening, performance, body-art, arte conceitual, arte processo, etc, que combinam e rediscutem, entre outros, elementos provenientes dos meios ‘tradicionais’ da pintura, desenho, escultura, gravura; estes últimos, por sua vez, tem sido continuamente re-elaborados à luz de uma crescente visão inter, multi ou transdisciplinar da cultura, em que a arte enquanto disciplina autônoma é confrontada com discussões provenientes de outros campos do conhecimento.A partir deste quadro, de uma produção contemporânea que funciona sob premissas diferenciadas, anunciando uma primeira dobra (em uma possível série) da modernidade, podemos propor a discussão de alguns aspectos envolvidos no par visual/verbal, no que tange ao interfaceamento dos dois campos.
Se tomarmos cada um dos modos especializados de produção visual do mundo contemporâneo, como cinema, vídeo, fotografia, publicidade, design, artes plásticas, etc, cada qual ocupará uma posição particular neste elenco de práticas. Todos esses meios, hoje, configuram-se como disciplinas autônomas, dotados de linguagem, objeto, meios técnicos e conceitualizações que lhes são próprios, de modo que podemos considerá-los como diferentes saberes, desenvolvidos a partir da era moderna, na convergência dos impulsos do desenvolvimento técnico e da fragmentação e especialização dos campos do conhecimento. Seguindo algumas das pistas arqueológicas propostas por Michel Foucault e retomadas por Gilles Deleuze, é possível abordar cada um destes saberes como “combinações do visível e do enunciável (...) agenciamos práticos, ‘dispositivos’ de enunciados e visibilidades”. Assim, os diferentes meios de produção de visualidade podem ser particularizados através da prática específica empregada na realização de tal agenciamento. Cada um destes meios diferencia-se do outro por trabalhar de maneiras diversas a relação entre imagem e linguagem, ou visibilidade e legibilidade, ou signo e pensamento, ou imagem e texto.
Se nos interessa determinar as propriedades específicas do modo de agir de uma destas práticas – as artes visuais –, devemos desvendar, nas particularidades do campo investigado, alguns detalhes desse relacionamento “biforme”, assinalando em que medida tal saber é atravessado por “práticas discursivas de enunciados e práticas não-discursivas de visibilidades”.
O campo ampliado da arte contemporânea

Antes de mais nada, é necessário precisar que hoje, após as aventuras da arte moderna e contemporânea, é impossível definir o campo das práticas artísticas apenas através dos meios e materiais utilizados. Desde, pelos menos, as apropriações dadaístas e surrealistas de objetos cotidianos em atitudes anti-artísticas, o conceito de ‘material artístico’ ampliou-se, ao ponto de, a partir de meados dos anos 60, na esteira das correntes experimentais que trabalham a “desestetização”, Harold Rosenberg anunciar a diluição de “todas as limitações na espécie de substâncias fora das quais a arte pode ser constituída. Qualquer coisa – o desjejum, um lago congelado, o comprimento de um filme – é arte, ou como está, ou adulterada, ou escolhida como um fetiche”. Em fuga de um conceito de arte excessivamente dominado por uma carga ‘esteticista’ e ‘formalista’, isto é, ligado aos aspectos morfológicos exteriores do objeto e ainda dependente de noções composicionais e de equilíbrio derivadas da reciclagem de tratados artísticos de origem acadêmica,
“parece lógico que os trabalhos devam ser feitos com pedras em seu estado natural e de madeira; com materiais destinados a outros propósitos que não sejam os artísticos, tais como borrachas ou lâmpadas elétricas; ou mesmo com materiais de pessoas ou animais vivos. (...) Cavar buracos ou abrir fossos no solo, abrir uma trilha em um milharal, estender uma chapa quadrada de chumbo na neve (a assim chamada arte earthwork), não difere em sua essência desestetizadora da exibição de uma pilha de sacos de correspondência, de uma fileira de jornais colados na parede, ou do obturador de uma máquina fotográfica mantido aberto com uma exposição ao acaso durante toda a noite (a assim chamada arte antiforma). A declaração de um despojamento de conteúdo estético também torna legítima a arte “processo”- na qual forças químicas, biológicas, físicas ou climáticas afetam os materiais originais, mudando suas formas ou destruindo-as como nos trabalhos que incorporam grama crescendo, bactérias ou ferrugem provocada – a arte ao acaso, cuja forma e conteúdo são decididos pela sorte”.
É em Rosalind Krauss que encontraremos a noção de “campo ampliado”, possibilitando considerar diferentemente a prática do artista, localizada não mais, evidentemente, dentro da noção pré-moderna dos gêneros artísticos”, nem nas particularidades dos diversos meios empregados (e em suas possíveis misturas e hibridizações) para a realização do projeto plástico. No contexto de um campo ampliado,
“a práxis não é definida em relação a um determinado meio de expressão, mas sim em relação a operações lógicas dentro de um conjunto de termos culturais para qual vários meios – fotografia, livros, linhas em paredes, espelhos – podem ser usados. Portanto, o campo estabelece tanto um conjunto ampliado, porém finito, de posições relacionadas para um determinado artista ocupar e explorar, como uma organização de trabalho que não é ditada pelas condições de determinado meio de expressão”.
Pode-se assim pensar a prática do artista para além dos materiais e meios utilizados, revelando
“a lógica do espaço da práxis pós-modernista organizada (...) através do universo de termos sentidos como estando em oposição no âmbito cultural. (...) Conseqüentemente, dentro de qualquer uma das posições geradas por um determinado campo lógico, vários

meios diferentes de expressão podem ser utilizados. Ocorre também que qualquer artista pode vir a ocupar, sucessivamente, qualquer uma das posições”.
Um dos termos que localizam, estruturalmente, o campo ampliado da pratica artística dentro do âmbito cultural dos desenvolvimentos da arte moderna e pós-moderna é, exatamente, o par imagem/linguagem. Como veremos, a própria noção moderna de arte não se faz sem um preciso agenciamento entre práticas visuais e práticas discursivas: na ausência de uma adequada e estratégica mobilização de enunciados, ao lado de objetos plásticos e visuais, não haveria o que entendemos hoje por arte.
Arte moderna como um território híbrido
Lionello Venturi, em sua História da Crítica de Arte, relata em fato que não deve passar desapercebido: “o excepcional florescimento crítico que se deu em França por alturas da metade do século XIX, a propósito da pintura moderna”. Paralelamente ao movimento em que Edouard Manet e Gustave Courbert mostravam o que seriam as primeiras pinturas modernas - iniciando um percurso onde as obras partem em direção a uma crítica do modelo clássico de representação, envolvendo as questões da imediaticidade da experiência, de uma pesquisa estrutural em torno dos elementos constituintes da linguagem plástica e de uma possível universalidade auto-referente da arte –, neste momento em que tornam-se exterior e definitivamente visíveis os limites do visível, este mesmo momento anuncia uma proliferação inédita de textos críticos, comentando as novas visibilidades. É como se não houvesse um contentamento, uma satisfação por finalmente possuir e dominar os limites do visível: mesmo podendo, pela primeira vez, relacionar-se com obras que fundam sua própria presença no instante em que vêm ao mundo – e que, portanto, instauram uma intensidade nunca antes vista, dentro mesmo do tempo presente –, os homens do século XIX não se calam, não emudecem, e iniciam a atividade, insistente e contínua, de falar e escrever a partir da imagem (criticá-la, construí-la enquanto imagem em crise). O que nos interessa é pensar que tal movimento jamais poderia se dar de outro modo: a arte moderna é fundada, exatamente, a partir da possibilidade do encontro de objetos que se pretendem pura e completamente visíveis com um campo enunciativo que, adequadamente, posiciona-se junto destes objetos, atravessando-os.
É possível precisar já aí, no momento inaugural do processo moderno de fazer arte, um agenciamento particular entre imagem e linguagem, entre o visível e o enunciável. Lembrando que tanto um como o outro dos modos de produção de sentido configuram-se como entidades autônomas, dotados de estrutura e materialidade próprios, enquanto campos de ação constituídos por estratégias e práticas diferenciadas – será a maneira particular de produzir tal agenciamento, o atrito e fricção surgidos do contato entre os dois campos, que tornará possível afirmar a existência de um território próprio das artes plásticas. A arte moderna se identificará, então, como um território híbrido, no qual entrelaçam-se objetos e significados.
Combate e captura

É evidente que o texto de crítica de arte deve ser considerado como apenas uma das modalidades de produção de discursos que constituem o território das artes plásticas: devemos incluir também aí textos teóricos, textos de artistas, crônicas, biografias, ensaios, manifestos, estudos de história da arte, etc. Todos esses escritos reivindicam uma parcela da responsabilidade de falar acerca daquilo que foi construído para ser absolutamente visível. No período em que inaugura-se o campo da arte moderna, porém, a crítica vem a desempenhar o importante papel de voltar-se para a atualidade, procurando discutir as transformações ao mesmo tempo em que eram produzidas: “Os críticos franceses do século XIX, e em especial o seu mais alto representante, Baudelaire, ensinam-nos que a sensibilidade artística, isto é, a comunhão de experiências com os artistas, é a fonte necessária a intuição crítica. Esses críticos criaram uma consciência da arte atual mais viva do que a que dantes existira e supreenderam a arte no seu processo de formação (...).”A cumplicidade entre crítico e artista, ao ponto de surpreender a obra em sua origem, é importante por revelar o grau de proximidade em que os dois processos são articulados; e também por dimensionar outra componente desta relação: uma vez que a obra moderna anuncia, continuamente, a novidade, não existem regras acadêmicas a priori, capazes de predeterminar a avaliação e a significação do trabalho, colocando, aos críticos, o desafio de confrontarem-se com a produção sem a possibilidade de recorrer a “juízos formados, precisos e tradicionalmente autorizados”. Assim, Baudelaire demarca o espaço de atuação do crítico moderno, não como aquele em que se está confrontando a produção plástica de sua época a partir de critérios de juízo estético anteriores às obras, mas sim como o local a partir do qual o texto compartilha com a obra de um mesmo envolvimento em direção ao novo: “Para ser justa, para possuir sua razão de ser, a crítica deve ser parcial, apaixonada, política, quer dizer, feita de um ponto de vista exclusivo, mas que seja um ponto de vista que abra novos horizontes”.
Vemos aqui que texto crítico e obra plástica unem-se na tarefa de demarcar o território da arte moderna, a partir da estratégia comum de inserirem-se em um campo de atualidades, para, na busca permanente do novo, lançarem-se ao futuro. Neste momento, cada um dos dois campos marca sua irredutibilidade: da mesma maneira como a obra moderna constrói seu espaço autônomo, voltada para si mesma, Baudelaire toma para si a dupla tarefa de afirmar a autonomia da expressão visual e marcar algumas das principais questões que serão retomadas continuamente pela crítica deste século – a combinação do “historicismo teleológico e essencialismo (...) como essenciais ao modernismo”. Podemos dizer então que semelhantes textos – textos de crítica de arte – constroem-se em torno das obras, atravessando-as, para com elas definir um território.
É fundamental não se perder de vista que quando anuncia-se a aproximação entre obras plásticas e textos críticos existe a consciência de que “por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que se diz, e por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, metáforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas o que as sucessões da sintaxe definem” – cada uma das práticas ocorre em campos específicos e irredutíveis um ao outro. Assim, o que poderia ser considerado como a “verdade”, a leitura correta ou juízo verdadeiro acerca de qualquer trabalho de arte torna-se uma relação problemática entre “duas metades do verdadeiro”, uma vez que “o verdadeiro não se define por uma conformidade ou forma comum, nem pela correspondência entre as duas formas”. A ‘verdade’ é essencialmente móvel, sendo constituída diferentemente a cada vez, a partir do “combate a captura” recíproco entre as duas práticas.

Inversão do pensamento
Entretanto, vamos considerar aqui uma especificidade do “signo figurativo”, sugerida por Pierre Francastel: “O que caracteriza absolutamente todo signo figurativo, insistimos, é sua ambigüidade. Ambigüidade porque jamais o signo coincide com a coisa vista pelo artista, porque jamais o signo coincide com aquilo que o espectador vê e compreende, porque o signo é por definição fixo e único e, também por definição, a interpretação é múltipla e móvel”. A importância desta colocação é ressaltar uma característica irredutível do signo figurativo( ou signo plástico, para ampliarmos seu sentido), ao mesmo tempo em que aponta para uma particularidade das artes plásticas enquanto campo do saber. Sendo único, mas essencialmente ambíguo, o signo plástico é receptivo, por natureza, a uma multiplicidade de interpretações, ou seja, a cada instante em que nos remetemos à obra de arte devemos considerar que esteja circundada e atravessada – em várias órbitas, proximidades e freqüências diferentes – por uma diversidade de enunciados, de gêneros e formatos múltiplos. Assim, a importância do signo plástico residiria em sua capacidade plenamente receptiva de, sendo “fixo e único”, acolher uma multiplicidade de discursos. Isto incidiria diretamente sobre a afirmação de Deleuze, quando se refere ao “primado do enunciado” como terceira característica do saber: “O enunciado tem primazia graças à espontaneidade de sua condição (linguagem), que lhe dá uma forma determinante. O visível, por sua vez, graças a receptividade da sua (luz), tem apenas a forma do determinável. Pode-se, então, considerar que a determinação vem sempre do enunciado, embora as duas formas difiram em natureza”. Entretanto, em uma positivação mais rigorosa das artes plásticas como um saber específico, seria preciso operar uma inversão dos termos dessa afirmação: só existe a possibilidade de um pensamento com arte (e não um pensamento meramente aplicado na arte), isto é, um pensamento que seja pura prática, que seja essencialmente móvel, que exerça-se nos espaços de problematização provocados pelo choque dos signos plásticos com múltiplos enunciados, que crie formas de ação novas e diferenciadas, só há possibilidade de um verdadeiro pensamento plástico se houver, inequivocamente, primazia da forma visível sobre a forma enunciativa. As artes plásticas seriam, deste modo, uma espécie de campo invertido do pensamento, um saber ao avesso – ou um avesso do saber -, constantemente pressionando e provocando turbulências no conjunto dos pensamentos estabelecidos.
Texto e obra de arte
Quando Deleuze caracteriza a “essência” como “unidade do signo e do sentido tal qual é revelada na obra de arte”, não está apontando uma “diferença interna” ou “eterno segredo” de uma arte subjetiva, mas para uma “diferença última e absoluta”, aberta, que tem na arte um veículo privilegiado. No entanto, somente a “boa e verdadeira interpretação” permitiria “equacionar de maneira correta a relação entre signo e sentido” que dá acesso à essência da obra. Imediatamente somos confrontados com a dificuldade de localizar a “boa interpretação” – como meio de extrair a relação signo/sentido dos objetos de arte – em meio à multiplicidade de interpretações proporcionadas pela natureza ambígua do signo plástico. Diante do dilema, desde logo três possibilidades se destacam, quanto ao posicionamento do enunciado em relação à obra: em primeiro lugar, é possível divisar uma disputa, entre os diversos enunciados ali aglutinados, pelo posto de interpretação hegemônica. Mais do que uma consistência interpretativa, disputa-se, de fato, poder:

brigar-se pelo direito de posicionar o discurso no espaço privilegiado localizado em torno da obra, pelo direito de nomeá-la e determiná-la – visando o arquivamento. É uma disputa física (por um lugar) mais do que intelectual (por um método). Esta seria a possibilidade da arte oficial, dos discursos institucionais da arte e leituras academizantes do modernismo. Um discurso frontal, que obscurece a obra, rivalizando-se com ela.
Uma segunda possibilidade residiria no tipo de engajamento inaugurado por Baudelaire, de uma crítica “parcial, apaixonada, política”: esta qualidade de enunciação só é possível quando o discurso constrói-se a partir da mesma matéria informe que irá constituir a obra, com ela compartilhando trajetórias diferenciadas em torno de um mesmo impulso criativo. Neste caso, o discurso é também criação – remetendo a um universo em que confluem narrativas interpretativas, poéticas, analíticas e ficcionais, caro ao próprio Deleuze, quando define a filosofia como “arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos”. Pela cumplicidade exibida junto à obra de arte que falam, esses textos não se contentam em gravitar em torno ou ocupar um espaço privilegiado ao redor do objeto: ao se aventurarem pela criação, constroem também para si um tipo de espaço, envolvendo igualmente a obra ao mesmo tempo em que são envolvidos por ela. O discurso criativo não contorna o objeto plástico a uma distância cerimoniosa, mas efetivamente o atravessa e é por ele atravessado.
Como terceira possibilidade, encontramos aqueles textos em que os próprios produtores de visualidade – os artistas – referem-se ao seu trabalho. Surgidos da necessidade de localizar as principais questões em que as obras estariam inseridas, tais discursos compartilham de uma proximidade física quase absoluta com a produção plástica. Ausência de distância que impossibilita por um lado, a visibilidade de certas questões, uma vez que o olhar do outro nunca poderá ser plenamente substituído, por mais que o artista se esforce na tarefa de constituir-se no outro de si mesmo. Por outro lado, tal proximidade implicaria em um envolvimento muito mais intenso deste discurso com as condições do momento de formação da obra – uma cumplicidade absoluta, quase que superposição das matérias expressivas verbais e visuais. Neste ponto poderemos apontar uma importante diferenciação entre os momentos moderno e contemporâneo: o artista moderno adota, basicamente, o manifesto como principal modalidade discursiva que se soma as obras mas não se confunde com elas. A obra de arte moderna é instrumento na luta por uma pureza plástica, na conquista da expressão puramente visual, através da exploração de elementos específicos, incompatíveis com outras disciplinas, que resguardariam e proclamariam a autonomia da obra de arte; os manifestos, em sua maioria, declaram, detalham e especificam tais princípios. Ainda que exibam uma proximidade máxima com a obra em sua origem, os manifestos permanecem, entretanto, atrás de um limite nítido que dela os separa. Ambas as formas afirmam suas especificidades, resguardando fronteiras.
Já no momento contemporâneo, ou pós-moderno, o lugar do texto produzido pelo artista não é mais aquele do manifesto. Tanto a crescente assimilação da arte moderna pela instituição – Ronaldo Brito observa que a produção contemporânea só vai se manifestar no “choque com o circuito [de arte]”, uma vez que não existe mais o “Território das Vanguardas (...), momento em que a produção estava radicalmente à frente do local onde operava a Instituição-Arte”- quanto a efetivação do processo de demarcação do campo ampliado da arte colaboram para uma aceleração dos tempos de fruição e consumo da obra, seja em direção a uma crescente eficiência institucional (no primeiro caso) ou uma aproximação das esferas da vida individual e social (no segundo). No entrecruzamento das

duas trajetórias, observamos que enunciados e visibilidades passam a confrontar-se num mesmo tempo, no mesmo espaço, em ação mútua e combinada, como partes de um mesmo processo: a palavra migra para dentro da obra. Diferentemente das possibilidades do discurso oficial (enunciado que obscurece a obra) e do texto criativo que rastreia sua dimensão sensível (enunciado cúmplice), o texto do artista trabalha com a eventual simultaneidade na formação do agregado enunciado/visibilidade. Para o artista moderno, a sincronia dessas temporalidades era dificultada por seu engajamento na conquista da pura linguagem visual, e o manifesto freqüentemente precedia ou sucedia o objeto plástico. Mas o artista contemporâneo encontra condições de compactar esse intervalo de tempo, fazendo com que signo plástico e enunciado verbal aproximem-se de um mesmo instante, partes simultâneas e diferenciadas do mesmo processo: o enunciado criativo e seu espaço próprio deslocam-se para o interior da obra, na qualidade de elementos de sua estrutura. Desta forma, ao abrir-se à instantaneidade do enunciado, a obra abandonaria o caráter de “unicidade, privacidade e inacessibilidade” próprios da experiência moderna – que trabalhava com a “ilusão de que no centro da matéria inerte havia uma fonte de energia que a moldava e lhe trazia vida”, a permanecer lá como enunciado intocável –, possibilitando que os significados se originem efetivamente na atualidade da experiência, sem que resistam sob a forma de uma interioridade fixa e inatingível.
Tal deslocamento da palavra para o interior da obra testemunhava a condição enunciativa do artista contemporâneo, agora mais próxima da articulação quase instantânea de práticas visuais e práticas discursivas. A proliferação, a partir dos anos 60, de textos de artistas (textos teóricos, ensaios, proposições, aforismo, depoimentos, etc), a multiplicação de experiências com meios audiovisuais – gerando o cinema de artista e a videoarte – e a crescente utilização da palavra como parte da materialidade da obra – ora um elemento a mais ao lado de outros estímulos visuais, ora trabalhada em sua espessura material ou contextual – podem ser vistas dentro dessa nova possibilidade.
Duchamp: objeto e nome
Talvez seja útil relacionar, rapidamente, estas observações com o processo plástico desenvolvido por alguns artistas, de modo a ver como as idéias aqui discutidas podem confrontar-se com obras e procedimentos. De maneira concisa, vamos traçar algumas considerações acerca de Marcel Duchamp, arte Conceitual (Joseph Kosuth, On Kawara) e Hélio Oiticica.
Marcel Duchamp é unicamente apontado, dentre os artistas modernos, como o precursor da contemporaneidade. Somente a partir dos anos 50 surgem as primeiras obras a dialogar diretamente com sua produção – Jasper Johns e Robert Rauschenberg, Por exemplo, através da leitura renovada que John Cage propõe dos três artistas -, retirando-a de uma posição parcialmente lateral em relação ao circulo e lançando-a para a dianteira dos novos acontecimentos. Muitas das questões suscitadas pela obra de Duchamp, como o conceito de apropriação do objeto produzido industrialmente ou a noção de um circulo institucional da arte como determinante legitimadora da obra, serão seguidamente exploradas: se por um lado, hoje, a noção de ready-made transformou-se em quase

um sinônimo de procedimento artístico contemporâneo, por outro tornou-se possível perceber com maior clareza alguns registros particulares da intervenção duchampiana. Assim, as manobras de Duchamp podem ser localizadas em termos de sua articulação dos campos verbal e visual, a partir dos traços de
“um empreendimento nominalista que não somente perturba e reinventa a relação, aparentemente estável e natural, que liga as palavras as coisas (...) mas que sobretudo redefiniu ou indefiniu o sentido da palavra arte, a qual não se funda mais sobre as condições a priori de produção da obra (...) mas a partir das condições a posteriori de sua recepção, através do preenchimento das condições de enunciação de ‘isto é arte’ por três instâncias que se entrecruzam: autor, público e instituição. O ato plástico duchampiano se realizaria no intervalo que separa e que liga a palavra e a coisa, um intervalo de indeterminação, de acaso e liberdade(...)”.
Como escreve Thierry de Duve, “saber que esta pá de neve é arte é ser simplesmente informado; acreditar é absurdo, é ceder espaço a magia do artista, tombar sob a fascinação de fetiche. O que ‘faz arte’ deste artefato não é a pá de neve enquanto objeto, mas a frase a designa obra de arte”. A importância atribuída por Duchamp ao papel de um campo enunciado em funcionamento simultâneo com a obra irá se revelar ainda em sua oposição à “tendência da pintura dos últimos cem anos”- referindo-se à trajetória iniciada pelo impressionismo e que teria seu apogeu no expressionismo abstrato. Pintura retiniana identificaria uma arte puramente ótica, presa ao uso das tintas como um fim, “em que o prazer estético depende quase que exclusivamente de impressão da retina, sem apelar para nenhuma outra interpretação auxiliar”. Segundo Duchamp, a pintura impressionista, por exemplo, tornou-se vítima da “paixão pelo pigmento”; mesmo o cubismo é acusado de um “desvio retiniano”.
Iniciando sua produção artística significativa em disputa direta com os limites da pintura cubista (segundo Argan, a tela Nu Descendo a Escada n.2 (1912-16) põe em crise o cubismo analítico) Duchamp procura “colocar a pintura a serviço da mente”, concebendo uma pintura-idéia como extremo de sua fuga anti-retiniana – pintura que é também objeto, organizada com consciência da materialidade do suporte: sua principal obra, A Noiva Despida por seus Celibatários, mesmo (1915-23), o Grande Vidro, revela a estratégia de impregnação de um objeto plenamente visual por um campo enunciativo sincrônico. A edição, em 1934, da Caixa Verde – contendo 93 notas, cálculos, desenhos e anotações realizadas durante o processo de elaboração do Grande Vidro – torna claro que texto e imagem funcionam como simultaneidades diferenciadas que se superpõem, evitando uma apreciação puramente retiniana. Do mesmo modo, ao referir-se aos trocadilhos, com que freqüentemente nomeia suas obras, como “jogos de palavras tridimensionais”, Duchamp caracteriza uma estrutura verbal com presença no espaço, estabelecendo em relação ao objeto plástico um procedimento discursivo disjuntivo, em que as conexões palavras/objeto são retraçadas a partir das marcas produzidas por cada uma das matérias sobre a outra, no vazio deixado pela ruptura de uma adequação natural entre ambos os campos. A possibilidade de trabalhar a dimensão conceitual da obra, sem prejuízo da autonomia plástica, é um dos fatores decisivos na ampliação do campo da arte durante os anos 60.

Ver-ler
Demonstrada a possibilidade da simultaneidade entre práticas de visibilidades e práticas de enunciação, os artistas contemporâneos vão concentrar suas investigações em partes especificas deste mecanismo. As investigações da arte conceitual, por exemplo, terão nas palavras e conceitos os seus únicos materiais, conduzindo a trabalhos em que o objeto plástico se reduz praticamente estrutura de suporte das palavras (que pode ser um fichário, mapa, revista, carta, cartão-postal, telegrama, documento, telex, neon, recibo, cartaz, desenho, pintura, fotografia, filme, etc): daí não ser totalmente precisa a referência a esta corrente como “arte desmaterializada”,uma vez que os suportes não são escolhidos incidentalmente, mas de modo a buscar uma adequação entre a estratégia de ação utilizada e a matéria-suporte escolhida. Seja um documento registrado em cartório (Robert Morris, Declaração de despojamento de um conteúdo estético, 1963), um telegrama (Robert Rauschenberg, This is a portrait of Iris Clert if I decided, 1961), um anúncio classificado publicado em páginas de jornal (Joseph Kosuth, Segunda Investigação, Sinopse de Categorias, 1968) ou uma série de convites para uma exposição (Robert Barry, Invitation piece, 1972-73), todos estes trabalhos constroem um funcionamento de modo de circulação específicos, de acordo com as características – materiais, inclusive – de cada proposta. A componente ‘desmaterializada’ da obra conceitual não seria, então, diferente daquela dimensão ‘invisível’ ou ‘imaterial’ constitutiva do campo enunciativo, presente em qualquer obra de arte; por outro lado, o investimento dos trabalhos em uma presentação mais intensa desta dimensão – através da palavra como elemento visual dominante, por exemplo – conduz ao engajamento da percepção em um gesto de “ver-ler”. Existe ainda ai a sugestão de um deslocamento, em direção ao público, do processo de agenciamento simultâneo e disjuntivo dos campos verbal e plástico, configurando talvez um tipo específico de campo vivencial para o espectador, expresso na deflagração de certos processos mentais-corporais, tais como produção de imagens, narrativas, cadeias de associações-livres, mecanismos de articulação conceitual, etc.
Kosuth: o artista como crítico
O artista norte-americano Joseph Kosuth tem desenvolvido, desde fins dos anos 60, pesquisas consideradas pioneiras dentro das linhas de ação da arte conceitual. Na primeira fase de seu trabalho (até 1975, quando então, após reavaliação, passa a buscar maior “influência em sua própria cultura”), concentra-se em investigações em torno da noção de arte enquanto proposição de caráter lingüístico, que “exprime definições de arte ou as conseqüências formais dessas definições”; a arte passa a ter como valor o questionamento de sua própria natureza (“o valor do cubismo – por exemplo – é sua idéia no campo da arte e não as qualidades físicas ou visuais (...) pois tais cores ou formas são a ‘linguagem’ da arte e não seu significado conceitual enquanto arte”). Kosuth identifica o trabalho de arte como as “proposições analíticas” – aquelas cuja validade “depende apenas das definições dos símbolos que contém”, isto é, “não veiculam definições sobre outra coisa”-, considerando-o como “uma tautologia”, uma vez que “a ‘idéia de arte’”(ou ‘trabalho’) e a arte são a mesma coisa e podem ser apreciadas enquanto arte sem sairmos do contexto da arte para verificação”: qualquer trabalho ao qual o artista dê o nome de arte é arte. Fazer arte é “apresentar novas proposições quanto a sua natureza (...) dentro do contexto da arte, como um comentário da própria arte”.

A circularidade lingüística deste discurso é trabalhada plasticamente dentro da série Art as Idea as Idea (1966 a 1975), que compreende desde as primeiras montagens utilizando verbetes retirados de dicionário (definições das palavras “square”, “theory”,”white”, art”, “water”, entre outras), passando pelos conjuntos compostos de um objeto, sua fotografia e a definição em dicionário do objeto (Uma e três cadeiras, 1966), até as inserções em jornais e out-doors, no espaço urbano, e instalações com mesas e cadeiras no interior da galeria ou do museu, que convidam a participação do publico. Em Uma e três cadeiras o espectador é submetido à experiência disjuntiva de relacionar, instantaneamente, uma cadeira, sua fotografia e a definição da palavra cadeira, vivenciando um entrecruzamento de objetos, imagens e enunciados de diferentes qualidades – cada um dos três elementos deixa de ser puro texto ou pura imagem para tornar-se, ao mesmo tempo, matéria em movimento entre os dois pólos, rompendo assim qualquer hierarquia ou traço idealista correspondente à adequação natural entre coisa e nome.
Em textos mais recentes, Kosuth, reconhecendo “a atividade crítica como paralela a arte” – afinal, a “arte conceitual procura internalizar a função da crítica”- mantém a existência de uma “diferença ontológica a separar a crítica em geral da atividade ‘crítica’ do artista”. Se considerarmos especificamente o texto produzido pelo artista, “existiria ainda alguma distinção a ser feita entre um trabalho de arte e um texto sobre arte?” Kosuth procura demonstrar que textos sobre trabalhos de arte são experienciados diferentemente de textos que são trabalhos de arte”, estabelecendo uma distinção entre “teoria primária” – aquela “engajada como parte de uma prática” e “teoria secundária”- que “fala sobre arte como uma atividade paralela ao fazer artístico”. A teoria primária está comprometida com a presença da arte como “parte do mundo, (...) nomeando-a como um evento no espaço social e cultural”, cuja elaboração envolve certa interiorização de processos culturais: a arte assim cumpria seu duplo papel de “[prover] não somente uma reflexão acerca de si própria, como também uma reflexão indireta sobre a natureza da linguagem e da cultura”. Já a teoria secundária aproxima-se da arte enquanto um “objeto extremo para ser discutido”, tentando explicar ao mundo o que aquela presença extrema representa”: Kosuth caracteriza esta tentativa como um comentário “sem pés no chão (...), fornecendo significados sem um evento contexto que comprometa socialmente uma responsabilidade subjetiva pela produção de consciência”. Aí residiria, para Kosuth, o principal traço da “ontologia diversa”do texto do artista: “ao assumir responsabilidade subjetiva por nossa produção cultural, não podemos apelar a um ‘afastamento objetivo’ pseudo-científico”. Enquanto texto cúmplice de uma prática, “teoria primária” a se confundir com as obras, o texto do artista é posicionado aqui em termos de instrumento único de resistência ao processo de institucionalização da arte contemporânea. Diagnosticando que em “nosso tempo presente Pós-moderno os tradicionais raciocínios historicistas da arte têm se transformando cada vez mais em um processo de validação do mercado e não em compreensão histórica”, ao construir um “contexto no qual o mercado produz o sentido e estabelece o valor”, Kosuth insiste na presença da escrita do artista enquanto dispositivo de construção e exame “dos usos dos elementos e funções do trabalho dentro de seu amplo quadro sócio-cultural”, constituindo-se, ao lado da obra, em “investigação dentro da produção de sentido na cultura”.
On Kawara: verbalização do instante

Também ligado à arte conceitual, o japonês On Kawara processa a relação entre campo visual e campo discursivo em termos da preocupação em fixar um instante, elevando-o à categoria de acontecimento artístico, através de seu registro repetido em objetos/textos. Resgatados como datas, coordenadas geográficas, recortes de jornais, listas de nomes, telegramas ou cartões postais, inscritos em telas, desenhos ou organizados em fichários, os ‘instantes’ conquistam uma espessura entre a rapidez impessoal da referência autobiográfica e sua duração posterior enquanto objeto. A série de pinturas Date Paintings, iniciada em 1966, consiste de pequenas tela (20,5 x 25,5 x 4,5 cm) com inscrições em sua superfície indicando dia, mês e ano: JAN. 15,1966 ou JAN. 18,1966, por exemplo. “Cada uma das telas é executada no dia mesmo da data indicada sobre ela. (...) Se por uma razão ou outra uma tela não é terminada no mesmo dia, ela é destruída”. Já a série de cartões postais, compreendendo cartões enviados diariamente, de 1968 a 1979, para pessoas conhecidas, registra sempre a frase “I got up”, seguida da indicação da hora em que esta ação foi realizada, a cada dia: “I got aup at 6:57 AM”, “I got up at 9:30 AM”, “I got up at 6:12 AM”, “I got up at 8:30 AM”, etc. A repetição do registro de datas e horários ou a indicação de pequenas ações não ocorre aqui como nostalgia ou memória de acontecimentos especiais: sua insistência mecânica afasta qualquer tentativa de fetichização de locais ou comportamentos, descritos de maneira sucinta, com economia verbal. Esses trabalhos interessam pela radicalidade com que investem no registro do instante (ainda que banalizado, repetitivo, cotidiano), despojado de qualquer elemento excedente. O sucesso deste procedimento deve-se não só à formação de um conteúdo verbal simultâneo ao exercício de adequação do anunciado a um suporte, veículo ou objeto, mas também à articulação destas duas matérias com séries de gestos e ações. A mesma tríplice articulação está presente nos telegramas enviados no inicio dos anos 70 a amigos, curadores e artistas, em que On Kawara fornece pistas acerca de sua vida: “I am not going to commit suicide don’t worry”; “I am not going to commit suicide worry”; “I am going to sleep forget it”; “I am still alive”. Cada mensagem anuncia o momento em que foi escrita, incorporando este instante no encadeamento telegráfico das palavras – que reverberam a fugacidade de um gesto sem qualquer qualidade senão a sua própria presença.
Oiticica: Parangolés e Transobjetos
Toda a obra de Hélio Oiticica está marcada pela presença intensa da palavra e do texto, seja enquanto elemento inscrito na estrutura física do objeto, seja como formulação reflexiva acerca do próprio processo. Esta condição singularizada a apreensão de seu trabalho, estando cada nova peça sempre envolta numa teia conceitual a iluminá-la. Ou, ainda, experimentar cada proposição é também descobrir frases, poemas ou palavras de ordem, dentro de bólides, estampadas em parangolés ou exibidas em bandeiras e estandartes. Assim, é possível abordar a produção plástica e textual de Oiticica “como uma só atividade, uma corrente incessante de invenção e pensamento”, em que as obras são inter-relacionadas em “um sistema de títulos, gêneros e ordem conceitual(...) simultaneamente, sem que um ‘ilustre’ ou ‘explique’ o outro”- retrato da envergadura da tarefa a que o artista se dispôs, de “face as categorias de arte existentes (...) propor o seu próprio sistema de ordens que se cingiriam e entrelaçariam em todos os níveis, do objeto ao corpo, à arquitetura, a ‘totalidades

ambientais’ incorporando o ‘dado’ e o construído, a natureza e a cultura”. Elementos posicionados junto a suas obras, os textos de Oiticica desempenhariam, em sentido complementar mas quase que inverso aquele experimentado por Kosuth, o papel de fundação e afirmação de seu projeto plástico, enquanto que para o artista americano trata-se de oferecer resistência ao mecanismo institucional, preservando em aberto a tarefa auto-reflexiva da arte.
Ao incorporar diversos tipos de frases na elaboração dos Parangolés - capas confeccionadas em diversos em diversos materiais, para serem vestidas, realizadas a partir de 1964-, percebe-se como Oiticica acrescenta ainda outra dimensão – a verbal – ao que chama de “ciclo de participação”: nestas obras, originalmente propõe “o interfluxo entre dois modos de participação: ‘vestir’, no qual a pessoa explora, corre ou dança na capa para seu próprio prazer, e ‘ver’, onde outros absorvem a mensagem projetada por esta veste-enunciado”. Experimentar o próprio corpo e “assistir” ao outro, “revelam a instituição de um espaço inter-corporal criado pela obra”, cujo desdobramento vivencial produz a transformação do “indivíduo no mundo, diferenciado e ao mesmo tempo coletivo” em “participador como centro motor, núcleo (...) simbólico, dentro da estrutura-obra”. Identificando o Parangolé como interface deflagradora desse processo de “iniciação às estruturas perceptivo-criativas do mundo ambiental”, Oiticica estabelece a dimensão verbal como um dos elementos constitutivos desta interface, na medida em que “assistir” também compreende o gesto de ver-ler enquanto ação corporal. As diferentes frases incorporadas à estrutura das capas funcionam como sinalizadores, voltados para a interligação do corpo individual e do corpo coletivo, estabelecendo ora uma vocalização individual (“Estou possuído”, “Sexo, violência, é isso que me agrada”), ora coletiva (“Estamos famintos”, “Da adversidade vivemos”), com sonoridades que variam do comportamental ao político, na confluência destes pólos.
Outro aspecto importante na obra de Hélio Oiticica que indica uma interessante conexão das regiões do verbal e do visual relaciona-se com seu conceito de “transobjetos”, criado para identificar características próprias aos Bólides, que desenvolve a partir de 1963. Procurando explorar novas questões, que já conduzam sua obra para além das pesquisas neoconcretas, os Bólides marcam a adoção do procedimento de ‘apropriação’ do objeto comum, arrancado do cotidiano e reprocessado enquanto obra de arte. Ora, dentro dos textos programáticos do neoconcretismo, o gesto de apropriação é desqualificado, em sua impotência para tornar o objeto “transparente à percepção” e convertê-lo em um “não-objeto”: o objeto é “um ser híbrido, composto de nome e coisa, como duas camadas superpostas das quais uma apenas se rende ao homem – o nome. O não-objeto, pelo contrário, é uno, íntegro, franco. A relação que dispensa como o sujeito intermediário. Ele possui uma significação também, mas essa significação é imanente à sua própria forma, que é pura significação”. Em outro texto, a “técnica de ready-made” de Marcel Duchamp é apontada como limitada, por “fundar-se menos nas qualidades do objeto que na sua significação, nas suas relações de uso e hábito cotidianos. Em breve aquela obscuridade característica da coisa volta a envolver a obra, reconquistando-a para o nível comum”. Parece ficar clara a necessidade experimentada por Oiticica de fundar outra referência conceitual para os Bólides, uma vez que a cartilha neoconcreta indicava um impasse teórico quanto à adoção dos procedimentos de apropriação. Oiticica especula acerca da “contradição dos termos ‘estrutura da obra’ e ‘estrutura do objeto’”, que localiza no trabalho dos norte-americanos Jasper Johns e Robert Rauschenberg, identificando-a a partir do procedimento de “incorporação a posteriori (...) da ‘coisa’ como ‘elemento da obra’”, resultando em uma “pseudo-

identificação do [objeto] com sua estrutura”. É na operação de “identificação a priori de uma idéia com a forma objetiva que foi ‘achada’ depois que ocorre a “justaposição virtual dos elementos (...), a identificação da estrutura [do objeto] com a obra”; “participar de uma idéia universal sem perder sua estrutura anterior [é] a designação de ‘transobjeto’ adequada à experiência”.
Desta forma, Oiticica não se recusa a explorar o espaço disjuntivo, aberto por Duchamp, entre o objeto e sua designação, ao mesmo tempo em que também não recua frente à exploração de sentido fenomenológico amplo da experiência sensível,indicando um novo trajeto de pesquisa: uma apropriação qualquer não se contrapõe à instauração de um campo vivencial, à “fundação do objeto”. Espécie de ‘anti-estética sensorial’, seus experimentos subseqüentes irão compartilhar com Lygia Clark diversas questões, envolvendo a presença do corpo como ponto central – um corpo que se deixa re-significar e renomear, indicando uma estreita correlação com o transobjeto. Antonio Cicero observa que “quando alguém veste um Parangolé, compõe com ele um novo transobjeto”, indicando um novo modo de fruição que “não pertence a qualquer das artes tradicionais”, mas que também “[não] se relaciona com a expectativa [antiartística] do fim da arte ou do fim da obra de arte”: ainda que seja somente colocado em funcionamento por quem veste, “o Parangolé não deixa de ser obra, (...) recusa-se a abandonar o âmbito da arte e se afirma irredutivelmente como obra”.
É enquanto possibilidade de um duplo funcionamento, em que as articulações do verbal e do visual escapam para fora do campo da arte – transformando-o sem, entretanto, aniquilá-lo – que parece ser importante considerar as particularidades conceituais do transobjeto. Em todo o seu percurso artístico, Oiticica jamais abriu mão da presença da palavra dentro da obra, sabendo, como poucos artistas, extrair conseqüências decisivas dessas relações. Impregnadas de uma radicalidade ao mesmo tempo poética e conceitual, suas proposições constituem-se em importantes referenciais a iluminar a prática da arte enquanto intervenção e produção de pensamento.
A consideração do campo da arte como um território híbrido implica, portanto, em considerar a produção artística sob o duplo signo dos campos visual e verbal, enfatizando o entrelaçamento dos dois campos – a ser discutido neste próximo capítulo. Deste modo, um texto que proponha construir-se junto a uma obra de arte irá igualmente construir uma presença no espaço, desempenhando, efetivamente, um papel de obscurecimento ou ‘iluminação’ desta obra – no sentido de revitalizar-se ou de compartilhar com ela de um mesmo impulso de criação ou invenção. Se uma migração das palavras para a imagem revela, por um lado, traços deste hibridismo constitutivo do campo da arte, por outro indica uma certa posição de transparência da questão dentro do momento contemporâneo.
A presença de um campo visual-verbal impõe-se como parte mesmo da prática do artista, consciente de que sua intervenção não se dará num terreno de pura visibilidade apenas: será preciso instrumentalizar-se ‘conceitualmente’- articular alguma configuração verbivisual – para determinar maior contundência ao seu gesto, enquanto singularidade e diferença. É nessa confluência que o trabalho de Marcel Duchamp reverbera poderosamente na contemporaneidade, assumindo um papel referencial decisivo para as pesquisas as arte pós-guerra. A questão de plasmar um trabalho visual em estreita articulação com um campo enunciativo – compreendendo a necessidade de autonomia e heterogenidade de cada um, em sua irredutibilidade – irradia-se por algumas das principais pesquisas da arte no ‘campo ampliado’, tornando-se condição mesma de possibilidade de produção de uma ação plástica potente de reconfiguração do campo, de transformação. Isto nos conduz diretamente

para a questão da arte enquanto dimensão singular da experiência, mergulho em um processo específico coordenado por traços de uma construção que se realiza no encontro das dimensões de enunciação e visibilidade: é preciso, portanto, fazer do fluxo entre imagens e textos em local de intensidade, arrancando dali um movimento produtivo de transformação e invenção.