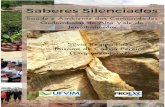Saberes 1
-
Upload
unika-desenvolvimento -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
description
Transcript of Saberes 1

1
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
livro formatado.indd 1 26/11/2009 14:59:10

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
2
livro formatado.indd 2 26/11/2009 14:59:10

3
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
livro formatado.indd 3 26/11/2009 14:59:11

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
4
livro formatado.indd 4 26/11/2009 14:59:11

5
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
S I S T E M A D E E N S I N OA C I U
RE
VI S
TA SABERES
A C A D Ê M I C O S
Pareceristas:Prof.ª Dr.ª Andréa Queiroz Fabri (UNIUBE - [email protected])
Prof. MSc. Cássio Silveira da Silva (FCETM / UNIUBE – [email protected])
Prof.ª MSc. Edileuza Pereira Silva (FCETM - [email protected])
Prof. MSc. Fernando Rodrigues Carvalho (FCETM - [email protected])
Prof. Esp. João Henrique Rodrigues Almeida (FCETM)
Prof. MSc. Nelson do Nascimento Filho(CESUBE / CEFET - [email protected]; [email protected])
Prof.ª MSc. Rosana Castejon(UNIUBE – [email protected])
Revisão:Prof. Esp. Mariângela Castejon(FCETM – [email protected])
Prof. MSc Rodrigo Henrique Batista(UFU - [email protected])
Projeto gráfico:Távola Comunicaçãowww.tavolacmc.com.br
Novembro / 2009ACIU / FCETM / CESUBE – 26 DE NOVEMBRO DE 2009 - Todos os direitos reservados
Representando as diversas áreas do
conhecimento, as peças de quebra-
cabeças juntam-se formando o as duas
partes do cérebro.
livro formatado.indd 5 26/11/2009 14:59:11

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
6
Revista Saberes Acadêmico. -- v.1, n.1, jul./dez. 2009 - Uberaba, MG: Távola, 2009 -
Semestral Publicação do Sistema ACIU
1. Educação. 2. Socioambiental. 3. Planejamento estratégico. 4. Mercado. 5. Consumidor - Comportamento. 6. Práticas curriculares. 7. Educação e Cidadania. I. Título.
CDD 370
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
livro formatado.indd 6 26/11/2009 14:59:11

7
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
DIRETORIA EXECUTIVAPresidente: Karim Abud Mauad
Vice Presidente: Samir Cecílio Filho1º Diretor Tesoureiro: Manoel Rodrigues Neto
2º Diretor Tesoureiro: Nardival Sebastião da Silva1ª Diretor Secretário: Victor Aragão Netto
2º Diretor Secretário: Mauro Cezar BarbosaDiretor Executivo: Arnaldo Prata Filho
Diretor Executivo: Luiz Artur Paiva Correa
DIRETORIA TITULAR
Agnaldo José SilvaAlceu Chrusciak
Altamir Araújo Roso FilhoÂngela Maria Pena R. Oliveira
Antônio José BessaArão Rodrigues SousaCarlos Alberto Saraiva
Célio Pio de Faria FreitasCésar Augusto de Morais
Cristiano VilaçaFernando Cecílio
Helbert F. Higino de Cuba
José Carlos de MelloJosé Maria M. C. Junior
José Saad DuailibiKenedy Carvalho
Lenira Boscolo V. RicetoLeonice Maria P. CapucciMárcio Elísio de OliveiraMarcos Juliano Bordon
Nádia Alves de CarvalhoNilton Luiz Camilo
Paulo Fernando MattarRodrigo Felipe Lisboa
Weber Pimenta de Melo
CONSELHO FISCALAnderson de Melo Cadima • Florêncio Guimarães Borges
Pedro Umberto Carneiro • Rodrigo Prata LaterzaJosé Ferreira Peixoto
CONSELHO CONSULTIVOAdilson Pereira de Almeida • Carlos Eduardo R. C. Colombo
César Sebastião Martins • Flamarion Batista LeiteHugo Rodrigues da Cunha • José Curi Peres
José Victor Aragão • Marcos Felipe AbudMilton Duarte Vilela • Sérgio Bóscolo • Wilson Pinheiro
EXPEDIENTEAssociação Comercial, Industrial,
e de Serviços de Uberaba Av. Leopoldino de Oliveira, 3433 • Cep:38010-000
Uberaba/MG • Fone: (34) 3331.5500Presidente: Karim Abud Mauad
Executiva: Ana Paula Cunha de Oliveira Editora e Jornalista responsável: Carmen Amancio - MTB 10.941
S I S T E M A D E E N S I N OA C I U
RE
VI S
TA SABERES
A C A D Ê M I C O S
livro formatado.indd 7 26/11/2009 14:59:11

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
8
livro formatado.indd 8 26/11/2009 14:59:11

9
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
apresentação”Eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a miséria da existência humana.”
Bertold Brecht
O acesso aos bens culturais não deve ser privilégio de uns poucos, mas um direito ao alcance de toda a co-munidade, como preceitua a própria Constituição Federal. Rumo às mudanças, nada é mais fundamental do que criar mecanismos capazes de assegurar a difusão, conservação e inovação dos bens culturais de modo a compa-tibilizar o progresso tecnológico com a prática do humanismo e da liberdade.
A interiorização da atividade cultural tornou-se imprescindível em qualquer programa que vise alcançar uma solução abrangente de todo esse aparato de integração e desenvolvimento.
É de justiça lembrar que o projeto da Revista Acadêmica representa forte estímulo ao intercâmbio de idéias e ao exercício da representatividade intelectual. Por isso, ela é um exemplo dessa nova realidade.
Nesse contexto, o lançamento da Revista Saberes Acadêmicos, do Sistema ACIU de Ensino, assinala um avanço notável no campo de informação e do conhecimento. Comprova a vitalidade de uma instituição preocu-pada com os compromissos assumidos perante a sociedade organizada, haja vista que não falta à sua diretoria a consciência crítica desse compromisso, no qual a editoração é uma ferramenta a mais nesse processo instigante de comunicação e abertura.
O periódico Revista Acadêmica possui um caráter transdisciplinar, incluindo colaborações, como artigos científicos e ensaios, produzidos por pesquisadores, professores e/ou alunos, e sua publicação será semestral. Este objetiva divulgar trabalhos científicos originais com vistas à socialização do conhecimento construído.
Além de ampliar o debate sobre os desafios e tendências da modernidade, apoia-se na tese de que para se construir um processo verdadeiramente estratégico, é necessário assumir novos contornos, o que significa incorporar a prática da pesquisa, refinar os conceitos, articular as diversas instâncias e modalidades do saber e comprometer-se com essa nova postura, sintonizada efetivamente com a afirmação da cidadania.
A presente edição destaca temas interessantes, uma vez que aborda a incorporação das práticas mo-dernas de governança corporativa, a valorização da responsabilidade socioambiental, a aceleração do tempo e a ampliação do espaço provocadas pelas novas tecnologias, assim como a emergência de questões planetárias, como a sustentabilidade e o inevitável embate entre a perspectiva global e as culturas locais, exigindo um novo perfil para a comunicação e para seus gestores, sendo, portanto, fundamental construir outra(s) proposta(s), alicerçada(s), certamente, em novos pressupostos.
Nesse sentido, as contribuições reunidas neste volume são, também, uma tentativa de estabelecer uma relação politicamente significativa para todos os que dela participaram, fazendo nascer a possibilidade de uma plataforma comum em que se possam construir novos percursos.
Mariângela Castejon
livro formatado.indd 9 26/11/2009 14:59:11

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
10
livro formatado.indd 10 26/11/2009 14:59:11

11
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
índiceREPENSANDO A SOBREVIVÊNCIA DO PLANETA:
A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA SOCIOAMBIENTAL
O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR MADURO:UM ESTUDO NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA E UBERABA
O MERCADO DE CRÉDITO DE CARBONO: ORIGEM E EVOLUÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPRESÁRIOPOR DANO CAUSADO POR PRODUTO
O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOE SUAS INTERCONEXÕES
EDUCAÇÃO PARA OEXERCÍCIO DA CIDADANIA
LEI 10.639 EPRÁTICAS CURRICULARES
13193543
6573
53
livro formatado.indd 11 26/11/2009 14:59:11

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
12
livro formatado.indd 12 26/11/2009 14:59:11

13
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
* Alunas do 8º período do Curso de Ciências Sociais – Bacharelado – 2009 do Centro de Ensino Superior de Uberaba – CESUBE.** Orientador: Diretor do CESUBE, Coordenador do curso de Ciências Biológicas, professor do curso de Pedagogia e professor de Tópicos Especiais III e VI: Meio Ambiente, Desenvolvimento e Cidadania do Curso de Ciências Sociais, Especialista em Ciências Biológicas e Pedagogia, Mestrando em Educação.email: [email protected]; [email protected]: 9978-0903 – 3313-1934
Abigail Rita Cordeiro Rocha.* Catarina Rosa Reis*
Lídia de Oliveira Araújo Rezende* Lúcia Aparecida da Silva*
Marisa Helena Ávila Bizinoto.*Patrícia de Oliveira Prata Mendes*
Rejane Siqueira Silva Marques.* Sandra Maria Rocha Adão.*
Simone Berenice Oliveira.*Teresinha Madel O. Vilela.*
Orientador: Neivaldo Miranda Carneiro**
O objetivo deste artigo é contribuir para reflexões referentes à problemática ambiental contempo-rânea. No contexto da crise ambiental, acarretada pelo modo de produção capitalista, faz-se necessário ampliar as discussões sobre o assunto. Por meio de uma pesquisa bibliográfica pode-se abordá-la numa conjuntura que envolve as dimensões histórica, social, filosófica, política e econômica. As transformações ocorridas nas sociedades capitalistas a partir do século XVII estão intimamente ligadas à maneira como a humanidade se relaciona com o meio ambiente. Já, o contexto histórico permite apontar as possíveis bases do modo de vida vigente que, desde a aceleração do processo de industrialização, transformou todas as coisas em mercadorias e criou novas necessidades de consumo aprimorando os meios de comunicação e, consequentemente, o predomínio das imagens na cultura de massa reordenando as relações sociais. Reflete-se ainda, sobre a recuperação ou construção de uma nova ética socioambiental a fim de recolocar o ser humano como membro integrante da natureza e não algo externo a ela. Não ficam dúvidas de que se não for modificado o modelo de desenvolvimento econômico e se não houver aproximação entre ecologia e economia, a espécie humana corre riscos de sobrevivência em médio prazo. Essa convergência demanda mudanças no comportamento e na mentalidade de todos.
This article as the objective to contribute to reflection concerned to the problem of the contemporary environment. The environment crisis context into the capitalist production make necessary extends debate about the subject. A research bibliography may approach in a way that involve historical, social, politic and economic. The changes a curried in the capitalist society since XVII century are connected with the relationship between mankind and environment. Already, the historical context allows to point possible basis on the actual way of life, since the acceleration of the progress of industrialization that changed all things in goods and came with new necessities of consumption, making easier communication system and consecutively the predomination of a strong cultural icons reordering the social relation. Also make reflection about the recovering or construction of a new social and ethical environment trying to include mankind as an integrant
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Crise ambiental; ética socioambiental; crescimento econômico.
ABSTRACT
REPENSANDO A SOBREVIVÊNCIA DO PLANETA:A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA SOCIOAMBIENTAL
livro formatado.indd 13 26/11/2009 14:59:12

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
14
part of nature and not something external of it. No doubt, if not modified the model of economical development and continue the distance between ecology and economy the humanity will face survival problems in a near future. This convergence demand compartmental and mental changes on everyone.
Este ensaio procura construir sua argumentação pautada em dizeres outros, de pesquisadores renoma-dos e, também, de reflexões do grupo construídas ao longo do curso, sobre assunto tão antigo e tão con-temporâneo – o meio ambiente. Destaca-se o sistema capitalista como o principal responsável pelos riscos de sobrevivência a que o planeta está sujeito e, ainda, ressalta a necessidade de uma recuperação ética da sociedade em prol de um novo modelo societário, fazendo um contraponto com a atual ética, baseada em valores consumistas. Claro está que uma mudança comportamental e mental de todos torna-se emergente com vistas à preservação dos recursos naturais, indispensáveis à sobrevivência humana no planeta.
A partir do século XVII iniciou-se o processo de transformação da prática mercantilista. Esta, ligada ao acelerado processo de industrialização, proporcionou não só uma mudança nas relações humanas como também danos crescentes e devastadores contra o planeta em que vivemos. Por mais de três séculos a Terra vem sofrendo severos ataques ambientais cujo maior vilão e vítima é próprio homem.
Oliveira (2008), em seu livro “A Ética de Gaia”, cita que milhões de toneladas de CO2 são despejadas diariamente na atmosfera. 11 mil espécies estão na lista de extinção, 800 já foram extintas e 27% dos corais marinhos já foram destruídos. Convivemos com o aumento do chamado deserto verde (eucalipto, pinus, cana). Apenas 2% da superfície da Terra são ocupadas por florestas tropicais nas quais são encontradas, em média por hectare, 150 espécies de flores, 400 de pássaros, 150 borboletas, 125 mamíferos, 100 répteis e apenas 1% foi estudada.
Assim, se continuássemos nesse ritmo de devastação até 2050 seriam precisos dois planetas para sustentar o consumo humano. Além de ser exarcebado o consumo, a maneira como ele se dá tam-bém é excludente, já que apenas15% da população consomem 56% dos produtos e 40% da popula-ção consomem 11%.
Essa forma de vida adotada pelas populações ocidentais contemporâneas, baseada no consumo cada vez maior de produtos e mercadorias, tem se mostrado destrutiva para o planeta e afetado as relações so-ciais humanas, já que passamos a pautar nosso convívio no ter e não mais no ser.
Com a aceleração dos ritmos do cotidiano pelos avanços tecnológicos, a percepção e a sensibilidade das pessoas foram alteradas, há um apelo para o imediatismo e para a supervalorização do olhar acentuado pela difusão das técnicas publicitárias. Essa situação se propagou por várias partes do planeta mudando radicalmente a condição de vida das pessoas e alterando significativamente o padrão de comportamento devido a mudanças no quadro de valores da sociedade.
O predomínio das imagens na cultura de massa reordena as relações sociais e impõe novas maneiras de pensar, sentir, desejar, consumir e se comportar intermediadas pelos meios de comunicação. Para o filósofo francês Guy Debord (1997), toda superfície terrestre foi afetada pela destruição e poluição ambiental. Para Debord (1997), a sociedade estaria contaminada pelas imagens e essas seriam sombras do que realmente existe, o espetáculo seria o sequestro da vida, do sonho e a união do mundo em realidade e imagem. As
KEYWORDS: Environment crisis, ethical and social environment, economic growth.
livro formatado.indd 14 26/11/2009 14:59:12

15
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
fantasias e experiências humanas seriam condicionadas às necessidades causadas pelo espetáculo e pelas imagens, inibindo, dessa maneira toda a liberdade individual para a criação de diferentes formas de vida, além de mediar as relações sociais entre as pessoas.
A voracidade industrialista, que afetou tão significativamente o planeta e a vida dos seres humanos, está a ponto de causar um desastre com milhões de vítimas em todo o mundo. Se a humanidade não apro-veitar a “crise ecológica” para buscar soluções em conjunto para os problemas ambientais, minimizando os protecionismos fronteiriços e pensando no planeta como um todo, como uma entidade viva, os efeitos possivelmente serão catastróficos.
Segundo Boff (2009), é necessária uma perspectiva mais ampla que anteveja o “novo paradigma de civilização”, que seja capaz de responder ao clamor ecológico, postulando uma superação da atual configu-ração política, assentada sobre os Estados nacionais. “Uma humanidade unificada na única Casa Comum, a Terra, exige um centro de organização dos recursos e serviços naturais, responsável por toda população do planeta. Faz-se mister uma governabilidade planetária”. (BOFF, 2009, p.43),
Algumas ações serão necessárias para que se evite esta catástrofe planetária, dentre elas, Sens (2009) propõe que haja uma redução na jornada de trabalho, para que as pessoas produzam e consumam menos, além de terem mais tempo para educar seus filhos, vivenciarem experiências criativas, enfim possuir maior qualidade de vida.
Sens (2008) propõe também que se produza e se consuma localmente evitando, assim, gastos e agres-sões causadas pelo processo de transporte e de distribuição alimentar que geram verdadeiros abusos de deslocamento de mercadorias. Deve-se reconsiderar, segundo o autor, o atual sistema econômico e, sobre-tudo, ocorrer uma profunda renovação do sistema educativo.
Nesse cenário, não podemos nos abster de citar a importância dos “R’s”, no processo de tentativa de resgate da autonomia planetária, que são: reavaliar, reestruturar, redistribuir, reduzir, reutilizar e reciclar. A “simplicidade voluntária”, ou seja, um modo de vida mais simples deve imperar em todas as áreas do plane-ta, primeiramente revisando o modo de vida e de consumo.
A atual “derrubada” de fronteiras sejam econômicas, culturais ou ambientais, anuncia a chegada de um novo período de importância para a civilização, um período com um futuro incerto. A expansão do mercado em nível mundial deve ser interpretada como elemento principal de igualdade e tornar comum a experiên-cia humana. O homem torna-se consciente de sua universalização que ao se compreender como um ser de contrastes, esse processo leva-o a perceber seus terríveis limites.
O ambientalismo, presente tanto nos discursos governamentais quanto nos não-governamentais, tem um potencial inovador e uma capacidade de integrar as dimensões da realidade, propiciando reflexões entre a economia, a ecologia, a ética e a política, a cultura, a ciência, a religião, as artes e a filosofia com uma característica global de interesses sociais.
A crise ambiental contemporânea tem provocado o debate sobre os princípios éticos, uma vez que é necessário repensar a dimensão da responsabilidade para com tudo o que existe e vive, levando a uma trégua na produção e no consumo exarcebados garantindo a sobrevivência do meio ambiente e a própria preservação e sobrevivência da humanidade. A qualidade de vida do planeta vem se degradando, a ponto de serem propostas medidas que protejam a natureza, tentando descobrir formas de repor os recursos na-turais, fontes de energia para nossa sobrevivência.
livro formatado.indd 15 26/11/2009 14:59:12

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
16
Em se tratando de ambientalismo, a questão é escutar o passado e falar com o futuro, para realizar uma prática integrada e solidária, tendo consciência de que a crise ambiental é global e, portanto, sua solução também deveria sê-la.
Pensar a questão ecológica não é modismo, mas sim de luta pela sobrevivência da humanidade. Tornou-se evidente que a maioria dos problemas atuais enfrentados pela mesma, destaca-se: crescimento popula-cional, poluição ambiental, fome entre outros, tem a ver com a ecologia. A intervenção do sujeito no meio ambiente não raro traz consequências desastrosas ao equilíbrio ecológico, uma vez que provoca o desequi-líbrio ambiental e a mudança climática, dentre outros aspectos. Percebe-se que o homem está destruindo o seu meio de sobreviver, é compreensível tirar da natureza o essencial, mas é necessário saber administrá-la de modo a haver um equilíbrio entre as necessidades humanas e o que a natureza pode oferecer.
Para Leis (1998), o ser humano precisa se conscientizar de que não é o senhor da natureza, mas sim par-te integrante dela e precisa aprender a viver harmoniosamente com o planeta para ter no futuro garantias de sobrevivência.
Ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992 a UNCED (Conferência Oficial das Nações Unidas) considerada por Leis (1998) como a “Conferência da Terra”. Esta buscou um entendimento entre os principais governantes para tratar dos problemas ambientais que afligem o mundo e cogitar possíveis soluções para o mesmo.
Da perspectiva aqui apresentada, o ponto mais alto dos acontecimentos de junho de 1992 foi a emergência e legitimação do papel da sociedade civil planetária frente à cri-se socioambiental global, em um mundo governado pelos atores e regras do mercado e da política. O “espírito do Rio” permitiu o despertar de consensos transnacionais para problemas transnacionais, concretizados sob a forma de 36 tratados ou “compromis-sos de ação da sociedade civil planetária” que expressam a alta capacidade do ambi-entalismo para construir consensos a partir de práticas eminentemente comunicativas. (LEIS, 1998, p. 36)
Nesta pesquisa pôde-se perceber que o estilo de vida contemporâneo está intimamente relacionado às transformações ocorridas no ocidente a partir do século XVII. Tais mudanças ainda perpassam o campo das ideias e dos instrumentos práticos, em especial, os da produção ilimitada de bens de consumo.
A cultura do consumo exagerado e a criação de novas necessidades, alimentadas pelo modo de produção capitalista que visa o lucro em primeiro plano, determinam consideravelmente a degradação do meio ambiente. No entanto, o entusiasmo pelo aperfeiçoamento constante e veloz das tecnologias durante os últimos anos encobre a real situação da humanidade e do planeta Terra. Situação esta de degradação humana, ambiental e social, ou melhor, de um estado de crise.
Momentos de crise muitas vezes são necessários para se constituir novas alternativas de sobrevi-vência, mas em meio a tantas inovações científicas, sejam elas instrumentais ou teóricas, é surpreendente
CONSIDERAÇÕES FINAIS
livro formatado.indd 16 26/11/2009 14:59:12

17
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
perceber que o próprio sistema articula dificuldades para que nada ou pouco seja feito a favor da solução da contemporaneidade.
A crise ecológica tem suas razões históricas que, consequentemente, ditaram um novo ritmo de vida pautado em novas relações de produção, trabalho e consumo alicerçados em ideologias correspon-dentes impostas pelos instrumentos midiáticos, como também na arbitrária e consciente má distribuição das riquezas.
A má administração dos recursos naturais finitos com o intuito de alimentar um modo de vida pau-tado no consumo infinito de tais recursos, alimenta a crise ecológica que se fortalece na banalização coti-diana dos problemas sociais sobrepujando a valorização do ser humano enquanto membro integrante da própria natureza.
Ao mesmo tempo em que o ambientalismo integra-se às demais dimensões é a dimensão econô-mica sua principal possibilidade de sustentabilidade, pois a crise é engendrada pelo modo de produção capitalista, sendo que a modificação na maneira com que se utilizam os recursos naturais poderá modificar o modo que se pensa a vida.
O conjunto de idéias que embasam a vida prática do ser humano atua como o pilar de toda a agres-são à natureza da vida. A partir do desenvolvimento das técnicas publicitárias pode-se perceber o surgimen-to de um apelo para o imediatismo e o espetáculo, em que a imagem se apresenta como elemento ativo de todo esse estilo de viver reordenando as relações sociais, determinando o comportamento humano e um modo de ser apático, despótico e alienante.
Se é no campo das ideologias que atuam os alicerces do sistema da exploração violenta dos recur-sos naturais, a relação entre humanidade e natureza exige, pois, uma nova ética ou sua própria recuperação. Acredita-se que uma nova ética socioambiental buscará o equilíbrio entre os mundos – espiritual e material – e que a interação entre os diversos “mundos sociais” será capaz de levar a civilização um a período áureo. Mudar está, também, em nossas mãos, não se pode aceitar a destruição do futuro imposta pelo capitalismo, uma vez que outra Terra e humanidade são possíveis.
BOFF, Leonardo. Agenda Latino Americana 2009. São Paulo: Gráfica Ave-Maria, 2008.
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
LEIS, Héctor Ricardo. Ambientalismo: um projeto realista-utópico para a política mundial. (p. 15-43) in Meio Ambiente, Desenvolvimento e Cidadania: desafios para as Ciências. São Paulo: Cortez 1998.
OLIVEIRA, Jelson. A Ética de Gaia: ensaios de ética socioambiental. São Paulo: Paulus, 2008.
ROSSI, Clovis. G8 antecipa debate para tratado do clima. Jornal folha de São Paulo, Ciência. São Paulo. p. A14, 07 jul 2009.
SENS, Joan Surroca. Agenda Latino Americana 2009. São Paulo: Gráfica Ave-Maria, 2008.
REFERÊNCIAS
livro formatado.indd 17 26/11/2009 14:59:12

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
18
livro formatado.indd 18 26/11/2009 14:59:12

19
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
1 professora da FCETM, doutoranda em Engenharia de Produção (UFSCar). E-mail: [email protected]
Daniela de Castro Melo 1
O mundo passa hoje pela maior revolução demográfica de sua história. Em um grande número de países, a proporção de consumidores mais idosos cresce a um ritmo jamais visto. O envelhecimento é fruto do aumento da expectativa de vida e da queda na taxa de natalidade: esta combinação está produzindo um planeta grisalho. Aprender a lidar com este fato é um dos grandes desafios das próximas décadas, pois o mercado maduro vem atraindo a atenção de pesquisadores e de homens de negócios em todo o mun-do devido a crescente importância assumida como grupo consumidor. Assim, este trabalho apresenta os primeiros resultados de uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor maduro não residente em grandes centros urbanos. O objetivo principal do estudo é determinar o perfil desse consumidor, a partir de variáveis demográficas, de estilo de vida e de comportamento de compra. Realizou-se um levantamento com pessoas com mais de 49 anos, residentes nas cidades de Uberlândia e Uberaba - MG. Com uma abor-dagem quantitativa, utiliza técnicas estatísticas descritivas para determinar o perfil e analisar os dados le-vantados junto a uma amostra desses consumidores. Os resultados desta pesquisa revelam um mercado heterogêneo, com grande potencial de consumo, que atingiram a idade cronológica, mas se sentem e pen-sam como mais jovens. Investigando as formas pelas quais as pessoas gastam seu tempo e dinheiro e, em particular, o que valorizam na vida, as coisas que lhes interessam e suas opiniões sobre aspectos do dia-a-dia, é possível avaliar comportamentos que possam ser úteis para estratégias de marketing. Essa mudança no ambiente de marketing, devido à queda das taxas de fecundidade, natalidade e mortalidade; deve ser compreendida de uma maneira abrangente: é necessário estudar também as consequentes mudanças nos hábitos e o comportamento de consumo do chamado mercado maduro.
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: estilo de vida, comportamento de compra, mercado maduro, mercado heterogêneo.
The world has been ageing fast. In the major of the countries, mature consumers grow faster than ever before. There are two reasons to explain this: first is the increase of life expectance and on the other hand, the decrease of born ratio. The combination of these two facts has produced a gray planet. Learning how to deal with this will be a challenge in the next decades, once the mature market is attracting the attention of both academic researchers and businessmen all around the world due to their importance as a consumer group. This study presents one of the first results of a research regarding mature market behavior non resident in large urban centers. The purpose of this paper is to determine the profile of this consumer based upon lifestyles, purchase behavior and demographics characteristics. A survey was done with people aged 49 plus living in the Uberlândia and Uberaba, cities from Minas Gerais State. Within a quantitative approach, statistical descriptive analysis was done to determine the profile and to analyze the data collected. Results indicated a heterogeneity market, with a huge consumer potential, that reached the chronological age, however it feels and thinks like young. Investigating the ways which people expend their time and money and, particularly, what values in the life, the things that have interest and the opinions regarding day-to-day aspects, it’s possible to evaluate behaviors that can be useful to marketing strategies. The change in the marketing environment because the decrease of both born ratio and mortality ratio should be understood
ABSTRACT
O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR MADURO:UM ESTUDO NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA E UBERABA
livro formatado.indd 19 26/11/2009 14:59:12

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
20
in an ample way: it’s necessary to study the consequences of the change in the consume habits and behavior of mature market.
Até 1980, as empresas norte-americanas focaram seus esforços de marketing nos consumidores com menos de 50 anos, pois os EUA tinham uma população predominantemente jovem. Os consumi-dores mais velhos eram praticamente ignorados pela maioria dos negócios, vistos como um segmento insignificante, com poucos recursos econômicos.
Essa imagem começou a mudar a partir da década de 80. As empresas e suas agências de propa-ganda lançaram-se à tarefa de responder a essa oportunidade, confiando em informações pouco pre-cisas ou pautando-se por induções arriscadas – Moschis (2003) chama esse período de marketing de tentativa-e-erro.
O autor ainda afirma que a partir da década de 90, a importância do chamado mercado maduro é reconhecida nos Estados Unidos e muitas empresas passaram a desenvolver programas de marketing direcionados aos consumidores idosos. Informações e conhecimento sobre esse segmento passaram a ser produzidas e disponibilizadas.
Apesar de viver um contexto sócio-econômico-cultural diferente, a população brasileira está se-guindo o mesmo caminho. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) aponta um total de 33 milhões de brasileiros acima de 49 anos (18% da população total) e a projeção sinaliza que em 2050, haverá quase 100 milhões (IBGE, 2005). Isto quer dizer que os indivíduos com 50 anos ou mais consti-tuem, hoje, quase duas em cada dez pessoas no Brasil, proporção que deve subir para quatro em cada dez pessoas até a metade do século.
O comportamento das pessoas não se correlaciona somente com a idade, é um reflexo das suas necessidades e estilos de vida, sofrendo influência dos eventos e circunstâncias a que são expostos (MOSCHIS, 2003; SORCE, TYLER e LOOMIS, 1989).
Sendo assim, o objetivo deste artigo é identificar o perfil do consumidor maduro que reside fora de um grande centro urbano, com base em suas características demográficas, fatores que influenciam o seu estilo de vida e comportamento de compra. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva, na forma de levantamento, com consumidores acima de 49 anos, residentes nas cidades de Uberlândia e Uberaba, das classes sociais A, B e C.
Optou-se por elementos de pesquisa com uma ampla abrangência etária – pessoas com mais de 49 anos – pois na literatura, foram encontrados estudos sobre esses indivíduos a partir dessa idade, o que permite comparações entre eles.
Depois da Grande BH – a capital Belo Horizonte mais 33 municípios – a região do Triângulo Mineiro é a maior geradora de recursos no estado, destacando-se Uberlândia e Uberaba. A primeira, com 600 mil habitantes, é o segundo mercado potencial consumidor do estado e sua economia se baseia nas
1. INTRODUÇÃO
KEYWORDS: Lifestyle, Purchase behavior, Mature market, Heterogeneity market
livro formatado.indd 20 26/11/2009 14:59:12

21
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
O envelhecimento envolve mudanças fisiológicas e psicológicas graduais (MOTTA e SCHEWE, 1995). Assim, o mercado maduro se diferencia física, social e psicologicamente daqueles de outra faixa etária. Para Moschis (2003), há um declínio na condição física, principalmente no que se refere à visão e ao coração. Aumenta o grau de doenças à medida que as pessoas ficam mais velhas. Os consumidores as-sumem novas funções associadas à idade madura como, por exemplo, aposentado e avô. As mudanças psicológicas, entre outras, estão relacionadas aos pensamentos de ser uma pessoa ‘velha’.
Observa-se, também, uma mudança em relação à memória e à cognição (YOON et al., 2005) à pro-porção que a capacidade do sistema nervoso e a de processar informações falham e provocam mudan-ças com maior impacto nas funções de memória e de percepção (MOTTA e SCHEWE, 1995). Além disso, há mudança quanto à composição da família (SORCE; TYLER e LOOMIS, 1989).
Pelo acúmulo de experiência com a própria vida, os consumidores mais velhos trazem ao mercado manifestações distintas que os levam a constituir um grupo diferenciado e especial de consumidores (MOTTA e SCHEWE, 1995).
As pessoas se diferenciam conforme as circunstâncias vividas. À medida que envelhecem, mu-dam suas perspectivas de vida, reavaliando seus objetivos, desejos e funções tanto como indivíduos, quanto como consumidores (MOSCHIS, 2003). Este autor ressalta que “pessoas mais velhas são mais heterogêneas que grupos de consumidores jovens porque as pessoas se tornam muito diferentes das outras com a idade” (MOSCHIS, 2003, p. 519).
Shufeldt, Oates e Vaught (1998, p. 120) sugerem que “o estilo de vida influencia o comportamento de compra da população mais velha”. Além disso, os fatores que influenciam um grupo de consumidores mais velhos, classificados pelo estilo de vida, podem ser diferentes daqueles que influenciam outro grupo.
Diversos autores consideram importante avaliar ou medir os estilos de vida dos consumidores e os fatores associados a eles (BLACKWELL; MINIARD e ENGEL, 2005; BONE, 1991; CERTO, 1991; MOWEN e MINOR, 2003; SAMARA e MORSCH, 2005; SORCE; TYLER e LOOMIS, 1989). Por estilo de vida, entende-se o conjunto de atividades, interesses, atitudes e valores específicos ligados ao comportamento do con-sumidor (WELLS, 1974).
Para Moschis (2003) a expressão “estilo de vida” refere-se às formas pelas quais as pessoas gastam seu tempo e dinheiro e, em particular, o que valorizam na vida, as coisas que lhe interessam e suas opiniões sobre aspectos do dia-a-dia. Em outras palavras, os estilos de vida são coleções de padrões de pensamento e ações que as pessoas demonstram em vários graus.
2. REVISÃO DA LITERATURA
agroindústrias que formaram na região um importante centro industrial, destacando-se na cidade o setor de serviços. Com 285 mil habitantes, Uberaba é conhecida por sua atividade pecuária com o gado Zebu e pela produção de soja e cana no estado, além de 21 ramos diferentes de atividades industriais no município.
livro formatado.indd 21 26/11/2009 14:59:12

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
22
Segundo Sorce, Tyler e Loomis (1989), as necessidades das pessoas mudam à medida que passam por diferentes estágios na vida como, por exemplo, mudança na composição da família, aposentadoria, perda do(a) companheiro(a), doenças. O potencial de ajuste às mudanças vai depender do equilíbrio entre tempo, dinheiro e saúde.
O mercado maduro é de grande interesse para os estudiosos de marketing, uma vez que representa um percentual significativo da população total, com diferentes estilos de vida e, o mais importante, com poder de compra (MOSCHIS, 2003; SHUFELDT, OATES e VAUGHT, 1998; SORCE, TYLER e LOOMIS, 1989; WEIJTERS e GEUENS, 2003).
Amaro e Meira (2006); Moschis (2003); Sorce, Tyler e Loomis (1989); Zaltzman e Motta (1996) rea-lizaram estudos de segmentação do mercado maduro utilizando não apenas variáveis demográficas, mas também de estilo de vida e psicológicas, pois dentro das mesmas classes demográficas podem existir pessoas que apresentam padrões comportamentais diversificados e que são motivadas por ne-cessidades e desejos muito diferentes.
Diversos autores concordam que os consumidores que atingiram idade cronológica avançada sen-tem-se mais jovens do que são na realidade (AMARO e MEIRA, 2006; BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005; SOLOMON, 2002). O trabalho de Tepper (1994), contudo, sugere que à medida que a pessoa envelhece, mais propensa torna-se a agir conforme sua idade cronológica: consumidores entre 50 e 54 anos foram relutantes em utilizar cupons de desconto porque eram direcionados para idosos. Aqueles entre 55 e 64 anos apresentaram relutância moderada, enquanto o grupo acima de 65 anos não se sen-tiu afetado por ser considerado mais velho.
Consumidores idosos são ativos, com disposição para o consumo (SOLOMON, 2002), mas não apresen-tam a ansiedade dos consumidores mais jovens, são compradores mais sábios, instruídos sobre o bem ou ser-viço; valorizam as experiências, o atendimento cortês e pessoal e querem realizar suas compras com paciência e calma, uma vez que possuem mais tempo para fazê-las (AMARO e MEIRA, 2006; BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005; MOWEN e MINOR, 2003; SCHIFFMAN e KANUK, 2000; SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001).
Amaro e Meira (2006), Moschis (2003) e Sorce, Tyler e Loomis (1989) concluíram que os consumido-res mais velhos estão dispostos a pagar mais por produtos de qualidade comprovada, dando preferên-cia a marcas conhecidas. São menos conscientes em relação a preço e bons candidatos a gastar com produtos de luxo (MOSCHIS, 2003; MOWEN e MINOR, 2003), como viagens e outras atividades de lazer (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001). Gostam de novidades (SHIFFMAN e KANUK, 2000).
Quanto aos locais de compra, preferem realizar apenas uma parada (one-stop shopping): são fre-quentadores de shopping centers e preferem lojas tradicionais ou de departamento (AMARO e MEIRA, 2006; BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005; MOSCHIS, 2003; SCHIFFMAN e KANUK, 2000). Valorizam o conforto, segurança e conveniência (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005), procuram atendimento pessoal e serviços especiais como papel de presente ou serviço de manobrista (MOSCHIS, 2003), im-portam-se com serviços de entrega em domicílio e privilegiam pontos de venda com instalações para descanso, com bancos (MOWEN e MINOR, 2003), além de preferirem realizar suas compras durante o dia (MOSCHIS, 2003; MOWEN e MINOR, 2003).
livro formatado.indd 22 26/11/2009 14:59:12

23
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Esses consumidores processam informações mais lentamente do que os mais jovens (MOWEN e MI-NOR, 2003), mas reagem positivamente a anúncios com abundância de informações (SOLOMON, 2002). Conforme Moschis (2003), jogos e telemarketing não são significantes para eles, mas, por outro lado, acessam mídias de massa como, por exemplo, jornal e televisão, mais do que as outras faixas etárias (AMARO e MEIRA, 2006; BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005; MOWEN e MINOR, 2003). Segundo Sheth, Mittal e Newman (2001), os idosos não gostam de propagandas exageradas e, de acordo com Solomon (2002), são céticos quanto a promoções vagas ou relacionadas apenas à imagem.
Os consumidores mais velhos valorizam os elos que têm com os amigos e com a família, são altru-ístas e querem dar algo em troca para o mundo (SOLOMON, 2002). Consoante Bone (1991), o mercado maduro tende a consumir produtos que (1) enriquecem sua vida, (2) que permitem seu relacionamento com outras pessoas e, (3) que o ajudem a aproveitar o melhor da vida. Os benefícios tangíveis tornam-se menos importantes do que experiências, crescimento pessoal e ajuda aos outros.
Estudos recentes têm contribuído para conhecer melhor o perfil do idoso brasileiro nos grandes centros urbanos. O consumidor maduro é otimista e não se vê como velho: é o que revela o estudo de Bacha, Strehlau e Perez (2006), realizado em São Paulo, com idosos das classes A e B. Segundo esses autores, com percentuais superiores a 90%, idosos veem o termo terceira idade, como sinônimo de velhice ativa, tempo de sabedoria, época da maturidade, população grisalha, transformação corporal, cidadão sênior e idade do lazer.
Amaro e Meira (2006) estudaram o comportamento do consumidor idoso em outro centro urbano: Porto Alegre. Constataram que naquela cidade, os idosos cultivam uma vida ativa: 41% vão frequente-mente a shopping centers, 34% a restaurantes e 27% a parques e praças.
O estudo de Relva (2006) sobre os hábitos de compra e consumo de alimentos de idosos em São Paulo, Porto Alegre, Goiânia e Recife sugere que nessas cidades, o consumidor maduro prioriza uma alimentação equilibrada, mas a maioria não consome produtos light e diet.
Esta pesquisa é descritiva e caracteriza-se pelo método de levantamento. Para a coleta dos dados, foi elaborado um questionário estruturado, autopreenchível, que teve por base estudos de Amaro e Meira (2006); Moschis (2003); Sorce, Tyler e Loomis (1989); Zaltzman e Motta (1996).
As assertivas foram adaptadas à realidade brasileira e foram divididas em três sessões: característi-cas do estilo de vida, fatores que influenciam o comportamento de compra e características demográ-ficas; totalizando 90 variáveis.
O estilo de vida e o comportamento de compra dos consumidores maduros foram avaliados em uma escala de 1 (um) a 5 (cinco) que representaram os extremos “discordo totalmente” e “concordo totalmente”, respectivamente. Para esta análise inicial dos dados coletados foram utilizadas técnicas estatísticas descritivas e o teste qui-quadrado.
3. METODOLOGIA
livro formatado.indd 23 26/11/2009 14:59:12

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
24
A população da pesquisa foi definida como homens e mulheres, brasileiros, com 50 anos ou mais residentes nas cidades de Uberlândia e Uberaba, das classes A, B e C, dadas as limitações ope-racionais e financeiras, além de serem essas, tradicionalmente, as de maior interesse para estudos de marketing devido ao seu potencial de consumo.
A amostra foi de 530 indivíduos, selecionados por conveniência, mas preservando a estratifica-ção por faixa etária encontrada nas duas cidades. Os consumidores mais velhos foram abordados em academias, consultórios médicos, centros de cultura, clubes, associações, quadras de tênis, shopping centers, supermercados, feiras livres, praças no mês de agosto de 2007.
Do total de questionários aplicados, 130 questionários foram excluídos por diversas razões: ques-tões incompletas, idade inferior a 50 anos, cidade de residência que não era Uberaba ou Uberlândia, ou classe social diferente daquelas estabelecidas para o estudo.
A maioria dos respondentes com mais de 70 anos teve dificuldade em responder o questionário, fazendo-se necessário, para este grupo, a aplicação do questionário por um entrevistador. Esse fato já havia ocorrido no estudo de Amaro e Meira (2006), uma vez que as pessoas mais idosas apresentam dificuldade em responder questionários autopreenchíveis devido às suas condições físicas e cognitivas comprometidas.
A amostra deste estudo é composta por 400 pessoas com 50 anos ou mais, sendo 55% do sexo femi-nino e 45% do sexo masculino. Ressalte-se que a maior parte dos respondentes tem entre 50 e 69 anos (cerca de 80%).
Os consumidores maduros das cidades de Uberlândia e Uberaba sentem-se mais jovens do que são: em média, quase 13 anos mais jovens em relação à sua idade real. Enquanto a idade cronológica variou de 50 a 89 anos entre os participantes da amostra, a psicológica variou de 18 a 102 anos. Devido a estas varia-ções de idade, o desvio padrão tanto da idade cronológica, quanto da psicológica foram altos: 9,31 e 14,51 respectivamente. Estes resultados confirmam a literatura: em geral, os consumidores maduros sentem-se psicologicamente mais jovens do que são cronologicamente (AMARO, MEIRA, 2006; BLACKWELL, MINIARD, ENGEL, 2005; SOLOMON, 2002).
Cerca de 70% dos respondentes pertencem às classes sociais A e B – na amostra existe uma predomi-nância de consumidores maduros com boa situação econômica, o que vai refletir-se em diversas constata-ções, apresentadas ao longo do artigo. Quanto ao grau de instrução, 63% declararam ter o segundo grau completo ou nível mais alto de escolaridade. A maioria dos respondentes declarou-se ainda ativa economi-camente (59%); enquanto 40% são exclusivamente aposentados ou pensionistas e apenas 1% da amostra não exerce nenhuma atividade remunerada e alegou não receber aposentadoria nem pensão.
Os consumidores maduros ativos, trabalhadores e empresários, encontram-se na faixa entre 50 e 64 anos. A partir dos 65 anos, a maioria é aposentada e pensionista.
4. RESULTADOS DE PESQUISA
livro formatado.indd 24 26/11/2009 14:59:12

25
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
A maioria dos consumidores maduros controla os seus gastos (87%), consegue pagar o saldo de suas despesas mensais (71%) e sente que merece gastar dinheiro consigo (60%). Estes resultados são relevan-tes porque ao afirmarem que conseguem pagar suas despesas mensais e que merecem gastar dinheiro com eles próprios, os consumidores maduros tornam-se um segmento estratégico para os profissionais de marketing devido ao seu potencial de consumo.
Dentre os que receiam não ter dinheiro suficiente para viver confortavelmente durante a aposenta-doria e dentre os que estão planejando ou pretendem planejar sua aposentadoria, a maioria é ativa eco-nomicamente, sugerindo que existe preocupação por parte dos consumidores maduros em ter recursos financeiros na aposentadoria.
Os homens se preocupam mais que as mulheres em planejar sua aposentadoria, principalmente aqueles que têm entre 50 e 59 anos. Os resultados encontrados acerca da segurança financeira sugerem que a maioria dos consumidores maduros que se preocupa em viver confortavelmente a aposentadoria e está se preparando para essa época é ativa economicamente, tem entre 50 e 59 anos, e é composta em sua maioria por homens.
A maioria dos consumidores mais velhos é vaidosa, sente-se satisfeita e considera que a velhice é um estado de espírito. O termo vaidade está associado à aparência física. Nas entrevistas do pré-teste e naquelas feitas com consumidores acima de 70 anos durante a fase de coleta de dados, observou-se que esses expressaram preocupação em vestir-se bem, pintar o cabelo, maquiar-se (mulheres) e em fazer exercícios físicos para emagrecer.
73% dos respondentes concordam que “a velhice é um estado de espírito, só é velho quem quer” e uma parcela maior ainda (78%) sente-se muito satisfeita olhando para o passado.
Aqueles que consideram que a fase madura corresponde aos melhores anos da vida concordam, em mais de 80%, que em comparação com o passado, sentem-se muito satisfeitos. Por outro lado, aqueles que discordam que estes são os melhores anos de suas vidas, concordam, em sua grande maioria, que se sentem muito satisfeitos em relação ao passado. As entrevistas realizadas com idosos com mais de 70
Segurança Financeira
Satisfação com a vida
A maior parte dos consumidores maduros pesquisados é casada (66,25%). 10% são separados ou divorciados, contudo dentre estes, mais de 60% declarou morar com mais uma ou duas pessoas. Den-tre os 9% que declararam morar sozinhos, 68% são viúvos e 23% , separados ou divorciados. Assim, verifica-se que a grande maioria dos consumidores maduros residentes em Uberlândia e Uberaba mora com pelo menos mais uma pessoa.
A seguir, serão apresentados os resultados para cada parâmetro analisado.
livro formatado.indd 25 26/11/2009 14:59:12

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
26
anos ajudam a explicar este fato: estes afirmaram que é melhor ser jovem do que velho, mas gostariam de ter quando jovens, a maturidade que possuem hoje. Como esperado, verifica-se que à medida que aumenta a classe social, aumenta o nível de concordância dos consumidores maduros de que esses são os melhores anos de suas vidas.
Mais de 60% dos consumidores maduros considera sua situação atual melhor do que esperavam. Além disso, mais da metade dos respondentes afirma que teriam levado suas vidas de forma diferente se tivessem o mesmo conhecimento que possuem hoje. Este perfil denota consumidores maduros ‘jovens’, otimistas e preocupados com a aparência física.
Esses resultados mostram coerência com aqueles encontrados por Bacha, Strehlau e Perez (2006), em estudo realizado com idosos de São Paulo.
Houve um nível de concordância alto para quase todas as variáveis deste parâmetro, apontando, de uma forma geral, consumidores sociáveis e que gostam de realizar atividades culturais, viajar, trabalhar em projetos comunitários, ir a festas etc.
Entre os respondentes, verificou-se que os idosos da classe A gostam mais de atividades culturais como teatro, assistir a filmes, ir a museus do que as demais classes: à proporção que aumenta a escola-ridade, aumenta o gosto por atividades culturais. Quanto maior a classe social e a escolaridade, maior o nível de concordância em relação à variável ‘gosto de viajar’.
As mulheres gostam de trabalhar mais em projetos comunitários do que os homens. Daqueles que gostam de atividades sociais, a grande maioria prefere sair para passear a ficar em casa assistindo televisão. Também diminui o nível de concordância em relação à assertiva “Namorar é excitante em qualquer idade”, sugerindo que à medida que envelhecem, os consumidores maduros passeiam e namoram menos. Porém, entre os idosos que têm vida social ativa, 80% acham que namorar é excitante em qualquer idade.
AutoconfiançaVerifica-se que os consumidores maduros de 50 a 59 anos revelaram-se mais obstinados que os das
demais faixas, pois 74% concordam que possuem objetivos na vida e os perseguem dia-a-dia. Somente os idosos entre 70 e 74 anos declararam não se sentir mais independentes do que a maioria das pessoas com quem convivem e de mesma faixa etária.
Vulnerabilidade percebida a doençasA maioria dos consumidores maduros não tem problemas físicos que limitam sua atividade diária,
fato que se confirma pela grande parte deles sentirem-se bem de saúde nos últimos meses. Mais de 50% dos consumidores maduros veem o médico somente em caso de doença, porém 65% destes realizam check-up médico todos os anos.
Atividade social ou lazer
livro formatado.indd 26 26/11/2009 14:59:12

27
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Como já esperado, verifica-se que conforme os consumidores maduros envelhecem tomam mais medicamentos diariamente. A variável ‘Minha saúde tem estado muito bem nos últimos meses’ está as-sociada à variável ‘Faço alguma atividade física pelo menos uma vez ao dia’. Aqueles consumidores que se sentem bem de saúde praticam, em sua maioria, atividade física pelo menos uma vez ao dia.
Entre aqueles que afirmam sentir-se bem de saúde, mais de 80% possui uma alimentação saudável. Os consumidores da classe social A realizam mais check-up médico do que os pertencentes às demais classes, estando, portanto, associado à sua classe social.
Segurança físicaOs consumidores maduros preocupam-se com a segurança física: a maioria tranca sempre as portas,
possui ou gostaria de ter um sistema de segurança e considera que pessoas mais velhas são os alvos prefe-ridos de assaltantes.
O comportamento dos consumidores maduros quanto à realização de atividades noturnas por teme-rem ser roubados é influenciado pela classe social: os consumidores da classe C são os que mais evitam sair à noite, pois temem roubos.
Orientação para a famíliaA grande maioria dos consumidores maduros gosta de reservar um tempo para ficar com seus fami-
liares, quase 70% não mudaria para longe destes e 64% busca conselhos da família. Entre os que gostam de reservar um tempo para ficar com a família (92%), mais de 70% jamais considerariam mudar para longe de seus familiares. Os consumidores maduros são fortemente orientados para a família.
Atividade física e hábitos alimentaresA maioria dos respondentes afirma ter uma alimentação saudável e gosta de comer frutas e legumes.
Consumidores maduros da classe A praticam mais atividade física que aqueles das demais classes. Apesar de os da classe C praticarem exercícios físicos em menor proporção que os da classe A, a maioria dos res-pondentes da classe C acham que sempre foram fisicamente ativos (78%).
Entre aqueles que praticam atividade física pelo menos uma vez ao dia, a grande maioria declara ter uma alimentação saudável.
Atividade intelectualMais de 60% dos consumidores maduros não estão dispostos a fazer cursos educacionais, mas boa
parte gostaria de aprender sobre arte, cultura e história, principalmente mulheres da classe A. Quanto maior a escolaridade, maior o interesse em realizar cursos educacionais. Além disso, os consumidores se sentem intelectuais à medida que aumenta o nível de escolaridade. Percebe-se que os aposentados ou pensionistas são os que se consideram menos intelectuais.
A maioria dos consumidores ativos no mercado considera que sentirá falta da atividade intelectual
livro formatado.indd 27 26/11/2009 14:59:12

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
28
quando aposentarem. Entre os que já são aposentados ou pensionistas houve um equilíbrio entre os que se sentem e os que não se sentem intelectuais.
Atividade intelectualMais de 60% dos consumidores maduros não estão dispostos a fazer cursos educacionais, mas boa
parte gostaria de aprender sobre arte, cultura e história, principalmente mulheres da classe A. Quanto maior a escolaridade, maior o interesse em realizar cursos educacionais. Além disso, os consumidores se sentem intelectuais à medida que aumenta o nível de escolaridade. Percebe-se que os aposentados ou pensionistas são os que se consideram menos intelectuais.
A maioria dos consumidores ativos no mercado considera que sentirá falta da atividade intelectual quando aposentarem. Entre os que já são aposentados ou pensionistas houve um equilíbrio entre os que se sentem e os que não se sentem intelectuais.
ProdutosHá baixa influência de parentes ou amigos na decisão de compra. Quase 60% dos consumidores ma-
duros têm dificuldade para usar computadores ou equipamentos eletrônicos, e mais de 70% acham que deveriam aprender a usar esses equipamentos.
Consumidores entre 50 e 59 anos são os que apresentam menos dificuldade para usar computadores ou equipamentos eletrônicos. Quase 80% dos consumidores da classe C declararam ter dificuldade para usar computadores ou equipamentos eletrônicos.
As mulheres buscam mais novidades do que os homens, independentemente da faixa etária. Os que menos se interessam por novidades são os consumidores maduros da classe C. A maioria dos consumidores maduros busca se informar sobre o produto antes da compra, sendo a classe C a que mais se informa.
PreçoA maioria dos respondentes procura por lojas em liquidação, principalmente mulheres e consumido-
res da classe C. Mais de 60% dos consumidores maduros de todas as classes sociais não se importam de andar mais para conseguir um preço melhor.
A classe C é a que mais gosta de comprar marcas conhecidas, mesmo que custem mais caro, porque acham que dão segurança ou status. Por outro lado, a classe A é a que menos se importa de pagar mais por um produto de qualidade comprovada (84%).
Entre os consumidores que geralmente procuram por lojas em liquidação, mais de 80% não se impor-tam de andar mais para conseguir um preço mais baixo. Entre os consumidores que gostam de comprar marcas mais conhecidas mesmo que custem mais caro, mais de 80% não se importam de pagar mais por um produto de qualidade comprovada.
Tipo de PagamentoA maioria dos consumidores maduros é conservadora: prefere pagar suas despesas em dinheiro, con-
firmando os resultados de estudos de Mowen e Minor (2003).
livro formatado.indd 28 26/11/2009 14:59:13

29
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Este trabalho teve como objetivo descrever o comportamento do consumidor maduro residente nas cidades de Uberlândia e Uberaba com base em suas características demográficas, estilo de vida e com-portamento de compra.
Ressalta-se que os resultados do estudo destes consumidores maduros não residentes em centros urbanos são muito próximos àqueles encontrados na literatura, realizados em grandes centros como São Paulo e Porto Alegre; e até mesmo, estudos sobre o mercado norte-americano. As principais característi-cas encontradas neste estudo do mercado maduro foram:
• Atingiram a idade cronológica, mas se sentem e pensam como mais jovens.
5. CONCLUSÕES
Os consumidores maduros da classe A utilizam mais o cartão de crédito como meio de pagamento, enquanto os que pagam mais em dinheiro são os consumidores da classe C, que também são os que mais parcelam suas despesas. Portanto, observa-se forte relação dos meios de pagamento com a classe social.
Locais de ComprasA maioria dos consumidores maduros prefere fazer compras em lugares novos e diferentes, dentre estes,
80% gostam de experimentar coisas novas. Além de novos lugares, também buscam produtos diferentes.
PromoçõesVerifica-se que 60% dos respondentes usariam um produto mesmo que todo mundo soubesse que
foi feito especialmente para consumidores mais velhos. Os consumidores maduros que mais se conside-ram caçadores de promoções quando vão às compras, são aqueles pertencentes à classe C.
Mais de 80% dos consumidores maduros, tanto homens quanto mulheres, de todas as faixas etárias, assistem à televisão todos os dias. É, de longe, o meio de comunicação mais utilizado pelos consumidores mais velhos. Quanto maior a renda e a escolaridade, maior o acesso a jornais, revistas e internet.
EmbalagensAs dificuldades dos consumidores maduros para lidar com embalagens são as mesmas, independen-
temente do sexo ou faixa etária. Respondentes da classe C foram os que mais declararam ter dificuldades para abrir embalagens.
AtendimentoAo efetuar o cruzamento da variável atendimento mais rápido com a classe social, não houve
associação. Como também não houve associação da variável ‘na hora da compra, a conversa com o vendedor os influenciam mais que a propaganda no rádio ou na televisão’ com o sexo.
livro formatado.indd 29 26/11/2009 14:59:13

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
30
• A classe social A gosta mais de atividades culturais como teatro, assistir a filmes, ir a museus do que as demais classes. É a que mais gosta de aprender sobre arte, cultura e história.
• À medida que aumenta a escolaridade, aumenta o gosto por atividades culturais.
• Quanto maior a classe social e a escolaridade, maior o nível de concordância em relação à variável ‘gosto de viajar’.
• Quanto maior a escolaridade, maior o nível de concordância em relação à probabilidade dos consumidores maduros de realizar cursos educacionais.
• A grande maioria dos consumidores maduros que praticam atividade física pelo menos uma vez ao dia tem uma alimentação saudável.
• A classe social A pratica mais atividade física e faz mais check-up médico do que as demais classes.
• Os consumidores maduros preocupam-se com a segurança física, pois a maioria tranca as portas mesmo estando em casa, possuem ou gostariam de um sistema de segurança e consi-deram que pessoas mais velhas são alvos preferidos de assaltantes.
• 60% dos consumidores maduros têm dificuldade para usar computadores ou equipamentos eletrônicos, e mais de 70% consideram que deveriam aprender a usar estes equipamentos.
• As mulheres, em todas as faixas etárias procuram muito mais por lojas em liquidações do que os homens.
• A classe social C procura mais por lojas em liquidações do que as demais. São os consumi-dores que mais se consideram caçadores de promoções quando vão às compras.
• A classe social A é a que menos se importa de pagar mais por um produto de qualidade comprovada.
• A maioria dos consumidores maduros prefere pagar suas despesas em dinheiro a cartão de crédito. Porém, os consumidores maduros da classe social A utilizam mais o cartão de crédito como meio de pagamento, enquanto que os que pagam mais em dinheiro são os consumi-dores da classe C.
• Mais de 80% dos consumidores maduros, tanto homens quanto mulheres, de todas as faixas etárias, assistem à televisão todos os dias.
• Quanto maior a renda e a escolaridade, maior o acesso aos meios de comunicação jornal, revista e internet.
A importância econômica dos consumidores maduros só tende a aumentar, principalmente porque o número de pessoas alfabetizadas que ingressam diariamente nesse grupo é proporcionalmente maior do
livro formatado.indd 30 26/11/2009 14:59:13

31
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
que o das pessoas que dele fazem parte. O aumento da renda per capita dos consumidores mais velhos e o tamanho desse público o tornam, pelo menos do ponto de vista econômico, um grupo de grande interesse para o marketing.
Em relação ao potencial de consumo, os resultados deste estudo mostram que a maioria dos consu-midores maduros controla os seus gastos, consegue pagar o saldo de suas despesas mensais e sente que merece gastar dinheiro consigo. Os consumidores maduros das classes sociais A e B, pouco mais de 70% da amostra feita, são os clientes mais providos de recursos, pois, de uma forma geral, já adquiriram os recursos materiais ao longo da vida. Os benefícios tangíveis se tornam menos importantes do que expe-riências e crescimento pessoal.
A análise dos dados coletados aponta para a existência de correlação entre as variáveis de estilo de vida e de comportamento de compra com variáveis demográficas tais como sexo, classe e escolaridade, o que sugere que, de fato, o mercado maduro é heterogêneo.
De maneira que a segmentação é uma ferramenta estratégica efetiva para atingir este mercado em crescimento, confirmando o interesse para os pesquisadores e profissionais de marketing, que poderão oferecer melhores programas de marketing.
AMARO, Luiz Eduardo; MEIRA, Paulo Ricardo. O Comportamento do Consumidor Idoso em Centros Urbanos: O Caso de Porto Alegre. In: ENANPAD, 30, 2006, Salvador. Anais eletrônicos... Salvador: ANPAD, 2006. Área temática: Marketing. CD-ROM.
BACHA, Maria de Lourdes; STREHLAU, Viviam Iara; PEREZ, Gilberto. A Compreensão do significado do termo terceira idade pela terceira idade em São Paulo. In: ENANPAD, 2, 2006, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: ANPAD, 2006. CD-ROM.
BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul W.; ENGEL, James F. Comportamento do consumidor. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
BONE, Paula Fitzgerald. Identifying mature segments. Journal of Consumer Marketing, v. 8, n.4, p. 19 -32, Fall, 1991.
CERTO, Samuel; PETER, J. Paul. Strategic management: concepts and applications. New York: McGraw Hill Book Company, 1991.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2005. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2005/default.shtm> Acesso em: 22/02/2007.
MELO, D. C. O mercado maduro nas cidades de Uberlândia e Uberaba: uma contribuição ao estudo da segmentação de mercado. 2008, 201 p. Dissertação (Mestrado em Administração). Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.
MOSCHIS, George P. Marketing to Older Adults: An updated overview of present knowledge and practice. Journal of Consumer Marketing, v. 20, n. 6, p. 516-25, 2003.
MOTTA, Paulo César; SCHEWE, Charles D. Adote consumidores mais velhos no marketing das artes. Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v. 35, n. 2, p. 23-32, Mar./Abr. 1995.
MOWEN, John C.; MINOR, Michael S. Comportamento do Consumidor. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
RELVAS, Kátia. Hábitos de compra e consumo de alimentos de idosos nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Goiânia e Recife.
REFERÊNCIAS
livro formatado.indd 31 26/11/2009 14:59:13

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
32
2006. 124 f. Dissertação (Mestrado em Agronegócio) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2006.
SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do consumidor: conceitos e casos. São Paulo: Pearson, 2005.
SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie L. Comportamento do Consumidor, Rio de Janeiro: LTC, 2000.
SHETH, Jagdish N.; MITTAL, Banwari; NEWMAN, Bruce I. Comportamento do cliente: indo além do comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2001.
SHUFELDT, Lois; OATES, Barbara; VAUGHT, Bobby. Is lifestyle an important factor in the purchase of OTC drugs by the elderly?. Journal of Consumer Marketing, v. 15, n. 2, p. 111 - 124, 1998.
SOLOMON, Michael R. O Comportamento do Consumidor: Comprando, possuindo e sendo. Porto Alegre: Bookman, 2002.
SORCE, Patricia.; TYLER, Philip R.; LOOMIS, Lynette M. Lifestyles of older Americans. Journal of Consumer Marketing, v. 6, n. 3, p. 53-63, Summer, 1989.
TEPPER, Kelly. The Role of Labeling Processes in Elderly Consumers: Response to Age Segmentation Cues. Journal of Consumer Research, v. 20, n. 4, p. 503-19, 1994.
WEIJTERS, Bert; GEUENS, Maggie. Segmenting the senior market: professional and social activity level. Vlerick Leuven Gent Management School Working Paper Series, 2003.
WELLS, William D. Life Style and Psychographics. Chicago: American Marketing Association, 1974.
YOON, C.; LAURENT, G.; FUNG, H. H.; GONZALEZ, R.; GUTCHESS, A. H.; HEDDEN, T.; LAMBERT-PANDRAUD, R.; MATHER, M.; PARK, D. C.; PETERS, E.; SKURNIK, I. Cognition, Persuation and Decision Making in Older Consumers. Marketing Letters, v.16, n.3/4, 429 – 441, 2005.
ZALTZMAN, Cláudio; MOTTA, Paulo Cesar. Segmentação de mercado dos consumidores mais velhos segundo seus perfis de estilo de vida. Revista de Administração, v. 31, n. 4, p. 44-56, Out./Dez., 1996.
livro formatado.indd 32 26/11/2009 14:59:13

33
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
livro formatado.indd 33 26/11/2009 14:59:13

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
34
livro formatado.indd 34 26/11/2009 14:59:13

35
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
* Economista, Professor daFaculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro. E-mail: [email protected]
Fábio Garcia dos Santos*
Os cuidados com o meio ambiente são cada vez mais necessários dado o agravamento dos prob-lemas provenientes de desastres naturais. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), criado pela ONU e oficializado em 1997, na terceira conferência sobre o clima, realizada na cidade de Quioto (Japão), possibilitou o surgimento dos certificados de carbono, referentes à redução efetiva, por em-presas e governos, das emissões dos gases que provocam o aquecimento global. Desde a ratificação do tratado, ocorrida em 2004, houve um aumento das certificações, viabilizando a criação de mercados financeiros específicos, hoje presentes nos mais importantes centros financeiros. A eficiência destes em relação a real redução das emissões dos gases do efeito estufa é bastante questionada, gerando uma polêmica em torno do tema. O mais destacado ponto negativo é relativo à variação positiva não só do número de certificados, mas também do volume das emissões, evidenciando que o objetivo principal da criação deste sistema não foi cumprido, que era reduzir a quantidade de gases poluidores emitidos na atmosfera. Porém, inúmeros projetos isolados ao redor do globo possibilitaram a redução efetiva das emissões nos locais nos quais eram desenvolvidos e, ainda, projetos de grande relevância para a preservação ambiental. Existe, também, uma polêmica em relação ao direito de propriedade dos lugares denominados de sumidouros de carbono, devidamente certificados. Esta discussão teórica, muitas vezes ideológica, revela que o tema está em evidência e que soluções, mesmo falhas, estão sendo elaboradas, provocando a formulação de idéias que ajudarão a resolver os problemas do clima sensível da Terra.
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Certificados de Crédito de Carbono, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, Protocolo de Quioto, Sustentabilidade, Meio ambiente.
The care of the environment are increasingly necessary because of worsening problems arising from natural disasters. The Clean Development Mechanism (CDM) established by the UN and formalized in 1997, at the third conference on environment, held in the city of Kyoto (Japan), allowed the creation of carbon certificates, for the effective reduction emissions, by companies and governments, of gases that cause global warming. Since the ratification of the treaty, held in 2004, there was an increase of certifications, enabling the creation of specific financial markets those, today, are at the most important financial centers. The efficiency of these certificates on real reduction of emissions of greenhouse gases the effect is quite questionable, creating a controversy around the issue. The most prominent point on the negative is not only positive change in the number of licenses, but the volume of emissions too, showing that the main objective of establishing this system has not been met, namely to reduce the amount of polluting gases emitted into the atmosphere. However, many individual projects around the globe enabled the effective reduction of emissions in places where they were developed, and also projects of great importance for environmental preservation. There is also a controversy regarding the right of ownership of the places called carbon sinks, duly certified.
ABSTRACT
O MERCADO DE CRÉDITO DE CARBONO: ORIGEM E EVOLUÇÃO
livro formatado.indd 35 26/11/2009 14:59:13

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
36
This theoretical discussion, often ideological, shows that the theme is in evidence and that solutions, even failures, are being developed, leading to formulation of ideas that will help solve the problems of sensitivity climate of Earth.
Keywords: Certificates of Carbon Credits, Clean Development Mechanism, Kyoto Protocol, Sustainability, Environment
Desde que fatores ambientais começaram a afetar o equilíbrio do meio ambiente global, as pesso-as, empresas e governos voltaram sua atenção para as os problemas gerados pelo manuseio dos recur-sos naturais. Ultimamente os desastres naturais1 estão mais freqüentes, assim como as características do meio ambiente da Terra estão em um acelerado processo de transformação, a qual pode, inclusive, inviabilizar a sobrevivência humana no futuro. O efeito mais evidente e maior causador destas transfor-mações é o aumento acelerado da temperatura do planeta.
Com a intenção de minimizar os efeitos do aquecimento global, a Organização das Nações Unidas (ONU) se reuniu, no ano de 1997, com o objetivo de traçar planos e metas que possibilitariam a redução das emissões de gases do efeito estufa2. Foi naquele ano que surgiram os certificados de crédito de car-bono, emitidos para as empresas e governos que reduzissem suas emissões de dióxido de carbono na atmosfera, podendo ser adquiridos por outros que não conseguissem cumprir as metas estabelecidas na convenção da ONU.
E para melhor entender o funcionamento comercial destes certificados, o texto que se segue pre-tende fazer uma análise, teórica, da origem do conceito deste mercado, assim como do próprio certifi-cado, finalizando com uma discussão a respeito da eficiência deste mecanismo.
Nos últimos anos tem havido uma maior frequência de desastres naturais, despertando a socieda-de mundial para as consequências da aceleração do processo de aquecimento global, como revela o estudo realizado em 2008 pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial:
Contudo, foi a partir dos anos 70 que o tema passou a integrar a pauta dos grandes encontros inter-nacionais, dado a relevância do tema no que se refere à manutenção da vida humana no planeta. Então, no ano de 1972, em Estocolmo, foi realizado um evento, com representantes de diversos países, cujo
1. INTRODUÇÃO
2. A ORIGEM E EVOLUÇÃO DO MERCADO DE CARBONO
1 “Os desastres naturais podem ser conceituados, de forma simplificada, como o resultado do impacto de um fenômeno natural extremo ou intenso sobre um sistema social, causando sérios danos e prejuízos que excede a capacidade dos afetados em conviver com o impacto.” (MARCELINO, 2008)2 “A atmosfera é constituída por uma mistura de gases, predominantemente nitrogênio (N2) e oxigênio (O2) perfazendo em conjunto 99%. Vários outros gases encontram-se presente em pequenas quantidades e, naturalmente, constituem os conhecidos gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO2), ozônio (O3), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), juntamente com o vapor d’água (H2O).(...) Assim, pela ação do efeito estufa natural a atmosfera se mantém cerca de 30°C mais aquecida, possibilitando, com isso, a existência de vida no planeta, que sem o efeito estufa natural seria um mero deserto gelado.” (BNDES, 1999)
Nas últimas décadas, as pesquisas têm demonstrado que houve um aumento considerável não só na frequência dos desastres naturais, mas também na intensidade, o que resultou em sérios danos e prejuízos sócio-econômicos. De acordo com alguns cientistas, este cenário pode estar vinculado ao aquecimento global, como uma das consequências diretas das mudanças climáticas. (MARCELINO, 2008, p. 8)
livro formatado.indd 36 26/11/2009 14:59:13

37
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Esses compromissos quantificados de limitação e redução de emissões foram estabe-lecidos de forma diferenciada às partes do Anexo 1 e estão compreendidos em um intervalo que varia entre uma redução de 8% e um aumento de 10% da emissão dos gases listados. (MAY, LUSTOSA E VINHA, 2003, p. 228)
A Duma, câmara baixa do Parlamento russo controlada por governistas, aprovou hoje a ratificação do Protocolo de Kyoto, tratado internacional que objetiva combater a emis-são de gases responsáveis pelo aquecimento global. A aprovação dá sinal verde para que o acordo internacional entre em vigor. (FOLHA ONLINE, 2004)
tema foi o meio ambiente global. Esse “representou o primeiro alerta para o mundo dos graves riscos ambientais causados pelo modelo de desenvolvimento vigente”. (MAY; LUSTOSA; VINHA, 2003, p. 33)
Porém, medidas que viabilizassem a minimização dos efeitos causados pelo aquecimento do globo somente passaram a ser traçadas a partir da I Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, re-alizada no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992. Naquele momento ficou estabelecido que as partes envolvidas na convenção deveriam adotar políticas capazes de reduzir as emissões de gases do efeito estufa.
Ao longo dos anos 90, o mundo passou por uma intensa transformação econômica provocada pela aceleração e estreitamento do processo de globalização. Assim, os compromissos assumidos pe-los países participantes da “Convenção do Clima” não foram cumpridos, dado a difusão do modelo de desenvolvimento econômico adotado contemporaneamente. (MAY, 2003)
Neste contexto, foi protocolado na III Conferência da ONU sobre o Clima, em 1997, na cidade de Quioto (Japão), um acordo que estipulava metas quantitativas de redução de emissão dos gases cau-sadores do aquecimento global, estabelecidas de forma a respeitar o estágio de desenvolvimento de cada nação, com metas diferenciadas entre os países listados no Anexo I do protocolo.
Entretanto, os grandes emissores dos gases do efeito estufa não ratificaram o acordo naquele mo-mento, como os Estados Unidos e a Rússia, impedindo a efetivação dessas. Posteriormente, a ratificação do acordo pelo parlamento russo, ocorrida em 2004, fez com que o somatório das emissões dos gases do efeito estufa, ocasionadas pelos 141 países signatários, correspondesse a mais de 70% das emissões globais, possibilitando a entrada em vigor do protocolo, mesmo sem os Estados Unidos.
Dentre os instrumentos criados para flexibilizar os meios de cumprimento das metas, destaca-se o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Este mecanismo prevê a concessão de certificações, para empresas e governos, das reduções de emissão dos gases do efeito estufa, a fim de que estes pos-sam ser adquiridos por outros agentes que não cumprirem as suas respectivas metas.
A esse respeito, Faria e Coelho (2007, p. 10) esclarecem que:
livro formatado.indd 37 26/11/2009 14:59:13

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
38
Com a introdução do MDL, as empresas que não conseguirem (ou não desejarem) di-minuir suas emissões poderão comprar Reduções Certificadas de Emissões (RCE) em países em desenvolvimento (que tenham gerado projetos redutores de emissão de GEE) e usar esses certificados para cumprir suas obrigações, ainda que o uso desse mecanismo esteja limitado a uma parcela de seus compromissos de redução. Os países em desenvolvimento, por sua vez, devem utilizar o MDL para promover seu desenvol-vimento sustentável, além de se beneficiarem com o ingresso de divisas por conta das vendas de RCEs para os países desenvolvidos.
O primeiro leilão de créditos de carbono em bolsa de valores regulada, em âmbito mun-dial, conseguiu vender todo o lote de 800 mil certificados, cada um equivalente a uma tonelada de carbono não lançada na atmosfera. (...) Para a prefeitura de São Paulo, que produziu os certificados, o resultado foi bom: R$ 34 milhões a mais em seus cofres.
A idéia de se criar um mecanismos de compensação para as empresas e governos que reduzirem suas emissões de gases poluidores já foi abordada por inúmeros estudos econômicos, “formulada ini-cialmente por Dales (1968) e desenvolvida posteriormente por Baumol e Oates (1988)”. (MAY, LUSTOSA E VINHA, 2003, p. 230)
Esta certificação, que poderia ser comercializada, atraiu o interesse de diversas empresas e gover-nos, dada a oportunidade de ganhos financeiros com estes papéis. Assim, mesmo antes da sua entrada em vigor, já que este mecanismo estava previsto desde 1997, muitos certificados foram emitidos, fa-zendo com que fossem criados mercados específicos para a negociação no mercado financeiro, embo-ra tais transações fossem realizadas sem um agente regulador, intermediado apenas por bancos.
No entanto, em 2007, a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), no Brasil, incluiu os certificados de carbono em suas operações, iniciando o processo de regulamentação do mercado em questão.
De acordo com Matsurra (2007, p. 01),
Atualmente, na Europa e Estados Unidos estão localizados os maiores centros de negociação des-tes ativos financeiros, como o Chicago Climate Exchange e o European Union EmissionTrading Scheme, respectivamente, no dizer de Armani e Missura (2008).
A rápida expansão das certificações e seu real efeito sobre a redução do processo de aceleração do aquecimento global propiciaram o levantamento de inúmeros argumentos que problematizam o mecanismo criado e adotado pela ONU para reduzir o efeito estufa no planeta.
As discussões sobre a eficiência do MDL proposto pela ONU sempre esteve na pauta dos grandes cientistas mundiais ligados ao tema. Devido à diversidade das tendências adotadas pelos pensadores,
3. A EFICIÊNCIA DO MERCADO: UMA POLÊMICA EM QUESTÃO
livro formatado.indd 38 26/11/2009 14:59:13

39
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
As emissões de CO2, o principal gás do efeito estufa, atingiram níveis mais preo-cupantes que os piores cenários anunciados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). Dados coletados pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma) alertam que as emissões estão acima das taxas imaginadas(...). (CHADE, 2008. p. 1)
O diário britânico The Guardian traz (...) uma vasta reportagem sobre a compra de florestas promovida por indivíduos, ONGs e até bilionários em nome da proteção do meio ambiente.(...) Segundo a reportagem, este comércio gera uma questão sobre quem é o verdadeiro proprietário das florestas e poderia trazer ainda mais problemas para a conservação, além de gerar mais corrupção, especulação, tomada de terras e conflitos. (G1, 2008)
as opiniões, sistemáticas ou não, sempre causaram polêmica na sociedade em geral, principalmente no ambiente acadêmico.
O maior questionamento centra-se na contabilização das reduções das emissões dos gases. Dados comprovam que, mesmo depois da ratificação do Protocolo de Quioto, não houve reduções globais de emissões de carbono.
Segundo Chade (2008),
Assim, há um temor de que os certificados de carbono fiquem sujeitos às oscilações do mercado financeiro e à especulação dos valores. Para Khalili (2003), “(...) existe o risco dos certificados de carbono serem transformados apenas numa operação financeira para dar lucros aos seus investidores e acabar não gerando nenhuma vantagem para o meio ambiente.”
Por outro lado, verifica-se que mesmo não havendo uma redução global das emissões, muitos projetos foram e estão sendo desenvolvidos em pontos isolados do planeta, os quais representam um grande avanço no desenvolvimento de técnicas ambientais.
Ademais, em alguns lugares estão sendo financiados projetos de criação de sumidouros de carbo-no3. As regiões que mantêm grande extensão de florestas, como as tropicais na América do Sul, serão beneficiadas pelo recebimento de valores por manter preservadas determinadas áreas, devidamente avaliadas e certificadas em termos de captura de carbono.
Entretanto, existem críticas a respeito de como estes sumidouros deveriam ser tratados em termos de propriedade. Questiona-se que aquele país desenvolvido que financiar sumidouros em florestas de países em desenvolvimento poderia mais tarde reivindicar a posse dessas áreas.
É importante destacar também os projetos relacionados ao melhor aproveitamento dos recursos para a produção de energia. A queima de combustíveis fósseis, largamente utilizada na produção de
livro formatado.indd 39 26/11/2009 14:59:13

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
40
energia, é um dos maiores causadores do aceleramento do efeito estufa. Assim, os combustíveis de origem vegetal e a utilização do biogás estão sendo amplamente divulgados e recomendados como meios de promover a redução das emissões de gases poluidores na atmosfera.
Um projeto que se destaca refere-se à redução das emissões na cidade de São Paulo devido à ado-ção de um projeto que transforma o lixo em energia, ou melhor, o gás metano exaurido pelos aterros sanitários é utilizado como fonte de energia para usinas termelétricas.
De acordo com Zulauf (2004),
Enfim, os argumentos apresentados são apenas alguns do extenso debate existente nos dias atuais a respeito do mercado de créditos de carbono. No entanto, ainda existem muitas correntes de pensa-mento a respeito do assunto levantado, sendo esses acima os principais acerca do tema proposto.
3 Sumidouros são “qualquer processo, atividade ou mecanismo que retire gases de efeito estufa (ou seus precursores) da Atmosfera, armazenando-os por um período de tempo.” Os sumidouros realizam o sequestro de carbono, atuam como ralos, retirando da atmosfera mais carbono do que emitem. São sumidouros de carbono as florestas e os oceanos. (MUDANÇAS CLIMÁTICAS, 2009)
O Brasil já possui exemplos de eficiência de destinação de lixo com sistema de captação, sucção forçada e queima controlada de biogás no aterro da SASA (no município de Tremembé-SP), no aterro de Gramacho (no Rio de Janeiro), no aterro sanitário Metropolitano Centro (em Goiânia), no parque socioambiental Cana Brava - antigo lixão (em Salvador) e no aterro Bandeirantes (em São Paulo). Este último já possui uma usina termelétrica (UTE) com 24 MW de potência, uma das maiores do mundo com motores ciclo Otto (em operação desde o início de 2004).
A preocupação ambiental vem aumentando ano a ano, principalmente devido aos inúmeros de-sastres naturais que ocorrem nos dias atuais e, assim, deve ser um assunto tratado com seriedade e coordenado em termos globais.
Nesse contexto, surgiu o mercado de crédito de carbono o qual visa facilitar o cumprimento das metas estabelecidas no Protocolo de Quioto, embora questionado no que se refere à eficiência em re-lação ao objetivo proposto quando da sua criação.
No entanto, percebe-se que, mesmo não havendo redução das emissões dos gases do efeito es-tufa na atmosfera, em termos globais, o surgimento do mercado de carbono viabilizou a iniciativa de projetos ambientais muito eficientes, como o dos biocombustíveis, biogás, energia eólica, entre muitos outros.
Dada a recente efetivação regulamentada deste mercado, ainda não há estudos positivistas no que tange à apuração da eficiência da comercialização de certificados de carbono. O que se pretendeu com o presente é evidenciar que o debate enriquece a formulação de pesquisas e avaliações do processo de certificação do dióxido de carbono, possibilitando o desenvolvimento de tecnologias que facilitam o aproveitamento dos recursos naturais com o mínimo de intervenção climática.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
livro formatado.indd 40 26/11/2009 14:59:13

41
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
‘GURADIAN’ questiona compra de florestas para preservação. G1, Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2008. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL297134-5603,00-GUARDIAN+QUESTIONA+COMPRA+DE+FLORESTAS+PARA+PRESERVACAO.html.
ARMANI, R.; MISSURI, L. C.. Sustentabilidade energética: o desafio da tecnologia verde. Revista Hortifruti Brasil. São Paulo, Ano 7. Nº 65. Março de 2008. Disponível em: http://www.cepea.esalq.usp.br/hfbrasil/edicoes/66/mat_capa.pdf.
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Efeito estufa e a convenção sobre a mudança do clima. BNDES, 1999. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/especial/clima.pdf.
CHADE, J. Cenário pessimista era de alta de 2,7% ao ano, mas desde 2000 é de 3,5%. Movimento Nossa São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/1969.
FARIA, P. V. de; COELHO, J. L.. Créditos de carbono no Brasil: mecanismos existentes, implementação e negociação na bolsa de mercadorias e futuros. 2007. 105f. Monografia (Especialização em Gestão Ambiental e Negócios do Setor Energético). Curso de Pós-Graguação do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, São Paulo. Disponível em: http://www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2007/Monografias/Monografia_PriscilaFaria.pdf.
KHALILI, A. El. O que são créditos de carbono? Texto da palestra apresentada no Seminário “Sistemas Agroflorestais e Desenvolvimento Sustentável” - Campo Grande MS. EMBRAPA, 2003. Disponível em: http://saf.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/10.pdf.
MARCELINO, E. V. Desastes naturais e geoteconologias: conceitos básicos. INPE, 2008. Disponível em: http://www.inpe.br/crs/geodesastres/imagens/publicacoes/cadernos/Caderno1_Desastres%20Naturais-conceitosbasicos.pdf.
MATSUURA, L. São Paulo fatura R$ 34 milhões em leilão de créditos de carbono. Consultor Jurídico, 2007. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2007-set-26/leilao_creditos_carbono_rende_34_milhoes.
MAY, P. H.; LUSTOSA, M. C.; VINHA, V. da. Economia do meio ambiente. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Sumidouros. Agência de Notícias dos Direitos da Inbfância (ANDI). São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/content/sumidouros.
PARLAMENTO russo aprova ratificação do protocolo de Kyoto. Folha online, São Paulo, 22 de outubro de 2004. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u12575.shtml.
ZULAUF, M. Geração com biogás de aterros de lixo. Energia positiva para o Brasil. Geenpeace, 2004. Disponível em: http://www.greenpeace.com.br/energia/pdf/dossie_energia_2004.pdf#page=37.
REFERÊNCIAS
livro formatado.indd 41 26/11/2009 14:59:13

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
42
livro formatado.indd 42 26/11/2009 14:59:13

43
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPRESÁRIOPOR DANO CAUSADO POR PRODUTO
CIVIL LIABILITY OF THE ENTREPRENEURFOR ACTUAL DAMAGE FOR PRODUCT
ABSTRACTThe business activity is regulated since its first mention on civil code and extravagant legislation
about it, such as law 6404/75 – Corporate Law ( Known in Brazil as “Lei das Sociedade Anônima), however, its regulations when mentioned about products´ circulation and services is established in the Protection Code of customer, in the case of direct consumption in connection with the civil code, a large argue about who should take the risks of activity, customer or supplier. As well as the consolidation of laws Labor – CLT, the customer code – CDC is protectionist. That leads to the following response: association between the industry and the user of the damage item, the industry objectively, be responsible, in spite of guilt; The user just need to prove the damage and relation with it. The objective of this article is demonstrate that the responsible about the products released on the market, regardless of guilt is the owner of the industry, as required CDC, and that the onus imposed on join venture belongs to him.
PALAVRAS-CHAVE: Empresário; Fornecedor; Consumidor; Responsabilidade Civil; Defesa do Consumidor.
Keywords: entrepreneur; vendor; consumer; Civil liability; consumer protection
RESUMOA atividade empresarial está regulamentada desde seu nascedouro no Código Civil e legislação
extravagante sobre o tema, como a Lei 6404/75 – Lei das Sociedades Anônimas. Entretanto, a sua regu-lamentação no que tange à circulação de produtos e serviços está estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo em ligação direta com o Código Civil, muito se discutiu sobre a quem deve impor os riscos da atividade, se para o fornecedor ou para o consumidor. Assim como a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, o Código de Defesa do Consumidor – CDC é protecionista. Em virtude disso, chega-se a seguinte resposta: sendo relação de consumo entre o empresário fabricante do produto e o consumidor deste, se for por dano advindo do produto, deve o empresário ser responsabilizado de forma objetiva, independentemente de culpa; basta o consumidor provar o dano e nexo de causalidade. Procura-se demonstrar que o empresário é responsável pelos produtos lançados no mercado, independentemente de culpa, conforme se impõe o CDC, e que o ônus do empreendimento é imposto a ele.
1 Advogado; Professor de Direito do Trabalho da FCETM; Especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade de Franca – UNIFRAN; Especialista em Docência na Educação Superior pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM; contato: [email protected]
Gustavo Silva Borges 1
livro formatado.indd 43 26/11/2009 14:59:13

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
44
O Novo Código Civil, trazido à luz pela promulgação da Lei 10.406 de 11 de Janeiro de 2002, trouxe importantes e relevantes inovações no que diz respeito à responsabilidade civil, seja contratual ou extra-contratual, além das pertinentes à responsabilidade objetiva intrínseca ao estudo proposto.
Sob a nova ótica que guarnece as normas do Código Civil, atualmente, entende-se por responsabili-dade civil como sendo o dever de reparar dano causado por alguém a outrem em razão da violação de um dever jurídico. Na ótica de Pereira (apud, FIUZA, 2004, p. 832):
Assim, em decorrência, a responsabilidade civil se divide em responsabilidade contratual, resultan-te da quebra de um dever jurídico preexistente estabelecido em contrato; a responsabilidade extra-contratual, em virtude do descumprimento de um dever jurídico, ou seja, fere direito subjetivo alheio, sem que entre a vítima e o ofensor preexista vínculo; responsabilidade subjetiva que, desde o Código Antigo e da mesma forma no Atual Código Civil, é fundamentada na culpa, aqui empregada em sentido amplo, latu sensu, não deixando de indicar a culpa em sentido estrito, stricto sensu, como também, o dolo; e, por fim, a responsabilidade objetiva, modernamente inserida no atual Código Civil, fundada na teoria do risco, na qual basta ao ofendido demonstrar o dano e o nexo causal para a obtenção da reparação do dano sofrido.
Contudo, antes mesmo da evolução do atual Código Civil, a responsabilidade objetiva já se fazia presente nas relações de consumo, que abrolha o Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078, de 11 de Setembro de 1990.
Tal modalidade de amparo jurídico trata da reparação objetiva pelo dano causado ao consumidor por um produto ou serviço que este lança no mercado. Com base na teoria do risco do empreendimen-to, o fornecedor é responsável pelos produtos e serviços disponibilizados aos consumidores, e, em caso de dano, responde o fornecedor objetivamente por este.
Dessa forma, no que tange à responsabilidade civil do empresário em consequência dos danos cau-sados pelo produto, notadamente se faz evidenciar que a regra constante do artigo 931 do Código Civil, segundo o qual “os empresários individuais e as empresas responderão independentemente de culpa
INTRODUÇÃO
1. MODERNIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
(...) muito embora a doutrina não seja uniforme na conceituação da responsabilidade civil, é unânime na afirmação de que este instituto jurídico firma-se no dever de “repa-rar o dano”, explicando-o por meio de seu resultado, já que a idéia de reparação tem maior amplitude do que a de ato ilícito, por conter hipóteses de ressarcimento de pre-juízo sem que se cogite da ilicitude da ação.
livro formatado.indd 44 26/11/2009 14:59:14

45
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Diante da evolução jurídico-doutrinária que aperfeiçoou os conceitos de responsabilidade civil, incluindo os de proteção ao consumidor, em específico ao dano advindo do produto, seja por não atender às expectativas ou por estar danificado, como esclarece Stoco (2001, p. 334):
Assim, tem-se a razão pela qual o empresário tem o dever de indenizar, desde que haja liame causal entre o dano causado pelo produto e defeito existente. Dessa forma, uma vez comprovado o nexo de cau-salidade entre dano causado e defeito do produto, surge o direito do consumidor à reparação civil e, com esteira no Código de Defesa do Consumidor, a reparação é objetiva.
Como se evidencia, a responsabilidade dos empresários por danos causados por produtos, antes mesmo da aprovação do Projeto do Código Civil, já encontrava matéria disciplinada no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que diz:
Diante disso, elucida Denari (1996, p. 104) que:
2. RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO POR DANO CAUSADO POR PRODUTO
A expressão “fato do produto”, como causa de responsabilização, significa – em
proposição simples – a possibilidade de o produto, ou dos serviços contratados, por si
mesmo, causar dano a alguém ou frustar a expectativa do usuário, através de resulta-
dos positivos ou negativos, seja em razão de defeito original, por força de fabricação
inadequada, seja porque não proporciona a essencialidade para a qual foi prometida
ou anunciada à venda, seja em virtude de acondicionamento inadequado com poten-
cialidade lesiva, seja, ainda, em função de expiração de sua validade.
um produto é defeituoso quando não corresponde à legítima expectativa do consumi-dor a respeito de sua utilização ou fruição, vale dizer, quando a desconformidade do produto ou serviço compromete a sua prestabilidade ou servilidade. Nesta hipótese, podemos aludir a um vício ou defeito de adequação do produto ou serviço.
pelos danos causados pelos produtos postos em circulação”, faz parte de uma gama de relações jurídicas, não estabelecida como relação de consumo, muito embora o Código de Defesa do Consumidor restrin-gisse sua abrangência à seara consumerista.
Tais preceitos também passam a compor e gerar seus efeitos sob a ótica civilista da responsabilida-de objetiva que veio complementar e ampliar tal conceito.
livro formatado.indd 45 26/11/2009 14:59:14

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
46
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importa-
dor respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos da-
nos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, con-
strução, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de
seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos.
§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente
se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi colocado em circulação.
§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade
ter sido colocado no mercado.
§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado
quando provar:
I - que não colocou o produto no mercado;
II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;
III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Art. 927. [...]
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
De igual modo, com o nascimento do Código Civil, em 2002, o artigo 927, parágrafo único discipli-nou a responsabilidade objetiva ao preceituar:
Nessa esteira, conclui-se que o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor se completam e se harmonizam, nada impedindo, nos dizeres de Cavalieri Filho (2003. p. 177), “[...] utilizar a disciplina do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor na interpretação e aplicação do art. 931 do novo Código Civil”.
Outrossim, é possível destacar que a responsabilidade por danos causados por produtos é tratada no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, já destacado, em combinação com o artigo 931 do Código Civil, que traz o seguinte: “Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os em-presários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação”.
livro formatado.indd 46 26/11/2009 14:59:14

47
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem
o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos,
independentemente de culpa.
[...] É a justiça distributiva, que reparte equitativamente os riscos inerentes à sociedade
de consumo entre todos, através dos mecanismos de preços – repita-se – e dos seguros
sociais, evitando, assim, despejar esses enormes riscos nos ombros do consumidor.
Dessa forma, a responsabilização fica entrelaçada nesses dois dispositivos legais, embora, impor-tante se faz observar, a teoria do risco do empreendimento que, com base na doutrina, nos dá a nítida noção de como a responsabilização começa sua desenvoltura.
Em contraposição à teoria do risco do consumo, o Código Civil aclarou a teoria do risco do empre-endimento ou teoria do risco empresarial.
Define Cavalieri Filho (2003, p. 177), como sendo teoria do risco do empreendimento:
Portanto, o fornecedor tem em mãos mecanismos hábeis para compensar o risco da atividade, nada mais sendo que a prática de preços, desde que não abusivos, dentro de uma margem que lhe permita assumir o risco do empreendimento sem retirar-lhe a solidez.
Daí depreende-se que o dever de obediência a regras e normas técnicas é intrínseco à atividade de-senvolvida, quer seja ela referente a serviços ou mesmo a produtos colocados no mercado consumidor.
Assim, o fornecedor, seja produto ou serviço, torna-se garantidor deste, ou seja, o simples fato de se prestar, produzir, estocar, distribuí-lo e, por fim, comercializá-lo já se torna fato gerador da respon-sabilidade por dano causado por produto.
Nesse sentido, pode então o consumidor assumir os riscos das relações de consumo? Evidente-mente que não. Tal como a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, o Código de Defesa do Consu-midor – CDC é uma legislação protecionista da relação de consumo, privilegiadamente protegendo o consumidor dos riscos advindos da mesma.
Sendo assim, sabe-se por estatística que os maiores causadores de acidentes aos consumidores são os produtos nocivos à saúde e/ou aqueles comprometedores da segurança, razão pela qual a legislação consumerista impõe todo o ônus decorrente destes ao fornecedor, em função da teoria do risco do empreendimento.
Pondera Cavalieri Filho (2003, p. 177-178) que:
2.1 TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
livro formatado.indd 47 26/11/2009 14:59:14

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
48
Necessário se faz a aplicação da teoria do risco inerente e risco adquirido. Perfilada por Benjamin (1991, p. 48), o risco inerente:
2.2 RISCO INERENTE AO PRODUTO
Em matéria de proteção de saúde e segurança dos consumidores vige a noção geral da
expectativa legítima. Isto é, a idéia de que os produtos e serviços colocados no merca-
do devem atender às expectativas de segurança que deles legitimamente se espera. As
expectativas são legítimas quando, confrontadas com o estágio técnico e as condições
econômicas da época, mostram-se plausíveis, justificadas e reais. É basicamente o
desvio deste parâmetro que transforma a periculosidade inerente de um produto ou
serviço em periculosidade adquirida.
A periculosidade integra a zona de expectativa legítima (periculosidade inerente) com
o preenchimento de dois requisitos, um objetivo e outro subjetivo. Em primeiro lugar,
exige-se que a existência da periculosidade esteja em acordo com o tipo específico de
produto ou serviço (critério objetivo). Em segundo lugar, o consumidor deve estar total e
perfeitamente apto a prevê-la, ou seja, o risco não o surpreende (critério subjetivo). Pre-
sentes esses dois requisitos, a periculosidade, embora dotada de capacidade para provo-
car acidentes de consumo, qualifica-se como inerente e, por isso mesmo, recebe trata-
mento benevolente do Direito. Vale dizer: inexiste vício de qualidade por insegurança.
Uma obrigação abrangente como a estampada no princípio geral da segurança dos
bens de consumo há que ter limites. Não se pode condenar, por exemplo, o fabricante
da corda utilizada pelo suicida ou o da navalha, instrumento do crime assassinato. O
legislador busca, então, com os olhos voltados para a realidade do mercado de con-
sumo, delimitar as fronteiras desse princípio geral. Daí que a periculosidade inerente
raramente dá causa à responsabilização do fornecedor. Esta é a conseqüência natural
da periculosidade adquirida (e também da exagerada), isto é, a insegurança que supera
as fronteiras da expectativa legítima dos consumidores.
Na determinação do que é e do que não é perigoso, os Tribunais têm um grande papel
a desempenhar.
Desta feita, tem-se que os danos decorrentes do risco inerente não geram direito à indenização por parte do fornecedor.
Assim, surge o risco adquirido, fundado na anormalidade e na imprevisibilidade, ou melhor, o dano advém de produtos que se tornam perigosos em decorrência de um defeito.
Conclui-se que o risco inerente ao produto é decorrente da normalidade e previsibilidade, ou seja, muito embora o produto se mostre capaz de causar acidente ao consumidor, este é previsível. Já o ris-
livro formatado.indd 48 26/11/2009 14:59:14

49
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Pelo dano causado pelo produto, na ótica abordada no presente estudo, respondem os empresá-rios na forma prevista pela natureza jurídica da relação estabelecida, qual seja a consumerista.
Nessa perspectiva, adotando um posicionamento conservador sobre o tema, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 12, responsabiliza somente o fabricante, o produtor, o construtor, e o incorporador; se excluindo via de regra o comerciante, pois, segundo Cavalieri Filho (2003, p. 180), “[...] nas relações de consumo em massa, não tem qualquer controle sobre a segurança e qualidade das mercadorias.”
Dessa forma, mesmo o consumidor tendo adquirido seus produtos da loja de departamento ou outras com denominação própria, o dever de reparar o dano é do fabricante do produto e não de quem o comercializa.
Portanto, responderá o empresário objetivamente pelo dano causado pelo produto, nos moldes do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor combinado com o artigo 931 do Código Civil, indepen-dentemente de culpa. Importante ressaltar que não basta provar o dano causado pelo produto, deve-se em correspondência provar o nexo causal.
Mesmo sendo o empresário responsável pelo dano causado pelo produto, se faz importante frisar que é necessário o nexo causal. Em não havendo este, não há que se falar em responsabilização do empresário.
Sobre esta possibilidade, Cavalieri Filho (2003, p. 181) esclarece:
A doutrina entende por fortuito interno causa decorrente da fabricação, montagem do produto inevitável naquele momento e que, em virtude disso, causa defeito ao produto. No entanto, indepen-dentemente deste aspecto, a responsabilidade pelo produto é do empresário, é o risco que se corre pelo empreendimento, atividade empresarial.
2.3 - RESPONSABILIZAÇÃO
3. EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE
co adquirido, como dito anteriormente, é a capacidade que o produto adquire da causar acidente em razão de um defeito. Deste se dá o nascedouro do direito a pleitear indenização do fornecedor.
Mas se defeito existir, e dele decorrer o dano, não poderá o empresário alegar a im-
previsibilidade, nem a inevitabilidade, para se eximir do dever de indenizar. Teremos o
chamado fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do empresário.
livro formatado.indd 49 26/11/2009 14:59:14

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
50
Ademais, se há o fortuito interno, também há o fortuito externo, que em uma análise perfunctória é fato totalmente desprovido de causalidade. É o ato posterior ao momento da fabricação e industrializa-ção; não se falando, portanto, em defeito do produto, tampouco em responsabilização do empresário.
Em contrapartida, há exclusão da responsabilidade do empresário por dano causado pelo produto, quando este resultar da ação única e exclusiva do consumidor. É quando a causa do evento se der por culpa exclusiva da vítima, caso do consumidor que usa inadequadamente o medicamento, ou faz uso deste em doses acima do permitido. Nessa situação, não há como responsabilizar o fabricante pelo dano causado, tendo em vista que este adveio de culpa exclusiva da vítima, não se falando em defeito do produto.
Assim, quando há fortuito externo e culpa exclusiva da vítima na causa do dano, não há que se falar em responsabilidade do fabricante do produto, pois aqueles exaurem o nexo de causalidade entre o dano e o produto.
A doutrina se divide sobre este tema, surgindo vários argumentos sobre o mesmo. Dentre estes, destacam-se os seguintes: de um lado, a doutrina imputa ao fornecedor e ao empresário todo o ônus do risco do desenvolvimento, ou seja, deve o empresário arcar com o dano decorrente do desenvolvi-mento, independentemente de culpa.
Acredita-se não ser este argumento o mais adequado, até porque seria oneroso demais impor ao fornecedor tal obrigação. E ainda, nesse sentido, seria um obstáculo aos investimentos tecnológicos e de pesquisa, impedindo assim o progresso, haja vista que estagnaríamos em um modelo social arcaico, além de um retrocesso jurídico.
Também não é justo que se imponha ao consumidor todo o ônus do desenvolvimento, ou seja, que este ocorra às custas dos consumidores individuais.
Melhor entendimento é o de que o risco do desenvolvimento é fortuito interno, isto é, aquele in-trínseco a atividade empresarial, empreendimento.
Trata-se de uma hipótese excludente da responsabilidade do empresário, tendo em vista suas pe-culiaridades, a qual Benjamin (1991, p. 67) define:
4. RISCO DE DESENVOLVIMENTO – QUEM DEVE ARCAR?
o risco que não pode ser cientificamente conhecido no momento de lançamento do
produto no mercado, vindo a ser descoberto somente após um certo período de uso do
produto e do serviço. É defeito que, em face do estado da Ciência e da Técnica à época da
colocação do produto ou serviço em circulação, era desconhecido e imprevisível
livro formatado.indd 50 26/11/2009 14:59:14

51
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
O presente estudo demonstra que há uma interação entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, no que tange à responsabilização do empresário por dano causado pelo produto.
Por se tratar de relação de consumo, a legislação pátria é protecionista em relação ao consumidor e, por este motivo, impõe ao empresário o risco pelo empreendimento, pela sua atividade, além do risco inerente ao produto.
Em virtude disso, o empresário assume a responsabilidade de indenizar o consumidor por todo o dano advindo do produto, seja este previsível ou não. Se for imprevisível, mas ocorrer dentro da cadeia produtiva, deve o mesmo arcar com o dano, uma vez que é intrínseco à atividade – fortuito interno. E mais, só será responsável por qualquer dano desde que este tenha relação de causalidade com o defei-to do produto.
Em contrapartida, eximido está o empresário da responsabilização quando o dano ocorrer por cul-pa exclusiva do consumidor ou se der por fortuito externo, ou seja, o defeito não tem qualquer ligação com o fornecedor, é ato imprevisível e que se dá momentos depois da fabricação do produto.
Em suma, conclui-se que o empresário responderá objetivamente, independentemente de culpa, quando o dano advier de defeito do produto originário no setor fabril deste, como uma geladeira que não faz corretamente o resfriamento dos alimentos, causando intoxicação alimentar pelo perecimento dos mesmos, ou quando o defeito for por fato imprevisível, mas ocorrer dentro da cadeia produtiva. Dessa forma, provado o dano e o nexo de causalidade pelo consumidor, configurada está a responsa-bilidade do empresário.
5. CONCLUSÃO
BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconsellos e. Comentários ao Código de Proteção do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 1991.
DENARI, Zelmo e outros. Código brasileiro de defesa do consumidor. 4 ed. 3ª tiragem. Rio de Janeiro: Forense, 1996
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 559 p.
Novo código civil comentado / coordenação Ricardo Fiuza. 2. ed. rev. e aum. São Paulo: Saraiva, 2004. 1899 p.
STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial. 5 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 1853p.
REFERÊNCIAS
livro formatado.indd 51 26/11/2009 14:59:14

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
52
livro formatado.indd 52 26/11/2009 14:59:14

53
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
LEI 10.639 E PRÁTICAS CURRICULARES
ABSTRACTBroaching about law 10.639/03 that established the inclusion of themes refering the history and
afro-brasililian na african culture in brasilians curriculums. The work tlaks about multiculture relating teoric in critical perspective, and identidy category to improve the discussion suggested. The analysis will emphasize the subjects proposed by law refered, promoving the afirmative (Re) formulation of afro- descendant etinic identidy in brasilians social, educatives places.
Keywords: curriculum history / african culture, multiculture, etinic identidy
PALAVRAS-CHAVE: Currículo-História/Cultura Afro-Multiculturalismo-Identidade Ètnica.
RESUMOAbordagem sobre a lei 10.639/03 que instituiu a inclusão das temáticas relativas à história e cultura
da África e Afro-brasileira nos currículos escolares brasileiros. O trabalho aciona o referencial teórico do Multiculturalismo na perspectiva Crítica, e da categoria Identidade para enriquecer as discussões propostas. A análise enfatiza os aportes propiciados pela referida lei no sentido de promover a (re) construção afirmativa da identidade afro-descendente nos espaços sociais educacionais brasileiros.
1 Mestre em Ciências Sociais-UFMA, Bacharel em Serviço Social-UFMA, e Licenciado em Geografia-UFMA. Professor Assistente do Departamento de Geociências-UFMA.2 Graduando em Direito-UNIUBE e Graduando em Administração com ênfase em Comércio Exterior-FCETM.
Igor Bergamo Anjos Gomes1 Rodolfo Almeida Prata Junior2
Refletir sobre a inclusão formal e simbólica das minorias étnicas, como propõe a Lei 10.639/03 que dis-põe pela inclusão da história e cultura da África nos currículos escolares brasileiros, e Lei de Diretrizes para educação indígena, exige a aportagem das discussões sobre o multiculturalismo.
O termo em questão tem sido foco de estudo de muitos autores contemporâneos. O multiculturalismo pode ser entendido como um desdobramento das transformações societárias configuradas pela segun-da metade do século XX, no mundo pós-segunda guerra. Pode também ser visto como uma ideologia, a do politicamente correto, ou como aspiração, desejo coletivo de um modelo de organização social mais igualitária, mormente no que tange ao respeito às diferenças. E, ainda, pela compreensão da existência de múltiplas-misturas raciais e culturais provocadas pelos processos migracionais em dimensões planetárias (estima-se que apenas 10 a 15% das nações no mundo sejam etnicamente homogêneas).
INTRODUÇÃO
livro formatado.indd 53 26/11/2009 14:59:14

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
54
“Oficialmente”, a escola é o único espaço legítimo de educação, e é nela que o conhecimento formal tem sido repassado. Nesse horizonte, o currículo concretiza um instrumento de poder, pois nele, sob a égide da ideologia dominante, alguns conhecimentos são considerados mais válidos e importantes em detrimento de outros. Barbosa (2004) destaca que o formato do currículo escolar brasileiro tem contribuído pouco para a formação humanizadora e autônoma do alunado.
Na visão de Bourdieu (2004), a padronização e a separação dos conteúdos evidenciam a ação do poder hegemônico da sociedade em legitimar seu “poder simbólico”, através do estabelecimento de verdade e dogmas culturais educacionais.
No Brasil as reformas curriculares implementadas pela Constituição de 1988 têm como destaque a fixa-ção de conteúdos mínimos, a legitimação do direito a uma formação básica comum, e o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Durans (2002) destaca que este processo constituiu um avanço para a organização do currículo nacional brasileiro. Entretanto, percebe uma falha estrutural nesse, concre-tizada pelo fato da temática etnocultural estar situada como tema transversal, e não como tema central do conhecimento.
A autora sinaliza a grande dificuldade dos professores, e/ou o descumprimento por parte desses em trabalhar em sala com a temática da pluralidade interdisciplinar e multidisciplinar, como rezam os PCNs:
A premissa apontada por Durans (2004) se coaduna com as constatações do movimento negro brasi-leiro, de que os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao abordarem a temática étnica na pluralidade cultural sob uma perspectiva genérica, sem maiores inflexões no que tange à produção de políticas educacionais, abrem margem para a falta de compromisso no tratamento do tema.
Isso contribui para a fomentação do preconceito étnico ao operacionalizar uma abordagem equivocada que reforça esteriótipos e folclorizações, especialmente devido ao fato da inserção da população afro nos currículos brasileiros se processar a partir da escravidão, desconsiderando o processo histórico e político da África, que oportunizou a formatação desse sistema.
Entendemos que a escravidão negra no Brasil é a base real, usada ideologicamente para justificar a subalternização social do afrodescendente no país. Assim, o aportamento nos conteúdos escolares a partir deste recorte temático-temporal corrobora para a fomentação do preconceito étnico dirigido a este seg-
A FORMAÇÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR BRASILEIRO E A APORTAGEM DA LEI 10.639/03
O conhecimento, e valorização das características étnicas e culturais dos diferentes gru-
pos sociais que convivem no território nacional, as desigualdades socioeconômicas, e
a critica as relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade
brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país com-
plexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal.(PCN,1997, p. 19. Pluralidade cultural e
de orientação sexual).
livro formatado.indd 54 26/11/2009 14:59:14

55
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
mento. E sabe-se que o racismo é a expressão de uma ideologia que se propagou no mundo moderno, e promoveu a justificação do sistema escravista.
As relações de produção escravistas colocaram o indivíduo em uma posição social de subjugação, de trabalho forçado, de exploração econômica, de opressão e violência simbólica e material, em que as re-presentações desenvolvidas nas formas de imaginário social com base na matéria-prima deste sistema de opressão desencadearam o desenvolvimento de uma ideologia racista que ainda vigora em muitos espaços sociais.
Nesse contexto, as relações interétnicas podem ser consideradas como modalidades particulares de re-lações sociais, e não podem ser compreendidas se forem analisadas isoladas, descoladas e desmembradas da totalidade social que as configuram, influenciando os demais elementos da sociedade e sendo por eles influenciadas. Guimarães (1999) pontua que o racismo consiste num modo específico de “naturalização” da vida social, explicando as diferenças construídas socialmente como se estas fossem naturais.
O currículo escolar reflete diretamente as relações assimétricas de poder entre as diferentes matrizes culturais e étnicas, e apresenta resistências em incorporar e legitimar a história e contribuição cultural dos povos “vencidos”. Carvalho (2005) enfatiza que todo o sistema educacional brasileiro sempre foi resistente à inserção de afrodescendentes. O autor historiciza os casos de ilustres intelectuais negros como Guerreiro Ramos, Edison Carneiro e Clovis Moura, que tiveram o acesso na carreira docente barrado no século XX nas universidades brasileiras.
A escola pública brasileira foi, segundo Carvalho (2005), projetada para formar o espírito da nação sob uma perspectiva branca e racista. O autor polemiza que os processos de imigração européia implementa-dos no país retiraram os poucos nichos ocupados por negros, como o de normalistas no ensino fundamen-tal, que foram repassados aos descendentes de europeus.
Carvalho (2005) ainda chamou de ação negativa estas iniciativas que cercearam a inserção intelectual e social de negros nas instâncias educacionais do país.
No entanto, o movimento negro e alguns membros da comunidade de educadores perceberam que a dimensão da questão étnica estabelecida pela relação cultura afro X currículo escolar brasileiro abarca e perpassa os horizontes da vacância desses nos conteúdos vistos em sala de aula. Alcançam uma esfera complexa e hologramática, constituída pela forma de inserção deste segmento étnico-cultural nas matrizes temáticas dos estudos escolares.
É relevante sinalizar o entendimento da “Questão Étnica no Brasil”, como um conjunto de problemáti-cas sociais, econômicas, políticas, culturais e simbólicas, que são inerentes ao desenvolvimento da socieda-de capitalista, mas que repercutem de forma singular sobre as minorias étnico-sociais do país.
E no afã de enfrentar esta problemática e minimizar o déficit com a contribuição do afrodescendente no processo de formação social do Brasil, foi proposta pela deputada Esther Grossi (PT/RS) a Lei 10.639, que altera a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, e inclui no currículo oficial dos estabelecimentos de ensino público e privado a obrigatoriedade do estudo da temática da história e cultura afro.
Segundo a lei, os conteúdos programáticos das diversas disciplinas devem abordar o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, cultura afro-brasileira, e o negro na formação da socie-
livro formatado.indd 55 26/11/2009 14:59:14

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
56
dade nacional, resgatando sua contribuição nas áreas sociais, econômicas e políticas na história nacional.O processo de elaboração e proposição da lei em âmbito nacional, segundo Silva (2004), foi um cons-
truto da articulação de elementos locais e transnacionais. A Lei 10.639/03 foi o resultado de emendas muni-cipais em Santa Cruz (RS) e Florianópolis (SC); documentos legais encontrados nas Constituições Estaduais da Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas; leis orgânicas como no caso do Recife (PE), Belo Horizonte (MG) e do Rio de Janeiro (RJ); bem como leis ordinárias perpetradas em Belém (PA), Aracaju (SE), e São Paulo (SP).
Estas leis, por muitas vezes, foram resultado de iniciativa de vereadores e/ ou deputados negros. É rele-vante sinalizar a influência do movimento negro e de diversas ONGs (Organizações Não-Governamentais) que militam no enfrentamento da questão social étnica no país.
Os movimentos pró-negro pressionaram e acionaram o processo político nacional, culminando com a Lei 10.639/03, sancionada em 09 de janeiro de 2003 pelo Presidente da República. A lei institui a obrigato-riedade da inclusão da cultura e história afro em todo o currículo nacional do ensino fundamental e médio, mormente nas disciplinas literatura, história e, principalmente, educação artística.
A lei em foco integra o rol de ações afirmativas que devem ser implementadas pelo Governo Federal, enquanto signatário de compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência Mundial Contra o Racismo, a Xenofobia, e a Intolerância Correlata. Realizada em Durban, na África do Sul, em 2001, a conferência apon-tou a urgência de que sejam cumpridas as determinações da Constituição Federal, que reza que a educação nacional deve primar pelo direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantir igual direito às histórias e culturas que configuram a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos os cidadãos brasileiros.
O multiculturalismo concretiza um questionamento de fronteiras de todos os tipos, especialmente a da monoculturalidade e nação homogênea, em que este tenta dar legitimidade.
Neste horizonte, o conceito de Estado-Nação é esvaziado frente a um sistema econômico em que pre-dominam empresas multinacionais e a globalização das redes financeiras e das informações. Entretanto, coexistem no interior dos Estados-Nação a presença de micronacionalismos e a intensificação de conflitos étnicos, religiosos e lingüísticos. Percebido como movimento político, o multiculturalismo dá corpo a um conjunto de reivindicações e conquistas por parte das chamadas minorias, haja vista que em espaços sociais multiculturais, as minorias passam a se manifestar com maior intensidade, reafirmando seus particularismos locais, suas identidades étnicas, culturais, e religiosas.
Os teóricos do multiculturalismo costumam opô-lo à modernidade, cujo discurso homogeneizante se contrapõe ao pluralismo, ao hibridismo, à interculturalidade e aos discursos da liminaridade/fronteira. Agre-gado a essa crítica à modernidade, os teóricos criticam a noção de homogeneidade da nação e de identida-de nacional configurada por uma única matriz étnica cultural.
Semprini (1999) contribui para a discussão em tela ao considerar que o multiculturalismo tornou-se o assunto da moda nas ciências humanas e tem sido objeto de acirradas controvérsias teóricas.
A FORMAÇÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR BRASILEIRO E A APORTAGEM DA LEI 10.639/03
livro formatado.indd 56 26/11/2009 14:59:14

57
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Por outro lado, Hall (2003) sinaliza a existência de algumas concepções de multiculturalismo na pós-modernidade:
Por outro lado, Santos (2003) discute uma perspectiva progressista de multiculturalismo, que é estrutu-rada no entendimento da incompletude das culturas, em que esta incompletude concretiza o espaço para o diálogo e as trocas interculturais.
Ademais, quando se discute “cultura” é mister estar ancorado no entendimento de que não há uma es-sência. O que existe é um processo dinâmico de construção. Tomando a realidade brasileira como exemplo, é possível constatar que cultura negra só pode se fazer entendida na relação com as outras culturas que coexistem no país.
Nessa relação não existe nenhuma pureza nem homogeneidade, o que existe é um perene processo de trocas bilaterais, de mudanças, de (re) criação, e de (re) semantização.
- Multiculturalismo Conservador: perspectiva na qual os dominantes tentam assimilar as minorias que não partilham das tradições e costumes da maioria.
- Multiculturalismo Liberal ou Folclórico: perspectiva em que os diferentes devem ser integrados como iguais na sociedade dominante. Nesta perspectiva, os diferentes po-dem cultivar, no âmbito do privado, suas práticas culturais peculiares, mas a cidadania deve ser um bem igualitário e universal.
- Multiculturalismo Pluralista: os diferentes grupos podem viver separadamente, den-tro de uma ordem política federativa. Essa concepção resguarda o direito ao respeito e à autonomia dos diferentes grupos.
- Multiculturalismo Comercial: as diferenças entre os indivíduos e grupos podem ser dissipadas pelas relações de mercado e no consumo privado. Nessa concepção as rela-ções assimétricas de poder e riqueza não são alvos de questionamentos.
- Multiculturalismo Corporativo: pode ser expresso no âmbito do público ou do pri-vado. Nessa perspectiva, as diferenças podem ser administradas para que os interesses dos dominantes não sejam alijados pelos interesses culturais e econômicos das mino-rias subalternizadas.
- Multiculturalismo Crítico: propõe-se a questionar as origens das diferenças, critican-do a intolerância, a exclusão social e política, além dos mecanismos de manutenção dos privilégios e hierarquias nas sociedades contemporâneas. Essa perspectiva é com-promissada politicamente com os interesses das minorias sociais.
livro formatado.indd 57 26/11/2009 14:59:14

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
58
No que tange à Diáspora Africana, Hall (2003) argumenta que os termos afro-americanos e afro-descen-dentes são facetas e um mecanismo que possibilitou à “África” sobreviver na diáspora, por meio da hibridi-zação ou da impureza cultural, traduzidas didaticamente como a forma do novo entrar no mundo.
Assim, o autor enfatiza o jogo da “différance” no sentido em que os significados estão em aberto, ope-rando uma diferença que não funciona através de binarismos, fronteiras veladas que não separam final-mente, embora sejam “lugares de passagem”, nos quais os significados são posicionais, relacionais, estão sempre em movimento e não podem jamais ser fixados definitivamente. A diferença é basilar e este é cru-cial à cultura (HALL, 2003, p. 33).
Santos (2005) entende o multiculturalismo como um termo que inicialmente traduziria a coexistência de formas culturais ou de grupos caracterizados por culturas diversas no bojo das sociedades pós-moder-nas. Assim, a expressão multiculturalismo seria o construto de um modo de descrever as diferenças culturais em um contexto transnacional e global.
Para o referido autor, o multiculturalismo concretiza um conceito controverso e atravessado por ten-sões, apontando simultânea ou alternativamente para uma descrição e para um projeto. Esse projeto que o autor se refere é emancipatório que, em concordância com Siss (2003), se refere ao potencial do multi-culturalismo enquanto movimento político capaz de promover ou mesmo obstaculizar os processos de construção de cidadania dos grupos racial e culturalmente diferenciados.
Siss (2003) enfatiza que o multiculturalismo não deve ser entendido apenas sob um enfoque, mas sim deve ser considerado em suas diversas representações. O autor argumenta que as variadas leituras acerca do multiculturalismo são condicionadas pela multiplicidade de significados que o termo assume, dependendo do tipo de sociedade em que esse se apresenta, além do contexto sócio-cultural em que é suscitado.
Semprini (1999) pontua que com o advento do multiculturalismo, paradigmas como o universalismo, que atuava como um elemento homogeneizador, foi instaurador de uma monocultura sob os traços de um simulacro de humanidade branca e européia, criando espaços públicos pseudamente igualitários que, na verdade, excluíam grupos sociais portadores de alteridade.
No entanto, nos espaços sociais educacionais brasileiros, considera-se necessária a superação da pers-pectiva multicultural liberal ou folclórica, que é puramente celebrativa, centrada na valorização das plu-ralidades culturais a partir do conhecimento dos costumes e dos processos de significação cultural das identidades plurais.
Siss (2003, p.87) pontua que, sob esta perspectiva, o multiculturalismo atua como uma proposta políti-ca ingênua, alienante, portadora de um falso entendimento acerca das problemáticas sociais, assumindo a face também de uma proposta de integração social calcada em valores nacionais comuns, como a diversi-dade, ou ainda sendo imbuído de uma proposta de segregação ou atomização social.
Acerca dessa proposta de integração social, embora ela se apresente aparentemente progressista, ques-tionamos se esse “reconhecimento” e “valorização” das diferenças no seio de uma determinada dinâmica cultural não propiciariam efetivamente o favorecimento de um grupo cultural que se legitima e é percebido como superior, como no caso do eurocêntrismo que impera como referência nas sociedades latinas.
Pelo exposto, fica evidenciado que se for privilegiada a proposta de multiculturalismo que prima pelo ocidentalismo-eurocêntrico, não será possível o desenvolvimento de espaços sociais nem tão pouco de
livro formatado.indd 58 26/11/2009 14:59:14

59
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
práticas curriculares que considerem e afirmem as múltiplas cosmovisões dos povos colonizados.Assim, entendemos que é mister a incorporação da perspectiva multicultural crítica (CANEN, 2000;
2002; CANEN, ARBACHE, FRANCO, 2001; MCLAREN, 2000; SANTOS, 2005) que designa o movimento teórico e político, rompe com a idéia de homogeneidade cultural e busca respostas para incorporar a pluralidade cultural e o desafio à valorização e respeito às diferenças nos espaços culturais educacionais, ou seja, o mul-ticulturalismo crítico fornece escopo para abordar a construção/reconstrução da identidade étnica afrodes-cendente nos espaços educacionais.
No que tange à questão étnica, McLaren (2000), adepto da perspectiva supracitada, propõe que seja questionada a construção da branquidade, pontuando que essa se trata de um discurso poderoso, inques-tionável até o presente, mas que não resiste a um exercício de desconstrução.
Para o multiculturalismo crítico, a compreensão da pluralidade cultural somente se efetiva quando são compreendidas as pluralidades de identidades construídas em marcadores identitários plurais, configu-rados por raça, etnia, gênero, classe social, cultura, linguagem e outros (GRANT, 2000; CANEN, ASSIS, 2002).
Nesse horizonte, Candau (2002), ao analisar os sistemas educacionais dos Estados Unidos da América e de alguns países europeus e da América latina, propõe que esses devam incorporar as perspectivas mul-ticulturalistas constituídas pela interação dos diferentes grupos étnico-culturais. A autora argumenta que nesses países nos quais coexistem grupos de identidades diversas são desenvolvidas estratégias de convi-vência e confronto que fomentam práticas segregacionistas.
Adepto da mesma matriz discursiva, Sacristán (2002) enfatiza o papel da instituição escolar no processo de socialização do indivíduo e defende que os currículos escolares devem ser configurados no afã de propi-ciar o alargamento dos limites da tolerância àqueles percebidos como diferentes.
O foco do multiculturalismo crítico, também conhecido como intercultural crítico (CANEN, 2002; CA-NEN, ARBACHE, FRANCO, 2001), recai sobre a categoria identidade, que aqui não é compreendida como algo essencializado, pronto, fechado, mas sim como um elemento em permanente processo de construção, se aproximando com a idéia de Hall (2001) sobre essa categoria.
Para esse autor, a identidade concretiza algo formado ao longo do tempo, por meio de processos in-conscientes, e não inata. Hall (2001) pontua que existe sempre algo “imaginado” ou “fantasiado” sobre sua unidade. “A identidade permanece sempre incompleta, está sempre sendo formada” (HALL, 2001, p.38). Ou seja, não podemos falar de identidade como uma coisa acabada, mas sim falarmos de identificações, e esta deve ser vista como um processo em curso.
O referido autor acrescenta que a identidade surge não tanto da plenitude de identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza, “preenchida” a partir de nosso exterior pelas formas por meio das quais nos imaginamos ser vistos pelos outros.
Hall (2001) concebe a identidade como um conjunto de representações construído em situações es-pecíficas, um sistema de representação cultural, um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos.
MULTICULTURALISMO CRÍTICO E IDENTIDADE ÉTNICA (AFRO-DESCENDENTE)
livro formatado.indd 59 26/11/2009 14:59:14

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
60
Castels (2001: 71) afirma que a etnia sempre foi uma fonte importante de significado e reconhecimen-tos, tratando-se de uma das fontes mais primárias de distinção e reconhecimento social, e também de dis-criminação em muitas sociedades.
A formação da identidade étnica se processa pelo encontro de elementos externos contrastivos que vêm organizar internamente um sentimento comum entre os membros de um grupo, utilizada como um mecanismo para demarcar os limites e reforçar laços de solidariedade entre os indivíduos de um grupo.
Ao tematizar sobre as relações comunitárias étnicas, Weber (1922) adverte que não há distinção funda-mental a operar entre as disposições raciais e aquelas outras adquiridas pelo habitus. Assim, pontua que não é conveniente procurar na posse de traços fixos a fonte de etnicidade. Essa deve ser buscada nos processos de produção, manutenção e aprofundamento das diferenças, cuja objetividade não pode ser mensurada desconsiderando a significação que lhes atribuem os indivíduos por meio das relações sociais.
Assim, a identidade étnica tem por alicerce a construção subjetiva e coletiva de um sentimento que os indivíduos de um grupo nutrem e que se expressa numa noção de pertença a uma procedência comum; e os traços antropomórficos podem ser utilizados como sinais emblemáticos de diferenciação.
Barth (1998) aciona a atribuição étnica, na qual o indivíduo assume determinada identidade étnica categorizando a si mesmo, ou o sendo pelos outros, como um tipo de organização baseado na auto-atribui-ção dos indivíduos às categorias étnicas. Demarcamos a construção da identidade étnica afro-descendente no Brasil seguindo os encaminhamentos propostos por Barth no que concerne à formação de um grupo étnico; no qual (...) um traço fundamental torna-se (...) a característica da auto-atribuição ou da atribuição por outros a uma categoria étnica. (BARTH, 1998, p.193-194). Esses traços podem ser fenotípicos e/ou sub-jetivos, relacionados a elementos históricos e culturais.
Por outro lado, as novas contribuições da genética e da biologia provam que negros e brancos são ge-neticamente iguais, corroborando a premissa de que as diferenças fenotípicas, mesmo as mais visíveis, são construções histórico-culturais, pois a cultura atribui significado à natureza, e é no campo do simbólico que estão situadas as diferenças étnico-raciais.
Castells (1999) ao analisar as sociedades em rede da pós-modernidade, esquadrinha a existência de três processos de formação identitária que oferecem subsídios para compreender o processo de construção da identidade afro-descendente:
- identidade legitimadora: operacionalizada por instituições sociais dominantes que legitimam uma postura de submissão dos sujeitos, ou reforçam os esteriótipos e fol-clorizações sobre a negritude;
- identidade de resistência: formada por indivíduos em condição social desfavorecida, que assumem uma atitude de resistência ao projeto dominante, sem, contudo propor processos e práticas afirmativas de (re)construção identitária;
- identidade de projeto: aquela em que os sujeitos, tendo por alicerce seus materiais culturais, constroem novas identidades, redefinem seu local social, propõem e lutam
livro formatado.indd 60 26/11/2009 14:59:15

61
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
para sejam empreendidas alterações na estrutura social, no afã de propiciar a afirma-ção de sua identidade peculiar.
Bhabha (1998) pontua que em realidades sociais dotadas de passado colonial, as identidades são cons-truídas na diferença e se (re)configuram a partir do cruzamento das experiências individuais com os contex-tos locais e com as instituições coloniais, como, por exemplo, a escola.
Moita Lopes (2002, p.192) afirma que o ambiente de sala de aula tem função central na definição dos significados construídos pelos indivíduos, mormente pelo fato de ser um espaço social eminentemente configurado no contexto de construção de conhecimento, regulado pela assimetria interacional gerenciada pelo professor, que figura como único detentor de conhecimento.
Santos (2003:452) polemiza acerca das dificuldades da existência de diálogo intercultural quando uma das culturas foi moldada por massivas e continuadas agressões à dignidade humana perpetradas por outra cultura, como no caso da realidade brasileira, na qual a cultura européia oprimiu material e simbolicamente as culturas africana e indígena.
Na perspectiva de identidade de projeto (CASTELS, 1999), entendemos que os meios educacionais bra-sileiros, ancorados em práticas curriculares multiculturais críticas dispostas a romper com a perspectiva monocultural, podem dar corpo a um espaço significativo para a (re)construção afirmativa da identidade afro-descendente.
Vemos que a educação colonial empreendida pelos padres jesuítas que por meio das aulas régias apre-goavam somente a cultura européia, animalizou negros e índios, relegando-lhes o status de hereges, des-providos de história, beleza, e bens culturais.
Em contrapartida, consideramos que a Lei 10.639 contempla um ideal democratizante, pois viabiliza ao alunado o acesso à história dos diferentes povos que formaram a nação brasileira, e em que contexto de interação social esse processo de formação foi desenvolvido.
Ademais, a lei em foco, ao abordar a história e cultura da África, oferece aportes para que o aluno tenha o entendimento da África como um continente multifacetado, formado por centenas de países que trava-vam entre si lutas por poder e riquezas, o que culminava em guerras nas quais os derrotados eram transfor-mados em escravos e, posteriormente, comercializados com países europeus.
O acesso a essa informação permite que a escravidão e a pobreza do continente africano sejam desna-turalizadas e compreendidas relacionadamente como um elemento que foi apropriado pelo projeto expan-sionista colonial europeu a partir do século XV.
Dessa forma, entendemos que a lei oferece subsídios para discutir em sala de aula acerca do processo de construção das categorias “branco”, “negro”, “índio”, “colonizador”, “colonizado”, “escravo”, “primitivo”, erodindo tabus e pré-construções.
E, ao abordar e valorizar a riqueza da cultura afro, seus desdobramentos e influências na cultura do Bra-sil que originou a chamada cultura afro-brasileira, vê-se que a lei contribui para a construção de identidades
A LEI 10.639 COMO INSTRUMENTO DE (RE) CONSTRUÇÃO AFIRMATIVA DA IDENTIDADE ÉTNICA AFRODESCENDENTE NOS ESPAÇOS SOCIAIS EDUCACIONAIS BRASILEIROS
livro formatado.indd 61 26/11/2009 14:59:15

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
62
das minorias numa perspectiva afirmativa, embasada na valorização da auto-estima, da auto-imagem e do autoconceito de seus integrantes.
É relevante sinalizar que estamos operando aqui as noções de autoestima, auto-imagem e autoconcei-to fundamentado em Oliveira (1994), o qual afirma que esses elementos contribuem para a elaboração das identidades dos indivíduos, à medida que propiciam repensar o pré-construído, os pré-conceitos – agentes responsáveis pela cristalização das imagens “percebidas” como naturais.
Concluímos a presente discussão fundamentada na análise da Lei 10.639 e nos demais documentos elaborados pelo MEC, para balizar a implementação das diretrizes da mesma nos autores que discutem categorias teóricas, como multiculturalismo, identidade, racismo, colonialidade e negro, categorias que fa-zem interface teórica com a temática da implementação das novas diretrizes curriculares configuradas pela referida lei, um instrumento que oferece mais do que subsídios, escopos, aportes.
Ademais, ela legitima, institucionaliza e afirma a importância da contribuição do negro como agente social, ativo, dotado de beleza, história e bens culturais singulares que enriquecem a cultura brasileira.
Especificamente pelo fato da lei ter um caráter visionário de democratizar o acesso às verdadeiras his-tórias do negro, que foi por séculos mascarada e vilipendiada pela máquina opressora branca-européia, percebemos que a Lei 10.639 oferece aportes para que a escola seja um espaço social que contribua para o processo de (re)construção afirmativa da identidade étnica afro-descendente.
ASSIS, Marta Diniz Paulo de; CANEN, Ana. Identidade Negra e espaço Educacional: Vozes, Histórias e Contribuições do Multiculturalismo. In: ANPED, 2003, Poços de Caldas, 2003.
BARBOSA, Nelma. Currículo Cultura Afro e Educação. Disponível no site: <http:www.faced.ufba.br/rascunho_digital/textos/322.htm> Acesso em 29 de dezembro de 2004.
BARTH, Fredrik. “Grupos étnicos e suas fronteiras”. In: POUTIGNAT, P. & STREIFF-FENART, J. Teorias da etnicidade, seguido de Grupos étnicos e suas fronteiras, de Fredrik Barth. São Paulo: Editora da Unesp, 1998 [1969].
BHABHA, H. (1998). O Local da Cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG.
BOURDIEU, P. O poder simbólico / Pierre Bourdieu; tradução Fernando Tomaz (português de Portugal) – 7ª ed. – Rio de Janeiro; Bertrand Brasil, 2004b.
CANDAU, Vera Maria (Org.). Sociedade, educação e cultura(s): questões e propostas. Petrópolis: Vozes, 2002. Cap. III e IV.
CANEN, A. Educação multicultural, identidade nacional e pluralidade cultural: tensões e implicações curriculares. Cadernos de Pesquisa, n.111, p.135-150, dez. 2000.
_____. Sentidos e dilemas do multiculturalismo: desafios curriculares para o novo milênio. In: LOPES, A. C.; MACEDO, E. (orgs.) Currículo: debates contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2002. p.174-195.
CANEN, A.; ARBACHE, A.; FRANCO, M. Pesquisando multiculturalismo e educação: o que dizem as dissertações e teses. Educação e Realidade, v.26, n.1, p.161-181, jan./jun. 2001.
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 5. ed. São Paulo: Paz e terra, 1999.
Conselho Nacional de Educação / Conselho Pleno DF. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Ètnico-Raciais e para o Ensino da Historia e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 35p, 2004.
REFERÊNCIAS
livro formatado.indd 62 26/11/2009 14:59:15

63
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
CARVALHO, José Jorge. Inclusão Ética e Racial no Brasil. A Questão das quotas no ensino superior. São Paulo Attar Editorial 2005.
DURANS, Claudicea Alves. O Negro e a dinâmica das relações sócio-raciais na trajetória da sociedade brasileira: reflexos no processo educacional. São Luís, 2002. Dissertação (Mestrado). UFMA.
GRANT, N. Multicultural education in Scotland. Edinburgh: Dunedin Academic Press, 2000.
GUIMARÃES, Antônio Sérgio A. (1999). Racismo e anti-racismo no Brasil. São Paulo, FUSP/Editora 34.
HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidade e Mediações Culturais. Belo Horizonte. Ed, UFMG. 2003.
______.A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro. DP&A Editora, 2001.
McLAREN, P. Multiculturalismo revolucionário: pedagogia do dissenso para o novo milênio. Porto Alegre: Artmed, 2000.
MOITA LOPES, Luiz Paulo de. Identidades Fragmentadas: A construção discursiva da raça. gênero, e sexualidade em salas de aula. Campinas-SP, 2002.
OLIVEIRA, Ivone M. de. Preconceito e Auto-conceito: Identidade e interação na sala de aula. Campinas: Papirus, 1994.
SACRISTÁN, J. Gimeno. Educar e conviver na cultura global: as exigências da cidadania. Trad. de Ernani Rosa. Porto Alegre: ARTMED EDITORA S.A., 2002.
SANTOS, B. S. (Org.) Reconhecer Para Libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. (2003).
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais: Pluralidade cultural e de orientação sexual. Brasília, 1997.
SEMPRINI, André. Multiculturalismo. Bauru: EDUSC, 1999.
SILVA, Petrolina. Petrolina fala sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura história afro brasileira no currículo escolar. Entrevista ao site PRO-COR em 29/04/2004. Disponível no site: <http:www.ppcor.org.br> Acesso em 19 março de 2005.
SISS, A., Afro-Brasileiros, Cotas e Ação Afirmativa: razões históricas. Rio de Janeiro: EdUFF e Quartet Editora, 2003.
WEBER, Max. Economia y Sociedad. Esbozo de Sociologia Compreensiva. Economia e Sociedade. Brasília. Ed. Da Universidade de Brasília, [1922] 1991. Vol.I (Cap. IV- Relações Comunitárias Étnicas, pp.267-277).
livro formatado.indd 63 26/11/2009 14:59:15

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
64
livro formatado.indd 64 26/11/2009 14:59:15

65
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
INTRODUÇÃOA longevidade das empresas e o advento de gerarem rentabilidade e lucro atrelam-se à capacidade das
lideranças em conciliar o conhecimento disponível e as ações práticas do dia-a-dia que, por vezes, criam novos conhecimentos (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). Portanto, o conhecimento disponível tem origem ex-terna e interna. Externamente, pode-se contar com as ações de benchmarking e com toda a bibliografia construída pela Administração, enquanto ciência, e seus fantásticos progressos no último século. Mesmo assim, há uma visível distância entre os fundamentos científicos da Administração e o mundo das empresas, ávido por soluções práticas que possam aliviar a tensão rotineira.
A evolução das pessoas jurídicas, milernamente (O’HARA, 2004), deu ao mundo acadêmico um gi-gantesco objeto de pesquisa e análise, originando as chamadas ciências gerenciais e todo o esforço de professores, alunos, pesquisadores em pensarem e repensarem os melhores caminhos estratégicos para as empresas. Mais do que isso, permitiu a percepção de padrões de comportamento e resultados, dando
* Comunicólogo, pós-graduado em Gestão Estratégica e Tecnologia da Informação pela FGV, professor universitário na FCETM.
O propósito deste ensaio é jogar luz em uma das mais conhecidas ferramentas de gestão, o Pla-nejamento Estratégico. Há no mercado e no meio acadêmico o uso diversificado de significados para o instrumento profissional em análise, variando as acepções de acordo com as profissões e perfis dos profissionais. Existem variações de focos e de áreas. Reconhecer essa realidade pode contribuir para o melhor uso do Planejamento Estratégico, evitando-se debates desnecessários, tentativas de territoria-lização e o estabelecimento de senso de propriedade.
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Plano, planejamento, estratégia, estratégico, tática, ferramenta, gestão
Keywords: Plan, planning, strategy, strategic, tactical, tool, management
The purpose of this essay is to build a highlight on one of the most popular management tools, the Strategic Planning. There the market and in the academic sector use of diverse meanings for the professional instrument in analysis, varying senses according to the professions and profiles of professionals. There are variations of outbreaks and areas. Recognizing this reality can contribute to the better use of Strategic Planning, avoiding unnecessary discussion, and attempts to establish territorial sense of ownership.
ABSTRACT
O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E SUAS INTERCONEXÕES
Heitor Átila Fernandes*
livro formatado.indd 65 26/11/2009 14:59:15

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
66
origem a metodologias e sistemas, comumente chamados de “ferramentas de gestão”. Assim, a prática empresarial e a prática acadêmica se completam. Cabe à academia repensar as ferramentas de gestão com pesquisas próprias e com o conhecimento germinado dentro das empresas, a partir do seu capital humano e capital estruturado (DAVENPORT, 1999).
Este ensaio objetiva evidenciar uma das mais populares ferramentas de gestão no mundo corpo-rativo – o Planejamento Estratégico. A começar pela diferença entre a liberdade de se agregar aos diver-sificados tipos de planejamentos o adjetivo estratégico e a existência efetiva do instrumento de gestão, conhecido como Planejamento Estratégico, utilizado por 78% dos executivos mundiais e por 74% dos exe-cutivos brasileiros, segundo dados da pesquisa da empresa de consultoria Bain & Company, feita em 2004. Mesmo assim, há o uso de diferentes significados para o recurso aqui comentado, variando os sentidos com as profissões e perfis dos profissionais. São percebidas diferenças de focos e de áreas. Reconhecê-las pode contribuir para seu melhor uso nas áreas desiguais, evitando-se debates desnecessários, tentativas de terri-torialização e o estabelecimento de senso de propriedade.
A denominação Planejamento Estratégico é às vezes utilizada como sinônimo de Plano de Negócios, no qual prevalece o foco financeiro, tema sempre crítico no meio empresarial e empreendedor (FERNANDES, B.H.R e BERTON. L.H, 2005). Não há como alcançar algum sucesso em qualquer negócio se este não for cui-dadosamente calculado previamente, com monitoramento constante, profundo e intenso da movimentação financeira e adoção dos princípios contábeis organizacionais e legais. A negligência com esses aspectos cola-bora certamente para o altíssimo índice de mortalidade empresarial no Brasil e no exterior.
Além disso, a mesma expressão Planejamento Estratégico dá nome a diferentes disciplinas, por exemplo, nos cursos de graduação em Publicidade/Propaganda é de Administração. São disciplinas com interconexões comuns, mas com origens e objetivos diferentes. No primeiro, visa otimizar os investimentos táticos em Publicidade ou Propaganda e no segundo, dar origem a um Plano Estratégico com rentabilidade no longo prazo, desde que guiado por uma estratégia clara de mercado. As necessárias aplicações práticas de ambas as concepções não são excludentes, contudo requerem a delimitação dos propósitos e uma or-dem de precedências.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO PLANO DE NEGÓCIOSA revisão bibliográfica do tema não deixa dúvidas: o Planejamento Estratégico é a ação de se conceber
um Plano Estratégico (FERNANDES, B.H.R e BERTON. L.H, 2005). Por ser uma ação, apresenta passos com prioridades ou paralelismos. Variando um pouco de autor para autor, podemos apontar os principais passos do Planejamento Estratégico sequencialmente como: a identificação dos Fatores Críticos, a análise S.W.O.T, o estabelecimento da Missão (contendo o Negócio ou o core business), a Visão de Futuro (ou Visão Estraté-gica), a declaração dos Valores, o Plano de Ações e, não explicitamente, a formulação da Estratégia.
O processo estratégico, assim, engloba, além da formulação, a implantação prática com o propósito geral de se gerar riquezas para os stakeholders. A sequência geral engendra a formulação e a gestão, execu-ção e controle das ações, a implantação sempre em sintonia com a estratégia ampla, revolucionária e não
livro formatado.indd 66 26/11/2009 14:59:15

67
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO PLANO TÁTICO DE MARKETINGAo tempo que sucede a formulação da estratégia e a formatação do Plano Estratégico, devidamente
embasado nos cálculos financeiros, advêm as ações práticas contidas no Plano de Ações. Recomenda-se que tais ações sejam organizadas em forma de Programas (conjunto de projetos) e Projetos (ações organizadas no tempo, com responsáveis, orçamento e fontes) facilitando seu gerenciamento (PMBOK/PMI, 2007). Um plano estratégico pode possuir dezenas de programas que contêm dezenas de projetos. Entre os progra-mas, o de Marketing ganha extrema importância por ser ele o responsável pela visibilidade da empresa, sua marca, seus produtos e serviços. Mas, principalmente, cabe ao Marketing colocar a estratégia em prática, atraindo novos clientes e retendo os clientes já existentes.
Para Peter Drucker (2002), “o objetivo do Marketing é tornar a venda supérflua. É compreender e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço sirva e venda por si próprio.” Comumente confundido pelos leigos como sinônimo de propaganda, o Marketing, se bem executado, tende a depender menos das
apenas evolutiva; um meio para se chegar a um fim; um caminho e não um fim em si mesmo; as metas e os recursos para se alcançar o objetivo; o tempo comprimido causando mudanças radicais; visando o controle do destino; visualizando as oportunidades; incorporando e transformando as ameaças (FERNANDES, B.H.R e BERTON. L.H, 2005).
Há ainda a dúvida se o Plano Estratégico contém o Plano de Negócios (foco financeiro) ou se o Plano de Negócios contém o Plano Estratégico. A primeira hipótese é prontamente assumida por diversos auto-res. Orçamento, Análise Financeira Tradicional, Análise Financeira Dinâmica, Economic Value Added (EVA) e Market Value Added são agregados por Fernandes, B.H.R e Berton. L.H, 2005. Tiffany e Peterson (1999) in-corporam na sequência o Demonstrativo de Resultados, o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Os autores assumem a ferramenta de gestão como um roteiro ou um manual prático do tipo “leia e faça você mesmo”. Priorizam a praticidade no lugar da profundidade. Já Samuel C. Certo e J.P. Peter (2005) assumem os Fundamentos de Finanças para a Administração Estratégica.
No geral, como fator crítico genérico, o planejamento financeiro – nas diferentes formas e denomi-nações que assume – é parte indissociável do Planejamento Estratégico. No lançamento de novos negócios, ou nos reposicionamentos, é inconcebível a inexistência dos cálculos dos investimentos pré-operacional e operacional, retornos, receitas, depreciações, custos fixos e variáveis, taxas, amortizações, margens, fluxo de caixa, entre outros quesitos que dão consistência às planilhas. Contudo, mesmo em estado da arte de precisão e correção, os resultados podem não gerar sucesso se a base de cálculo não levou em conta as implicações da estratégia escolhida. Se é que se escolheu ou se pensou em uma.
A solução para as empresas nascentes e para as que pretendem se eternizar não é, igualmente, entenderem o planejamento estratégico como eficiência de produção e ter como meta “ganhar dinheiro” (GOLDRATT e COX, 2002). Parafraseando os autores, podemos afirmar que qualidade sozinha não é meta, tecnologia sozinha não é meta, nem tão pouco a estratégia sozinha é meta. Mas, um Plano Estratégico, fru-to de um bom Planejamento Estratégico e sob a energia de lideranças, transforma as metas em resultados positivos nas diferentes áreas.
livro formatado.indd 67 26/11/2009 14:59:15

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
68
ações de promoção. O seu foco em compreender e entender o cliente significa, inicialmente, usar o arsenal de pesquisas com informações primárias e secundárias.
Sucintamente, estamos falando de acessar bancos de dados comportamentais e censitários, cadastros, CRMs, bem como levar a campo pesquisas de opinião quantitativas e qualitativas. Estas últimas agora casa-das com o chamado marketing antropológico ou marketing etnográfico. Objetivo maior: conhecer o que os clientes necessitam e desejam; como, quanto e quando consomem e quanto podem pagar.
Claro está que, após conhecer e compreender bem os clientes, necessário se faz avisá-los sobre a existência da empresa e seus pontos fortes nos produtos e serviços, divulgação essa que deve manter, ao longo do tempo, a coerência entre realidade e mensagem sob pena da própria divulgação levar a empresa ao desaparecimento. A pior coisa para um produto ruim é uma boa campanha publicitária (James Carville, Revista Veja, Páginas Amarelas, setembro de 1998). Por outro lado, se está claro que Marketing não é propa-ganda, necessário se faz ainda esclarecer que há também uma sutil diferença entre Publicidade e Propagan-da. A primeira diz respeito à promoção dos produtos explicitamente e a segunda enfatiza conceitos, idéias e doutrinas por detrás dos produtos e das empresas (PINHO, 1990).
O Marketing, enquanto ciência multidisciplinar e transdisciplinar, atrai para si diferentes conceitua-ções e um universo de enfoques. Entre os autores contemporâneos há que se valorizar a concepção de Phi-lip Kotler (1999) ao seccionar o setor em Marketing Estratégico, Marketing Tático, Marketing Administrativo e Marketing Transformacional. Aproxima, assim, o Marketing do Planejamento Estratégico, deixando claro a preexistência de diferenças entre estratégia e táticas.
Assim, enquanto a estratégia cuida do geral e do longo prazo, as táticas são atividades operacionais que traduzem, na prática, a intenção estratégica, que é sempre velada, não divulgada no mercado de hipercom-petitividade. Dessa forma, o uso do Planejamento Estratégico até como título de disciplinas nas graduações em Publicidade e Propaganda, na verdade, diz respeito ao aprimoramento dessas técnicas para execução de táticas publicitárias.
O Planejamento Estratégico, para as agências de Publicidade e Propaganda, diz respeito ao plano tático de mídia escolhido e calculado face à estratégia de venda do cliente, variando a mídia, em função do chamado “público-alvo” e diversificando os investimentos, em função da natureza da divulgação, se lança-mento de produto, se queima de estoques ou outro tipo de promoção, se institucional de sustentação e até se apenas propaganda, atingindo doutrinariamente a mente dos consumidores (PINHO, 1990).
Há também empresas especializadas na terceirização do Marketing como um todo e não apenas na terceirização da produção e da co-produção das campanhas publicitárias. Essas empresas pensam a comu-nicação como um todo e recomendam ações táticas específicas que libertam o marketing dos chamados “4 Ps”: produto, preço, promoção, ponto de distribuição.
Nesse sentido, os planos táticos de comunicação devem considerar as alternativas que extrapolam ao mercado publicitário. Dependendo da empresa, seu produto, sua estratégia, obrigatoriamente deverá haver, por exemplo, investimentos em Assessoria de Imprensa, atividade de muita exigência ética, a cargo de jornalistas profissionais. Empresas com capacidade de inovação tecnológica podem conseguir espaços de mídia gratuitos se souberem mostrar a inovação na condição de novidade, curiosidade.
Não obstante, as editorias dos jornais têm que perceber o caráter de notícia da divulgação a que se propõem, isto é, informações de interesse altamente público (LAGE, 2004). De outro lado, empresas que
livro formatado.indd 68 26/11/2009 14:59:15

69
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
trabalham em situações de formação de crises iminentes, como as companhias aéreas, investem signifi-cativamente no treinamento para os momentos de pressão, em face de acidentes, por exemplo. A maior parte desse treinamento tem a ver com a maneira com que as informações são transmitidas, a postura dos dirigentes frente às câmaras, microfones e canetas dos profissionais da imprensa.
Outra vertente de comunicação eficaz, que vai além da publicidade, é formada pela capacidade da empresa em organizar eventos. Aqui no Brasil, tal atividade se concentra nas ações de Relações Públicas, eventualmente terceirizadas. Isso requer expertise em receptivos, cerimoniais, logística de convidados, de-coração, alimentação, segurança, lazer, aliando tais táticas aos produtos e serviços da empresa e, sobretudo, à estratégia. Há empresas em que a realização de eventos é mais importante para os negócios do que inves-timentos em publicidade na mídia.
Entre os exemplos, o reposicionamento estratégico da Harley Davidson na década de 80 com seus HOGs – Harley Owner Groups e a Cia. Vale do Rio Doce que fechou grandes negócios internacionais, a partir do carnaval de 2003, após patrocinar a escola de samba Grande Rio e recepcionar, com excelência, 1.070 potenciais compradores de seus produtos. Mais uma vez, também aqui no setor de Relações Públicas, há confusões semânticas e de versões entre as diferentes línguas. Nos Estados Unidos, public relations concen-tra toda a atividade de comunicação organizacional que no Brasil se divide em Assessoria de Imprensa (pri-vativa dos jornalistas), Publicidade e Propaganda (privativa dos publicitários) e Relações Públicas (privativa dos profissionais dessa área).
Confusões semânticas e etimológicas à parte, o correto é que o somatório entre publicidade, propa-ganda, assessoria de imprensa e relações públicas, oferece um cabedal de opções visivelmente táticas, que tornam a estratégia em algo tangível, com resultados mensuráveis. Não há que existir preconceitos entre as atividades táticas e a dimensão estratégica. Não há uma hierarquização entre estas e, dessa forma, tão pouco há uma ordem de subordinação recomendada entre os profissionais que atuam no setor corporativo e organizacional. Estratégia e tática são como as faces de uma mesma moeda: de um lado a estratégia como uma intenção sutil e, de outra, as táticas explícitas sutis na suas ligações com a intenção maior que leva sempre em conta a atração dos clientes dos concorrentes ou formação de novos clientes.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TEM QUE FORMULAR ESTRATÉGIAO mundo das organizações, em particular o das empresas, não dispõe de tempo suficiente para pensar
a atividade econômica em que está inserido. No entanto, apesar da distância entre escolas e empresas, há uma aceitação crescente do trabalho acadêmico e o seu poder de síntese conceitual, como disparador de novas idéias. Os conceitos são construções culturais, internalizadas pelos indivíduos ao longo de seu pro-cesso de desenvolvimento (REGO, 2001) e têm o poder de tornar claro o que antes era obscuro, uniformi-zam os entendimentos sobre fenômenos, estabelecem um consenso entre os padrões percebidos.
Por vezes, a etimologia ajuda na construção dos conceitos, embora, às vezes, traga uma certa discus-são, por exemplo, com o conceito de estratégia. Traduzindo do grego, strategos, seria “a arte do general” (STEINER e MINER,1981). Contudo, evidencia-se aí a presença de um falso cognato na tradução do inglês sobre the art of general, isto é, na verdade, a arte daquilo que é geral, visualizado de forma ampla, no espaço e no tempo.
livro formatado.indd 69 26/11/2009 14:59:15

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
70
O exercício de elencar e analisar as conceituações de estratégia não cabe em um ensaio. Remonta ao lendário mestre chinês Tzu e sua contribuição segundo a qual “o mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem a necessidade de lutar” (TZU S, CLAVELL J. 2002). Empreende-se daí o convite para entender “mérito supremo” como a própria estratégia, o que teria influenciado centenas de autores ao longo de quase 2.500 anos. Mais recentemente, de Chandler (1962) a Porter (1980), Chan Kim e Mauborgne (2005), passando por Learned, Christensen, Guth, Ansoff (1965), Andrews (1971), Hofer e Schandel (1978), Jauch e Glueck (1980), Mintzberg , Hax e Majluf (1988).
Ao empreender sua caçada à estratégia, Mintzberg identifica dez grandes correntes do pensamento estratégico a que chama de “escolas”. Uma delas, a “escola do planejamento estratégico” (Mintzberg, H., Ahlstrand B., Lampel J.,1998). O mestre e sua equipe criticam o método que teria passado a significar um “jogo de números” com pouco conteúdo identificado com a estratégia. Reconhece o progresso da análise de cenários, o bom uso da S.W.O.T, mas condena o “pensamento sem ação”. O “safári acadêmico” entra fun-do na selva do pensamento estratégico e requer fôlego intelectual e habilidade de “tradução”, no sentido de dar utilidade às reflexões no dia-a-dia do mercado.
Mais focado, Michael Porter capricha na concisão. Em um memorável e sucinto artigo decreta: “es-tratégia é ter posição competitiva, exclusiva e difícil de ser imitada” (Os anos 90 acabaram...volte à estraté-gia!. HSMMANAGEMENT nº 30, pág. 28, janeiro/fevereiro 2002). Derruba de uma vez a restrita pregação pro-fessoral sobre o chamado “diferencial” da empresa ou produto como sendo a estratégia em si. Deixa claro que, o “diferencial” poder ser imitado hoje na velocidade da luz e que um gen da estratégia, sem dúvida, é a exclusividade em algo, com foco.
No entanto, prega duas opções de delimitação na formulação estratégica: optar por custo baixo ou por diferenciação, opções que podem ser entendidas como estratégia genérica para as classes C, D e E ou como estratégia genérica para a classe A (praticando a gestão do luxo).
O começo do século 21 foi agraciado com a metáfora energizante de W. Chan Kim e Renée Mau-borgne (2005), em “A Estratégia do Oceano Azul”. Pedem licença a Porter e determinam: estratégia é ter cus-to baixo e diferenciação ao mesmo tempo, ou, “a melhor forma de concorrer é não mais concorrer”. Como? Simplesmente se afastando das águas manchadas de sangue dos conflitos concorrenciais e encontrando águas azuis, onde a empresa reina sozinha, ofertando o que o segmento como um todo não está ofertando. O caminho para isso passa pelo estabelecimento de um “preço estratégico”, “meta de lucros”, “eliminação/redução”, “criação/elevação” de características vistas pela ótica dos consumidores. Esses ensinamentos fo-ram obtidos por meio da análise de 150 estratégias bem sucedidas em um período de um século, em trinta diferentes setores econômicos.
Assim, felizmente, a formulação da estratégia tanto exigida no período de Planejamento Estratégi-co, encontra muitas boas opções para adoção do método. Com elas, o Plano Estratégico entra no mundo palpável já dotado de uma estratégia. A escolha de uma das “escolas” (MINTZBERG, H., AHLSTRAND B., LAM-PEL J., 1998) requer como combustível farto a informação, redutora da incerteza, capaz de levar à tomada de decisão. Dessa forma, tornamos nossas as palavras de autores consagrados para balizar nosso dizer, é possível alcançar o “mérito supremo”. Na prática: atrair clientes, criar clientes por meio de produtos inéditos, fidelizá-los, mantê-los e ter como meta ganhar dinheiro (GOLDRATT, M. E. e COX J , 2002).
livro formatado.indd 70 26/11/2009 14:59:15

71
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
CERTO, S , PETER, J.P. Administração Estratégica. São Paulo: Editora Pearson, 2005.
CARVILLE, James. Revista Veja, Páginas Amarelas, setembro de 1998.
DAVENPORT, T. O. Capital Humano. São Paulo: Nobel, 1999.
DRUCKER, Peter Ferdinand. O melhor de Peter Drucker: obra completa. São Paulo: Nobel, 2002.
FERNANDES, B.H.R e BERTON. L.H Administração Estratégica. São Paulo: Editora Saraiva, 2005.
GLUCK, F.; S. KAUFMAN e A.S. WALLECK, 1982, The four phases of strategic management, The Journal of Business Strategy, vol.2, nº3, p. 9-21.
GOLDRATT, M. E. e COX J. A Meta. São Paulo: Nobel, 2002.
HAX, A. C. e N. S. MAJLUF, 1988, The concept of strategy and strategy formation process, Interfaces, vol.18, no.3, p. 99-109.
HOFER, C. W. e D. SCHENDEL. Strategy formulation: Analytical concepts. Editora. St. Paul: West Publishing Company, 1978.
JAUCH, L.R. e W.F GLUECK, 1980, Business Policy and Strategic Management, McGraw-Hill, 5ª ed., 1988.
KIM, W.C. e MAUBORGNE, R. A Estratégia do Oceano Azul. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2005.
KOTLER, P. Marketing de A a Z. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003.
KOTLER, P. Marketing para o Século XXI. São Paulo: Futura, 1999.
LAGE, Nilson. Estrutura da Notícia. São Paulo: Ática, 2004.
LEARNED, E. P.; C. R. CHRISTENSEN; K.R. ANDREWS e W.D GUTH, Business Policy, Text and Cases. NY:1965
MINTZBERG, H., AHLSTRAND B., LAMPEL J. Safari de Estratégia. Porto Alegre: Bookman, 1998.
NONAKA, I. e TAKEUCHI, H. Criação de Conhecimento Na Empresa. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1997.
O’HARA , W. T. Centuries of Success: Lessons from the World’s Most Enduring Family Businesses . Avon: Adams Media, 2004
PINHO, J.B. Propaganda Institucional - Usos e Funções da Propaganda em Relações Públicas. São Paulo: Summus Editorial, 1990.
PMI/ PMBOCK (http://www.pmimg.org.br/geral/default.aspx)
PORTER, M. Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York: 1985
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky Uma perspectiva histórico-cultural da educação. 12ª ed., Vozes: Petrópolis, 2001.
STEINER, G. A. e J. B. Miner. Política e Estratégia Administrativa. Rio de Janeiro:Edusp, 1977.
TIFFANY, P. – PETERSON D. S. Planejamento Estratégico – Série para Dummies. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1999.
TZU, S. e CLAVELL J. A Arte da Guerra. São Paulo: Record, 2002.
REFERÊNCIAS
livro formatado.indd 71 26/11/2009 14:59:15

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
72
livro formatado.indd 72 26/11/2009 14:59:15

73
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
INTRODUÇÃOEste artigo tem como pretensão levantar algumas reflexões sobre a inter-relação existente entre Direito,
Educação e Cidadania, defendendo a hipótese acerca da necessidade de uma formação cidadã dos indivíduos.
A educação para o exercício da cidadania é aquela que, pelo desenvolvimento do pensamento crítico, visa inserir o sujeito no meio social, embasa-o para a ação no cenário político e o prepara para a convivência junto à coletividade. Conhecer os textos legislativos, entender a formação político-admi-nistrativa do Estado, participar ativamente da construção da sociedade, são deveres e diretos de todos. É por meio destas ações que seria possível, no Brasil, caminhar ao encontro dos ideais constitucionais de construção de uma sociedade livre, justa e fraterna. Com o conhecimento e o estímulo à reflexão, novas posturas surgiriam. O desconhecimento e o desinteresse devem dar lugar à consciência de deve-res e exigência de direitos. Essa nova postura, uma postura cidadã, alavancaria a ordem jurídica brasi-leira a aproximar-se cada vez mais de seus ideais. Este artigo é um chamamento ao exercício de direitos e assunção de deveres para com a sociedade e o Estado.
RESUMO
PALAVRAS-CHAVE: Cidadania. Direito. Educação. Democracia.
Keywords: Plan, planning, strategy, strategic, tactical, tool, management
The education to citizenship exercise is the one that is about the development of the critic thought, it has the intention of putting the individual in the social mean, it gives him/her the basis to the action in the political scenery and prepare him/her to the living with the coletivity. Knowing the legislative texts, to understand the formation policy-administrative of the State, to participate strongly of the building of the society, are the dusties of all. It is through these actions that it would be possible, in Brazil, to go to the meeting with the constitucional ideals of building a free, fair and loyal society. With the knowledge and the incentive to the reflexion, new positions showed up. The unknowledge and uninterest should give place to the conscience of the dusties and the demand of rights. This new position, a citizeness position, would get the juridical order and to approach of its ideals. This article is a calling of the exercise of the rights and assumpition of dusties to the society and the State.
ABSTRACT
EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA
EDUCATION TO THE EXERCISE OF CITIZENSHIP
Tássia Beatriz Machado Alvim 1
livro formatado.indd 73 26/11/2009 14:59:15

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
74
Trabalhar-se-á, sobretudo, com definições jurídicas e educacionais sobre cidadania, extraídas de textos de autores como Bester, Hesse, Mazzuolli, Rocha, Rodrigues, Freire e outros.
O artigo demonstra que eles defendem uma visão ampla de cidadania, que acredita em cidadãos par-ticipativos, transformadores e conscientes de seus direitos e deveres frente a uma sociedade em constante transformação. Espera-se demonstrar como esses atributos estão articulados com o tema de estudo: a edu-cação para a cidadania.
Para compreender o conceito de cidadão, busca-se, primeiramente, seu sentido semântico. Assim, veja-se a definição que o conceituado dicionário da língua portuguesa de Houaiss atribui à palavra cidadão:
Infere-se, pois, que, em sua etimologia, cidadania refere-se tanto à condição dos que residem na cidade, como também diz respeito à condição de um indivíduo como membro de um Estado, como portador de direitos e obrigações. É com base na segunda acepção que este artigo será desenvolvido.
Machado apresenta dados etimológicos interessantes sobre a palavra cidadão e outras afins:
Partindo das definições etimológicas apresentadas, soaria um tanto quanto razoável dizer que gran-de parte de nossa sociedade é formada por “idiotas”, e que precisamos proporcionar a civitate donare aos indivíduos, a fim de que estes possam ser elevados à condição de civitas e, assim, possam exercer seus direitos frente à pólis.
1. habitante da cidade; 2. indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos
civis e políticos garantidos pelo mesmo Estado e desempenha os deveres que nessa
condição, lhe são atribuídos. (HOUAISS, 2001, p. 273).
Etimologicamente, cidadão deriva de civis, palavra latina de dois gêneros que designava
os habitantes das cidades; não qualquer habitante, mas apenas os que tinham direitos,
os que participavam das atividades políticas. Civitas, civitatis significava a condição de
cidadão; civitate donare queria dizer dar a alguém a condição de cidadão; civitatem am-
ittere era perder o direito à cidadania, ou o direito a ter direitos políticos. Similarmente,
a palavra político deriva da palavra grega pólis, que também queria dizer cidade. Na
Grécia antiga, os habitantes das cidades dividiam-se em políticos e idiotas. Os políticos
eram os que participavam da vida da pólis; aos idiotas cabia, no máximo, preocuparem-
se consigo mesmos. O radical idio ainda hoje permanece associado a singularidades, em
palavras como idiossincrasias, ou idiossincrático. Posteriormente, idiota passou tam-
bém a significar estar alheio ao que ocorre, ser estúpido ou amalucado. Tal significado,
na época, era diametralmente oposto ao da palavra político. (MACHADO, 1997, p. 102).
livro formatado.indd 74 26/11/2009 14:59:15

75
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Assim, a cidadania é uma qualificação política criada pelo direito para o homem em sua
experiência com os outros. A cidadania é uma das faces do homem, é a persona política
do homem juridicamente definida e assegurada. A cidadania é a alma política do homem
concebida no mundo do Direito para o seu exercício na sociedade. Por isso mesmo, a ci-
dadania é um conceito jurídico e a sua definição normativa impõe-se ao sistema positivo
como fundamento do próprio viver do Estado. A Justiça está acima do Direito. E o Direito
é mais que a Lei. (ROCHA, 1999, p. 66).
Ver-se-á que, com a formação para a participação, ação e socialização, estar-se-á fazendo com que o direito à cidadania seja respeitado e que o dever do cidadão na sociedade possa ser cumprido com profici-ência. O direito à cidadania por si só não é capaz de proporcionar a aptidão para o seu exercício. Os autores citados neste artigo conduzirão nossos estudos rumo ao entendimento de que é necessário que o indivíduo seja formado (educado) para o exercício da cidadania.
Com a reunião do texto legislativo, das definições e conceitos sobre cidadão e cidadania, da ideia de di-namismo dos seres humanos e da capacidade reflexiva e transformadora do homem, é que se constrói este artigo, tendo como hipótese central a ideia de que o conceito de cidadania, mesmo com distinções entre as duas áreas (Direito e Educação), converge para a necessidade de uma sociedade transformada pela força de uma educação cidadã.
Todo o texto será tecido a fim de coletar e organizar conhecimentos que levem a um entendimento mais consistente de como as áreas do Direito e da Educação discutem o conceito de cidadania e quais as possíveis contribuições dessa discussão para a ordem e bom andamento do Estado Democrático de Direito.
A partir da definição apresentada pela autora, podemos extrair o entendimento da cidadania como relação do homem indivíduo, com os homens, enquanto coletivo. Sendo a cidadania a face política do ho-mem enquanto ser social, pode ela se impor perante a norma e o próprio Direito, uma vez que é tida como fundamento de ambos.
O exercício da cidadania é ação capaz de positivar a lei, posto que a simples norma não pode sobrepor-se ao princípio que a norteia, nem à consequente ideia de Justiça que legitima a existência do Direito.
Ao afirmar ser a cidadania a “alma política do homem concebida no mundo do Direito”, Rocha (1999) remete à noção social, ou mesmo religiosa do dueto alma-corpo, qual seja, a de que um corpo (Direito) não
2. A CIDADANIA PARA O DIREITOA fim de melhor compreender-se o conceito de cidadania frente ao ordenamento jurídico, dedicar-se-á este
tópico à exposição e exploração de alguns trechos referentes ao tema. Em uma análise puramente jurídica, Rocha leciona:
livro formatado.indd 75 26/11/2009 14:59:15

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
76
pode existir sem ser dotado de uma alma (cidadania). A alma é quem dá “vida” ao corpo e que direciona o sentido de suas ações.
Uma definição ampla sobre cidadania e em consonância com os ideais sociais vigentes em nossa socieda-de é descrita textualmente por Mazzuolli (2001, p. 20):
O autor enfatiza as ideias de consciência e participação, ou seja, para ele é pressuposto mínimo à cidada-nia que o indivíduo seja capaz de refletir sobre o mundo e, em consequência, seja capaz de participar de sua estrutura e transformações de forma consciente, a fim de que sejam respeitadas e alcançadas as tais “igualda-de de direitos e dignidade”.
Observa-se que o autor, ao falar em atributos sociais necessários, destaca entendimento, atributos intelectuais, psíquicos, e não a capacidade física ou qualquer outro atributo pessoal como cor, raça, religião, orientação sexual. Isso ratifica a hipótese inicial deste artigo de que a cidadania de que se necessita está vin-culada a uma educação transformadora.
Enveredando por outro ângulo de construção do conhecimento jurídico, observar-se-á as palavras de Jaime Pinsky (1999, p. 10):
A cidadania, assim considerada, consiste na consciência de participação dos indivíduos
na vida da sociedade e nos negócios que envolvem o âmbito de seu Estado, alcançados,
em igualdade de direitos e dignidade, através da construção da convivência coletiva,
com base num sentimento ético comum capaz de torná-los partícipes no processo do
poder e garantir-lhes o acesso ao espaço público, pois democracia pressupõe uma socie-
dade civil forte, consciente e participativa.
A cidadania autêntica prende-se à idéia de contrato social, ou seja, a um complexo de
direitos e deveres, que cada um de nós tem para com todos os outros. A noção de con-
trato social foi elaborada no dealbar da filosofia política moderna, fundamentando as re-
flexões de Hobbes, Locke, Montesquieu e, sobretudo, Rousseau. Dela, porém, o constitu-
cionalismo liberal do século passado só retirou a idéia de direitos, ignorando os deveres.
E, ainda por cima, de direitos próprios de uma relação que só comporta duas partes: é o
indivíduo lutando contra o Estado.
(...)
A diferença de espírito, digamos assim, entre os contratos bilaterais e plurilaterais (tam-
bém chamados sociais ou associativos) é enorme. Naqueles impera o interesse individual
dos contratantes, cada um procurando beneficiar-se a custa do outro: o vendedor valo-
riza ao máximo a coisa que vende e o comprador esforça-se por pagar o menor preço.
livro formatado.indd 76 26/11/2009 14:59:16

77
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Neste trecho, Pinsky retrata a realidade de visão distorcida de cidadania encontrada na atualidade, visto que reduzir a cidadania a uma luta do indivíduo contra o Estado é esvaziá-la de qualquer função social.
Entender o cidadão como sócio do Estado e a relação entre Estado-indivíduo como um contrato plu-rilateral é fundamental para que façamos valer a vontade coletiva sobreposta ao individualismo habitual cul-tivado em nossa sociedade até o presente momento.
Nos contratos sociais, ao contrário, as partes não se colocam nunca como antagônicas,
objetivando extrair a máxima vantagem do negócio, mas põem-se uma ao lado da outra,
procurando conjugar esforços em vista do objetivo comum. Nos contratos bilaterais, só
é proibido enganar o outro; nos contratos associativos, constitui falta grave não agir em
harmonia com os associados. (PINSKY, 1999, p. 10-11).
Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se engajam na
luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando, assim, sua
“convivência” com o regime opressor. (FREIRE, 1987, p. 52).
3. EDUCAÇÃO E CIDADANIAOs teóricos da Educação não apresentam definições ideologicamente muito diversas das que se encon-
tram no campo da ciência jurídica. No entanto, quando tratada a cidadania sob a visão educacional, tem-se uma maior consistência em termos de efetivação da postura cidadã.
Para Freire, cidadão significa “indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado” e cidadania “tem que ver com a condição de cidadão, quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão”. É assim que ele entende “a alfabetização como formação da cidadania” e como “formadora da cidadania”. (FREIRE, 1993, p. 73)
Ao definir o cidadão como usuário de direitos e portador de deveres que se insere na sociedade, Freire atribui responsabilidade de formação, manutenção e transformação social aos indivíduos, considerando que como cidadãos, todos têm necessidade de conduta social, política e econômica ativas. Dessa forma, os cidadãos são responsáveis pelos seus destinos, a partir de uma luta que deve ser diária contra toda forma de opressão e de ideologia que os minimizem. Freire defende uma educação cidadã que dê aos sujeitos sociais um protagonismo pelos caminhos de suas vidas.
Ainda se destacam algumas considerações do mesmo autor que, indiretamente, versam ainda sobre o tema cidadania:
Entende-se por oprimidos aqueles que não têm acesso a bens, meios, serviços e demais direitos garan-tidos aos indivíduos. Pode-se equipará-los aos cidadãos, que apesar de extremamente capazes, por falta
livro formatado.indd 77 26/11/2009 14:59:16

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
78
de conhecimento, ou mesmo direcionamento para a conduta de consciência crítica e ativa, encontram-se inertes frente às questões sociais que se lhes apresentam.
Definido oprimido, nota-se o quanto o conhecimento do opressor, ou seja, do poder econômico, dos problemas sócio-estruturais e políticos que existem na sociedade são importantes para a viabilidade de um posicionamento crítico, e como este posicionamento crítico é elemento propulsor para a quebra de um estado de apatia, e início de uma postura cidadã ativa e transformadora.
Em consonância com o autor anterior, acrescenta Martinez (1996, p. 24):
Mais uma vez, observa-se explícita a ideia da necessidade do dinamismo e formação inerentes ao exer-cício pleno da cidadania.
Afirmando que a cidadania é efetivada pela participação, o autor conclui uma cadeia de pensamen-tos que leva a ideia de conquista gradativa e contínua de exercício de direitos e deveres cidadãos, que por sua vez, são os responsáveis pela construção e expansão de conquistas e de defesa de interesses, tanto individuais, quanto coletivos.
A cidadania é vista como meio de construção, o que difere de imposição ou recepção. Se ela é obra, precisa ter pessoas capacitadas a erguê-la, estas pessoas ninguém mais são que os cidadãos de conduta ati-va que, como veremos, têm sua capacitação garantida constitucionalmente, apesar da diferente realidade observada na atualidade.
A própria cidadania não pode ser entendida como uma condição estática, definitiva e
acabada, pois ela só se realiza na dinâmica, no processo contínuo de conquista e defesa,
construção e expansão, tanto no campo do direito, quanto no das condições concretas
de existência, no plano ético e cultural, no interesse individual e no coletivo. Portanto, a
cidadania se efetiva pela participação (que pressupõe o dever de contribuir para o bem
comum), além do usufruto de direitos individuais e sociais.
A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (BRASIL, 1996).
4. QUESTÕES QUE APROXIMAM AS DUAS CIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO TEMA CIDADANIAPara se ampliar o debate, seguem alguns trechos da legislação jurídica vigente na atualidade, contida
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/9394/96) artigo 2º diz que:
livro formatado.indd 78 26/11/2009 14:59:16

79
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Aqui é reafirmado um preceito da Constituição Federal de 1988, contido exatamente em seu artigo 205. Pela redação desse artigo de lei, pode-se concluir que o Direito trata a Educação como instituto “meio” para atingir o “fim” a que se propõe, sendo esse fim a organização das relações sociais. Nesse prumo, garante o direito à educação e lhe atribui a responsabilidade de instituto formador, devendo essa ser capaz de desen-volver, preparar e qualificar os educandos.
Este argumento, por si só, seria suficiente para ratificar a hipótese inicial de que é necessária uma edu-cação para a cidadania. Mesmo assim, ampliar-se-á ainda mais a argumentação.
O texto legal, tanto da Constituição Federal, quanto da LDB, ao versarem sobre a educação es-colar, não deixam de dispor sobre a responsabilidade educacional frente à necessidade de formar para a cidadania. Isso ocorre porque pensar em postura cidadã implica não somente uma questão jurídica ou constitucional, mas também, uma questão social, política, histórica e econômica, que tem seus reflexos em todos os setores de desenvolvimento social e humano. Pois bem, o texto legal garante o direito à formação cidadã e impõe a estas três instituições (Estado, escola e família) o dever de proporcionar edu-cação para a cidadania. Não somente formação bibliográfica, de conteúdos curriculares desconexos e impessoais, mas formação cidadã.
Enquanto direito do cidadão e dever do Estado, da família e da escola tem, principalmente estes últimos, a obrigação tanto legal quanto moral de proporcionar conhecimento histórico, político, social, hu-mano, artístico, etc., a fim de que a partir dessas informações e de suas consequentes análises e reflexões, os indivíduos sejam capazes de exercer os seus direitos e assumir seus deveres. Afinal, a sociedade é o reflexo das ações, aspirações e construções de seus integrantes vistos de maneira organizada e externa num deli-mitado espaço de tempo.
Daí afirmar-se, formando para refletir e reestruturar, estar-se-á exercendo direitos de participação, cum-prindo com deveres de conservação das conquistas já alicerçadas e otimizando o espaço social que ainda necessita de aprimoramento.
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municí-
pios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
(...)II – a cidadania;
5. O TEXTO E A FORÇA NORMATIVA DA COSTITUIÇÃO FEDERALAs referências à cidadania de caráter ativo, já expostas nos tópicos anteriores, podem ser encontradas
de maneira explícita e implícita, em várias passagens do texto constitucional. Importante se faz ressaltar algumas delas.
No artigo 1º, inciso II da Constituição Federal de 1988, temos o seguinte texto:
livro formatado.indd 79 26/11/2009 14:59:16

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
80
Eis aqui, a positivação da cidadania como fundamento do Estado Democrático de Direito. Se é funda-mento, sua prática faz-se imprescindível ao bom andamento desse Estado.
Sendo negada a formação cidadã, não há como sustentar a existência de uma democracia real. Sem consciência crítica, sem reflexão, sem formação para a participação na vida estatal, os indivíduos ficam ads-tritos ao mero papel de eleitores, o que em nada se confunde com o direito à cidadania e à participação no Estado Democrático de Direito.
A cidadania é um direito pessoal, mas que, para ter repercussão social, necessita ser exteriorizada de maneira a poder surtir efeitos frente às situações concretas que nos são apresentadas em âmbito coletivo.
Assim é que, o constituinte originário, em outra passagem do texto constitucional, encontrada no ar-tigo 64 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), determinou que seja assegurado o direito ao recebimento de um exemplar (atualizado) da Constituição a cada cidadão brasileiro.
Frente a essa garantia, demonstra-se a intencionalidade da norma de fazer os indivíduos sujeitos de direitos e deveres.
O acesso e conhecimento da norma pressupõem a capacidade de compreensão da mesma por seus leitores e, por consequência de interpretação, aplicação e transformação dela pelo seu destinatário.
A garantia de recebimento de uma Constituição não é a distribuição de um peso de papel ou de um objeto decorativo, mas sim um chamamento à atividade, à participação, ao exercício da cidadania.
Vejamos o que nos acrescenta Konrad Hesse (1991, p.19) sobre a necessidade de postura ativa defen-dida pelo texto constitucional:
Essa vontade de Constituição origina-se de três vertentes diversas. Baseia-se na
compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrável, que
proteja o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme. Reside, igualmente, na
compreensão de que essa ordem constituída é mais do que uma ordem legitimada
pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em constante processo de legitimação).
Assenta-se também na consciência de que, ao contrário do que se dá com uma lei do
pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem o concurso da vontade humana.
Essa ordem adquire e mantém sua vigência através de atos de vontade. Essa von-
tade tem conseqüência porque a vida do Estado, tal como a vida humana, não está
abandonada à ação surda de forças aparentemente inelutáveis. Ao contrário, todos
nós estamos permanentemente convocados a dar conformação à vida do Estado,
assumindo e resolvendo as tarefas por ele colocadas. Não perceber esse aspecto da
vida do Estado representaria um perigoso empobrecimento de nosso pensamento.
Não abarcaríamos a totalidade de fenômenos e sua integral e singular natureza. Essa
natureza apresenta-se não apenas como problema decorrente dessas circunstân-
cias inelutáveis, mas também como problema de determinado ordenamento, isto é,
como um problema normativo.
livro formatado.indd 80 26/11/2009 14:59:16

81
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Hesse atribui a três vertentes a vontade da Constituição. Com elas, mostra o quanto é importante a existência de uma segurança jurídica e o quanto é igualmente importante que essa ordem seja constante-mente legitimada, já que emana das necessidades de um povo e não de uma vontade individual imposta ao coletivo.
Como terceira vertente, a qual se dará mais ênfase, afirma que essa ordem constitucional só é possível com a concorrência dos atos de vontade, os quais pressupõem a consciência da vontade, a força de partici-pação e a análise crítica dos fatos, ou seja, presumem a capacidade para o exercício da cidadania.
Afirma Hesse, então, que a inexistência de uma postura cidadã “representaria um perigoso em-pobrecimento de nosso pensamento”. Isso ocorreria em virtude do fato de os indivíduos normalmente colocarem-se como meros destinatários alheios à sua vontade, o que não tem coerência com as ideologias que nutrem o Estado Democrático de Direito, que é aquele que incita à cidadania, participação, consciência e atividade frente ao ordenamento e organização estatais.
Não obstante isso, também deve ser mais uma vez ressaltada a visão de Rocha (1999) sobre as limita-ções por que passa a Constituição:
A Constituição apresenta um complexo e harmônico sistema de normas, princípios, apontamentos para a organização do Estado, para a busca da concretização de seus ideais de igualdade, fraternidade e liberdade. No entanto, a efetivação da norma e sua aplicabilidade estão diretamente ligadas ao exercício da cidadania e à ação cidadã. A norma ampara e alicerça, mas quem constrói é o povo, um povo que necessita ser cidadão.
Com um documento fundamental do Direito estabelecendo um sistema tão comple-
to de direitos e garantias do homem e do cidadão é de se perguntar como vão esses
direitos fundamentais no Brasil.
Não vão bem. Nada a ver, contudo, com a Constituição. Afinal, Constituição não faz
milagres, já repeti antes. Lei alguma os faz. Milagre faz o cidadão ativo e participativo
a torná-la viva e respeitada. O Brasil não carece de Constituição, mas tem enorme
carência de cidadania. (ROCHA, 1999, p. 39).
6. CIDADANIA, DIREITO E EDUCAÇÃOSeguindo as definições e teorias apresentadas no corpo deste artigo, entende-se o cidadão como ele-
mento transformador e ativo da sociedade, como portador da sabedoria e habilidade necessárias à realização de transformações. Observa-se que juridicamente lhe é garantido e imposto o dever de cidadania e que se in-tera da necessidade e possibilidade de transformação da sociedade por meio da sua própria formação social.
Martinez (1996, p 22) constrói dizeres interessantes sobre esse dever-direito à cidadania.
livro formatado.indd 81 26/11/2009 14:59:16

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
82
A formação do cidadão consiste em capacitá-lo a pôr ordem nesse processo, que se
desenvolve ao seu redor, mas sempre explode dentro dele. A principal contribuição
formativa da educação é a de atuar sobre esse mecanismo mental decisório e ajudá-
lo o mais corretamente possível, equilibrando os conhecimentos, as habilidades e
as atitudes segundo padrões éticos, morais e outros, válidos para todas, ou para a
maioria das pessoas.
Não existe um método infalível para que alguém possa chegar, sempre, às melhores
decisões sobre todas as coisas, mas pode-se melhorar a capacidade de raciocínio com
a prática, o estudo, a crítica, a reflexão. O grande objetivo, que mais parece um ideal
inatingível, é conseguir que cada indivíduo se torne autônomo, isto é, que seja capaz
de decidir por si mesmo, não se sujeitando a interferências ou pressões externas. É o
caminho que levara à formação de cidadãos conscientes.
A formação política que tem no universo escolar um espaço privilegiado deve propor
caminhos para mudar situações de opressão. Muito embora outros segmentos par-
ticipem dessa formação, como a família, ou os meios de comunicação, não haverá
democracia substancial se inexistir essa responsabilidade propiciada, sobretudo pelo
ambiente escolar.
Sob esta perspectiva, a educação é tida como forma de ajuda nos mecanismos mentais decisórios, equi-librando o conhecimento. Afirma ainda que não se pode garantir que as decisões tomadas pelos indivíduos sejam as melhores, mas é preciso que seja proporcionada ao sujeito a maior capacidade possível de discerni-mento e avaliação das situações concretas que se lhe impõem.
Quando o autor ressalta o objetivo educacional de fazer com que cada indivíduo se torne autônomo, frisa o quanto é tida como dificultosa a questão da formação para a atividade consciente. De fato, em momento algum no transcorrer das considerações aqui contidas afirmou-se ou sugeriu-se ser a educação para a cida-dania uma tarefa fácil, prática e com eficácia em curto prazo. Ao contrário, crê-se na necessidade da formação contínua e continuada, que comece na mais tenra idade, e que se estenda por todo o ciclo de vida dos seres humanos.
Nesse mesmo sentido, posiciona-se Galvão (2008, p. 01):
Galvão (2008), em um parágrafo, consegue condensar a idéia de interação entre as ciências do Direito e da Educação frente à temática da cidadania.
Em sua primeira frase, frisa a importância do ambiente escolar como formador de cidadãos, ou seja, de seres pensantes que tenham potencialidade de ação que proporcione mudanças, ação esta, consciente e direcionada, dita por ele, politizada.
livro formatado.indd 82 26/11/2009 14:59:16

83
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
Isto demonstra que o processo de construção desta nova cidadania que redireciona
a democracia necessita de um componente indispensável: a educação. Não se faz
um cidadão da noite para o dia. A educação, além de outras funções conhecidas
e importantes, deve ter, entretanto, na formação política seu maior objetivo, ou
seja, não formar apenas trabalhadores treinados, pessoas bem comportadas, seres
informados, mas ser instrumento de participação política; enfim, construir “gente”.
E isto leva tempo; “a formação da cidadania é um processo lento e profundo, que
leva gerações”.
Galvão remete à escola o dever de apresentar aos indivíduos os seus direitos e cuidar para que sejam capazes de assumir seus deveres com proficiência frente à sociedade.
Em consonância, Barroso (2003, p. 55) acrescenta:
As palavras de Martinez e Barroso vêm reafirmar a necessidade da formação para a postura cidadã ativa, dando ênfase à necessidade de formação política, que transcende o preparo para a convivência social, pois impõe a necessidade do preparo para a participação social.
Essa necessidade de formação é dita como tarefa a ser desempenhada pela educação, ramo este que, progressiva, continuada e ordenadamente será capaz de ir preparando os cidadãos para a participação social ativa. A educação é capaz de dar subsídios aos indivíduos para que estes sejam capazes de analisar as normas, o ordenamento e a realidade fática que os cerca e a partir disso sejam capazes de analisar e agir de forma crítica e consciente, mostrando assim o quão real pode ser a democracia em seu sentido etimológico (governo do povo).
7. CONCLUSÃOA teia de articulações e conhecimentos aqui reunidos não pode levar a outras conclusões senão àquelas
que desde a introdução vêm sendo desenvolvidas, quais sejam: a necessidade da educação para a cidadania e a valorosa contribuição das áreas do Direito e da Educação para que este exercício pleno se concretize.
Em verdade, nada mais se desejou do que tornar latente a cidadania existente em cada um de nossos leitores. Desejou-se lembrar a todos de que são cidadãos com potencial ativo.
Construiu-se, durante o texto, o conceito de escola cidadã, aquela voltada para a conscientização dos educandos e que tem como pretensão que estes sejam capazes de refletir sobre a realidade e que sejam conhecedores do passado, estando aptos a transformar o presente e lutar pela melhora sistemática do futuro.
Não há romantismo bucólico ou utopia ao dizer que a escola cidadã é elemento determinante na transformação social. Logicamente, esta escola não está livre das limitações políticas, sociais e econômicas
livro formatado.indd 83 26/11/2009 14:59:16

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
84
por que passa o ambiente educacional de nosso país, mas a desestrutura não a impede de se fazer atuante. Ao contrário, reforça a necessidade da ação transformada.
Afirma-se a necessidade de formação continuada, profunda e conexa. Não se espera uma postura ci-dadã ativa plena em questão de dias, meses ou anos, mas sim uma formação continuada e consciente, que gradativamente ampliara suas conquistas e participações.
O compromisso com o desenvolvimento contínuo e sistemático da educação brasileira, não somen-te à educação para a cidadania, é compromisso diário e incessante de educadores, Estado e família. Com-promisso esse, que tem seu sucesso atrelado à persistência da exposição e exploração de conhecimentos e à adaptação para melhoria e aprimoramento constante dos mesmos.
Os resultados são obtidos de maneira sutil e gradativa, por vezes imperceptíveis a um olhar menos cuidadoso, mas nem por isso, inexistentes.
BARROSO, Pérsio Henrique. Constituinte e Constituição: participação popular e eficácia constitucional. 1 ed. (1999), 2ª tir., Curitiba: Juruá, 2003.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2006
BRASIL, LDB (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96, artigo 2º. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
GALVÃO, Roberto Carlos Simões. Educação para a cidadania: o conhecimento como instrumento político de libertação. Disponível em <http:// www.educacional.com.br/articulistas/outrosEducacao_artigo.asp?artigo=artigo0050> Acesso em 09 de outubro de 2008.
HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: SAFE, 1991.
HOUAISS. Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
MACHADO, Nilson José. Ensaios transversais: Cidadania e Educação. 2 ed., São Paulo: Escrituras Editora, 1997.
MARTINEZ, Paulo. Direito de Cidadania: um lugar ao sol. São Paulo: Scipione, 1996.
MAZZUOLLI, Valério de Oliveira. Direitos Humanos, Cidadania e Educação: do pós guerra à nova concepção introduzida pela Constituição de 1998. In: Revista Diálogo Jurídico. Salvador: CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº 4, julho, 2001.
PINSKY, Jaime. Cidadania e educação. 3 ed., São Paulo: Contexto, 1999.
ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Cidadania & Constituição. Belo Horizonte, 1999.
REFERÊNCIAS
livro formatado.indd 84 26/11/2009 14:59:16

85
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
livro formatado.indd 85 26/11/2009 14:59:16

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
86
livro formatado.indd 86 26/11/2009 14:59:16

87
SISTEMA ACIU DE ENSINO • NOVEMBRO / 2009
livro formatado.indd 87 26/11/2009 14:59:16

S I S T E M A D E E N S I N OA C I UR
EV
I ST
A SABERESA C A D Ê M I C O S
88
livro formatado.indd 88 26/11/2009 14:59:16
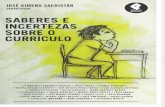










![Portugues juridico vol 52 c saberes do direito[1]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/568c56de1a28ab4916c848be/portugues-juridico-vol-52-c-saberes-do-direito1.jpg)